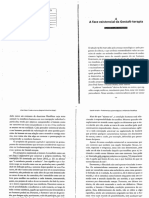Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Formas de Vida Do Semioticista
Formas de Vida Do Semioticista
Enviado por
Barbara TannuriDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Formas de Vida Do Semioticista
Formas de Vida Do Semioticista
Enviado por
Barbara TannuriDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FORMAS DE VIDA:
ROTINA E ACONTECIMENTO
Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento
Vera Lucia Rodella Abriata
(Orgs.)
Ribeirão Preto - SP
2014
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 3 11/02/2015 22:07:23
Formas de Vida:
Rotina e Acontecimento
1a Edição
Organizadores
Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento
Vera Lucia Rodella Abriata
Autores
Algirdas Julien Greimas
Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento
Ivã Carlos Lopes
Jacques Fontanille
Jean Cristtus Portela
Juliana Spirlandeli Batista Barci
Matheus Nogueira Schwartzmann
Naiá Sadi Câmara
Vera Lucia Rodella Abriata
Projeto gráfico
Lau Baptista
Impressão e Acabamento
Nova Letra - Blumenau - SC
Ficha Catalográfica
Formas de vida: rotina e acontecimento, organizado por Edna
Maria Fernandes dos Santos Nascimento / Vera Lucia Rodella Abriata
1. ed. Ribeirão Preto - SP: Coruja, 2014.
pag 218p.
ISBN: 978-85-63583-64-6
1. Semiótica 2. Formas de vida. 3. Rotina. 4. Acontecimento.
I. Nascimento, Edna Maria Fernandes dos Santos. II. Abriata, Vera Lucia Rodella.
Editora Coruja
Rua Américo Brasiliense, 1.108 - Tel: (16) 3931-3254
Centro, Ribeirão Preto, SP
CEP 14015-050
4 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 4 11/02/2015 22:07:24
Sumário
Apresentação.................................................................................. 7
O belo gesto.................................................................................. 13
Algirdas Julien Greimas / Jacques Fontanille
Formas de vida, acontecimento e semiótica das culturas:
de Greimas a Zilberberg.............................................................35
Edna Maria Fernandes dos Santos Nascimento
Quando a vida ganha forma.......................................................55
Jacques Fontanille
Formas de vida do semioticista..................................................87
Jean Cristtus Portela / Ivã Carlos Lopes
GQ e Men’s health: o estilo gentleman de ser........................111
Juliana Spirlandeli Batista Barci
Estratégia e formas de vida em cartas
de leitores da revista Veja..........................................................147
Matheus Nogueira Schwartzmann
Forma de vida no seriado de ficção
televisiva Game of Thrones........................................................171
Naiá Sadi Câmara
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 5
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 5 11/02/2015 22:07:24
Acontecimentos, paixão e formas de vida em
Guimarães Rosa: uma abordagem semiótica
do conto “Estoriinha”................................................................193
Vera Lucia Rodella Abriata
Sobre as organizadoras.............................................................215
Sobre os autores.........................................................................216
6 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 6 11/02/2015 22:07:24
FORMAS DE VIDA DO SEMIOTICISTA
Jean Cristtus Portela / Ivã Carlos Lopes
C’est moi-même qui ai donné le mauvais exemple
avec /vie/ et /mort/ dans Maupassant, parce qu’il
fallait bien partir de quelque part (A. J. Greimas, em
entrevista ao Grupo ASTER.).
Persuadés qu’un projet scientifique n’a de sens que
s’il devient l’objet d’une quête collective, nous
sommes prêts à lui sacrifier quelque peu l’ambition
de rigueur et de cohérence (A. J. Greimas e J.
Courtés, no Prólogo ao Dicionário).
Os estudos sobre as formas de vida em semiótica, que remontam
a A. J. Greimas e J. Fontanille (2014a [1993]), sob influência de L.
Wittgenstein (1975 [1953]), abriram um fértil terreno de investigação
para os semioticistas. Esse conceito, durante muito tempo tido, nos
bastidores da teoria, como mera promessa, como conceito sem grande
poder operatório, devido provavelmente à generalidade do fenômeno
que descreve, (re)caiu nas graças da semiótica contemporânea após ter
sido evocado discretamente por Floch (1997), por Landowski (2002
[1997]), ainda que em outra roupagem, a dos “estilos de vida”, e, além
disso, por Fontanille e Zilberberg (2001 [1998]), que a ele dedicaram
um capítulo de seu Tensão e significação, no qual instalam sob sua tutela
a coerência dos valores que sustêm o sentido das narrativas e, portanto,
o “sentido da vida”. Entre as discussões pioneiras, merece ser lembrada
igualmente a iniciativa do grupo de Puebla, que já em 1999 consagrou o
número inaugural da revista Tópicos del Seminario ao tema. Coordenado
por Roberto Flores, o dossiê “Formas de Vida” incluía em especial um
fac-símile do manuscrito de Greimas, “La parabole: une forme de vie”,
em meio a substanciais contribuições de pesquisadores mexicanos. No
mesmo ano saía, de Zilberberg, em tradução também de Roberto Flores,
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 87
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 87 11/02/2015 22:07:28
o livro Semiótica tensiva y formas de vida, trazendo o ensaio “El jardín
como forma de vida”, reinterpretação e aggiornamento, em termos
tensivos, de considerações semióticas tecidas por Herman Parret uma
década mais cedo, no capítulo “Le jardin” de sua obra Le sublime du
quotidien.
No entanto, foi a partir das primeiras proposições de J. Fontanille
(2008), que datam de 2004 em sua formulação inicial, que o conceito
de formas de vida foi integrado efetivamente ao arcabouço conceitual
da semiótica discursiva como o último nível de pertinência de análise
da semiótica das culturas, na qualidade de instância formal resultante
de um percurso gerativo da expressão que se constitui inicialmente por
signos, passa por textos-enunciados, por objetos, por cenas práticas
e por suas estratégias, até chegar às formas de vida (FONTANILLE,
2008, p. 34).
Mesmo que ainda não se extraiam geralmente muitos resultados
da estratificação proposta por J. Fontanille, esse caráter concentrado
e englobante do conceito de formas de vida, que já aparecia nas
reflexões de Wittgenstein, foi absorvido pelo nosso zeitgeist teórico,
e se ainda não se estabilizou (o presente teórico se apresenta sempre
uma incógnita mais ou menos temerária), não cessa ao menos de se
reproduzir, nos limites das diferentes formulações e aplicações que
dele se fazem em semiótica discursiva (Cf. ALBERTA RODRÍGUEZ
e RUIZ MORENO, 2011 e 2012; BASSO-FOSSALI e BEYAERT-
GESLIN, 2012; ABRIATA e NASCIMENTO, 2012).
Até o momento, os semioticistas se ocuparam de narrativas
literárias, midiáticas ou cotidianas, nelas encontrando formas de vida
como o “belo gesto” (A. J. Greimas e J. Fontanille), a “armadilha”
(T. Keane), o “absurdo” (J. Fontanille), para citar algumas análises
do dossiê clássico de RSSI, vol. 13, n. 1, organizado por J. Fontanille
em 1993; como a “libertinagem” (C. Zilberberg), a “solidão” (L. Ruiz
Moreno) e o “erro” (H. R. Shairi), análises reunidas no dossiê já citado
de BASSO-FOSSALI e BEYAERT-GESLIN (2012); a “lentidão” em
88 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 88 11/02/2015 22:07:28
esferas variadas como a pintura, a canção contemporânea ou as práticas
alimentares (G. Marrone: o slow food como forma de vida alternativa à
“fast life” dos McDonald’s do mundo; Boutaud e Bertin: a lentidão como
valorização da experiência gustativa no discurso publicitário de certas
marcas de café “espresso ma non troppo”), entre os trabalhos do dossiê
temático sobre as “Formas de la lentitud” em recente número duplo do
periódico Tópicos del Seminario (2011 e 2012); a estesia incrustada na
vida diária (Parret, e depois Zilberberg, falando dos jardins europeus
e asiáticos) ou, ainda, como as formas de vida da “mulher brasileira”,
como propõe a coletânea de Abriata e Nascimento (2012).
Neste trabalho, nosso propósito será refletir sobre as formas de
vida que o semioticista assume em sua prática teórica, sobre a maneira
como se relaciona com seus objetos de análise e com a construção do
texto teórico. Entre os inúmeros textos que poderíamos tomar como
objeto, vamos analisar tão somente dois momentos da elaboração
teórico-metodológica de A. J. Greimas: Maupassant (GREIMAS,
1976), exemplo do virtuosismo analítico do semioticista lituano, e
“Pour ferrer la Cigale” (GREIMAS; KEANE, 1990), capítulo de uma
obra organizada em homenagem a Jacques Geninasca. Analisando
esses dois textos, que correspondem a dois “extremos” da atividade
científica de Greimas, buscaremos mostrar como os grandes “dramas
epistemológicos” dos semioticistas estão neles delineados como
verdadeiras formas de vida, capazes de dar coerência à totalidade do
discurso teórico.
Para tanto, vamos orientar nossas reflexões sobre as formas
de vida pela (1) formulação de J. Fontanille (2014b, p. 84) segundo a
qual compreender a “forma de vida como semiótica-objeto deve [nos
levar a] explicitar em todas as circunstâncias como e por que uma
vida ‘ganha forma’” e pelos (2) conceitos de exercício (da ordem da
implicação) e acontecimento (da ordem da concessão), como definidos
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 89
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 89 11/02/2015 22:07:28
por C. Zilberberg (2011, p. 14-16), que nos permitem compreender o
movimento pendular do sujeito analista na construção de seu discurso
teórico1.
Sobre descrição e análise
A semiótica discursiva é vista por muitos como a teoria do
discurso em que mais abundam procedimentos demonstrativos, etapas
e esquemas, uma teoria em que o analista, aparelhado dos corrimões do
método, corre o risco de perder-se no exercício, na rotina dessemantizada
de uma análise impermeável ao acontecimento analítico e em que todo
gesto criador deve ser dedução calculada ou calculável e toda abdução,
quando existe, é residual. Na prática, essa ideia, que está longe de ser
confirmada pela prática analítica de Greimas, como veremos logo
a seguir, assombrou e, de certo modo, assombra gerações inteiras de
semioticistas.
Tudo se passa como se no mito de criação da semiótica discursiva
as formas de vida do rigor e da prudência exercessem a todo momento
seu poder coercitivo, obrigando o semioticista a tomar a boa distância
de seu objeto e a não interrogar a extensão dos seus métodos. Se
pensarmos em termos passionais, essas formas de vida oscilariam entre
a coragem e a covardia ou, ainda, entre a arrogância e a humildade. Pelo
extremo rigor, sim, mas com prudência, parece ser seu mote. Sabe-se
que a ideia de rigor formal encontra eco no projeto greimasiano desde
Sémantique structurale (GREIMAS, 1966), obra na qual a veleidade
matemática da semiótica é patente.
1 A despeito desse desejo, como observa Fontanille (2008, p. 223-224), Greimas
evocará a ideia de projeto ou pesquisa científicos em construção em diversas ocasiões:
Greimas e Courtés (2008, p. 12), Greimas (1983, p. 7) e Greimas e Fontanille (1991,
p. 15). Essa evocação, mais do que sinalizar o sentido fortemente científico de seu
projeto intelectual, aponta a dificuldade ou impossibilidade de alinhá-lo integralmente
à ciência.
90 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 90 11/02/2015 22:07:28
Dez anos depois de Sémantique e na mesma época de
Maupassant, em entrevista a F. Nef, Greimas comentará esse projeto de
rigor, no que diz respeito aos modelos de inspiração lógico-matemática,
nos seguintes termos:
[...] espera-se que nossos modelos sejam
representações dos fatos semânticos que se
encontram manifestados de uma certa maneira e que
se mostram, por essa razão, resistentes e inflexíveis.
Nós estamos também satisfeitos com essas estruturas
“triviais”: por pouco que se deixem manipular,
chegam a dar conta de objetos semióticos cada vez
mais numerosos. A semiótica, não se deve esquecer,
é antes de tudo uma práxis (NEF, 1976, p. 26)2.
Lamenta-se que a consciência de Greimas sobre a “trivialidade”
de seus modelos e o caráter “práxico” ou prático da semiótica – caráter
experimental, sociocultural, aproximativo – não é algo que se costuma
colocar em evidência no âmbito da semiótica discursiva, especialmente
na sua transmissão.
Poucos anos depois, do mesmo modo precavido e ciente de
seus meios, Greimas e Courtés (2008, p. 128) definem descrição como
“procedimentos que satisfazem a critérios de cientificidade”, situando
os “procedimentos de descrição” ao lado dos “procedimentos de
descoberta”. Sobre os procedimentos de descrição, acusam o “perigo,
real, de confundir técnicas operatórias [...] com o próprio fazer científico”.
Já os procedimentos de descoberta seriam “a formulação explícita das
operações cognitivas que permitem a descrição de um objeto semiótico,
de modo a satisfazer às condições de cientificidade”. Fica evidente
como os procedimentos de descoberta são preexistentes em relação aos
procedimentos de descrição, na medida em que estabelecem tanto os
limites quanto as operações de descrição propriamente ditas:
2 “Cf. Greimas e Courtés (2008, p. 272-273), verbete “Intuição”.”
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 91
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 91 11/02/2015 22:07:28
Procedimentos de descoberta → Procedimentos de descrição
Quando se introduz nesse cenário a questão da análise, percebe-
se claramente como se está a introduzir um termo regente em relação
aos termos mencionados anteriormente. Escrevem Greimas e Courtés
(2008, p. 29): análise é o “conjunto de procedimentos utilizados na
descrição de um objeto semiótico, os quais se particularizam por
considerar, em seu ponto de partida, o objeto em questão como um todo
de significação, com o objetivo de estabelecer, por um lado, as relações
entre as partes desse objeto e, por outro, entre as partes e o todo que ele
constitui [...]”.
Nessa perspectiva declaradamente hjelmsleviana, assumindo o
ponto de vista da coerência global, do todo, a análise estaria no controle
do “local”, da parte, considerando e explicitando dependências em
níveis distintos, “parte/parte” e “partes/todo”:
Análise → Procedimentos de descoberta → Procedimentos de
descrição
Assim, a descrição está sob o controle da análise, a “montante” e
a “jusante”, e a análise, cuja responsabilidade é operar com o “todo”, não
é proibida de flertar com a hipótese. Ela resta por provar, por defender:
sua eficácia depende da penetração das relações que depreender, mas
não se lhe interdiz o grão da imaginação.
Uma questão impõe-se: o exercício da descrição condiciona
a prática analítica? Duas respostas são possíveis, ainda que não
forçosamente ambas sejam apropriadas, para essa questão, respostas que
provêm de diferentes escolhas e acarretam diferentes consequências:
• Sim, quando se avalia pura, inocente e enuncivamente a descrição
como a sequência textual que antecede a análise. Esse seria um vício
(defeito e hábito) recorrente nas teorias dotadas de procedimentos
de descoberta e descrição “fortes”, como a semiótica discursiva.
92 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 92 11/02/2015 22:07:28
Nessa perspectiva, o analista instala o exercício por duas condutas,
ligeiramente distintas:
a) Tomando a descrição pela análise, sem explorar hipóteses
que não surjam dos próprios procedimentos de descrição.
Agindo assim, o analista, enquanto enunciador, neutraliza-
se, suspende seu juízo crítico, seu fazer-interpretativo, e
coloca no lugar de sua inteligência e de sua sensibilidade
interpretativas a metalinguagem, que, nesse caso, por si só, tal
qual uma “máquina de analisar”, pensa pelo analista, pensa
o texto em termos de glosa ou paráfrase, em uma versão não
muito poética de “não sou eu quem me navega, quem me
navega é o mar”;
b) Reservando à análise exclusivamente o papel de sequência
conclusiva da descrição, e dando a impressão de que a
análise, que se faz em poucas e apressadas linhas, é algo, por
um lado, óbvio e tedioso, na medida em que só faz retomar
e endossar a descrição, ou, por outro, limitado e perigoso,
já que não pode conhecer derramamentos de hipóteses, nem
extrapolações criativas que violem os procedimentos de
descrição. A essa conduta, para permanecer no repertório
cancionista, chamaríamos “o samba é corda, eu sou a
caçamba”.
• Não, quando se avalia a descrição do ponto de vista enunciativo
e não mais do ponto de vista enuncivo, conferindo-lhe o caráter
de mero programa narrativo de uso e, portanto, de sequência de
caráter modal, que confere competência ao sujeito e que de modo
algum se confunde com o programa narrativo de base, a análise,
que rege a dimensão contratual e do qual o enunciador controla
todos os efeitos de sentido. De onde se conclui que é o exercício da
análise que controla a descrição e não o contrário.
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 93
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 93 11/02/2015 22:07:28
A forma de vida do analista autômato?
O sujeito analista, enquanto enunciador da análise semiótica,
dispõe dos procedimentos de descoberta e descrição como adjuvantes
da prática analítica. A prática analítica na semiótica de Greimas seria
orientada pelos princípios de cientificidade tomados de Hjelmslev
(exaustividade, coerência e simplicidade) e pelo objetivo central,
também hjelmsleviano, de explicar as dependências que estruturam o
objeto semiótico.
Essas aspirações, somadas à concepção stricto sensu de
imanência que perpassa as primeiras décadas da semiótica, deram
origem a um imaginário analítico greimasiano ascético e asséptico,
austero e metódico, representado figurativamente por “camisas de
força”, “muletas” e “prisões”, que nos são impingidas do exterior, das
bordas conflituosas da teoria, e nas quais o analista não é apresentado
como senhor de si – e tampouco da análise.
Aparentemente, o analista não diz nada, só o texto diz – na
verdade, nem o texto, é o “como” do texto que diz –, o analista, perfeito
autômato, encontra-se assim lobotomizado. A esse respeito, Fontanille
(2008, p. 231), ao comentar a prática analítica greimasiana, afirma:
Greimas sonhava, na esteira de Hjelmslev, com
um discurso científico impessoal, sem sujeito,
sem enunciação; seu ideal sobre a publicação
científica, em parte tomado das ciências exatas, era
a publicação coletiva (ao menos em parceria), em
que ninguém deveria reconhecer a pena de um ou
de outro3.
Cabe aqui, como quer que seja, uma dupla observação a temperar
essa imagem do sujeito analista, para que não se pense nela como um
absoluto sem qualquer vestígio de outros traços.
3 Todas as traduções das obras em língua estrangeira citadas na bibliografia são nossas.
94 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 94 11/02/2015 22:07:28
Se é verdade que A. J. Greimas não renega esse imaginário,
alimentado em sua juventude, do analista idealmente pautado só pelos
algoritmos de sua ciência, logo, uma espécie de sujeito “transparente”,
sem espessura própria (cf. o verbete “Autômato” do Dicionário I), isso
nunca chegaria a implicar um completo descarte da intervenção do
sujeito:
Definida em filosofia como uma forma de
conhecimento imediato que não recorre às
operações cognitivas, a intuição poderia ser
considerada como um componente da competência
cognitiva do sujeito, que se manifesta no momento
da elaboração da hipótese de trabalho. [...] Sem
diminuir a importância do discurso da pesquisa,
parece-nos indispensável levar em consideração a
intuição na análise do discurso da descoberta4.
Ademais, quando se olha detidamente a prática analítica do
próprio Greimas, o analista concebido como autômato não passa de um
ideal pouco ou nada realizado, já que o semioticista lituano em seus
trabalhos não hesitava em enriquecer a análise com hipóteses cunhadas
em momentos, justamente, de pura intuição, cuja verificação deixava a
cargo da descrição localizada e controlada.
Greimas, leitor de Maupassant – ou dos “esforços
desproporcionais às descobertas”
Nenhum escritor francês, ou melhor, nenhum autor recebeu tanta
atenção de Greimas quanto Maupassant. Prova disso é seu Maupassant,
4 A despeito desse desejo, como observa Fontanille (2008, p. 223-224), Greimas
evocará a ideia de projeto ou pesquisa científicos em construção em diversas ocasiões:
Greimas e Courtés (2008, p. 12), Greimas (1983, p. 7) e Greimas e Fontanille (1991,
p. 15). Essa evocação, mais do que sinalizar o sentido fortemente científico de seu
projeto intelectual, aponta a dificuldade ou impossibilidade de alinhá-lo integralmente
à ciência.
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 95
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 95 11/02/2015 22:07:29
de 1976, em que analisa o conto “Dois amigos” ao longo de quase 300
páginas. Propondo a superação das dicotomias muitas vezes impostas
pela abordagem tradicional dos gêneros literários, Greimas, a despeito
da tradição que configura na poesia do século XIX o modelo do
Simbolismo e, na prosa, o modelo do Realismo, vai nos propor um
Maupassant “simbolista”, que, embora empregue procedimentos da
prosa dita realista, concebe seu conto com a força simbólica de um
poema.
Mônica Rector (1978, p. 60), em Para ler Greimas, assim
descreve essa curiosa obra que é Maupassant (“uma obra sem
bibliografia!”, irritou-se à época J.-C. Coquet, segundo seu círculo mais
próximo):
Em Maupassant, Greimas analisa magistralmente
o texto Deux amis. Seis páginas destrinchadas ao
longo de 276 outras. Cada sequência, cada frase,
cada pausa é analisada. Dois amigos pescando,
rodeados pelas circunstâncias de guerra, são
surpreendidos e considerados espiões. O diálogo
está cravado de verdades paradoxais. A figura da
Água fascina e atrai, mas o Céu horroriza e afasta
pelo vazio. A charada é decifrada por meio de um
simbolismo cristão, a leitura é feita como se se
tratasse de uma parábola do Evangelho.
No prólogo a Maupassant, Greimas (1976, p. 7) afirma:
“como a exploração de um etnólogo, instalado em seu campo, este
trabalho com o texto deve ser, para o semioticista, uma volta inocente
às fontes”. Como se sabe, o corpo a corpo com o texto é uma figura
recorrente na obra greimasiana. Nesse mesmo prólogo, o semioticista
é comparado ao estrangeiro, ao forasteiro, que chega a um lugar
desconhecido e mal disfarça sua presunção e sua ignorância, agindo
por “esforços desproporcionais às descobertas” e surpreendendo-se ao
encontrar “fatos que perturbam suas certezas e o obrigam a reconsiderar
96 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 96 11/02/2015 22:07:29
explicações inteiramente prontas” – o que, segundo o mestre lituano,
seria característica de toda prática científica.
No posfácio à obra, Greimas (1976, p. 243) irá explicar a
estratégia analítica adotada, que consiste, por questões didáticas, em
variar o cardápio descritivo-analítico para “Dois amigos”:
Esse percurso sintagmático e linear do texto,
delimitado por frequentes paradas, assim como
por inúmeros desvios e retornos, que acabamos de
realizar, nós chamamos “exercícios práticos”; isto
não é um sinal de modéstia, mas a designação de
uma abordagem metodológica. Esta abordagem é
eminentemente autodidática. Procuramos rever o
maior número de fatos textuais, mudando porém,
para cada segmento, para cada sequência, tanto
quanto era possível, de ponto de vista e de ponto de
insistência, aumentando as variações metodológicas
de acordo com as variações textuais.
São essas “paradas frequentes” e esses “inúmeros desvios e
retornos” que gostaríamos de colocar em evidência a seguir, dando
atenção especial ao que, no exercício da descrição, irrompe como
acontecimento analítico. Curiosa é a refutação do “sinal de modéstia”
que os “exercícios” poderiam evocar, o que confere um caráter
explicitamente passional à forma de vida do semioticista, aberta ao
acontecimento e, no limite, à concessão.
A saliência do “céu”
A análise de “Dois amigos” é segmentada por Greimas em doze
sequências numeradas, que constituem, na ordem, análises detalhadas
de doze segmentos do conto, nomeados de maneira predominantemente
temática: I. Paris; II. A amizade; III. O passeio; IV. A busca; V. A paz;
VI. A guerra; VII. A captura; VIII. A reinterpretação; IX. A recusa; X. A
morte; XI. As exéquias; XII. O encerramento da narrativa.
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 97
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 97 11/02/2015 22:07:29
Para mostrar como o analista, dentro dos limites impostos
pela cientificidade de seus procedimentos de descoberta e descrição,
formula hipóteses que vão afetar decisivamente a análise, hipóteses que
provêm mais de suas intuições do que propriamente do arranjo textual
e que solicitam a descrição para validá-las e naturalizá-las, escolhemos
o tratamento dado por Greimas à figura do “céu” na narrativa de
Maupassant.
Na análise da Sequência II – A amizade, Greimas (1976, p. 40-
64) configura a seguinte correlação entre figuras do texto e conteúdos
semânticos investidos:
Sol (vida) : Monte Valérien (morte) :: Água (não morte) : Céu (não vida)
Que dá origem a dois percursos:
(1) Sol (/vida/) → Céu (/não-vida/) → Monte Valérien (/morte/)
(2) Monte Valérien (/morte/) → Água (/não-morte/) → Sol (/vida/)
A partir dessa sequência, o “céu” (/não-vida/), ao mesmo tempo
“ator-espaço” e “ator-sujeito” (p. 59), sempre aparecerá como “espaço
vazio suscetível de ser preenchido” (p. 58), “lugar vazio, preenchido
ocasionalmente de luz” (p. 79), ilusório e mentiroso (p. 79-82), modelo
de “vacuidade” (p. 236), já que anuncia um belo dia e reflete o “sol”
(/vida/), preparando o caminho que conduzirá os dois amigos ao
assassinato próximo à “água” (/não-morte/), ao pé do “Monte Valérien”
(/morte/).
É curiosa a insistência de Greimas acerca do papel que o
“céu” desempenha na morte dos dois amigos. Embora o “sol” ilumine
o “céu” e faça brilhar com seus raios os peixes pescados pelos dois
amigos minutos antes de serem executados, na análise greimasiana ele
é relacionado tão somente à /vida/, ocupando um estatuto eufórico em
comparação com a /não-vida/ que o “céu” manifesta.
98 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 98 11/02/2015 22:07:29
Não bastasse a hipótese forte do analista na explicação da
figura “céu” em “Dois amigos”, ele fará uma referência interdiscursiva
explícita ao uso da figura “céu” em “O cordão”, que apresentaria algo
típico da “ideologia do enunciador (Maupassant)”, que é atribuir ao
“céu” o papel de destinador que precisa ser afrontado (p. 236-237).
Do rigor e da prudência, passamos à paixão do analista e à sua
capacidade de (re)significar a complexa rede de relações figurativa
tecida pelo enunciador Maupassant. Como apreender essa descrição
sem atribuí-la à ousadia da análise, ou melhor, do analista? Na forma de
vida do semioticista, a julgar por sua prática, há lugar para a intuição,
para a erudição, para o enigma próprio ao texto, que quanto mais
exacerbado, mais lustroso.
Contatos extratextuais de primeiro, segundo e terceiro grau
Analisando a Sequência X – A morte, o mesmo Greimas que
dissera no Brasil três anos antes que fora do texto não havia salvação
(GREIMAS, 1974, p. 25), vai comentar o emprego das figuras
“Alemão” (o oficial que os interpelou) e “dois franceses” (os dois
amigos propriamente ditos), em correlação com as figuras “o culote
de uniforme” e “farda furada no peito”, à luz do comentário de “um
jovem pesquisador alemão que assistiu à apresentação oral de certos
elementos [da] análise” (nota de rodapé) e ao mito revolucionário de
1789, ressurgido na instauração da República (época em que se passa
o conto, 1883) e que permanecia “vivo até hoje” (GREIMAS, 1976,
p. 217). Segundo o jovem alemão, a oposição entre “Alemão” e “dois
franceses” poderia se dever a certo caráter nacionalista de Maupassant
(“Não estamos aqui para julgar a ideologia do autor”, acrescenta Greimas
(1976, p. 217)). O “culote” e a “farda” (a “tunique”, no original francês,
que pode ser uma túnica militar como uma camisa longa ou como um
dólmã), que aparecem no começo e no final do conto, fariam as vezes
de figurativizar o pertencimento à nação francesa.
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 99
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 99 11/02/2015 22:07:29
Tais considerações, que revelam um Greimas preocupado em
restituir a espessura histórica do universo figurativo de Maupassant, e
bem menos conservador do que se pretendia, são no mínimo curiosas e
nos fazem corar quando lembramos da nossa insistência para que alguns
alunos se atenham ao “texto”, ao menos em um primeiro momento, e
que evitem as boas e fáceis hipóteses do “contexto”, seja lá o que esse
termo signifique hoje, quando vivemos a época forra do “cotexto” [sic]
ou da semiotização do “contexto” ou da “situação”.
Na sequência dessa passagem, a leitura que Greimas (1976, p.
237) faz da queda dos dois amigos mortos em formato de cruz (Sauvage,
que é baixo, cai “atravessado sobre seu colega” Morissot, que é mais
alto) e do sangue que jorrou do peito de Morissot é peculiar: aí estaria
uma isotopia figurativa relativa à “parábola cristã”, na medida em que
“lembra estranhamente a figura de Jesus crucificado” (GREIMAS,
1976, p. 238). Pelo uso provavelmente de um “discurso parabólico”,
segundo Greimas (1976, p. 239), Maupassant estaria relacionado a uma
“tradição ‘mítica’ do século XIX, solidamente estabelecida”, de cunho
“simbolista”.
Essa leitura, como o próprio Greimas salienta, é apenas uma
das possíveis leituras desse discurso pluri-isotópico, embora ele insista
que seja “errôneo imaginar [...] que tudo pode ser reduzido assim a uma
competência subjetiva do leitor e servir para confirmar a teoria de uma
‘infinidade de leituras possíveis’” (GREIMAS, 1976, p. 239).
Uma vez mais a “isotopia cristã” será evocada, dessa vez a
respeito da ordem do Prussiano para fritar os peixes pescados pelos dois
amigos (GREIMAS, 1976, p. 259). Nessa passagem, mesmo afirmando
não ser “competente para discutir aqui as questões árduas de exegese
bíblica”, Greimas faz referência à pesca milagrosa, em que Jesus e seus
discípulos distribuem peixes ao povo, enquanto ironicamente no conto
“Dois amigos” os peixes são “doados” ao antissujeito, um destinatário
inesperado.
100 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 100 11/02/2015 22:07:29
A fumaça do analista
Para terminar nosso inventário de análises ousadas em
Maupassant, que conferem componentes passionais igualmente
arrojados à forma de vida do semioticista, eis uma analogia que nos
parece particularmente notável (GREIMAS, 1976, p. 260-261): o
“Prussiano fumante”, que representaria a /calma/, em proximidade com
o “Monte Valérien”, que expele fumaça, “fuma” afirmando seu poder,
o que para Greimas, é a figurativização da potência, do “ser do poder”.
Impossível evitar a anedota ontológica: Greimas, como todos
sabem, era um fumante inveterado... Ao nosso ver, essa analogia nos
permite entrever certamente uma marca da fumaça, ou melhor, do estilo
do genial analista fumante.
O destino da Cigarra em “Pour ferrer la Cigale”
Num livro coletivo, publicado em 1990 em homenagem ao
artista plástico e semioticista Jacques Geninasca, Greimas incluiu
um brevíssimo ensaio elaborado em parceria com Teresa Keane, com
o título “Pour ferrer la Cigale”, em que propõe uma leitura da última
estrofe da fábula “A Cigarra e a Formiga”, de La Fontaine. Eis o texto
em questão:
– Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
– Vous chantiez? j’en suis fort aise:
Eh bien! dansez maintenant.
As considerações de Greimas e Keane começam pelo núcleo
passional confrontado na rima dos dois versos internos, “ne vous
déplaise” / “j’en suis fort aise”, cada um dos quais se assenta em seu
contrário (negação da disforia da Formiga / afirmação de sua euforia
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 101
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 101 11/02/2015 22:07:29
ante a constatação da desgraça da Cigarra). Os autores dedicarão
prioritariamente sua atenção à Cigarra, como portadora de uma forma
de vida própria, que se manifesta no cantar e consiste em um certo
“desembaraço no viver”. À transformação sofrida pela Formiga – antes,
frustrada por constatar a descuidada vida boêmia de sua visitante e,
agora, feliz pela dura sanção que sobre ela, Cigarra, se abate – responde
em negativo a metamorfose da Cigarra, desde sempre cantora aos quatro
ventos, condenada a converter-se em malograda dançarina (“Eh bien!
dansez maintenant.”), no instante em que se vê subitamente só.
Mas, longe de se ater à decifragem metódica dos dispositivos
intrínsecos ao poema eleito, a leitura de Greimas e Keane alarga, de
pronto, a perspectiva, recorrendo à “enciclopédia” (ecos de Eco?) para
aí garimpar alguns scripts cristalizados em provérbios, locuções feitas,
ditos notórios, etc., os quais fornecerão preciosas indicações para o
movimento interpretativo do texto do fabulista. Assim, por exemplo, o
velho adágio
Qui bien chante et qui bien danse,
Fait un métier qui peu avance.
que soa quase como a própria voz da Formiga, é revelador da íntima
associação entre o dançar e o cantar, sedimentada naquela cultura, a
demonstrar que o canto e a dança referidos no poema não pertencem,
como se poderia supor numa análise desassistida de tal bagagem, a
duas isotopias paralelas, mas sim a uma única. Vê-se, nesse ponto do
comentário de Greimas e Keane, que os analistas estão trabalhando, por
certo, a partir do meticuloso exame do texto mesmo de La Fontaine, mas
que, simultaneamente, o trabalho analítico com as estruturas inerentes
ao poema inscreve-se, mediante as cristalizações de senso comum
historicamente documentadas, no amplo horizonte da cultura que viu
surgir o texto e que lhe confere, ao fim e ao cabo, uma interpretabilidade
mais densa. Não era outro o procedimento, quando, já no Maupassant de
102 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 102 11/02/2015 22:07:29
1976, Greimas lançava mão de todo um cabedal de ordem cultural como
subsídio à leitura das evocações da nacionalidade dos protagonistas
postos em cena no conto.
Para um texto como o dessa fábula, construído sobre expressões-
clichê, sobre sintagmas cristalizados, o olhar de Greimas e Keane é
capaz, entretanto, de pôr a nu todo um trabalho da poiesis velada pelas
aparências triviais de quanto ali se diz. Há, é certo, uma figuratividade
estereotípica, incluindo a formiga trabalhadeira e a cigarra dissipada,
além da vontade moralizante de se ver punida a cigarra que, distraída
em sua forma de vida modalizada pelo querer e aspectualizada pela
continuidade, não teve juízo bastante para cumprir seu dever mínimo.
Mas os autores assinalam coisas menos evidentes, detendo o olhar
naquela palavra situada no ponto final do texto, “maintenant”. Nessa
exata posição, o vocábulo faz duas rimas: a primeira, mais patente, com
a expressão à tout venant – explicitando que o cantar da Cigarra não
era apenas para seu próprio prazer, mas destinado a qualquer um que
quisesse ouvi-la; a segunda, uma “rima-contraste do conteúdo” frente
à locução que abre a estrofe, nuit et jour, designando a totalidade do
tempo preenchido pelas atividades da vida. Dessa disposição e dessa
dupla dependência é que procede, portanto, o peso extraordinário que
ganha, aí, o “maintenant”: por um lado, a negação da globalidade do
tempo em uma punctualidade; por outro, a anulação da comunicação
intersubjetiva permanente da Cigarra, para dar lugar à completa solidão
daquela que agora vai “dançar”.
Assim, transitando sem muita cerimônia entre diversos níveis
de pertinência, o semioticista lituano e sua parceira mostram como a
passagem da Cigarra, de uma atividade social e intersubjetiva – o canto,
emitido dia e noite perante a plateia de “todos que vierem” – para o
brusco momento (“maintenant”) da instauração de seu isolamento,
como essa passagem corresponde à repentina abolição de todo um
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 103
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 103 11/02/2015 22:07:29
projeto de vida, até então celebrado com deleite e leveza5. Quase como
se, anacronicamente falando, La Fontaine arremessasse a Cigarra, sem
transição, das latitudes generosas de um quente princípio de prazer-
em-coletividade para a severa zero-dimensionalidade da consciência do
real que a faz cair, sozinha, no inverno. A brusquidão da réplica final
da Formiga investe-se da violência (subitaneidade + força) adequada à
lição de moral que, de muito bom grado, como guardiã de uma forma
de vida previdente e circunspecta, ela pode enfim aplicar à infeliz figura
alegre que lhe bate à porta.
Escrito nos últimos anos de vida de Greimas, depois daquele
ponto de viragem que foi Da Imperfeição (1987), o estudo “Pour ferrer la
Cigale”, sob as aparências de uma desimportante nota de circunstância,
indica uma atitude analítica na qual o proverbial rigor do semioticista
alia-se não apenas à erudição como também, e sobretudo, ao apetite da
descoberta de novas facetas do texto eleito, aí considerados, em gesto
integrador, sua expressão e seu conteúdo. Quando lembramos que aí
se trata de um texto tão célebre quanto “A Cigarra e a Formiga”, os
comentários de Greimas e Keane vêm proporcionar, pelo exemplo,
uma confirmação a mais de que não se acaba nunca de ler um clássico
– nem mesmo um simples fragmento dele. Esperamos ter esclarecido
também, ao reportar a análise, muito mais aturada e minuciosa, dos
“Dois Amigos” de Maupassant, que, em plena construção de um método
descritivo, Greimas tampouco se furtava aos lampejos da revelação de
sinais, configurações, pistas de leitura imprevistas que a frequentação
da obra acabaria trazendo à manifestação. Clarividência do grande
lituano: em meio à edificação do exercício, a acolhida consentida aos
acontecimentos e surpresas da análise sob a forma de seus insólitos
insights.
5 Essa análise do fr. maintenant viria a ser lembrada e explorada, também no campo literário,
tempos depois, por Denis Bertrand em seu ensaio “Maintenant”, publicado no periódico
italiano E/C em 2004 (BERTRAND, 2004, pp. 2-3).
104 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 104 11/02/2015 22:07:29
Que “formas” para que “vida”?
Seria precipitado, no atual estágio das pesquisas, afirmar que o
conceito de “forma de vida” conta, em semiótica, com a mesma solidez
que outras noções de introdução mais antiga, as quais já atravessaram o
polimento que lhes imprimem, nos casos felizes, os debates dos teóricos
e o embate com a decifração de bom número de textos. Por volumosas
que já sejam as discussões a respeito em domínios circunvizinhos como
a filosofia ou a pragmática, deve-se reconhecer que a semiotização
desse conceito wittgensteiniano ainda é work in progress, e que
mesmo os importantes avanços trazidos, de dez anos a esta parte, pelas
propostas de Fontanille, aguardam a construção de um esteio mais
firme em estudos de caso que venham a consolidar-lhe pouco a pouco
a operacionalidade. Mas, de toda maneira, desde já se evidencia nesse
conceito a vocação para o social e o cultural que tem animado parte da
investigação semiótica e que, em nossa conjuntura, é uma das peças
da disputa territorial travada, ainda que tacitamente, pelos adeptos do
“universal”, num campo, e do “situado”, no outro. De fato, embora não
querendo alcançar a “origem” de coisa nenhuma, os semioticistas se
interessam bastante, e não é de hoje, por “universais”. Para ficar em
território familiar, houve um tempo em que a narratividade proppiana,
filtrada e tornada mais abstrata por A. J. Greimas, era considerada como
“a” narratividade universal, antes de vir a ser reavaliada, em face da
resistência de muitos textos literários aos moldes do conto maravilhoso,
como “uma” narratividade – por certo, das mais recorrentes – entre
outras.
Com o passar dos anos e das décadas, a semiótica foi assistindo,
à medida que se abria mais e mais o leque das orientações de pesquisa, a
um distanciamento progressivo entre as preocupações “universalistas”
por um lado e, digamos, “relativistas” ou “situadas” por outro. A
vertente do “universal” vem explorando substratos cada vez mais
depurados e distantes das formas textuais, chegando por vezes, sob o
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 105
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 105 11/02/2015 22:07:29
impulso de um certo cognitivismo contemporâneo, a enveredar pelos
modelos de mente/cérebro ou até, nos casos extremos, a propor algo
como uma “biossemiótica”, a exemplo daqueles que, desde antes, já
vinham preconizando uma biolinguística. Tal integração com as ciências
da natureza comporta o risco, para a semiótica, de se ver relegada
à condição de um estudo de meros epifenômenos observáveis em
superficialidades cujos determinantes profundos são objeto da atenção
de biólogos, físicos... os quais se ocupariam, eles sim, das coisas que
realmente importam.
Por outro lado, há semioticistas envolvidos em prioridade com
a questão da produção do sentido dentro de um meio, não mais natural,
porém cultural, cujos trabalhos tendem a reaproximar a semiótica da
antropologia, da sociologia, da psicanálise – em suma, do conjunto
das ciências humanas, com as quais ela entreteve historicamente laços
menos ou mais pronunciados. É preciso, nessa orientação, manter a
exigência de explicitação das formas (da expressão e do conteúdo) em
exame, para que a semiótica, após tanto labor e tanta energia dedicada
à construção de protocolos analíticos, não se acabe diluindo em algo
como uma subespécie acanhada de Cultural studies desprovidos de
militância.
Mas, entre as aquisições interessantes que o fenômeno anglo-
saxônico dos Cultural studies vem produzindo, podemos destacar
o papel de pivô em que se passa a colocar a variação no universo
semiótico, que é o dos valores. Levada a sério, a variação nos repropõe o
problema da inserção dos textos que lemos dentro de conjuntos maiores
que os contêm, o que equivale a dizer, em última instância, a cultura,
justamente.
Tensionado, hoje mais do que em outros períodos, entre os apelos
da “naturalização” e da “culturalização” do sentido, o semioticista
– não se pode ter tudo – está defrontado com escolhas por fazer. Em
tempos de tecnociência triunfante e de crise das humanidades, ninguém
negaria que o pendor para a naturalização vem conquistando mais e
106 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 106 11/02/2015 22:07:29
mais terreno nas décadas recentes. Queremos crer, todavia, que, tanto
em função de suas fontes teóricas quanto das demandas do presente,
o semioticista tem interesse em estender sua investigação na direção
do social e da cultura, sem perder de vista a centralidade do texto e
do discurso como níveis de organização irredutíveis, dotados de
morfologias próprias. Sem consciência desses múltiplos patamares de
descrição, não há esperança de formar bons analistas, nem sequer bons
leitores, estes pressupostos à existência daqueles.
Isso nos traz de volta a questões práticas e bem palpáveis
para nós, semioticistas. Por incontornável que seja a necessidade da
análise do texto enquanto tal em sua morfologia interna, sua divisão
em partes, suas dependências entre parte e parte e entre partes e todo,
sua hierarquia de níveis de abstração, etc., esta não pode, a não ser
por um gesto arbitrário, ser vista como uma autarquia, impermeável às
trocas com os englobantes do texto, tais como seus objetos-suporte, as
práticas na vida social, as formas de vida à luz das quais elas se leem.
Dito de outo modo, o labor analítico não nos dispensa de pensar, para
além, nas questões interpretativas e finalmente críticas a que somos
conduzidos quando, afastando o olhar, passamos a contemplar os
sucessivos entornos em que um texto se produz, se negocia e circula. E,
por menos que nos interroguemos sobre nossa própria prática enquanto
profissionais, como esquecer, lado a lado com a exatidão visada pelas
análises, o dever da formação de leitores cada vez mais críticos? Ante a
magnitude das tarefas por empreender, podemos ficar sossegados, que
não há de nos matar o tédio.
Referências
ALBERTA RODRÍGUEZ, Blanca ; RUIZ MORENO, Luisa (eds.). Dossiê temático
“Formas de la Lentitud”. Tópicos del Seminario, nº 26 (2011) e 27 (2012), Universidad
Autónoma de Puebla, México.
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 107
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 107 11/02/2015 22:07:29
ABRIATA, Vera Lucia Rodella; NASCIMENTO, Edna Maria Fernandes dos Santos.
(orgs.). Formas de vida da mulher brasileira. Ribeirão Preto-SP, Coruja, 2013.
BASSO-FOSSALI, Pierluigi; BEYART-GESLIN, Anne (orgs.). Les formes de vie à
l’épreuve d’une sémiotique des cultures, Actes Sémiotiques, n. 115, Limoges, 2012.
BERTRAND, Denis. “Maintenant”. E/C – Rivista dell’Associazione Italiana Studi
Semiotici, abril de 2004.
FLOCH, Jean-Marie, Une lecture de Tintin au Tibet. Paris : PUF, 1997.
FLORES, Roberto (ed.). Dossiê temático “Formas de Vida”. Tópicos del Seminario,
nº 1 (1999), Universidad Autónoma de Puebla, México.
FONTANILLE, Jacques. Quando a vida ganha forma. Trad. Jean Cristtus Portela.
In: NASCIMENTO, Edna. Maria. Fernandes. dos Santos.; ABRIATA, Vera. Lucia.
Rodella (org.). Formas de vida: rotina e acontecimento. Ribeirão Preto: Coruja, 2014.
FONTANILLE, Jacques. Pratiques sémiotiques. Paris: PUF, 2008.
FONTANILLE, Jacques.; ZILBERBERG, Claude. Tensão e significação. Trad. Ivã
Carlos Lopes, Luiz Tatit e Waldir Beividas. São Paulo: Discurso Editorial-Humanitas/
FFLCH/USP, 2001.
GREIMAS, Algirdas. Julien. Du Sens II: essais sémiotiques. Paris: Du Seuil, 1983.
GREIMAS, Algirdas. Julien. Maupassant: la sémiotique du texte: exercices pratiques.
Paris: Éditions du Seuil, 1976.
GREIMAS, Algirdas. Julien. L’Enonciation: une posture épistémologique.
Significação – Revista Brasileira de Semiótica, nº 1, Centro de Estudos Semióticos A.
J. Greimas: Ribeirão Preto (SP), 1974, p. 09-25.
GREIMAS, Algirdas. Julien. Sémantique structurale: recherche de méthode. Paris:
Larousse, 1966.
108 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 108 11/02/2015 22:07:29
GREIMAS, Algirdas Julien, COURTÉS, Joseph. Dicionário de semiótica. Tradução
Alceu Dias Lima et al. São Paulo: Contexto, 2008.
GREIMAS, Algirdas. Julien.; FONTANILLE, Jacques. O belo gesto. Trad. Edna
Maria Fernandes dos Santos Nascimento. In: NASCIMENTO, Edna. Maria.
Fernandes. dos Santos.; ABRIATA,Vera.Lucia.Rodella (org.). Formas de vida: rotina
e acontecimento. Ribeirão Preto: Coruja, 2014.
GREIMAS, Algirdas. Julien.; FONTANILLE, Jacques. Sémiotique des passions: des
états de choses aux états d’âme. Paris: Seuil, 1991.
GREIMAS, Algirdas. Julien.; KEANE GREIMAS, Teresa. Pour ferrer la Cigale. In:
FRÖLICHER, Peter. et al. (org.). Espaces du texte: recueil d’hommages pour Jacques
Geninasca. Neuchâtel: La Baconnière, 1990.
LANDOWSKI, Eric. Formas da alteridade e estilos de vida. In: _____. Presenças do
outro: ensaios de sociossemiótica. Trad. Mary Amazonas Leite de Barros. São Paulo:
Perspectiva, 2002.
NEF, Frédéric. (org.). Structures élémentaires de la signification. Bruxelles: Éditions
Complexe, 1976.
PARRET, Herman. Le sublime du quotidien. Paris/Amsterdam/Philadelphia: Hadès-
Benjamins, 1988.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Trad. José Carlos Bruni. São
Paulo: Abril Cultural, 1975 (Coleção Os Pensadores).
ZILBERBERG, Claude. Semiótica tensiva y formas de vida. Puebla: Universidad
Autónoma de Puebla, 1999.
ZILBERBERG, Claude. Des formes de vie aux valeurs. Paris : PUF, 2011.
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 109
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 109 11/02/2015 22:07:29
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 214 11/02/2015 22:07:38
Sobre as organizadoras
EDNA MARIA FERNANDES DOS SANTOS NASCIMENTO.
[edna.fernandes@uol.com.br]. Docente do Programa de Pós-graduação
em Linguística e Língua Portuguesa da UNESP-Araraquara, pesqui-
sadora do CNPq e membro co-fundador do Grupo de Pesquisa CASA
(Cadernos de Semiótica Aplicada). Mestre e doutora em Linguística
pela Universidade de São Paulo, livre-docente em Linguística pela Uni-
versidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP-Arara-
quara). Publicou em co-autoria o livro João Guimaraes Rosa. Homem
plural, Escritor singular (Atual, 1988), organizou com outros pesqui-
sadores os livros: Formas de vida da mulher brasileira (Coruja, 2012);
Leitura: linguagens, representações e práxis (Unifran, 2009); Proces-
sos enunciativos em diferentes linguagens (Unifran, 2006) e tem vários
capítulos e artigos publicados na sua área de especialização, a semiótica
greimasiana. Sua pesquisa centra-se nos seguintes temas: rotina, acon-
tecimento, paixão, formas de vida, mulher, cultura brasileira.
VERA LUCIA RODELLA ABRIATA. [vl-abriata@uol.com.br].
Docente e Coordenadora do Programa de Mestrado em Linguística da
Universidade de Franca. Atua na Graduação em Letras e no Programa
de Mestrado em Linguística da Unifran. Membro co-fundador do Gru-
po Texto e Discurso (GTEDI), certificado pela UNIFRAN. Mestre em
Estudos Literários e Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP-Ara-
raquara). Publicou e organizou em co-autoria os livros Leitura: a cir-
culação de discursos na contemporaneidade (Unifran, 2013), Formas
de vida da mulher brasileira (Coruja, 2012), Discursos e linguagens:
objetos de análise e perspectivas teóricas (Unifran, 2011), Sentidos em
movimento. Identidade e argumentação (Unifran, 2008). Suas pesqui-
sas estão voltadas para a Semiótica francesa, a narrativa, a poética e a
literatura brasileira.
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 215
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 215 11/02/2015 22:07:38
Sobre os autores
ALGIRDAS JULIEN GREIMAS. Semioticista francês de origem
lituana, nascido em 1917 e morto em 1992. Foi professor em Alexan-
dria, Ancara, Istambul, Poitiers e em Paris, na École de Hautes Études
en Sciences Sociales – EHESS. Fundador dos estudos de semiótica
estrutural e da Escola de Semiótica de Paris. Tem vários artigos e livros
publicados, dentre eles destacam-se: Semântica estrutural (1966), So-
bre o sentido (1970), Semiótica e ciências sociais (1976), Maupassant:
a semiótica do texto: exercícios práticos (1976), Sobre o sentido II: en-
saios semióticos (1983), Da imperfeição (1987). Escreveu com Joseph
Courtés Dicionário de semiótica (1979), obra em que sistematizam os
princípios da semiótica greimasiana.
IVÃ CARLOS LOPES. [lopesic@usp.br]. Docente do Departa-
mento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas da USP, atuando na Graduação em Letras e na Pós-Graduação
em Semiótica e Linguística Geral. Membro co-fundador do Grupo de
Estudos Semióticos (GES) da Universidade de São Paulo. Publicou as
seguintes obras: Semiótica: identidade e diálogos (org., com Jean C.
Portela, Waldir Beividas e Matheus N. Schwartzmann, Cultura Acadê-
mica, 2012); Semiótica da poesia: exercícios práticos (org., com Daya-
ne Celestino de Almeida, Annablume, 2011); Elos de Melodia e Letra
(com Luiz Tatit, Ateliê Editorial, 2008); Semiótica: objetos e práticas
(org., com N. Hernandes, Contexto, 2005, reprint 2009). Tem realizado
traduções, sempre do francês para o português, de trabalhos na área de
ciências da linguagem. Seus interesses de pesquisa distribuem-se entre
a semiótica geral e aplicada, a linguística geral, a poética e a cultura
brasileira.
216 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 216 11/02/2015 22:07:38
JACQUES FONTANILLE. [jacques.fontanille@unilim.fr]. Do-
cente Titular do Departamento de Ciências da Linguagem da Faculdade
de Letras e Ciências Humanas da Universidade de Limoges (França).
É membro sênior do Instituto Universitário da França e fundador do
Centro de Pesquisas Semióticas da Universidade de Limoges. Sua obra
compreende centenas de artigos e dezenas de obras organizadas e de
autoria individual, muitas delas traduzidas para diversas línguas. Entre
suas publicações, destacam-se Semiótica das paixões (Ática, 1993, ed.
br.), em coautoria com A. J. Greimas, Semiótica do discurso (Contexto,
2012, 2. ed. Br.), Pratiques sémiotiques (PUF, 2008), Corps et sens
(PUF, 2011) e Des images à problèmes: le sens du visuel à l’épreuve de
l’image scientifique (PULIM, 2012), com Maria Giulia Dondero.
JEAN CRISTTUS PORTELA. [jean@fclar.unesp.br]. Docente
do Departamento de Linguística e do Programa de Pós-Graduação em
Linguística e Língua Portuguesa da Faculdade de Ciências e Letras da
Unesp, câmpus de Araraquara (SP). Pós-doutor em Semiótica pela Uni-
versité de Limoges (França), Doutor em Linguística e Língua Portugue-
sa pela Unesp de Araraquara (SP) e Mestre em Letras pela Universidade
Estadual de Londrina (PR). Líder do Grupo CASA, vice-líder do Grupo
de Pesquisa em Semiótica da Unesp (FCLAr/Unesp) e membro-fun-
dador do Seminário de Semiótica da Unesp (SSU). É editor-chefe dos
CASA - Cadernos de Semiótica Aplicada. Autor e tradutor de diversas
publicações científicas, desenvolve atualmente pesquisas em história e
epistemologia da semiótica.
JULIANA SPIRLANDELI BATISTA BARCI. [juspirlandeli@
hotmail.com]. Docente nos cursos de Letras, Tradutor e Intérprete, Nu-
trição e Gastronomia na Universidade de Franca. Coordenadora dos
cursos de Letras, Tradutor e Intérprete e Pedagogia da Universidade de
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 217
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 217 11/02/2015 22:07:38
Franca. Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Fclar/Unesp/
Araraquara e Mestre em Linguística pela Universidade de Franca. Es-
pecialista em Língua Inglesa e graduada em Letras e Direito pela
Universidade de Franca. Áreas de atuação e conhecimento: Semiótica,
Prática de Tradução, Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa e Inglês
e Francês instrumental.
MATHEUS NOGUEIRA SCHWARTZMANN. [matheusns@as-
sis.unesp.br]. Docente do Departamento de Linguística da Faculdade
de Ciências e Letras da Unesp, câmpus de Assis (SP), é doutor em Lin-
guística e Língua Portuguesa pela UNESP (2009), com estágio de dou-
torando na Université de Limoges, França (2006), e mestre em Estudos
Literários pela UNESP (2005). Tem experiência na área de Linguística
e Língua Portuguesa, com ênfase em Semiótica francesa e é membro
-pesquisador do Grupo CASA (FCLAr/Unesp). Além de ter publica-
do diversos artigos e capítulos de livro, traduziu textos da área de Se-
miótica, e co-organizou as obras Leitura: a circulação de discursos na
contemporaneidade (Unifran, 2013), Semiótica: identidade e diálogos
(Cultura Acadêmica, 2012) e Discurso e linguagens: objetos de análise
e perspectivas teóricas (Unifran, 2011).
NAIÁ SADI CAMARA. [naiasadi@gmail.com]. Docente do
Programa de Mestrado em Linguística e do curso de Letras da Univer-
sidade de Franca. Pesquisadora dos grupos de pesquisa CASA (FCLAr/
Unesp), Grupo de Texto e Discurso - GTEDI (UNIFRAN), Grupo de
Estudos sobre Mídias Interativas em Imagens e Som- GEMINIS- (UFS-
CAR). Mestre e doutora pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho. Publicou e organizou em co-autoria os livros Leitura: a
circulação de discursos na contemporaneidade (Unifran, 2013) e Tex-
tos e contextos (Unifran, 2012). A partir dos fundamentos da semióti-
218 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 218 11/02/2015 22:07:38
ca greimasiana, suas pesquisas atuais se voltam se para os seguintes
temas: educação e entretenimento, narrativas seriadas audiovisuais,
televisão, transmídia, processos de ensino-aprendizagem de leitura e
produção de textos.
Edna Maria dos Santos Fernandes Nascimento /Vera Lúcia Rodella Abriata (Orgs.) 219
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 219 11/02/2015 22:07:38
www.editoracoruja.com.br
220 Fomas de Vida: Rotina e Acontecimento
formaDeVida-rotina-003-FINAL-110215.indd 220 11/02/2015 22:07:38
Você também pode gostar
- Os Arcanos Maiores Do Tarô - G. O. MebesDocumento278 páginasOs Arcanos Maiores Do Tarô - G. O. MebesNicole Sigaud100% (7)
- Teoria Do Ataque MágicoDocumento103 páginasTeoria Do Ataque MágicoÁquila MapAinda não há avaliações
- ISRAEL E JUDAÍSMO - Por Abraham ShapiroDocumento88 páginasISRAEL E JUDAÍSMO - Por Abraham ShapiroAbraham Shapiro Perfil Dois100% (1)
- Análise de Políticas PúblicasDocumento81 páginasAnálise de Políticas PúblicasMayra Matuck100% (2)
- Sistemas de Gestã - Revista - Gestão Dos Riscos - Apr - Edicao - 42Documento48 páginasSistemas de Gestã - Revista - Gestão Dos Riscos - Apr - Edicao - 42jtonetiAinda não há avaliações
- BRAGA, C. - Notas de Física MatemáticaDocumento195 páginasBRAGA, C. - Notas de Física MatemáticaRenatodocs100% (1)
- Unidades AutismoDocumento41 páginasUnidades AutismoMaria Joaquina Pereira de Carvalho100% (2)
- SARLO, Beatriz. Tempo Passado (Resumo)Documento9 páginasSARLO, Beatriz. Tempo Passado (Resumo)Ni Ramalho83% (6)
- Atividades CidadaniaDocumento8 páginasAtividades CidadaniaAnna Neres BurtetAinda não há avaliações
- RAGO, M. Epistemologia Feminista, Gênero e HistóriaDocumento17 páginasRAGO, M. Epistemologia Feminista, Gênero e Históriavanvan89Ainda não há avaliações
- InfantilDocumento44 páginasInfantildanieleAinda não há avaliações
- A Audiodescricao Na Escola PDFDocumento13 páginasA Audiodescricao Na Escola PDFPaula Aparecida AlvesAinda não há avaliações
- Projeto Integrador Relatório FinalDocumento23 páginasProjeto Integrador Relatório FinalMarcoAurelioSilvaCruzAinda não há avaliações
- Como Definir Nossos SonhosDocumento3 páginasComo Definir Nossos SonhosJulio FlavioAinda não há avaliações
- Meu Filho, Você Não Merece Nada - Por - ELIANE BRUM - Portal GeledésDocumento3 páginasMeu Filho, Você Não Merece Nada - Por - ELIANE BRUM - Portal GeledésMilly ZaidanAinda não há avaliações
- Mensagem Mais Um Novo DiaDocumento1 páginaMensagem Mais Um Novo DiaCláudia RodriguesAinda não há avaliações
- Prefacio Livro Ritmica e LevadasDocumento1 páginaPrefacio Livro Ritmica e LevadasTuri ColluraAinda não há avaliações
- Segawaarquiteturasnobrasil2 170427190137Documento215 páginasSegawaarquiteturasnobrasil2 170427190137LarryAndelmoAinda não há avaliações
- Módulo 01 - Conceitos Introdutórios Sobre Federalismo e Federalismo FiscalDocumento34 páginasMódulo 01 - Conceitos Introdutórios Sobre Federalismo e Federalismo FiscalRenata Leandro0% (1)
- A Forma Federativa Do EstadoDocumento17 páginasA Forma Federativa Do EstadoCris SampaioAinda não há avaliações
- Agostinho o Doutor Da GraçaDocumento22 páginasAgostinho o Doutor Da GraçaEzequiasAinda não há avaliações
- Michel Foucault A Ordem Do Discurso (Versão Final) MAYLANADocumento3 páginasMichel Foucault A Ordem Do Discurso (Versão Final) MAYLANAFranklin OliveiraAinda não há avaliações
- Teorias GeográficasDocumento4 páginasTeorias GeográficasGenito Geraldo CampunhaAinda não há avaliações
- A Escrita Do Sagrado Na Poesia de António FeijóDocumento107 páginasA Escrita Do Sagrado Na Poesia de António FeijóPedro Fonseca E SilvaAinda não há avaliações
- Patentes PDFDocumento240 páginasPatentes PDFjose flavio ferreiraAinda não há avaliações
- 6 - A Face Existencial Da Gestalt-TerapiaDocumento10 páginas6 - A Face Existencial Da Gestalt-Terapiakarinny gonçalvesAinda não há avaliações
- 17 0 Eventos PDFDocumento17 páginas17 0 Eventos PDFJoão FerreiraAinda não há avaliações
- Psicologia A AaaaaaaaaaDocumento22 páginasPsicologia A AaaaaaaaaaEdson VilanculosAinda não há avaliações
- Primeiro CapituloDocumento23 páginasPrimeiro CapituloMichael MarinhoAinda não há avaliações
- R134 - Mesa Radi Nica de RelacionamentosDocumento3 páginasR134 - Mesa Radi Nica de RelacionamentosÉdipo A RamoneAinda não há avaliações