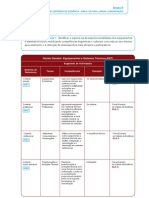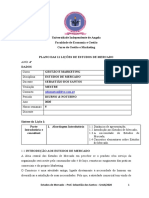Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
99 227 1 DR
99 227 1 DR
Enviado por
Lenaye ValvassoriTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
99 227 1 DR
99 227 1 DR
Enviado por
Lenaye ValvassoriDireitos autorais:
Formatos disponíveis
EIXO TEMÁTICO:
Fundamentos da pesquisa em educação
MODALIDADE:
Comunicação Oral
A filantropia na educação especial brasileira: influências na
meta 4 do PNE (2014-2024)
Filantropía en la educación especial brasileña: influencias en la meta 4 del
PNE (2014-2024)
VALVASSORI SILVA, Lenaye; COUTINHO, Luciana Cristina Salvatti
UFSCar, Sorocaba- SP, e-mails: lenaye.lvs@gmail.com; lucscoutinho@ufscar.br
Resumo
Este trabalho objetiva analisar a filantropia e a educação especial, buscando
responder ao seguinte problema: “Quais foram as influências da filantropia na
educação das pessoas com deficiência, sobretudo na atualidade expressa pela
meta 4 no Plano Nacional de Educação (2014-2024)? ”.
Para tanto, realiza-se um histórico dessa relação entre público e privado na
educação brasileira, assim como analisa a meta 4 do Plano Nacional da
Educação – PNE (2014-2024), que traz reflexos dessa confluência. A
relevância desta pesquisa é destacada pela atuação de uma das maiores
entidades filantrópicas da América Latina, a Federação Nacional das APAEs –
FENAPAES, o que demonstra historicamente suas influências nas políticas
educacionais, inclusive na meta 4 do citado documento. Para a presente
discussão, empregou-se a metodologia bibliográfica e documental,
fundamentada na historiografia sobre o tema. Brevemente, pode-se destacar
que a filantropia é uma questão estrutural nos setores sociais brasileiros, desde
o período do Brasil Colônia. Na educação especial desde o Império
acentuando-se no período de ditadura civil-militar, impactando nas políticas
educacionais até a atualidade. As entidades filantrópicas tornaram-se “braços”
do Estado e recebem recursos públicos para o seu funcionamento. Esse
movimento demonstra grande ambiguidade, já que as políticas educacionais
preconizam que os alunos com deficiência sejam matriculados na escola
regular, porém, o discurso da meta 4 do PNE mantém as parcerias e
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
convênios. Essa relação contribui para uma educação que recebe valor de
troca, já que passa a ser um “serviço”, obedecendo, por sua vez, às regras do
mercado, nos moldes do neoliberalismo econômico.
Palavras-chave: Filantropia, Historiografia, Privatização do ensino; Educação
das pessoas com deficiência.
Introdução
Neste texto, o foco central é a relação da filantropia com a educação
especial. Para situar os leitores e realizar as análises, as marcas históricas
desse vínculo estão expostas em uma organização cronológica dos fatos, logo
após a introdução.
Buscou-se responder ao seguinte problema “Quais foram as influências
da filantropia na educação das pessoas com deficiência, sobretudo na
atualidade expressa pela meta 4 do PNE (2014-2024)? ”.
A filantropia é uma marca presente em diversos setores sociais
brasileiros, como na saúde, na educação, na segurança e na previdência e
encontra-se no seio da relação público-privado.
De acordo com Pires (2015), tal relação entre o público e o privado é
uma herança cultural portuguesa, que se instaurou na política brasileira, desde
o Brasil Colônia. Além disso, Mestriner (2008) define a filantropia como a
relação entre Estado e sociedade e salienta que essa ligação é responsável
pela desigualdade social que caracteriza o Brasil da época do Império até a
atualidade.
Diante de tal influência na política brasileira, este trabalho tem como
objetivo analisar a relação entre filantropia e educação especial no Brasil e seu
impacto na educação de crianças e adolescentes com deficiência, além de
buscar traçar o histórico da filantropia na instrução desses alunos e analisar a
meta 4 do Plano Nacional da Educação – PNE (2014-2024), destacando
expressões que demonstrem esse vínculo.
Com base nos estudos de Jannuzzi (2012), Jannuzzi e Caiado (2013),
Michels e Garcia (2014), Laplane, Caiado e Kassar (2016), Freitas (2018),
Amorim (2018) e Rafante, Silva e Caiado (2019), é possível situar
historicamente as marcas da filantropia na educação especial brasileira desde
o período imperial.
O estudo é de caráter bibliográfico e documental, fundamentado na
historiografia. Tanto a análise da meta 4 do PNE quanto dos livros e artigos de
apoio foi feita a partir do olhar de “extração”, método no qual são retirados do
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
documento sua origem, o contexto histórico e político em que foi concebido e
demais informações que possibilitem entendê-lo em profundidade (LUCA,
2014, p. 111-154). Assim, a partir dessa metodologia, busca-se verificar os
caminhos que uniram filantropia e educação especial brasileira ao longo da
história brasileira.
Dessa forma, a estratégia empregada foi observar os convênios e
parcerias estabelecidos na meta 4 do PNE, fios condutores dessa relação entre
Estado e sociedade Civil, que define a filantropia.
2. As origens das relações público-privado nas políticas educacionais
brasileiras: a aliança entre a Coroa Portuguesa e a Companhia de Jesus
De acordo com Pires (2015), a relação entre público-privado é herança
dos costumes e valores da sociedade portuguesa, portanto está presente na
história brasileira desde o período colonial.
No campo das políticas educacionais, é possível observar que a
aliança entre a Coroa Portuguesa com a Igreja Católica, representada pela
Companhia de Jesus, foi vantajosa para ambas. À Coroa, para manter seu
poder econômico e político sobre o Brasil, e à Igreja, tendo em vista a
manutenção de sua influência ante a Reforma Protestante proposta por
Martinho Lutero, no século XVI.
Essa aliança promoveu uma educação marcada pela aculturação, no
sentido de impor aos indígenas e a todos aqueles que residissem na colônia,
principalmente mulheres e homens escravizados, os costumes e valores dos
colonizadores.
Na verdade, o colonizador não objetivava promover a
educação como uma perspectiva de atendimento à população,
não tinha a intenção de assumir tal função, mas percebia na
educação um eficaz mecanismo de cooptação para os
interesses econômicos da empresa colonial e para a
legitimação do seu poder. Para tanto, contava com o apoio dos
jesuítas, desejosos de ampliar a influência católica na região.
(PIRES, 2015, p. 29).
A fim de que se possa compreender como ocorreu a educação nesse
período, recorre-se aos estudos de Saviani (2011), para quem a educação
colonial no Brasil pode ser dividida em três etapas. A primeira, denominada
“período heroico”, compreende a chegada dos primeiros jesuítas ao país, em
1549, até a morte de Anchieta, em 1597, e a promulgação do Ratio Studiorum,
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
em 1599. Nesse momento, destacam-se os jesuítas Padre Manoel da Nóbrega
e Padre Anchieta como importantes intelectuais.
Saviani (2011, p. 47) retrata que, no século XVI, foi organizada e
instaurada uma pedagogia brasílica “[...] formulada e praticada sob medida
para as condições encontradas pelos jesuítas nas ocidentais terras
descobertas pelos portugueses.”.
No ano de 1549, a Coroa portuguesa passa a recolher dez por cento dos
impostos arrecadados na colônia brasileira para a manutenção dos colégios
jesuítas, prática chamada de redízima.
Já a segunda etapa, ocorrida entre 1599 e 1759, é marcada pela
centralidade no Ratio Studiorum, isto é, pela institucionalização da pedagogia
jesuítica, cujo plano se constituía em um conjunto de regras que abrangia a
todos os envolvidos no ensino, a ser seguido em todas as colônias
portuguesas.
Saviani ressalta que está explícito que o Ratio Studiorum continha uma
figura que desempenhava a função de supervisão educacional, pois esse
agente ajudaria o reitor na boa ordenação dos estudos.
Esse destaque com a função supervisora com a explicitação da
ideia de supervisão educacional é indício da organicidade do
plano pedagógico dos jesuítas, o que permite falar, ainda que
de forma aproximada, que se tratava de um sistema
educacional propriamente dito. (SAVIANI, 2011, p. 56)
De acordo com Saviani (2011), o Ratio possuía caráter universalista e
elitista: universalista, pois foi adotado por todos os jesuítas onde quer que
estivessem; elitista, pois excluiu indígenas do processo de aprendizado e
acabou sendo destinado apenas aos filhos dos colonos.
[...] a educação foi organizada, naquele momento, sob os
fundamentos privatista e elitista, excluindo a maioria da
população do acesso ao ensino e servindo como um
instrumento de distribuição de privilégios e de controle da
população. Acrescento ainda que a sua direção ideológica
estava diretamente vinculada ao cristianismo. (PIRES, 2015, p.
35).
Finalmente, a terceira e última fase refere-se à reforma pombalina,
entre 1759 e 1808, nome dado às medidas adotadas por Marquês de Pombal,
figura importante tanto politicamente quanto na historiografia do país.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
No dia 28 de junho de 1759, por meio do alvará 1referente à reforma dos
estudos menores, equivalentes ao nível primário e secundário, que extinguiu
escolas e classes mantidas pelos jesuítas. Tal reforma da instrução pública
ocorreu tanto em Portugal quanto em suas colônias.
Conforme Saviani (2011), esse período foi impulsionado pelo ideário
iluminista, e os pensadores Mandeville e Ribeiro Sanches exerceram grande
influência nas reformas pombalinas, tendo em vista que mudaram o foco da
pedagogia para a economia política, que defendia que aos filhos dos pobres e
dos lavradores se destinava apenas a instrução dos párocos. As escolas
populares não eram vistas como vantajosas para estes pensadores, uma vez
que consideravam que se os jovens aprendessem a ler e escrever
abandonariam os ofícios braçais.
O ideário pedagógico traduzido nas reformas pombalinas
visava a modernizar Portugal, colocá-lo no nível do Século das
Luzes, como ficou conhecido o século XVIII. Isso significa
sintonizá-lo com o desenvolvimento da sociedade burguesa
centrada no modo de produção capitalista, tendo como
referência os países mais avançados, em especial a Inglaterra.
(SAVIANI, 2011, p.103).
De acordo com Saviani (2011), com a morte do rei Dom José I, em
1777, sua filha Dona Maria tomou o trono e demitiu Marquês de Pombal.
Porém, as reformas pombalinas continuaram vigorando com a implantação das
aulas régias, aulas avulsas, e, novamente, a educação ficou a cargo das
ordens religiosas, fenômeno que ficou conhecido como “conventualização”.
Por fim, é possível identificar que as reformas pombalinas eram
opositoras à predominância das ideias religiosas. Eram preconizadas ideias
laicas fundamentadas no Iluminismo, em que o Estado deveria manter a
questão da instrução; da mesma forma, os ideários iluministas inspiraram
movimentos que almejavam a autonomia política dos países que eram colônias
de outros.
Destaca-se na organização do Estado português o mérito pessoal, os
privilégios e a solidariedade como um forte valor moral. De acordo com Pires
(2015, p. 31), “[...] o estímulo à filantropia, possuindo estreita vinculação com o
entendimento que os colonizadores, à época, possuíam do trabalho”.
1
Para maiores aprofundamentos referentes ao alvará da reforma dos estudos
menores, conferir Saviani (2011, p. 82).
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
[...] as relações políticas entre os povos ibéricos estão
caracterizadas por três aspectos: a centralização do poder, a
obediência e a solidariedade. Foram os jesuítas que melhor
representaram o princípio da obediência na América do Sul,
através das suas reduções (aldeamentos indígenas
organizados pelos padres jesuítas no Novo Mundo) e
doutrinas. (PIRES, 2015, p. 32)
Como percebe-se, a filantropia é um comportamento que está no
interior da relação público-privado. Porquanto, recorre-se ao seu sentido
filosófico. Posteriormente, ao sentido atribuído a este conceito pela Igreja
Católica, para, então, compreender seus principais fundamentos.
De origem grega, a palavra é composta pelo prefixo philos, que
significa amor, e pelo sufixo antropos, que significa homem, ou seja, amor pelo
ser humano, amor pela humanidade. Conforme Mestriner (2008), em sentido
amplo, relaciona-se com um sentimento humanitário, “de preocupação com o
bem-estar público, coletivo.”. Ainda de acordo com Mestriner (2008, p. 14), é
fundamentada filosoficamente na moral, nos valores “como o altruísmo e a
comiseração, que levam a um voluntarismo que não se realiza no estatuto
jurídico, mas no caráter da relação.”. Já a Igreja Católica atribuiu ao termo o
sentido de caridade, de benemerência.
Adiante, serão destacadas as suas marcas na educação especial
brasileira.
2.1 A educação especial brasileira e as marcas da filantropia
De acordo com Jannuzzi (2012), foi criado o Imperial Instituto dos
Meninos Cegos por meio do Decreto n. 1428, de 12 de setembro de 1854.
Essa foi uma iniciativa isolada, promovida pelo médico do imperador, José
Francisco Xavier Sigaud, inspirado no livro “História do Instituto dos Meninos
Cegos de Paris”, de autoria de J. Dondet. Essa obra, por sua vez, foi traduzida
e publicada pelo brasileiro José Álvares de Azevedo, pessoa com cegueira e
egressa da instituição francesa.
Conforme Rafante, Silva e Caiado (2019), entre as décadas de 1930 e
meados de 1950, foram criadas as sociedades Pestalozzi e as Associações de
Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAEs, sendo estas últimas hegemônicas
desde a ditadura civil-militar. Em 1973, em pleno regime ditatorial, tem-se a
criação do Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, um marco para
a educação das pessoas com deficiência, já que é um órgão criado pelo
governo, portanto institui políticas públicas de forma mais efetiva. Pode-se
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
ressaltar que houve participação dos representantes das duas instituições já
referidas, outro fato que demonstra a relação entre filantropia e educação
especial.
Ao falar de filantropia no campo da educação especial, é necessário
direcionar o olhar e dar o devido destaque à grande influência do movimento
apaeano pelo Brasil afora e sua consolidação no período da ditadura civil-
militar (1964-1985). De acordo com Rafante, Silva e Caiado (2019, p. 2), “[...]
Trata-se de um dos maiores movimentos assistenciais privados da América
Latina”. Sua influência é hegemônica no país no que se refere aos serviços
oferecidos ao público com deficiência intelectual, pois, como reforçam Rafante,
Silva e Caiado (2019, p. 3), “[...] historicamente, houve uma relação orgânica
entre a sociedade civil e a sociedade política, configurando uma relação
público-privado.”.
De acordo com Jannuzzi e Caiado (2011), vê-se claramente o vínculo
público-privado, conforme o relato de um dos presidentes da Federação
Nacional das Apaes – FENAPAES, o coronel José Candido Maes Borba, que a
presidiu pelo período de dez anos, de 1967 a 1977, em pleno período ditatorial.
A sede da federação foi transferida para Brasília, facilitando as relações com o
órgão público, e o estreitamento das relações com o Exército ficou expressa na
presença do general Emílio Garrastazu Médici, presidente do Brasil entre 1969
e 1974, no V Congresso Nacional das APAEs, realizado no Rio de Janeiro.
Posteriormente, conforme Amorim (2018), nos anos de 1980, com a
luta dos Movimentos Sociais das Pessoas com Deficiência, expressa na
Assembleia Nacional Constituinte, foram realizadas reuniões com
representantes de diversas entidades e da sociedade civil, que discutiram
questões relacionadas à saúde, à educação e à previdência social dos
cidadãos com ou sem deficiência.
Finalmente, entre 1990 e 2000, as políticas educacionais no campo da
educação especial foram fundamentadas em documentos internacionais, com o
conceito de educação inclusiva, a partir da Declaração de Salamanca, em
1994. Posteriormente, foi definida a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva – PNEEPEI, em 2008, e, por fim, a meta 4
do Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2024).
Diante desse contexto, buscou-se observar os antecedentes históricos
para a implementação do PNE. Considerando a questão do financiamento,
fator imprescindível para que se possa alcançar as metas planejadas, porém
que esbarrou com um impedimento: a Proposta de Emenda Constitucional nº
241/2016, também conhecida como “PEC do teto dos gastos públicos”, que se
transformou na emenda constitucional nº 95/2016 (BRASIL, 2016).
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
3. As origens do PNE e seus desdobramentos na atualidade
Conforme Saviani (2016), a ideia de plano educacional surgiu em 1932,
por meio da publicação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”:
Pela leitura global do “Manifesto”, pode-se perceber que a ideia
de plano de educação se aproxima, aí, da ideia de sistema
educacional, isto é, a organização lógica, coerente e eficaz do
conjunto das atividades educativas levadas a efeito numa
sociedade determinada ou, mais especificamente, num
determinado país. (SAVIANI, 2016, p. 187).
Essa compreensão influenciou a Constituição Federal de 1934, pois no
[...] artigo 150, alínea “a”, estabelecia como competência da
União “fixar o plano nacional de educação, compreensivo do
ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados;
coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do
país”. Vê-se que, nessa acepção, o plano coincide
praticamente com o significado da própria Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. (SAVIANI, 2016, p. 188).
A referida Constituição ainda previu a criação de um Conselho Nacional
de Educação, em seu art. 152, cujo objetivo era elaborar o plano nacional. De
acordo com Saviani (2016, p. 188, grifos nossos) “[...] um minucioso texto com
504 artigos que se autodenominava, no artigo 1º, ‘código da educação
nacional’, o qual, entretanto, foi abandonado em razão do advento do Estado
Novo.”.
Conforme Saviani (2016, p. 189), no regime do Estado Novo (1937-
1945) a concepção de plano se afastou do ideário da pedagogia nova, que o
verificava como um instrumento de introdução da racionalidade científica na
política educacional. Para Getúlio Vargas e Gustavo Capanema, ele atinge
outra lógica, tornando-se um instrumento destinado a revestir de racionalidade
o controle político-ideológico exercido pela política educacional.
Entre os anos de 1946 e 1964, ocorreu novamente uma tensão referente
aos fundamentos do plano. Assim, o documento manifestava forças
contraditórias: de um lado, uma vertente formada a partir do nacionalismo
desenvolvimentista que atribuía ao Estado a tarefa de planejar o
desenvolvimento do país e o libertar das influências internacionais; de outro,
uma vertente que defendia a iniciativa privada, que visava repensar o que se
chamava de monopólio estatal do ensino. Ambas as tendências repercutiram
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
no debate do Congresso Nacional em que se discutia o projeto referente à
nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Por fim, nessas discussões em torno da LDB, prevaleceu a segunda
tendência que, como indica Saviani (2016, p. 190, grifos nossos), “[...] defendia
a liberdade de ensino e o direito da família de escolher o tipo de educação que
deseja para seus filhos, considerando que a ação planificada do estado trazia
em si o totalitarismo.”.
Em razão dessa orientação, o plano nacional foi reduzido apenas a um
instrumento de repasse de recursos financeiros. Conforme as análises de
Saviani, é possível observar no parágrafo 2º do artigo 92 da LDB de 20 de
dezembro de 1961.
Após estabelecer que “com nove décimos dos recursos
federais destinados à educação, serão constituídos, em
parcelas iguais, o Fundo Nacional do Ensino Primário, o Fundo
Nacional do Ensino Médio e o Fundo Nacional do Ensino
Superior” (parágrafo 1). (SAVIANI, 2016, p. 190).
No ano de 1964, o planejamento educacional é transferido dos
educadores para os tecnocratas. Destaca-se que, de forma geral, as áreas
relacionadas às ciências econômicas eram subordinadas ao Ministério da
Educação ao Ministério do Planejamento.
Na Nova República (1985-1989), ocorreu um enfrentamento ao
autoritarismo e empreendeu-se uma “racionalidade democrática”, que acabou
resultando em uma desorganização e dispersão dos recursos públicos,
facilitando as práticas clientelistas.
Já na década de 1990, a vertente predominante foi a da “racionalidade
financeira”: a tônica foi a redução dos gastos públicos, diminuindo o Estado e
facilitando a visibilidade do país ao fluxo de capital financeiro internacional.
Quanto ao PNE (2001-2011), a entrada de seu projeto ocorreu no dia
10 de fevereiro de 1998, na Câmara dos Deputados, projeto este que foi
elaborado nos I e II Congressos Nacionais da Educação (CONED), cuja tarefa
assumida foi a de construí-lo coletiva e democraticamente, em conformidade
com as aspirações da sociedade brasileira. No entanto, o que se demonstrou é
que, quando se tratou de sustentar a qualidade do ensino gratuito, para todos,
as ações foram postergadas. Pois conforme Saviani (2016, p. 280, grifos
nossos) “havia uma profusão de objetivos e metas o que caracteriza um alto
índice de dispersão e perda do senso de distinção entre o que é principal e o
que é acessório”.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
Tratando-se da elaboração do plano vigente (2014-2024), o MEC
(Ministério da Educação e Cultura) assumiu o compromisso de organizar uma
Conferência Nacional de Educação (CONAE) cujo assunto principal era a
formulação de um Sistema Nacional de Educação, ação que não foi
concretizada no PNE anterior (2001-2021). No entanto, questão de profunda
relevância na política educacional do país, como indica Saviani:
O Sistema Nacional de Educação é, com certeza, a questão
mais relevante e crucial a ser equacionada com a entrada em
vigor do novo PNE, mas é também a questão mais mal
resolvida. Os sistemas nacionais de ensino foram a via adotada
pelos principais países para universalizar o ensino primário e
eliminar o analfabetismo. O Brasil não fez isso e foi
acumulando um enorme déficit histórico, a tal ponto que ainda
propõe como meta, em pleno século XXI, algo que os principais
países resolveram no final do século XIX e início do século XX.
(SAVIANI, 2016, p. 334).
De acordo com Saviani (2016), implantar um verdadeiro Sistema
Nacional de Educação com um PNE consistente, acrescenta-se com base
democrática, com ampla participação das famílias, professores, gestores e
aqueles que atuam como profissionais dentro das escolas, seria uma estratégia
de defesa da educação pública acessível a toda a população. O que se
acompanha é a iniciativa privada tomando essa frente, vendendo seus
sistemas de ensino, sobretudo na esfera municipal.
[...] o movimento dos empresários vem ocupando espaços nas
redes públicas via União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (UNDIME) e Conselho Nacional de Secretários da
Educação (CONSED), nos Conselhos de Educação e no
próprio aparelho do Estado, como o ilustram as ações do
Movimento “Todos pela Educação”. (SAVIANI, 2016, p. 338).
Por fim, destaca-se a Proposta de Emenda Constitucional 241 (PEC
241/2016) que passou a ser Emenda Constitucional nº 95/2016 e instituiu o
Novo Regime Fiscal, congelando o repasse de financiamento à Educação,
ação que interfere drasticamente na qualidade da educação pública. Caminho
que também abre brechas às parcerias público-privado. Além de tornar inócuo
o próprio PNE, já que para garantir que as metas sejam de fato concretizadas
são necessários recursos financeiros.
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
A seguir estão expostas as análises referentes à meta 4 do PNE, que
trata especificamente da educação especial por meio de 19 estratégias.
4. A meta 4 do PNE (2014-2024) e as influências das entidades
filantrópicas
No enunciado da referida meta, é possível identificar trechos e
expressões que indicam essa marca: “[...] o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de
ensino [...]” (BRASIL, 2014).
O termo “preferencialmente” é uma abertura para que as instituições
filantrópicas continuem sendo o espaço destinado às crianças e adolescentes
com deficiência e recebam do Estado recursos financeiros para seus
atendimentos.
Na estratégia 4.1, o texto é claro quanto ao repasse da verba do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação, o FUNDEB, para as instituições:
4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as
matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede
pública que recebam atendimento educacional especializado
complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas
matrículas na educação básica regular, e as matrículas
efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na
educação especial oferecida em instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade,
nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. (BRASIL,
2014).
Já nas estratégias 4.17, 4.18 e 4.19, encontram-se os termos
“convênio” e “parcerias”, reiterando a relação entre Estado e sociedade civil,
em outras palavras, a relação público-privado. A questão é que os membros da
sociedade civil são os mesmos dirigentes dessas instituições, sujeitos que
geralmente fazem parte da elite brasileira e que possuem influência política.
De acordo com Michels e Garcia (2014), a perspectiva inclusiva é mais
uma estratégia para a privatização da educação. Em consonância com as
políticas internacionais, a Conferência Mundial de Educação para Todos
(Declaração de Jomtiem), de 1990, e a Conferência Mundial sobre
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
Necessidades Especiais (Declaração de Salamanca), de 1994, influenciaram o
uso do termo “sistema educacional inclusivo” no Brasil.
Essa iniciativa visava romper com os dois sistemas educacionais
brasileiros, isto é, um formado por escolas regulares e outro composto pela
rede paralela de instituições de educação especial. As autoras compreendem
que os órgãos internacionais trouxeram o conceito de “inclusão” em sentido
amplo, não se referindo apenas aos alunos com deficiência. Já no Brasil, é
esse o caráter que se compreende nas políticas educacionais.
Dessa forma, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva – PNEEPEI (2008) fundamenta a educação especial na
perspectiva inclusiva, ou seja, indica que o local desses alunos público-alvo da
educação especial seja na rede regular de ensino e que eles sejam atendidos
pelas instituições filantrópicas em caráter complementar e suplementar.
Entretanto, o que se observa é que ainda há espaço aberto para que
esse alunado esteja mais frequentemente alocado nas instituições filantrópicas
do que, de fato, nas escolas regulares.
É válido ressaltar também que, para que existam melhores condições
de ensino, em consonância com as prerrogativas da inclusão, é necessário
oferecer, além da garantia da matrícula, os materiais adequados, a formação
dos professores de sala regular e de educação especial, o mobiliário acessível,
além de retirar as barreiras arquitetônicas, para a promoção do acesso, caso
contrário, o que se encontra são impedimentos ao ensino desse alunado.
De acordo com Laplane, Caiado e Kassar (2016, p. 45), baseando-se
nos Microdados do Censo Escolar, “[...] Chama a atenção, ainda, o fato de que
as escolas privadas constituem ampla maioria nessa forma de atendimento.
Em 2014, do total de 2.024 escolas, 1.703 (84,14%) eram privadas”.
Ao analisar o PNE, as três últimas estratégias da meta 4 comprovam a
manutenção da filantropia na educação das crianças e adolescentes com
deficiência, por meio das expressões “conveniadas com o poder público” e
“promover parcerias”:
4.17) promover parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio
ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino;
4.18) promover parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
continuada e a produção de material didático acessível, assim
como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno
acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de
ensino;
4.19) promover parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público, a fim de favorecer a participação das
famílias e da sociedade na construção do sistema educacional
inclusivo. (BRASIL, 2014, grifos nossos).
De acordo com Freitas (2018), de fato, uma das formas de interferência
nas políticas educacionais está relacionada à filantropia: “Impulsionada pelos
incentivos fiscais, atores e entidades filantrópicas de porte com farto
financiamento empresarial divulgam ideias, financiam experimentos e treinam
professores e gestores. ” (FREITAS, 2018, p. 134, grifos nossos).
5. Considerações finais
É possível observar que a relação público-privado é uma questão
estrutural no campo das políticas educacionais, já que é um imperativo no
período colonial brasileiro, estabelecido pela aliança entre a Coroa Portuguesa
e a Igreja Católica, representada pela Companhia de Jesus.
Consequentemente, a filantropia, ao longo da história dos serviços
sociais do país, também é estrutural e impacta diretamente na educação das
crianças e adolescentes com deficiência até a atualidade.
Ressalta-se que a filantropia é um comportamento à luz do binômio
público-privado, ou seja, compõe também esta ligação, ainda que apresente
suas particularidades, como já mencionamos neste trabalho.
As entidades filantrópicas tornaram-se “braços” do Estado e recebem
recursos públicos para o seu funcionamento. Esse movimento demonstra
grande ambiguidade, já que as políticas educacionais preconizam que os
alunos com deficiência sejam matriculados na escola regular, porém, o
discurso da meta 4 do PNE mantém as parcerias e convênios. Essa relação
contribui para uma educação que recebe valor de troca, já que passa a ser um
“serviço”, obedecendo, por sua vez, às regras do mercado, nos moldes do
neoliberalismo.
Além disso, a emenda constitucional nº 95/2016 (BRASIL, 2016) causa
um verdadeiro impedimento para que as estratégias do plano sejam
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
devidamente efetivadas, já que congela o repasse de recursos financeiros a
Educação inviabilizando, portanto, a própria concretização de suas metas.
Conforme Freitas (2018), a “nova direita” se fundamenta no conceito de
“darwinismo social”, aqueles que melhor se adaptarem aos moldes capitalistas,
fundamentados nas relações meritocráticas, são aqueles que atingirão
melhores condições e maiores possibilidades de sucesso e se assim
fracassarem serão da mesma forma responsabilizados.
Porém, como nos indica Saviani (2011), ocorre que, com base nas
pedagogias de viés neoprodutivista, revestidas de uma nova versão da teoria
do capital humano2, as crianças e os jovens estarão incluídos no sistema
escolar, mas excluídos do mercado de trabalho.
Os alunos público-alvo da educação especial não têm seu espaço
garantido em uma escola com essa lógica empresarial predatória, ainda que se
assegure a matrícula, sendo que esse modelo escolar é o mesmo que os
reformadores empresariais projetam para a educação pública. Dessa forma, o
que pode ser visto é a manutenção da relação entre filantropia e educação
especial, que exclui o alunado com deficiência do processo de aprendizado
sistematizado e, portanto, do acesso à alfabetização.
Consoante aos estudos de Saviani (2016), o que se verifica é que o
problema do financiamento é uma questão recorrente ao longo da história das
políticas educacionais em nosso país, que abre brechas às parcerias público-
privado.
Por fim, é possível identificar que a política vigente, consolidada no
PNE (2014-2024), por meio das estratégias da meta 4, reforça a influência das
entidades filantrópicas nas políticas educacionais, impactando na continuidade
dessas relações no campo da educação especial. A fim de que se possa
romper com essa lógica, as políticas educacionais, especificamente aquelas
que se referem ao público-alvo da educação especial, necessitariam adquirir
outros fundamentos, sendo estes aqueles que compreendem a educação como
um direito já adquirido, como já prevê a Constituição de 1988, a mais atual e
vigente.
Referências
2
De forma sintética, a Teoria do Capital Humano é fundamentada em disciplinas
como planejamento educacional e economia da educação. Que se concentram em formar a
população para as demandas do mercado. Visando investimentos econômicos que ofereçam
maiores lucros. Para maiores aprofundamentos ver Freitag (1986, p. 26-32).
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
AMORIM, Joyce Fernanda Guilanda de. A participação das pessoas com
deficiência na Assembleia Nacional Constituinte (1987/1988): reinvindicações no
campo educacional. 2018. 138 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de
Ciências Humanas e Biológicas, Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2018.
BRASIL. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá
outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 2, 16 dez. 2016.
Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm. Acesso
em: 20 jun. 2021.
BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de
Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p.
1, 26 jun. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 20 jun. 2021.
FREITAG, Bárbara. Escola, Estado e Sociedade. 6 ed. São Paulo: Moraes, 1986.
142 p.
FREITAS, Luiz Carlos de. A reforma empresarial da educação: nova direita, velhas
ideias. São Paulo: Expressão Popular, 2018. 160 p.
JANNUZZI, Gilberta de Martino. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios
ao início do século XXI. 3 ed. Campinas: Autores Associados, 2012. 224 p.
JANNUZZI, Gilberta de Martino; CAIADO, Kátia Regina Moreno. APAE: 1954 a 2011 –
Algumas reflexões. Campinas: Autores Associados, 2013. 80 p.
LAPLANE, Adriana Friszman de; CAIADO, Kátia Regina Moreno; KASSAR, Monica de
Carvalho Magalhães. As relações público-privado na Educação Especial: tendências
atuais no Brasil. Revista Teias, Rio de Janeiro, v. 17, n. 46, p. 40-55, 2016. Disponível
em: https://doi.org/10.12957/teias.2016.25497. Acesso em: 15 abr. 2021.
LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY,
Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. 3.ed. São Paulo: Contexto, 2014. p. 111-
154.
MESTRINER, Maria Luiza. O Estado entre a filantropia e a assistência social. 4.
ed. São Paulo: Cortez, 2008. 320 p.
MICHELS, Maria Helena; GARCIA, Rosalba Maria Cardoso. Sistema educacional
inclusivo: conceito e implicações na política educacional brasileira. Caderno Cedes,
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
Campinas, v. 34, n. 93, p. 157-173, 2014. Disponível em:
https://doi.org/10.1590/S0101-32622014000200002. Acesso em: 25 mar. 2021.
PIRES, Daniela de Oliveira. 2015. A construção histórica da relação público-
privada na promoção do direito à educação no Brasil. 264 f. Tese (Doutorado em
Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2015.
RAFANTE, Heulália Charalo; SILVA, João Henrique; CAIADO, Kátia Regina Moreno. A
Federação Nacional das APAES no contexto da ditadura civil-militar no Brasil:
Construção da hegemonia no campo da educação especial. Arquivos Analíticos de
Políticas Educativas, Arizona, v. 27, n. 64, p. 1-22, 3 jun. 2019. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.27.4474. Acesso em: 15 abr. 2021.
SAVIANI, Dermeval. Da LDB (1996) ao novo PNE (2014-2024): por uma outra política
educacional. 5. ed. Campinas: Autores Associados, 2016. 384 p.
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. Campinas:
Autores Associados. 2011. 474 p.
Enviado em: NÃO PREENCHER | Aprovado em: NÃO PREENCHER
ISSN 1982-7199 | DOI: http://dx.doi.org/10.14244/19827199 Revista Eletrônica de Educação, v. , n. , p. -
, / . 20
Você também pode gostar
- Exercício Avaliativo 2 - Orçamento PúblicoDocumento10 páginasExercício Avaliativo 2 - Orçamento PúblicoAdenildo Gonçalves100% (14)
- EAD Slides 19011 2018Documento117 páginasEAD Slides 19011 2018MalcomRB100% (5)
- Plano de Aula Educação Infantil IDocumento21 páginasPlano de Aula Educação Infantil IGraça MedeirosAinda não há avaliações
- Didatica Fabiola Dos SantosDocumento21 páginasDidatica Fabiola Dos SantosDeiby Cavalcante CunhaAinda não há avaliações
- Projeto Integrador de Rotinas de Departamento Pessoal AjustadoDocumento11 páginasProjeto Integrador de Rotinas de Departamento Pessoal AjustadoGisele CoelhoAinda não há avaliações
- Liane Monteiro Santos AmaralDocumento227 páginasLiane Monteiro Santos AmaralalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Guia 1 e 3Documento6 páginasGuia 1 e 3vandafalcaoAinda não há avaliações
- Monografia - Carollina Rachel Costa Ferreira TavaresDocumento62 páginasMonografia - Carollina Rachel Costa Ferreira TavaresJoão Paulo BritoAinda não há avaliações
- Introdução A Economia PDFDocumento168 páginasIntrodução A Economia PDFRenan BarcelosAinda não há avaliações
- Ed Popular e Movimentos Sociais - Gohn, 2015Documento16 páginasEd Popular e Movimentos Sociais - Gohn, 2015Gleison AmorimAinda não há avaliações
- 4398 - Implantação de Espaços VerdesDocumento1 página4398 - Implantação de Espaços VerdesJoão Tao PortugalAinda não há avaliações
- Edital-Xii-Spe-2021 Brauer Coordenador GTDocumento5 páginasEdital-Xii-Spe-2021 Brauer Coordenador GTMarcus BrauerAinda não há avaliações
- Apostila ARH IDocumento59 páginasApostila ARH ICarlos TelferAinda não há avaliações
- Desafio As Relações Do Trabalho No Atual Cenário Normativo BrasileiroDocumento2 páginasDesafio As Relações Do Trabalho No Atual Cenário Normativo Brasileiroedna botelhoAinda não há avaliações
- Principios Da Ling Ingl Modulo - DisciplinaDocumento167 páginasPrincipios Da Ling Ingl Modulo - DisciplinaFilho100% (1)
- Novo Manual de Correspondência Da PMPEDocumento92 páginasNovo Manual de Correspondência Da PMPESergio0% (1)
- Aparencia, Comunicação e ComportamentoDocumento22 páginasAparencia, Comunicação e Comportamentosonia alvesAinda não há avaliações
- Sistemas de Estacionamento Vertical Modulado em Estrutura MetálicaDocumento6 páginasSistemas de Estacionamento Vertical Modulado em Estrutura MetálicaNICOLAS PAULO FINGER LUNARDIAinda não há avaliações
- Sistemas de Serviços de Saúde em Países de Baixa e Média RendaDocumento9 páginasSistemas de Serviços de Saúde em Países de Baixa e Média RendaRodrigoAinda não há avaliações
- Literatura Infantil: Políticas e ConcepçõesDocumento4 páginasLiteratura Infantil: Políticas e ConcepçõesAyanne VieiraAinda não há avaliações
- CRP-SP - Jornal PSI - Dez 2020Documento32 páginasCRP-SP - Jornal PSI - Dez 2020Anonymous QOAATBVAinda não há avaliações
- TX - PN - Plano de Negócios Indoor ExtremeDocumento20 páginasTX - PN - Plano de Negócios Indoor ExtremeGiovanna da Silva NogueiraAinda não há avaliações
- ACPditaduraDocumento12 páginasACPditaduraMetropolesAinda não há avaliações
- Atividades 8ºsérie - 2º Trimestre - Ciências - Prof. WagnerDocumento2 páginasAtividades 8ºsérie - 2º Trimestre - Ciências - Prof. WagnerwverchaiAinda não há avaliações
- 1 Lição 1 - Abordagem IntrodutóriaDocumento12 páginas1 Lição 1 - Abordagem IntrodutóriaCássia Barbosa FotografiaAinda não há avaliações
- Edital Compesa 2018Documento43 páginasEdital Compesa 2018SilAinda não há avaliações
- Ricardo Pedro ProjectoDocumento32 páginasRicardo Pedro Projectoperito mariaAinda não há avaliações
- Fichamento Do Texto Abreu Dantas Musica PopularDocumento6 páginasFichamento Do Texto Abreu Dantas Musica PopularArdroid PereiraAinda não há avaliações
- Educ AmbDocumento70 páginasEduc AmbWaleria NascimentoAinda não há avaliações
- 109 - Livro Sobre o FascismoDocumento50 páginas109 - Livro Sobre o FascismoFredcostaAinda não há avaliações