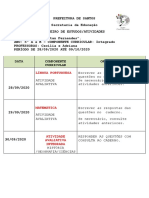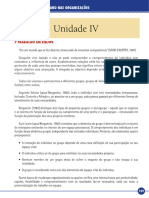Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fisiologia Da Paisagem Final
Fisiologia Da Paisagem Final
Enviado por
Ana Carla Marques0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações11 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações11 páginasFisiologia Da Paisagem Final
Fisiologia Da Paisagem Final
Enviado por
Ana Carla MarquesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
ECODINÂMICA E FRAGILIDADE AMBIENTAL NA BACIA
HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO SÃO PEDRO, JUIZ DE FORA - MG
RAFAELA TEIXEIRA PAULA 1
DOUGLAS KNOPP DE MENEZES GERHEIM2
1e2
Universidade Federal de Juiz de Fora; 1 rafatpaula@hotmail.com.
2
douglasgerheim@gmail.com
RESUMO
A abordagem Ecodinâmica tem como formulador Jean Tricart, na França. Essa abordagem
perpassa por conceitos importantes que associam biologia e geografia. Estudar a ecodinâmica e
o meio ambiente é uma forma de avaliar os impactos das ações do homem sobre o ecossistema.
A ecologia estuda as relações entre seres vivos e meio ambiente. Como o homem participa
ativamente dos ecossistemas em que vivem ele os modifica e os ecossistemas reagem exigindo
algumas adaptações do homem. A forma como o homem mais influência na alteração do
ecossistema é através da retirada de recursos naturais. Tricart estabelece uma classificação
ecodinâmica dos meios ambientes, em meios estáveis, meios integrados e meios fortemente
instáveis. O estado de equilíbrio dinâmico dos ambientes naturais foi interrompido a partir do
momento em que as sociedades humanas passaram a intervir cada vez mais intensamente na
exploração dos recursos naturais. Isso paralelamente ao avanço tecnológico, científico e
econômico da sociedade. Por esse aumento dos impactos ambientais negativos, a necessidade de
um planejamento ambiental é cada vez maior. Estudos referentes a fragilidade são de extrema
importância ao Planejamento Ambiental. Tais estudos devem objetivar o desenvolvimento
sustentado, cujo conservação e recuperação ambiental prevaleçam frente ao desenvolvimento
tecnológico, econômico e social. Pretende-se analisar a fragilidade ambiental da bacia
hidrográfica do Córrego São Pedro, situada na zona urbana de Juiz de Fora, através da produção
de um mapa de fragilidade ambiental , estabelecendo níveis de instabilidade através da
associação das variáveis ambientais declividade, formas de relevo e uso e ocupação da terra.
Fez-se uma pesquisa bibliográfica acerca do tema Abordagem Ecodinâmica. As variáveis a
serem trabalhadas para a produção do mapa de fragilidade ambiental determinadas pela
importância ambiental que representam para o objetivo do trabalho, associadas à disponibilidade
de informações que permitiriam trabalhar em escala compatível. Para a produção do mapa de
declividade fez-se agrupamentos de intervalos de declividade em porcentagem em menor que
6%, entre 6 e 12 %, entre 12 e 20%, entre 20 e 30%, maior que 30%. Para o mapa de formas de
relevo, faz-se a compartimentação geomorfológica, categorizados em Planícies, Colinas,
Morros, Morros Interfluviais e Morros Suavizados. E, por fim, o mapa de uso e ocupação da
terra foi produzido através da interpretação de imagens aéreas, onde se classifica o uso e
ocupação em Pastagem, Remanescente Florestal, Solo Exposto e Área ocupada. Feito os mapas
trabalhou-se com as categorias encontradas em cada mapa. Foram definidos níveis de
instabilidade, de 1 a 5, sendo o nível 1 a valoração de menor energia morfodinâmica e o nível 5
a de maior. Esses valores foram atribuídos a cada categoria de cada uma das variáveis. Por fim,
fez-se a sobreposição dos mapas produzidos, onde se fez a somatória dos níveis de instabilidade,
resultando no mapa de fragilidade ambiental, com as seguintes classes de fragilidade: Menor
que 3 corresponde à baixa fragilidade; entre 3 e 6, fragilidade média; entre 6 e 9, fragilidade
média a alta; entre 9 e 12, fragilidade alta; e maior que 12, fragilidade muito alta. O resultado
foi um mapa de fragilidade ambiental, em que nota-se que as áreas que indicam maior
fragilidade ambiental se encontram em zonas com maior declividade e onde constam os morros
como forma de relevo, onde tende a haver maior erosão, enquanto que nas planícies o índice de
fragilidade ambiental é baixo, onde tende a ocorrer maior deposição. Há que se destacar que as
áreas mais ocupadas não provoca, necessariamente, maior fragilidade ambiental, o que sugere
que o ambiente natural, por si só estabelece uma dinâmica.
PALAVRAS-CHAVE: Fragilidade Ambiental; Ecodinâmica; Planejamento.
1. INTRODUÇÃO
A abordagem Ecodinâmica tem como formulador Jean Tricart, na França. Essa
abordagem perpassa por conceitos importantes que associam biologia e geografia.
Estudar a ecodinâmica e o meio ambiente é uma forma de avaliar os impactos das ações
do homem sobre o ecossistema.
Ecossistema deriva dos termos gregos “oikos”, que significa “casa” e “systema”,
que significa “sistema”. Diz respeito ao conjunto formado por todas as comunidades
bióticas que vivem e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos que
atuam sobre essas comunidades (CAVALCANTI, 2014). Os recursos ecológicos são
elementos do meio ambiente necessários à vida. São recursos básicos e indispensáveis.
(TRICART, 1977).
De acordo com Edum (2007), a Ecologia estuda as relações entre seres vivos e
meio ambiente. O primeiro cientista a usar a Ecologia com este conceito foi o alemão o
Ernst Haeckel através da palavra "Ökologie", que deriva da junção dos termos gregos
“oikos”, que significa “casa” e “logos”, que significa “estudo”.
Para Tricart (1977), a Ecologia objetiva estudar os vários seres vivos em suas
relações com o meio ambiente. Como o homem participa ativamente dos ecossistemas
em que vivem ele os modifica e os ecossistemas reagem exigindo algumas adaptações
do homem. Neste sentido, a forma como o homem mais influência na alteração do
ecossistema é através da retirada de recursos naturais. Sistemas naturais são a interação
de um conjunto de elementos formados a partir de processos naturais, capaz de se
manter em um equilíbrio dinâmico, sem a intervenção humana.
No entanto, além da participação do homem o conceito de sistema traz um
conjunto de fenômenos que se processam através de fluxos de matéria e energia, que
resultam em relações de dependência mútua entre os fenômenos (Tricart, 1977).
Portanto o próprio sistema apresenta dinâmica.
A ação humana é exercida em uma Natureza mutante, que
evolui segundo leis próprias, das quais percebemos, de mais a
mais, a complexidade. Não podemos nos limitar à descrição
fisiográfica, do mesmo modo que o médico não pode se
contentar com a anatomia. Estudar a organização do espaço é
determinar como uma ação se insere na dinâmica natural; para
corrigir certos aspectos desfavoráveis e para facilitar a
exploração dos recursos ecológicos que o meio oferece.
(TRICART, 1977:35)
Neste sentido, Tricart (1977) estabelece uma classificação ecodinâmica dos
meios ambientes, em meios estáveis, meios integrados e meios fortemente instáveis.
Resumidamente, nos meios estáveis, os processos mecânicos atuam pouco e
sempre de modo lento, havendo maior pedogênese do que morfogênese. Nesta situação
a formação dos solos é maior que a erosão destes, favorecendo um meio estável e o
desenvolvimento da vegetação. (TRICART, 1977)
Nos meios integrades há interferência permanente de morfogênese e
pedogênese, que se impõem de maneira concorrente sobre um mesmo espaço.
(TRICART, 1977).
Nos meios fortemente instáveis a morfogênese supera a pedogênese. Neste caso
há instabilidade, rarefação da cobertura vegetal causada pela remoção da base para o seu
desenvolvimento. (TRICART, 1977).
De acordo com ROSS (1994), o estado de equilíbrio dinâmico dos ambientes
naturais foi interrompido a partir do momento em que as sociedades humanas passaram
a intervir cada vez mais intensamente na exploração dos recursos naturais. Isso
paralelamente ao avanço tecnológico, científico e econômico da sociedade.
A partir da Revolução Industrial houve intenso crescimento da demanda de
recursos naturais e energia, utilizando recursos finitos, além do aumento da geração de
impactos ambientais negativos, com influência física e social, como o aumento da
poluição e degradação ambiental. (CAVALCANTI, 2014).
Por todo esse aumento dos impactos ambientais negativos, a necessidade de um
planejamento ambiental é cada vez mais necessário. ROSS (1994) salienta que
Dentro da desta perspectiva de planejamento econômico e
ambiental do território, quer seja ele, municipal, estadual,
federal, bacia hidrográfica, ou qualquer outra unidade, é
absolutamente necessário, que as intervenções humanas sejam
planejadas com objetivos claros de ordenamento territorial,
tornando-se, como premissas a potencialidade dos recursos
naturais e humanos e as fragilidades dos ambientes. (ROSS,
1994:64).
De acordo com o mesmo autor estudos anlíticos referentes a fragilidade são de
extrema importância ao Planejamento Ambiental. É necessário destacar que tais estudos
devem objetivar o desenvolvimento sustentado, cujo conservação e recuperação
ambiental prevaleçam frente ao desenvolvimento tecnológico, econômico e social.
Para se aplicar as fragilidades dos ambientes naturais ao planejamento territorial
ambiental Ross (1994) se baseia no conceito de Unidades Ecodinâmicas de Tricart, já
mencionadas no presente trabalho.
Dentro dessa concepção ecológica o ambiente é analisado sob o
prisma da Teoria de Sistemas que parte do pressuposto de que
na natureza as trocas de energia e matéria se processam através
das relações em equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio, entretanto,
é frequentemente alterado pelas intervenções do homem nas
diversas componentes da natureza, gerando estado de
desequilíbrios temporários ou até permanentes. (ROSS,
1994:65).
Neste sentido pretende-se analisar a fragilidade ambiental em uma bacia situada
na zona urbana de Juiz de Fora.
2. OBJETIVO
Este trabalho tem como objetivo principal produzir um mapa de fragilidade
ambiental da bacia hidrográfica do Córrego São Pedro, estabelecendo níveis de
instabilidade através da associação das variáveis ambientais declividade, formas de
relevo e uso e ocupação da terra.
3. METODOLOGIA
Primeiramente fez-se uma pesquisa bibliográfica acerca do tema Abordagem
Ecodinâmica.
Em segundo momento definiu-se a área de trabalho, sendo a Bacia Hidrográfica
do Córrego São Pedro (BHCSP), situada no perímetro urbano de Juiz de Fora - MG,
representada na figura 1.
Figura 1: Localização da Bacia do Córrego São Pedro
Fonte: adaptado de Gerheim, 2016
Posteriormente, foram estabelecidas as variáveis a serem trabalhadas para a
produção do mapa de fragilidade ambiental. Estas foram determinadas pela importância
ambiental que representam para o objetivo do trabalho, associadas à disponibilidade de
informações que permitiriam trabalhar em escala compatível. As variáveis pré-
estabelecidas foram declividade, formas de relevo e uso e ocupação da terra.
Já com os parâmetros definidos partiu-se para a produção dos mapas. Para a
produção do mapa de declividade fez-se agrupamentos de intervalos de declividade em
porcentagem em menor que 6%, entre 6 e 12 %, entre 12 e 20%, entre 20 e 30%, maior
que 30%, utilizando como base as curvas de nível. Para o mapa de formas de relevo,
faz-se a compartimentação geomorfológica, categorizados em Planícies, Colinas,
Morros, Morros Interfluviais e Morros Suavizados. E, por fim, o mapa de uso e
ocupação da terra foi produzido através da interpretação de imagens aéreas, onde se
classifica o uso e ocupação em Pastagem, Remanescente Florestal, Solo Exposto e Área
ocupada. As variáveis definidas e suas respectivas categorias são sintetizadas no quadro
a seguir.
Quadro 1: Variáveis e respectivas categorias
Feito os mapas trabalhou-se com as categorias encontradas em cada mapa.
Foram definidos níveis de instabilidade, de 1 a 5, sendo o nível 1 a valoração de menor
energia morfodinâmica e o nível 5 a de maior. Esses valores foram atribuídos a cada
categoria de cada uma das variáveis. Por fim, fez-se a sobreposição dos mapas
produzidos, onde se fez a somatória dos níveis de instabilidade, resultando no mapa de
fragilidade ambiental, com as seguintes classes de fragilidade (quadro 2): Menor que 3
corresponde à baixa fragilidade; entre 3 e 6, fragilidade média; entre 6 e 9, fragilidade
média a alta; entre 9 e 12, fragilidade alta; e maior que 12 fragilidade muito alta.
Quadro 2: Níveis de instabilidade
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Declividade corresponde à inclinação da superfície do terreno em relação à
horizontal. A declividade constitui um dos elementos fundamentais para a mensuração
de energia gravitacional presente no relevo, sendo que quanto maior o índice de
declividade, maior a energia presente no sistema. (OLIVEIRA, 2016).
O mapa de declividade produzido da Bacia Hidrográfica do Córrego São Pedro é
apresentado na figura 2.
Figura 2: Mapa de declividade da Bacia Hidrográfica do Córrego São Pedro
Os níveis de fragilidade ambiental de cada categoria da variável declividade são
sintetizados no quadro 3.
Quadro 3: Níveis de fragilidade ambiental da variável Declividade
Cunha (2012) entende as formas de relevo como fruto da interação da estrutura
geológica, clima e atividade antrópica, que se relacionam e interferem nas
características pedológicas e da cobertura vegetal. Neste sentido foi produzido o mapa
de compartimentação geomorfológica da área de estudo, apresentado na figura 3.
Figura 3: Mapa de Compartimentação Geomorfológica da Bacia Hidrográfica do Córrego São
Pedro
Os níveis de fragilidade ambiental definidos para as formas de relevo são
apresentados no quadro 4.
Quadro 4: Níveis de fragilidade ambiental da variável Formas de Relevo
O Uso e Ocupação da terra é definido em função da densificação, regime de
atividades, controle das edificações e parcelamento do solo, que configuram a paisagem.
mapa de uso e ocupação da terra produzido é apresentado a seguir, na figura 4.
Figura 4: Mapa de Uso e Ocupação da terra da Bacia Hidrográfica do Córrego São
Pedro
Os níveis de fragilidade ambiental em relação ao uso e ocupação da terra se
encontram no quadro 5.
Quadro 5: Níveis de fragilidade ambiental da variável Ocupação e Uso da terra
Os mapas e seus respectivos níveis de fragilidade ambiental, quando sobrepostos
e somados indicaram o grau de fragilidade ambiental final em toda a bacia, mostrados a
seguir, na figura 5.
Figura 5: Mapa de Fragilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Córrego São Pedro
Nota-se que as áreas que indicam maior fragilidade ambiental se encontram em
zonas com maior declividade e onde constam os morros como forma de relevo, onde
tende a haver maior erosão, enquanto que nas planícies o índice de fragilidade ambiental
é baixo, onde tende a ocorrer maior deposição. Há que se destacar que as áreas mais
ocupadas não provoca, necessariamente, maior fragilidade ambiental, o que sugere que
o ambiente natural, por si só estabelece uma dinâmica.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim como a produção de mapas de risco, mapas de vulnerabilidade ambiental
entre outros, a produção de mapas de fragilidade ambiental pode ser um importante
instrumento para o planejamento ambiental. Através de mapas como esse pode-se
compreender a dinâmica dos sistemas naturais e aplicar ao planejamento, priorizando a
conservação dos recursos naturais, mas compreendendo as necessidades básicas da
sociedade, a respeito de tais recursos.
REFERÊNCIAS
CAVALANTI, F. A. G. S. Ecologia dos Ecossistemas. NT Editora. Brasília: 2014.
88p.
CUNHA, C. M. L. A Cartografia Geomorfológica em Áreas Litorâneas. Instituto de
Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista. Rio Claro, 2012, 105 p.
GERHEIM, D. K. de M. Alagamentos, Enxurradas e Inundações na Área Urbana
de Juiz de Fora: Um Olhar Sobre as Bacias Hidrográficas dos Córregos São Pedro
e Ipiranga. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Geografia) Universidade
Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2016.
ODUM, EUGENE P.; BARRETT, GARY W. Fundamentos de Ecologia. 5ªed. São
Paulo: Thomson Learning, 2007.
OLIVEIRA, A. de. Fragilidade Ambiental no Setor Norte do Mmunicípio de Juiz de
Fora (MG): Subsídios da Geomorfologia ao Planejamento Urbano. Dissertação de
mestrado (em Geografia). Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade
Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2016.
PDDUA, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental. Da Ocupação e Uso
do solo. Disponível em <http://www.portoalegre.rs.gov.br/planeja/spm/2c1_3.htm>.
Acesso em Dezembro de 2017.
ROSS, J. L. S.. Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e
Antropizados. Revista do Departamento de Geografia (USP), São Paulo, v. 08, 1994.
TRICART, J. – Ecodinâmica. Rio de Janeiro: FIBGE, Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, 1977. 97p.
Você também pode gostar
- Declaração TvdeDocumento4 páginasDeclaração TvdeEurico PInheiro FilhoAinda não há avaliações
- PorraDocumento5 páginasPorraSem limites VivendoAinda não há avaliações
- Marketing de RelacionamentoDocumento15 páginasMarketing de RelacionamentoSergio Alfredo Macore100% (1)
- Integrado 5oano FF 25092020Documento16 páginasIntegrado 5oano FF 25092020Eudiane OliveiraAinda não há avaliações
- 04 - Venturi - Scott B - 51 100Documento50 páginas04 - Venturi - Scott B - 51 100vcmdveAinda não há avaliações
- Boleto Pe1a LT Com023Documento1 páginaBoleto Pe1a LT Com023Tiago FreitasAinda não há avaliações
- Louis LAmour-x-O Ultimo Da Raça-BasDocumento192 páginasLouis LAmour-x-O Ultimo Da Raça-BasAlekseiAinda não há avaliações
- TEPM - Desafio 21 DiasDocumento4 páginasTEPM - Desafio 21 DiasJosé HenriqueAinda não há avaliações
- Queixa Crime EnricoDocumento6 páginasQueixa Crime Enriconeizan8Ainda não há avaliações
- Motivos Baixa Frequencia - Sistema PresençaDocumento3 páginasMotivos Baixa Frequencia - Sistema PresençaCaucaia BAAinda não há avaliações
- Notitia CriminisDocumento2 páginasNotitia CriminisadvisabellalacerdaAinda não há avaliações
- Rio Grande (Do Norte) : História e HistoriografiaaDocumento33 páginasRio Grande (Do Norte) : História e HistoriografiaaLívia BarbosaAinda não há avaliações
- Esboço - Dizimo (By - Hércules Botelho Couto)Documento8 páginasEsboço - Dizimo (By - Hércules Botelho Couto)Couto NetworkAinda não há avaliações
- Folheto Explicativo Batismo PDFDocumento2 páginasFolheto Explicativo Batismo PDFmucamabaAinda não há avaliações
- Monografia - Um Estudo Das Representações de Akhenaton No BrasilDocumento69 páginasMonografia - Um Estudo Das Representações de Akhenaton No BrasilMaria IsabelAinda não há avaliações
- Instituto Superior Politecnico AtlantidaDocumento62 páginasInstituto Superior Politecnico AtlantidaDiamantino JacintoAinda não há avaliações
- A Interdisciplinaridade Como Um Movimento Articulador No Processo EnsinoDocumento13 páginasA Interdisciplinaridade Como Um Movimento Articulador No Processo EnsinoElenita Helena Oliveira100% (2)
- Direito À Cidade e Direito À Vida - Perspectivas Críticas Sobre o Urbano Na Contemporaneidade (Ana Fani Alessandri Carlos e Cibele Saliba Rizek)Documento295 páginasDireito À Cidade e Direito À Vida - Perspectivas Críticas Sobre o Urbano Na Contemporaneidade (Ana Fani Alessandri Carlos e Cibele Saliba Rizek)GadAinda não há avaliações
- 2c2ba Ano Atividade para Nota Rev IndustrialDocumento1 página2c2ba Ano Atividade para Nota Rev IndustrialBianca figueiredoAinda não há avaliações
- Unid 4Documento42 páginasUnid 4Eliana TarginoAinda não há avaliações
- Direito de FamíliaDocumento57 páginasDireito de FamíliaVictor Daniel OliveiraAinda não há avaliações
- RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MulltiplicaçãoDocumento4 páginasRESOLUÇÃO DE PROBLEMAS Mulltiplicaçãoantonio_vieira73Ainda não há avaliações
- Planejamento Anual HistóriaDocumento2 páginasPlanejamento Anual HistóriaIngrid BarbosaAinda não há avaliações
- Apostila-Tj Português Parte 2Documento62 páginasApostila-Tj Português Parte 2nikiAinda não há avaliações
- Jefferson Santos - Dissertação de Mestrado - Versão FinalDocumento88 páginasJefferson Santos - Dissertação de Mestrado - Versão FinalJefferson SanCoAinda não há avaliações
- ParalelismoDocumento28 páginasParalelismoJunior e NiseAinda não há avaliações
- Perfil SongwriterDocumento2 páginasPerfil SongwriterEdnilson ValiaAinda não há avaliações
- Google+Ads+ (Search,+Display,+Youtube+e+Shopping) 2 GTDocumento119 páginasGoogle+Ads+ (Search,+Display,+Youtube+e+Shopping) 2 GTFelipe AdrianoAinda não há avaliações