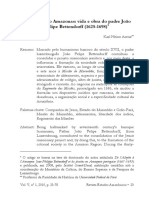Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Baixa Dos
Baixa Dos
Enviado por
Drangontrix0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações2 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações2 páginasBaixa Dos
Baixa Dos
Enviado por
DrangontrixDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 2
Toponimia e
do
MARIA VICENTINA DICK
acurada visão do professor Plínio Ayrosa foi a causa principal
A
e Letras.
da introdução dos estudos toponímicos na Universidade de São
Paulo, na recém-instalada Faculdade de Filosofia, Ciências
Em sua origem, a Toponimia não constitui um corpo disciplinar
autônomo, à semelhança do que ocorre hoje, vinculando-se à antiga
cadeira de Etnografia e Língua Tupi, no âmbito dos cursos de História
e Geografia. Mas o ponto vital e ordenador de todo o questionamento
que se colocava era a preocupação latente com a dialetologia indígena
brasileira, especialmente a tupi. A Toponimia nascente conformava, po-
rém, um duplo objetivo: não só o ensino de suas básicas e de seus fun-
damentos gerais, segundo os modelos assentados pelo ramo europeu da
onomástica, mas, principalmente, a função instrumental de um marca-
dor vocabular brasílico (estudo etimológico dos topônimos tupis), cuja
freqüência, no sistema lexical português, sempre atingiu índices ex-
pressivos nos mais variados itens semânticos (a exemplo de zoonímia,
fitonímia, hidronímia geomorfonímia, ergonímia).
Era natural, assim, que as primeiras pesquisas toponímicas re-
sultantes tivessem um enfoque de natureza ameríndia, como se de-
preende dos trabalhos então publicados (cf. Drumond, 1954, 1965;
Magalhães, 1985).
A reformulação dos cursos de Letras, no final da década de 60,
trouxe, como conseqüência, o desdobramento do antigo conteúdo pro-
gramático em duas disciplinas autônomas, hoje integrantes da área de
Línguas Indígenas do Brasil, e alocadas no Departamento de Letras
Clássicas e Vernáculas, ou seja, Língua Tupi e Toponimia (curricular-
mente, compõem o núcleo da área Cultura Brasileira do CMF). Com
isso, alargou-se o campo de trabalho natural, principalmente a partir de
quando se fixou melhor a sua nomenclatura na estrutura curricular de
Letras (1987).
Não há dúvida de que a atual disciplina Toponimia Geral e do
Brasil compreende, agora, um espaço muito mais amplo, direcionan-
do-se, objetivamente, não apenas ao campo teórico-metodológico e
analítico-comparativo (parte genérica e universalizante) (cf. Dick,
1980), como ao campo aplicado ou prático-experimental (cf. Dick,
1988). Nessa linha de pesquisa, desenvolvida sistematicamente, situam-
se vários projetos, alguns em sua fase final, como os que se mencionam:
• vocabulário geográfico de origem indígena brasileira (famílias Tupi-
Guarani, Karib, Aruak e algumas do tronco Macro-Jê, presentes na
Toponimia);
• estudo histórico-toponímico das ruas da cidade de São Paulo (con-
cluídos: Centro Velho e Centro Novo; bairros periféricos: em anda-
mento);
• catalogação do acervo bibliográfico toponímico na Universidade de
São Paulo (em execução);
• Atlas Toponímico do Estado de São Paulo — Projeto ATESP (variante
regional do Atlas Toponímico do Brasil) — Financiamento: CNPq,
Fapesp e USP (Análise do comportamento da nomenclatura geo-
gráfica dos municípios paulistas: aspectos etno-lingüísticos, semân-
ticos, morfológicos e históricos dos topônimos estaduais).
Três fatos relevantes devem ser destacados, nesta oportunidade:
• a continuidade de iniciativa pioneira do professor Ayrosa ao propor
a introdução dos estudos toponímicos na Universidade de São Paulo,
consolidados, depois, pela perseverança do professor Carlos
Drumond;
• a abertura de novas linhas de estudo dentro da temática geral dos no-
mes, como a Toponimia urbana, de feição nitidamente interdisci-
plinar, e a Antroponímia, em suas modalidades técnicas, etno-sociais
grupais e motivadoras;
• a criação (1984) também pioneira e a efetivação (1989) de um curso
de pós-graduação em estudos onomásticos (Toponimia e Antropo-
nímia) visando à formação de um corpo próprio de pesquisadores, à
semelhança do que ocorre em outras instituições européias e ameri-
canas.
Maria Vícentina de Paula do Amaral Dick é professora do Departamento de de Letras Clás-
sicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Você também pode gostar
- Modelo Contrato 01Documento5 páginasModelo Contrato 01Leticia Correia SilvaAinda não há avaliações
- Livro Do YogaDocumento56 páginasLivro Do YogaLaura100% (1)
- Resenha - Nascidos em Tempos LiquidosDocumento10 páginasResenha - Nascidos em Tempos LiquidosJoel PantojaAinda não há avaliações
- Apostila - Solidworks - EletromecânicaDocumento44 páginasApostila - Solidworks - EletromecânicaMarina VazAinda não há avaliações
- Resenha - Aula de Portugues Do Professor Criativo PDFDocumento5 páginasResenha - Aula de Portugues Do Professor Criativo PDFJoel PantojaAinda não há avaliações
- Áries: PadronizarDocumento12 páginasÁries: PadronizarAVB GamesAinda não há avaliações
- Testes de Português - Crónica de D. João I - CapDocumento2 páginasTestes de Português - Crónica de D. João I - CapAntónio RochaAinda não há avaliações
- Introdução A Psicopedagogia Clínica - Me. Prof Maria de Fátima Rodrigues de SousaDocumento63 páginasIntrodução A Psicopedagogia Clínica - Me. Prof Maria de Fátima Rodrigues de SousaEnsino MedioAinda não há avaliações
- ARTIGO - O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES FORMADORAS DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS - LidoDocumento12 páginasARTIGO - O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES FORMADORAS DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS - LidoJoel PantojaAinda não há avaliações
- Artigo - o Controle Das Endemias No Brasil e A Sua História PDFDocumento4 páginasArtigo - o Controle Das Endemias No Brasil e A Sua História PDFJoel PantojaAinda não há avaliações
- Artigo - Artigo de Opinião em Sala de Aula Do Ensino MédioDocumento11 páginasArtigo - Artigo de Opinião em Sala de Aula Do Ensino MédioJoel PantojaAinda não há avaliações
- Artigo - A Leitura e A Escrita No Ensino de Lingua Portuguesa PDFDocumento7 páginasArtigo - A Leitura e A Escrita No Ensino de Lingua Portuguesa PDFJoel PantojaAinda não há avaliações
- A Produção Da Subalternidade Sob A Ótica Pós-ColonialDocumento9 páginasA Produção Da Subalternidade Sob A Ótica Pós-ColonialJoel PantojaAinda não há avaliações
- ARTIGO - DO ALZETTE AO AMAZONAS - VIDA E OBRA DO PADRE JOÃO BETTENDORFF - Arenz - 2010 PDFDocumento54 páginasARTIGO - DO ALZETTE AO AMAZONAS - VIDA E OBRA DO PADRE JOÃO BETTENDORFF - Arenz - 2010 PDFJoel PantojaAinda não há avaliações
- Consequências Do BullyingDocumento14 páginasConsequências Do BullyingRoberto BublitzAinda não há avaliações
- Triunfo Dos Estados e Dinamicas Economicas Nos Seculos Xvii e XviiiDocumento8 páginasTriunfo Dos Estados e Dinamicas Economicas Nos Seculos Xvii e XviiiInes CristinaAinda não há avaliações
- Modelo Do TCC em Forma de ARTIGO CIENTÍFICO - NOVODocumento8 páginasModelo Do TCC em Forma de ARTIGO CIENTÍFICO - NOVOpricilaAinda não há avaliações
- O Universo Numa Casca de Noz - Stephen HawkingDocumento18 páginasO Universo Numa Casca de Noz - Stephen HawkingLucas AllisterAinda não há avaliações
- Prof Matematica 1694458738Documento5 páginasProf Matematica 1694458738RafaelVieiraCabralAinda não há avaliações
- Avaliação de Peixamento em AçudesDocumento0 páginaAvaliação de Peixamento em AçudesShana SieberAinda não há avaliações
- Atividades Estatistica 2020 PDFDocumento471 páginasAtividades Estatistica 2020 PDFMayara CardosoAinda não há avaliações
- Revisão de Sociologia: Professor Pablo Magaton MendesDocumento15 páginasRevisão de Sociologia: Professor Pablo Magaton MendesThiagoAinda não há avaliações
- Cavando No ValeDocumento5 páginasCavando No ValeDavid BarbozaAinda não há avaliações
- Aula10 Despesa Publica Parte IDocumento94 páginasAula10 Despesa Publica Parte IjesusAinda não há avaliações
- Geopolitica Aula 1Documento77 páginasGeopolitica Aula 1STIVEN BARTAinda não há avaliações
- 100 Questoes Comentadas Regencia LeoDocumento33 páginas100 Questoes Comentadas Regencia LeoRegina MaiaAinda não há avaliações
- O Papel Da Geografia Escolar No Desenvolvimento SocialDocumento3 páginasO Papel Da Geografia Escolar No Desenvolvimento SocialVictoria Joao AntonioAinda não há avaliações
- Códigos Atividade Pior Ano - 1º SemanaDocumento5 páginasCódigos Atividade Pior Ano - 1º SemanaalessandroAinda não há avaliações
- Inspiron 15 3573 Laptop - Setup Guide - PT BRDocumento25 páginasInspiron 15 3573 Laptop - Setup Guide - PT BRAndreAinda não há avaliações
- Cópia de Plano de Seção de Ética, Deveres e Valores Militares.Documento8 páginasCópia de Plano de Seção de Ética, Deveres e Valores Militares.MichelHulkAinda não há avaliações
- Catalogo VentisilvaDocumento12 páginasCatalogo VentisilvaNarciso SilvaAinda não há avaliações
- 7os Anos - História - 1ºbimestre: Aula Do Cmsp. Leia Mais de Uma Vez. Neles Estão As Respostas Das QuestõesDocumento4 páginas7os Anos - História - 1ºbimestre: Aula Do Cmsp. Leia Mais de Uma Vez. Neles Estão As Respostas Das Questõesdorlea mesmo de araujoAinda não há avaliações
- Ambev IAN 2000 PDFDocumento379 páginasAmbev IAN 2000 PDFIzane OliveiraAinda não há avaliações
- PATOLOGIASDocumento17 páginasPATOLOGIASÉlisson BulléAinda não há avaliações
- RCC Língua PortuguesaDocumento15 páginasRCC Língua PortuguesaANDERSON HENRIQUE DE CASTRO SILVAAinda não há avaliações
- Manual de Instalação - ReiriDocumento26 páginasManual de Instalação - ReiriEdivaldo BlancoAinda não há avaliações
- Resenha-Gestão EmpresarialDocumento3 páginasResenha-Gestão EmpresarialElizabeth CardosoAinda não há avaliações
- Portfólio HolocaustoDocumento28 páginasPortfólio HolocaustoRafael AbreuAinda não há avaliações