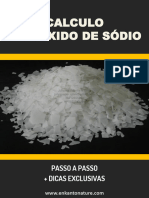Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artig Da Pagina 12
Artig Da Pagina 12
Enviado por
Matheus RamosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artig Da Pagina 12
Artig Da Pagina 12
Enviado por
Matheus RamosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cientec Revista de Cincia, Tecnologia e Humanidades do IFPE - v. 3, n.
1 Julho de 2011
12
Neoliberalismo e as mudanas na estrutura do Estado:
inecincia, cultura organizacional e hibridismo entre
modelos de gesto.
SILVA, Isaac Pedro da
1
1
Universidade Federal de Pernambuco UFPE
Resumo
Este artigo promove um debate a partir da reexo terico-conceitual sobre como o neoliberalismo
inuenciou e vem inuenciando as economias nos pases em desenvolvimento, principalmente na
Amrica Latina e, especialmente, no Brasil. Com isso, procurou-se aprofundar as discusses acerca das
mudanas no servio pblico observando at que ponto os efeitos do modelo neoliberal proporcionou
ecincia na administrao do Estado. Vericou-se, inclusive, as diculdades criadas pela chamada
cultura organizacional pblica, analisando-se o apego pelo poder e a persistncia da burocracia tidos como
principais vetores da inecincia, assim como se buscou analisar os esforos da criao e implementao
de modelos e processos que superassem os paradigmas existentes. Nesse intuito, fez-se uma reviso na
literatura buscando contribuies tericas com vistas problematizao sobre o tema. Dessa forma, aps
o histrico de acumulao daquelas experincias, surgiu uma nova categoria de implementao acometida
por um tipo de hibridismo pela justaposio dos vrios modelos de gesto.
Palavras-chave: Neoliberalismo, Cultura organizacional, Modelos de gesto pblica, Ecincia.
Abstract
This article promotes a debate from the theoretical and conceptual as neoliberalism has inuenced
and affected the economies in developing countries, mostly in Latin America and especially in Brazil.
With this, sought to deepen the discussions about changes in public service observing to what extent the
effects of the neoliberal model promoted efciency in state administration. There was even the difculties
created by public call organizational culture, analyzing the addiction by the power and persistence of
bureaucracy perceived as the main vectors of inefciency, and is intended to analyze the efforts of creating
and implementing models and processes that surpass existing paradigms. To that end, it was a literature
review seeking theoretical contributions with a view to questioning on the subject. Thus, after the historical
accumulation of that experiences, a new category of implementation affected by a kind of hybridism by the
juxtaposition of the various models.
Keywords: Neoliberalism, Organizational culture, Models of public management, Efciency.
1
isaacpdrsilva@yahoo.com.br
Neoliberalismo e as mudanas na estrutura do Estado: inecincia, cultura organizacional e hibridismo entre modelos de gesto
13
1. Introduo
A vitria poltica do modelo neoliberal
pelo mundo ocidental e, mais precisamente,
no Brasil, provocou forosas mudanas eco-
nmico-sociais nas sociedades contempor-
neas, promovendo um novo arranjo estrutural
da sociedade brasileira.
Filgueiras (2007, p.186-187), identica
quatro dimenses estruturais ocasionadas
pelo modelo econmico neoliberal no Brasil,
quais sejam: a relao capital/trabalho; a re-
lao entre as distintas fraes do capital; a
insero internacional (econmico-nancei-
ra) do pas e a estrutura e funcionamento do
Estado. Iremos nos debruar sobre esta ltima
dimenso.
importante que se bem identiquem e di-
ferenciem alguns conceitos para que no haja
dvida quanto s semelhanas entre os con-
ceitos de neoliberalismo, projeto neoliberal e
modelo econmico neoliberal perifrico.
O primeiro diz respeito doutrina poltico-
econmica mais geral, formulada logo aps a
Segunda Guerra Mundial, principalmente por
Hayek e Friedman, a partir do Estado do Bem-
Estar Social e do socialismo, atravs de uma
atualizao regressiva do liberalismo (AN-
DERSON, 1995). O segundo conceito envol-
ve a forma como, de fato, o neoliberalismo se
expressou num programa poltico-econmico
especco para o Brasil, como resultado das
disputas entre as distintas fraes de classes
da burguesia e entre estas e as classes tra-
balhadoras (FILGUEIRAS, 2007, p.179). O
ltimo conceito resultado da forma como
este projeto se congurou, tendo a estrutura
econmica antecessora como referncia, po-
rm com experincias diferentes dos demais
pases da Amrica Latina. Entretanto, per-
ceptvel que todos tm em comum o carter
perifrico e, portanto, subordinado ao impe-
rialismo (ibidem, p.179).
Ao pas foi estabelecida uma nova ordem
que reorganizou tanto o Mercado quanto o
Estado maneira desejada pelos chamados
rgos multilaterais. O primeiro se acomodou
rapidamente, j que suas leis so mais ex-
veis e sua atuao facilmente adaptvel. Por
outro lado, o ambiente estatal formado por ou-
tras redes complexas, outros tipos de ambien-
tes, normas internas e a prpria Lei se torna
um limitador de aes e atuaes, adicionado
diculdade de se penetrar na cultura orga-
nizacional pblica, que detm caractersticas
intrnsecas adquiridas historicamente pela ri-
gidez do modelo adotado nas mais diversas
etapas de formao do pas. Toda essa situa-
o, porm, vem provocando, inevitavelmen-
te, baixa ecincia no oferecimento de servi-
os populao.
Este artigo se constitui de mais cinco par-
tes, alm dessa introduo. Na prxima se-
o, teremos uma viso geral de como vem
se estruturando o Estado ao longo das ltimas
Cientec Revista de Cincia, Tecnologia e Humanidades do IFPE - v. 3, n. 1 Julho de 2011
14
dcadas e as caractersticas do seu funciona-
mento, alm de demonstrar, em linhas gerais,
como o neoliberalismo provocou mudanas
no funcionamento gerencial do Estado.
Em seguida, mostraremos como o estgio
atual de desenvolvimento social vem exi-
gindo modelos mais ecientes de gesto no
servio pblico. Na seo quatro, veremos
os obstculos criados pela cultura organiza-
cional burocrtica como resistncia ao novo
paradigma e, na seo cinco, como a cultu-
ra burocrtica persiste mesmo com todos os
avanos e esforos de modernizao. Vamos
analisar como est sendo possvel a convivn-
cia de modos de gerenciamento to distintos,
suas inecincias e ecincias localizadas.
Por m, faremos algumas consideraes -
nais.
2. Modelo econmico neolibe-
ral e funcionamento gerencial
do estado Brasil
Com a implantao e fracasso do Plano
Cruzado, acontecido em meados da dcada
de 1980, predominava a tentativa de redenir,
atualizar e reformar o Modelo de Substituio
de Importao (MSI), que ainda mantinha um
importante papel para o Estado no processo
de acumulao e desenvolvimento, surgido na
dcada subsequente.
Fracassados todos os planos de estabili-
zao que se seguiram a partir de 1985, este
ambiente que se formara deu lugar ao germi-
nar do projeto neoliberal, que foi se desenhan-
do, se fortalecendo e aos poucos foi saindo
do mundo das ideias para se concretizar sob
a forma de um programa poltico, com a for-
mao de uma percepo, a qual visualizava a
crise como fator estrutural, demonstrando que
o MSI estava aos poucos se esgotando com
seu projeto neodesenvolvimentista incapaz
de fazer frente aos problemas a ele colocados
(BIANCHI, 2004).
Essas diculdades estavam de certa forma,
mostrando apenas uma face de outro problema
que acompanhava todas as tentativas que frus-
travam os esforos do Estado. Tais problemas
se encontravam na forma como o aparelho do
Estado vinha sendo gerido, provocando insti-
tuies frgeis do ponto de vista interno, com
constantes crises de governabilidade, o que
fazia o pas perder credibilidade na Amrica
Latina nas dcadas de 1980 e 1990.
Paralelamente a isso, medida que se ele-
varam os padres de educao, uma crescente
parte da populao acostuma-se com padres
mais altos de servios no setor privado, e se
torna cada vez menos inclinada a aceitar res-
postas inexveis e burocrticas dos servios
pblicos. Assim, tanto a qualidade do servio
quanto o aumento da produtividade tm sido
metas amplamente defendidas (MATIAS-PE-
REIRA, 2008, p.87).
Neoliberalismo e as mudanas na estrutura do Estado: inecincia, cultura organizacional e hibridismo entre modelos de gesto
15
3. Emergncia de um modelo
de gesto mais eciente
As diculdades enfrentadas no contexto
econmico do pas permitiram que as mais
diversas ideologias tivessem lugar de expe-
rimentao tanto nas polticas de alcance
como o caso da econmica e de estabilizao
como tambm tem inuenciado nas formas
de gerenciamento da mquina pblica.
Partindo de um ponto importante na hist-
ria econmica e poltica brasileira o perodo
que compreende a dcada de 1930 pode-se
ver a interveno do Estado de bem-estar com
o Estado passando a ter funo decisiva, inter-
vindo fortemente no setor produtivo de bens e
servios, passando a Administrao Pblica a
ser submetida a um forte processo de raciona-
lizao.
Racionalidade, por outro lado, um con-
ceito estreitamente relacionado burocracia,
porque no sentido Weberiano, implica adequa-
o dos meios aos ns e no contexto burocr-
tico, ecincia. A partir desse pensamento, foi
criado em 1936 o Departamento Administra-
tivo do Servio Pblico (DASP), tendo com
objetivo principal a racionalizao administra-
tiva do pas.
Tendo-se inuenciado pela teoria da ad-
ministrao cientca de Taylor, esta raciona-
lizao se fez por meio da simplicao, pa-
dronizao, aquisio racional de materiais,
reviso de estruturas e aplicao de mtodos
na denio de procedimentos, bem como foi
implantada a funo oramentria vinculada
ao planejamento (MATIAS-PEREIRA, 2008,
p.89).
Matias-Pereira (2008) salienta que, embora
a Administrao Pblica estivesse em processo
de mudana, o patrimonialismo ainda se fazia
presena marcante no contexto poltico brasi-
leiro. Com isso, o coronelismo abria espao
para o clientelismo e para o siologismo.
Dando um passo adiante no tempo, a Re-
forma Administrativa que ocorrera em 1967,
realizada por meio do Decreto-Lei n 200/67,
deu mais um passo no caminho do rompimen-
to com a rigidez burocrtica.
Embora tenha sido a primeira experincia
de implantao da administrao gerencial no
pas, por meio de suas normas denidoras, ele
no foi capaz de provocar mudanas signica-
tivas na administrao burocrtica central.
Aqui nasce, ento, a coexistncia de seto-
res de ecincia na administrao indireta j
que foram criadas, pela descentralizao, as
autarquias, fundaes, empresas pblicas e as
sociedades de economia mista , bem como de
formas arcaicas e inecientes de administra-
o direta e central.
No ano seguinte, foi criada a Secretaria de
Modernizao, representando mais um esfor-
o de modernizao da Administrao Pbli-
ca, implantando novas tcnicas de gesto em
nvel federal, mas principalmente, direciona-
das aos recursos humanos.
Cientec Revista de Cincia, Tecnologia e Humanidades do IFPE - v. 3, n. 1 Julho de 2011
16
Entretanto, em 1980, com a criao do Mi-
nistrio da Desburocratizao e do Programa
Nacional de Desburocratizao (PrND), o ob-
jetivo era revitalizar e agilizar as organizaes
do Estado, a descentralizao da autoridade,
melhoria e simplicao dos processos admi-
nistrativos e a promoo da ecincia, bem
como reformar a burocracia, direcionando-a
rumo Administrao Pblica Gerencial.
Contrariamente s boas intenes desses
programas, que a princpio foram dirigidos ao
combate burocratizao dos procedimentos,
foi-se claramente redirecionado para a dimi-
nuio dos excessos (de poder) decorrentes da
administrao descentralizada, lembrando-se
que o contexto poltico era centralizador e au-
toritrio.
3.1 De qual ecincia estamos fa-
lando?
Ainda sob a gide da ideologia do neolibe-
ralismo em busca da excelncia dos mtodos
de produo de bens e procedimentos nas rela-
es de troca, como no deveria deixar de ser,
o oferecimento de servios pblicos foi alvo da
exigncia de mxima qualidade.
Em vrios setores da sociedade, dois con-
ceitos comearam a entrar em choque, devido
s suas incompatibilidades. o caso da Ecin-
cia que na Teoria Weberiana tem outras cono-
taes, mas estavam sendo perseguidos dentro
da estrutura da organizao do Estado, com
outra forma mais contundente, a qual, clara-
mente, expe o momento das leis de mercado
tomar lugar no contexto histrico e social.
oportuno denir o que se conhece como
Ecincia no Sentido de Pareto. No contex-
to de mercado, e levando em considerao a
denio econmica do termo no que diz res-
peito s trocas entre os agentes, uma alocao
eciente no sentido de Pareto ou Pareto-e-
ciente se i) no h como fazer com que todos
os agentes envolvidos melhorem ou ii) no h
como fazer com que um agente melhore sem
que o outro piore, ou ainda, iii) no h trocas
mutuamente vantajosas para serem efetuadas
(VARIAN, 2003, p. 581-582).
Em contraponto, como expresso anterior-
mente, o conceito de racionalidade est es-
treitamente ligado ao de burocracia e este ao
signicado de ecincia. Para Weber (1991.,
p. 15), em linhas gerais,
[] uma ao ser eciente se, no con-
texto da organizao (pblica), o homem
(funcionrio) puder ser pago para agir e se
comportar de maneira preestabelecida sob
superviso, obedecendo, el e dignamente,
hierarquia, regulamentos, normas e Leis a
ele impostos. Tal conjuntura levaria inevi-
tavelmente ecincia.
No contexto organizacional, ento, agre-
gam-se ao conceito de ecincia os de e-
ccia e efetividade, porm importante re-
gistrar que alm das vertentes econmicas
e administrativas, a questo do desempenho
Neoliberalismo e as mudanas na estrutura do Estado: inecincia, cultura organizacional e hibridismo entre modelos de gesto
17
organizacional tem uma vertente sociolgica
(SCHWARTZMAN, 1996).
Nota-se ento, que os dois conceitos de fato
se chocaro, devido s suas atuaes terem
campo e objetos distintos. Embora se soubesse
que os dois conceitos de forma alguma pudes-
sem se coadunar o primeiro veio proporcionar
uma nova congurao no que se conhecia, at
ento, como ecincia no servio pblico.
Assim, como o mercado tem como nalida-
de o oferecimento de produtos e servios com
alto rigor de qualidade, o modelo Weberiano
vem perdendo lugar e sendo redesenhado para
agregar as mesmas caractersticas dos servios
oferecidos pelo mercado, no que diz respeito
qualidade e ecincia na prestao.
Essa situao, alm de dar nova roupagem
ao servio pblico, expulsa a morosidade e to-
das as outras caractersticas negativas da buro-
cracia, dando lugar ao que se conhece contem-
poraneamente como (Teoria do) Novo Servio
Pblico.
4. bices criados pela cultura
organizacional pblica
Historicamente, observamos o esforo do
Estado para adequar tendncia de moderni-
zao do aparelho governamental. Alm da es-
trutura organizacional e congurao poltica,
ele enfrenta outra diculdade quase intranspo-
nvel.
Estamos nos referindo cultura constru-
da no seio da Administrao, deixada como
herana pelo patrimonialismo hierarquizado e
concentrador de poder, que encontrou na buro-
cracia o ambiente ideal para se materializar.
Para Hall (1978, p.80, apud MATIAS-PE-
REIRA, 2008), a cultura
[] possui trs caractersticas: ela no
inata, e sim aprendida; suas distintas facetas
esto inter-relacionadas; ela compartilha-
da e de fato determina os limites dos vrios
grupos existentes. A cultura o meio de co-
municao do homem.
Alguns pensadores como Sheperd e Valen-
cia (1996), identicaram situaes que levam
diculdades s organizaes pblicas. Uma
delas o oferecimento de servios de monop-
lio estatal, cuja ecincia no condiz com sua
importncia social e leva, necessariamente, ao
aumento dos custos da inecincia.
Alm disso, o instituto da accountability no
funciona de forma adequada, porque o controle
dos eleitores sobre os polticos
1
normalmente
imperfeito, uma vez que organizaes polticas
destinadas a representar os eleitores dicil-
mente trabalham sem atrito.
Observa-se que existe a diculdade de os
polticos controlarem os funcionrios, bem
1. O sentido de poltico aqui empregado se refere, ne-
cessariamente, ao conceito de agente poltico, que so
componentes de governos situados nos primeiros esca-
les e seus imediatos, inclusive em suas Instituies.
Cientec Revista de Cincia, Tecnologia e Humanidades do IFPE - v. 3, n. 1 Julho de 2011
18
como em denir e medir com exatido os re-
sultados da administrao pblica. Soma-se a
essa ltima observao diculdade do con-
trole social tambm entre os funcionrios po-
lticos e seu Staff, que so geralmente cargos
comissionados e que diculta ainda mais esse
controle.
Outros estudiosos, ao analisar esse pro-
cesso de pensamento, perceberam que a cul-
tura predominante nas organizaes pblicas,
alm de levar s burocracias tradicionais, no
tem sido orientada para o atendimento das ne-
cessidades dos cidados, ou mesmo para a e-
ccia ou efetividade. Para tanto, difundem-se
no setor pblico inovaes consideradas exi-
tosas, sem que considerem objetivos e valores
predominantes na Administrao Pblica (PI-
RES e MACEDO, 2006, p. 105).
Contemporaneamente, nas esferas pbli-
cas, temos exemplos bsicos de como tenta-
tivas de modernizao no tm o alcance ne-
cessrio m todos os mbitos da federao
2
.
2. Pelo menos o que indica no s a literatura atual,
como tambm perceptvel no momento em que o ci-
dado se defronta com a necessidade de utilizar algum
servio pblico nas diferentes esferas de poder. Um
exemplo dessa situao a prestao de uma obriga-
o constitucional no que diz respeito educao. Em-
bora saibamos que a Constituio Federativa do Brasil
em 1988 deniu as competncias de cada ente no que
concerne aos direitos dos cidados educao, um fato
incontestvel se revela quando comparadas as quali-
dades da educao bsica e fundamental, obrigao con-
stitucional dos Estados, Municpios e Distrito Federal,
respectivamente. Nessa comparao, elas cam muito
aqum em relao educao Federal.
Por outro lado, existe outra forma de em-
perramento da mquina estatal, concernente
motivao humana para operacionalizao do
servio de forma correta e proba.
A ausncia de controle das atividades den-
tro dos rgos e setores pblicos, sem a devi-
da responsabilizao por atos e desservios ao
Estado pelo mau gerenciamento e execuo de
atividades ns, penaliza o contribuinte, forta-
lece o paternalismo e ego do burocrata que ca
sem as devidas responsabilizaes, j que a
Lei que o obriga a mesma que lhe proporcio-
na um aparato defensivo, blindando qualquer
tentativa de sanso, o que muitas vezes leva
impunidade. Acrescenta-se a isso incompetn-
cia tcnico-gerencial do servidor e do Estado,
j que o primeiro no instigado e o ltimo
no cria condies de incentivo.
De acordo com Matias-Pereira (2008),
toda organizao recebe inuncia do con-
texto cultural em que se insere, asseverando
que as caractersticas existentes na cultura de
organizaes pblicas, que em geral possuem
burocracias centralizadoras e estruturas rgi-
das, tendem a se reetir na forma de atuar e de
comportar dos seus servidores.
notrio, ento, que todas as caractersti-
cas e distores culturais explanadas anterior-
mente representam enormes obstculos ao es-
foro para mudanas e inovaes tecnolgico-
informacionais, pois o apego s regras e costu-
mes no organismo funcional pblico promove
a criao de anticorpos continuidade quando
iniciadas novas reformas administrativas.
Neoliberalismo e as mudanas na estrutura do Estado: inecincia, cultura organizacional e hibridismo entre modelos de gesto
19
5. Persistncia da burocracia
O modelo burocrtico idealizado por We-
ber veio como uma forma de dominao, com
a pretenso de se tornar um tipo ideal leg-
timo. Ela uma forma de administrao, cuja
caracterstica principal se traduz por uma hie-
rarquia formal de autoridade, nas quais as so-
lues de problemas ocorridos na organizao
tinham regras bem denidas.
O termo burocracia utilizado tambm
em outros sentidos: serve para designar tanto
o conjunto de funcionrios os burocratas
como para qualicar uma forma lenta e roti-
neira de proceder, que diculta e entrava toda
deciso (MATIAS-PEIREIRA, 2008).
Esta forma de administrao nasce na se-
gunda metade do sculo XIX com o objetivo
de combater a corrupo e o nepotismo patri-
monialista. Ele pregava os princpios do de-
senvolvimento, da prossionalizao, ideia de
carreira pblica, hierarquia funcional, impes-
soalidade e o formalismo, tendo como meta
acabar com o nepotismo e a corrupo, sempre
rmado na Lei (ibidem, p.111).
O problema central da burocracia, segun-
do Weber, no organizacional ou adminis-
trativo; poltico. Max Weber no fez teoria
das organizaes; fez sociologia poltica. O
destaque da abordagem weberiana est onde
a burocracia se coloca no seu quadro de pen-
samento social (WRONG, 1970, apud MAR-
TINS, 1997).
Segundo esse argumento, o surgimento do
estado burocrtico implicaria a renncia de
responsabilidade pela liderana poltica e na
usurpao das funes polticas por parte dos
administradores. A questo por detrs desta
problemtica o contraste, a distino e a ten-
so entre a racionalidade substantiva da busca
de interesses e a racionalidade instrumental-
formal do exerccio da autoridade (ibidem,
1997).
Alm disso, complementa Martins (1997),
que o problema poltico da burocracia
[] est [...] na sua extenso e as suas for-
mas de integrao ou dicotomizao entre
poltica e administrao, mais ou menos
funcionais relativamente governana. Esta
questo se relaciona, certamente, s formas
organizacionais da burocracia, mas no est
restrita ao seu domnio.
Isto revela a origem dos problemas
enfrentados pelo Estado ao tentar oferecer so-
lues modernas para o aparelho governamen-
tal.
A questo poltica se evidencia nas formas
como os cargos de cpula e outros de alta com-
plexidade e que exigem habilidade para sua
execuo so distribudos. Essa distribuio
feita de forma poltica e no tcnica, congu-
rando a primeira falha que compromete a boa
conduo da coisa pblica.
Essas designaes vo proporcionar um de-
sgue entre os setores e divises, nas diversas
reparties pblicas, do mesmo tipo de pen-
Cientec Revista de Cincia, Tecnologia e Humanidades do IFPE - v. 3, n. 1 Julho de 2011
20
samento poltico que deve se alinhar ao que
determina a hierarquia superior, provocando
as primeiras formas de inecincia do servio
pblico.
Como o nvel hierrquico estabelecido aps
a distribuio pelos administradores polticos
deve ser acompanhado de poderes, a burocra-
cia tornar a se estabelecer nesses mbitos, pois
ela, num ambiente em que reina o escalona-
mento contnuo de funes e de cargos, se torna
evidente seu uso como ferramenta de poder.
Dessa forma, como bem comenta Guima-
res (2000, p. 127):
[] no setor pblico, o desao que se
coloca para a Nova Administrao Pblica
como transformar culturas burocrticas,
hierarquizadas e que tendem a um processo
de insulamento em organizaes exveis e
empreendedoras. [...] Essa transformao
s ser possvel quando ocorrer uma ruptu-
ra com os modelos tradicionais de adminis-
trao dos recursos pblicos e introduzir-se
uma nova cultura de gesto.
6. Coexistncia ou hibridismo
entre modelos?
A trajetria modernizante da administra-
o pblica brasileira representa, nas palavras
de Simon Schwartzman,
[] um difcil dilema, que colocaria de
um lado a administrao racional e tcnica,
associada aos regimes fortes e autoritrios,
e de outro a administrao politizada, de-
ciente e desmoralizada, que pareceria ser
um atributo da democracia e da participao
social (SCHWARTZMAN, 1987, p.58).
Martins (1997) observa que o atual estgio
de percepo e interveno a respeito da cri-
se do Estado tem suscitado a proliferao de
alternativas de reconstruo e evoluo buro-
crtica no ambiente democrtico.
A administrao pblica brasileira est
diante de uma oportunidade nica na sua tra-
jetria: modernizar-se na democracia. Isto
implica o grande desao de se integrar meios
de regulao poltica com meios de insero
social.
A reforma, modernizao do Estado e ges-
to pblica do Brasil, no debate atual, mesmo
tendo ao longo do tempo experimentado v-
rias vertentes de reexo terica, tem em duas
as mais importantes contribuies. Esses mo-
delos, sob o aspecto analtico, se apresentam
como signicativos referenciais na anlise e
avaliao do processo de gesto nos trs n-
veis de governo. (MATIAS-PEREIRA, 2008,
p. 116).
O primeiro, o Modelo Gerencial de Admi-
nistrao Pblica
3
, muitas vezes denominado
como Socialdemocracia de cunho Liberal, en-
fatiza a necessidade de reduo do tamanho
do Estado e da modernizao gerencial do
setor pblico, o qual adotou fortes traos do
neoliberalismo (OLIVEIRA, 1999).
3. Esta denio segue o conceito estabelecido por
Bresser-Pereira e Spink (2006).
Neoliberalismo e as mudanas na estrutura do Estado: inecincia, cultura organizacional e hibridismo entre modelos de gesto
21
Este modelo trouxe sua inspirao das pr-
ticas de gerenciamento de empresas privadas.
Ele se caracteriza por nele existir uma ntida
separao entre a esfera poltica, na qual so
tomadas as decises polticas e dadas s di-
retrizes bsicas para os gestores pblicos, e
a esfera administrativa, dinamizada por meio
da concesso de ampla liberdade gerencial,
o que essencial para garantir a cobrana de
resultados, bem como estabelecer transparn-
cia e condies de accountability (MATIAS-
PEREIRA, 2008, p. 116-117).
O segundo, denominado Modelo Demo-
crtico-participativo
4
segue estimulando a or-
ganizao da sociedade civil, buscando pro-
mover a reestruturao dos mecanismos de
decises coletivas, promovendo maior envol-
vimento da populao diretamente afetada no
controle social da administrao pblica e na
denio e realizao de polticas pblicas.
Seu objetivo principal o aumento do con-
trole social, pelo processo da democratizao
das relaes Estado-sociedade e o aumento da
participao da sociedade civil e da popula-
o na gesto pblica.
4. O modelo democrtico-participativo, como denido
em Costa e Camelo (2010), apresenta o governo como
um dos agentes intervenientes na conduo da gesto
atravs do aumento do controle social, pela democratiza-
o das relaes Estado e sociedade e a ampliao de sua
participao na gesto da coisa pblica. Existe em vrios
municpios uma categoria de tomadas de decises locais
conhecida popularmente como Oramento Participativo.
Esta forma de ao coletiva foi desenvolvida a partir
desta linha de pensamento.
Schmitter (2002), por exemplo, compar-
tilha com a opinio de que esse tipo de go-
vernana interativa aparece como a forma
mais conveniente para lidar com problemas
complexos que requerem a promoo do de-
senvolvimento sustentvel ou de processos de
inovao.
Embora haja todos esses esforos do ide-
rio democrtico, todos eles trazem nas suas
razes a herana de modelos de outrora, como
o neoliberal, o estado de bem-estar social,
dentre outros. Isso implica dizer que na sua
estrutura ainda remanescem algum tipo de
concentrao de poder, superestruturas hierr-
quicas e mecanismos de preservao de ideo-
logias polticas. At mesmo o modo como se
distribuem os cargos e as atribuies perma-
necem as mesmas.
Neste caso, como bem destacou Weber na
sua sociologia poltica, embora se faam to-
dos os esforos no intuito de modernizao
tcnica, tecnolgica e administrativa no apa-
relhamento pblico, sempre haver a criao
de barreiras para no se alcanar a ecincia
plena, porque se cria uma problemtica onde
a interferncia poltica ir provocar todos os
tipos de inecincia, seja ela no sentido de
Pareto, seja na vertente Weberiana, ou mesmo
quela aplicada sociedade: um tipo de eci-
ncia social.
A mudana passa no s nos processos e
procedimentos, mas pelo campo da tica, da
moral e da criao de uma conscincia repu-
Cientec Revista de Cincia, Tecnologia e Humanidades do IFPE - v. 3, n. 1 Julho de 2011
22
blicana, onde a coisa pblica seja administra-
da por pessoas probas, que visem o bem-estar
coletivo.
7. Consideraes nais
Nosso intuito foi no s abordar de forma
geral os problemas enfrentados pelas naes
com o neoliberalismo, mas tambm o fazer de
maneira incisiva como esta nova ordem tem
inuenciado as mudanas na estrutura dos
Estados Nacionais, evidenciando suas ineci-
ncias, apoiadas pelo entrave da cultura orga-
nizacional prpria de um patrimonialismo
burocrtico e que frustrou todas as tentati-
vas de uma completa modernizao. O Esta-
do brasileiro, nesse contexto, est acometido
por um tipo de hibridismo pela justaposio
dos vrios modelos de gesto e, por isso, de-
pendendo da aplicabilidade poltica, faz uso
paralelamente desses instrumentos.
Em sua verso mais contundente, o neo-
liberalismo mostrou sua fora ao transpor os
limites do mercado at atingir os Estados de-
mocrticos em todo o mundo.
Ao conseguir tal feito, promoveu uma des-
trutiva e at construtiva forma de padroni-
zao da excelncia em todos os aspectos na
vida em sociedade.
Sua primeira manifestao se deu pela es-
fera econmica, onde todos os estados-nao,
compelidos pela hegemonia do mercado inter-
nacional, procuraram dinamizar a economia e
buscar o crescimento econmico, eliminando
as barreiras para entrada de capital externo,
visando o investimento em seu parque in-
dustrial. Um desses reexos foi o Modelo de
Substituio de Importaes, importante nas
primeiras fases da industrializao brasileira.
Internamente, o modelo de gesto predo-
minante por vrios anos desde o Governo
Getlio Vargas trazia consigo vrias expe-
rincias de fracasso na sua implantao, pa-
ralelamente aos modelos de estabilizao da
economia, mostrando uma Administrao
centralizada, permeada por agentes polticos
cujos atos no coadunam com as melhores
prticas democrticas, sem conhecimento
tcnico e incompetncia gerencial, alm da
elevada corrupo generalizada, levando o
Estado ao ridculo perante a comunidade in-
ternacional, somado a perda constante de cre-
dibilidade nacionalmente.
Mesmo tendo como objetivo a busca pela
excelncia, a forma como o imperialismo
capitalista adentrou no mercado e nas insti-
tuies de governo acarretou um choque cul-
tural. Alm disso, a importncia dada os con-
ceito de Ecincia, o qual logo foi aplicado
esfera governamental, resultou num rearranjo
das instituies pblicas e provocou, nesse
sentido, uma nova demanda: a ecincia so-
cial.
Por outro lado, as incessantes tentativas
de modernizao tm sido barradas por um
corpo burocrtico remanescente, mesmo nas
Neoliberalismo e as mudanas na estrutura do Estado: inecincia, cultura organizacional e hibridismo entre modelos de gesto
23
mais ecientes esferas do Estado, devido
herana patrimonialista e, na hierarquia dos
poderes, ainda existir aqueles agentes que se
beneciaram das estruturas e conjunturas po-
lticas passadas.
Nas palavras de Frey (2007, p. 136-150):
[] enquanto o modelo gerencial visa
isolar e proteger o gestor pblico das pres-
ses oriundas da sociedade, o modelo de-
mocrtico-participativo requer novas habi-
lidades do gestor pblico, sobretudo em re-
laes articulao e cooperao com os
mais variados atores polticos e sociais. No
modelo gerencial, o gestor avaliado con-
forme sua capacidade de alcanar as metas
estabelecidas pelo sistema de deciso pol-
tica. J no modelo democrtico-participati-
vo, ganha relevncia o prprio processo de
gesto pblica, particularmente no que diz
respeito ao seu carter democrtico.
Porm, mesmo existindo todos esses entra-
ves e diculdades, o Estado vem se tornando
cada vez mais democrtico, e a democracia
promove, alm de interao com a sociedade
civil, desenvolvimento econmico e social,
e ajuda a ser criado e mantido o crescimen-
to econmico por instigar nos seus agentes
motivao para o aperfeioamento tcnico,
criando assim, um corpo funcional de alto
nvel que, sem dvida, promover excelncia
no oferecimento dos servios pblicos.
8. Referncias
ANDERSON, P. Balano do neoliberalismo. In:
SADER, E. PABLO, G. (orgs.) Ps-neoliberalismo
As polticas sociais e o Estado Democrtico. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 9-23.
BIANCHI, A. O ministrio dos industriais: a fede-
rao das indstrias do estado de So Paulo na crise
das dcadas de 1980 e 1990. Tese de Doutoramento
em Cincias Sociais. IFCH-Unicamp. 2004.
BRESSER-PEREIRA, L.C. SPINK, P. Reforma do
Estado e Administrao Pblica Gerencial. 7ed.
Rio de janeiro: Editora FGV, 2006.
COSTA, L. F. L.G.; CAMELO, G. L. P. Gesto p-
blica participativa: aspectos de governabilidade e
interao poltico-social. HOLOS, Ano 26, Vol. 2,
2010.
FILGUEIRAS, L. O neoliberalismo no Brasil: es-
trutura, dinmica e ajuste do modelo econmico. In:
publicacin: Neoliberalismo y sectores dominan-
tes. Tendencias globales y experiencias nacionales.
Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique. CLACSO,
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
Buenos AiresEnrique. 2006. ISBN: 987-1183-56-9.
Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.
clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/C05Filgueiras.
pdf
FREY, K. Governana Urbana e participao pbli-
ca. RAC Eletrnica, v. 1, n 1, art. 9, p. 136-150,
jan./abr. 2007.
GUIMARES, T. A. A nova administrao pblica
e a abordagem da competncia. Revista de Adminis-
trao Pblica, Rio de Janeiro, v. 34, n. 3, p. 125-
140, maio/jun. 2000.
MARTINS, H. F. Burocracia e a revoluo geren-
cial a persistncia da dicotomia entre poltica e
Cientec Revista de Cincia, Tecnologia e Humanidades do IFPE - v. 3, n. 1 Julho de 2011
24
administrao. Revista do Servio Pblico. Ano 48,
Nmero 1, Jan-Abr. 1997.
MATIAS-PEREIRA, J. Curso de Administrao
Pblica: foco nas instituies e aes governamen-
tais. So Paulo: Atlas, 2008.
OFFE, C. Problemas estruturais do Estado capita-
lista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
OLIVEIRA, F. F. O. V. C. B. In: Revista de Econo-
mia Poltica, vol. 10, n 3, jul./set. So Paulo: Bra-
siliense, p. 137-139, 1990.
SCHWARTZMAN, S. A abertura poltica e a dig-
nicao da funo pblica. O estado e a adminis-
trao pblica. FUNCEP. Braslia: FUNCEP, 1987.
SCHIMITTER, P. Reexes sobre o conceito de
poltica. In: BOBBIO, Norberto et al. Curso de In-
troduo Cincia Poltica. Braslia: UnB, 1984.
VARIAN, H. R. Microeconomia: princpios bsicos
Uma abordagem moderna. Traduo da 6 edio
Americana. 3 tiragem. So Paulo: Campus Else-
vier, 2003.
WEBER, M. Economia e sociedade: fundamentos
da sociologia compreensiva. Volume 1. Braslia,
EdUnb, 1991.
WRONG, D. Max Weber. Makers of modern social
sciences series. Englewood Cliffs: Prentice Hall,
1970.
Você também pode gostar
- Treinamento Básico Simovert MasterdriveDocumento8 páginasTreinamento Básico Simovert MasterdriveVladimir Colombiano de Souza100% (2)
- Caso Concreto 04 - RespondidoDocumento3 páginasCaso Concreto 04 - RespondidoThayane Barata0% (1)
- Apostila Preparatória Exame SuficiênciaDocumento210 páginasApostila Preparatória Exame SuficiênciaTarso Rocha Lula PereiraAinda não há avaliações
- Física A - 11.º AnoDocumento3 páginasFísica A - 11.º AnoAnaAinda não há avaliações
- Avaliação de Consultoria 2019Documento4 páginasAvaliação de Consultoria 2019Matheus Ramos100% (1)
- 1 - Monografia - Matheus Ramos - V5Documento41 páginas1 - Monografia - Matheus Ramos - V5Matheus RamosAinda não há avaliações
- Cederj Grade Cederj Sistemas de Computacao 2010-2Documento1 páginaCederj Grade Cederj Sistemas de Computacao 2010-2Matheus RamosAinda não há avaliações
- FISICADocumento7 páginasFISICAMatheus RamosAinda não há avaliações
- Consciência Negra.Documento15 páginasConsciência Negra.Matheus RamosAinda não há avaliações
- Projeto Pedagogico Do Curso de Engenharia CivilDocumento128 páginasProjeto Pedagogico Do Curso de Engenharia CivilIsaac Ramon De Almeida SantosAinda não há avaliações
- Bônus - CalculadoraDocumento9 páginasBônus - CalculadoraJulyana Pereira e SilvaAinda não há avaliações
- Refrigerante Mineirinho Resiste No Mercado EnfrentandoDocumento3 páginasRefrigerante Mineirinho Resiste No Mercado EnfrentandoFelipe GeronimoAinda não há avaliações
- TERMO DE COMPROMISSO NOVO Simplificado Com Plano de Atividades 1Documento4 páginasTERMO DE COMPROMISSO NOVO Simplificado Com Plano de Atividades 1Marcos MoscatelliAinda não há avaliações
- Contratos Built To SuitDocumento31 páginasContratos Built To SuitraphaelalversiteAinda não há avaliações
- Fasciculo Codigos MaliciososDocumento8 páginasFasciculo Codigos MaliciososlucinhaAinda não há avaliações
- 8 - Linguagem Ladder 2-4 Variáveis e Tipos de DadosDocumento13 páginas8 - Linguagem Ladder 2-4 Variáveis e Tipos de DadosnatanaelAinda não há avaliações
- DENASUS Manual de Principios Diretrizes e Regras de Auditoria Do SUSDocumento66 páginasDENASUS Manual de Principios Diretrizes e Regras de Auditoria Do SUSricardoAinda não há avaliações
- Cap 2Documento80 páginasCap 2Elieldy FernandesAinda não há avaliações
- Manual Xport ProDocumento54 páginasManual Xport ProedinhuapAinda não há avaliações
- Rais Hardware e SoftwareDocumento55 páginasRais Hardware e SoftwareDouglasAinda não há avaliações
- MBAeDocumento1 páginaMBAeSilioAinda não há avaliações
- Apps para Dispositivos Moveis PDFDocumento364 páginasApps para Dispositivos Moveis PDFCat JanineAinda não há avaliações
- 16533624Documento2 páginas16533624Amanda AssunçãoAinda não há avaliações
- Arq MVC DelphiDocumento9 páginasArq MVC DelphiRleg30Ainda não há avaliações
- Modelo Contrato de AluguelDocumento8 páginasModelo Contrato de Aluguelpriscila alencarAinda não há avaliações
- Exercicios Gerais 1 PDFDocumento44 páginasExercicios Gerais 1 PDFGerson Pompeu100% (2)
- Lista 02 - Aplicações de PorcentagemDocumento3 páginasLista 02 - Aplicações de Porcentagemmaciel_araújoAinda não há avaliações
- Modelo EIRELI Transformacao LTDADocumento3 páginasModelo EIRELI Transformacao LTDAThiago RibeiroAinda não há avaliações
- Cifra Club - FOLHETIM - Luiza PossiDocumento3 páginasCifra Club - FOLHETIM - Luiza PossiMardson RochaAinda não há avaliações
- Tabela de Preços e Modelos MikrotikDocumento3 páginasTabela de Preços e Modelos MikrotikÉgon FreireAinda não há avaliações
- Apostila PaintDocumento15 páginasApostila PaintMarcelo ManneAinda não há avaliações
- Modulo 8 - O Bar e Seus ServicosDocumento35 páginasModulo 8 - O Bar e Seus ServicosHRodriguesAinda não há avaliações
- Trabalho - ElerinaDocumento19 páginasTrabalho - Elerinamateus cunaAinda não há avaliações
- FCoV AgDocumento2 páginasFCoV AgEduardo Pacheco da PazAinda não há avaliações
- Introducao A Programacao de Computadores PDFDocumento44 páginasIntroducao A Programacao de Computadores PDFAna Sofia SilvaAinda não há avaliações