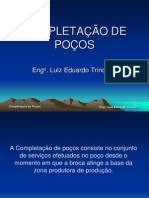Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ud Xvii - Aspectos Humanos (Exclusiva para SV Saude)
Ud Xvii - Aspectos Humanos (Exclusiva para SV Saude)
Enviado por
antonilofpTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ud Xvii - Aspectos Humanos (Exclusiva para SV Saude)
Ud Xvii - Aspectos Humanos (Exclusiva para SV Saude)
Enviado por
antonilofpDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1 UNIDADE XVII ASPECTOS HUMANOS (PARA OFICIAIS DE SADE)
1. DISTRIBUIO GEOGRFICA DA POPULAO 1.1. POVOAMENTO A distribuio da populao brasileira no territrio desigual. Essa distribuio est diretamente relacionada ao processo histrico de desenvolvimento econmico do pas e colonizao, que levou a uma forte concentrao geogrfica da produo em poucos estados e regies e, consequentemente, da renda. A Regio Nordeste teve seu povoamento iniciado no sculo XVI, a partir do litoral em direo ao interior, atravs da cultura canavieira (que ainda prevalece at hoje na Zona da Mata) e, posteriormente, com a pecuria e cultura de subsistncia. A Regio Sudeste iniciou seu processo de industrializao no incio do Sculo XX, atraindo grandes contingentes populacionais, favorecendo, ainda mais, a expanso da indstria. J a Regio Centro-Oeste, com o estabelecimento da fronteira agrcola, a partir da segunda metade do Sculo XX, com base na agricultura moderna, atraiu investimentos para o setor agrcola, promovendo sua expanso e criando condies para o estabelecimento de indstrias de transformao, tornando-se novo foco de desenvolvimento. A densidade demogrfica da Regio Sudeste mais de onze vezes maior que a da Regio Centro-Oeste. A da Regio Sul quase quinze vezes maior que a da Regio Norte. At a dcada de 1950, a maior parte da populao se encontrava no campo, dedicada s atividades agropecurias. A partir dessa poca, com a crescente industrializao, a tendncia se inverteu. Hoje, a maior concentrao populacional se encontra na poro leste do territrio, prxima ao litoral, com exceo da cidade de Belo Horizonte.
2 1.2. MIGRAES INTERNAS No decorrer do sculo XX, o processo de ocupao do territrio brasileiro foi marcado por caractersticas e dinmicas diferenciadas que responderam, por sua vez, a objetivos e perodos distintos (OLIVEIRA e SIMES, 2004). A intensa imigrao de trabalhadores europeus (italianos, japoneses, portugueses e espanhis) para as reas urbanas e rurais do Brasil; o processo de urbanizao brasileira, que intensificou os deslocamentos populacionais das regies mais pobres do pas em direo aos grandes centros urbanos do Sudeste; e os projetos de colonizao das regies Norte e Centro-Oeste so exemplos da influncia de distintos processos sociais e econmicos sobre a ocupao e organizao do territrio nacional . Em regies consideradas de ocupao antiga, com grande contingente populacional, porm com baixo dinamismo econmico, estabeleceu-se uma significativa diminuio no Produto Interno Bruto (PIB) regional. Essa diminuio estimulou a formao de fluxos migratrios, especialmente do Nordeste e de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro e So Paulo e, posteriormente e em etapas sucessivas, para o Paran, Centro-Oeste e Norte. Estes movimentos inter-regionais alteraram a distribuio regional da populao e, em consequncia, as taxas de crescimento demogrfico. Inicialmente, os deslocamentos iniciados a partir da dcada de 1940 a 1950 foram em direo fronteira agropecuria, no sentido do sul do Brasil e, mais recentemente, em direo s regies Centro-Oeste e Norte e s faixas de cerrados do Nordeste. A partir de meados da dcada de 1970 comeou tambm a ser caracterizado um movimento de desconcentrao industrial do estado de So Paulo. Os efeitos da desconcentrao agropecuria e industrial influenciam o setor de servios e de comrcio, promovendo, da mesma forma, a desconcentrao dos investimentos, provocando a queda da demanda por mo-de-obra. Os anos de 1980 foram marcados por uma crise econmica, decorrente das polticas econmicas praticadas nas dcadas anteriores. Como efeito dessa crise, verificou-se uma diminuio nos movimentos migratrios em direo aos grandes
3 centros industrializados, e um aumento dos movimentos em menores distncias (migraes intra-regionais). Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD), elaborada em 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), no que diz respeito ao tema migrao, as pessoas que no eram naturais do municpio em que residiam correspondiam a 40,1% (39,8%, em 2007) da populao do pas; aquelas no naturais da unidade da federao em que moravam representavam 15,7% (mesmo resultado de 2007). O IBGE (2008) apontou que, nas migraes regionais, ao analisar a naturalidade em relao ao municpio, a Regio Centro-Oeste foi a nica que teve populao no natural superior natural, isto , 54,2% da populao desta regio era no natural do municpio de moradia. Nas demais regies, os percentuais de pessoas no naturais em relao aos seus municpios foram: Norte (43,3%); Nordeste (31,8%); Sudeste (41,3%) e Sul (44,0%). Quanto naturalidade em relao unidade da federao em que residiam, 35,6% dos moradores da Regio Centro-Oeste eram no naturais. As Regies Norte (21,9%); Nordeste (7,4%); Sudeste (18,0%) e Sul (12,0%) apresentaram percentuais menores. Verificou-se que o perfil da faixa de idade dos migrantes mais envelhecido que os naturais dos estados da federao. Assim, entre as pessoas com 40 anos ou mais de idade, 30,6% eram naturais do estado, contra 54% de migrantes de outras unidades da federao. O perfil etrio mais envelhecido dos migrantes pode estar relacionado aos deslocamentos por melhores oportunidades de trabalho durante a idade mais produtiva.
1.3. OS RECURSOS HUMANOS COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO A educao um bem em si, pelas oportunidades que oferece de enriquecimento cultural (GOLDEMBERG, 1993). No entanto, este fato no cria as condies para que a universalizao do acesso escola se transforme em prioridade nas polticas governamentais. H duas outras razes bsicas que
4 incentivam as polticas pblicas, no sentido de promover a educao em geral e, especialmente, a escolarizao bsica. A primeira delas reside na necessidade de preparao para a cidadania, incorporando vida nacional grandes massas da populao, dando a elas a instruo que lhes permita participar, tanto como eleitores, quanto como usurios, dos servios oferecidos pela sociedade moderna. No mundo todo, a extenso da participao poltica e do acesso a benefcios sociais, que constituem o cerne da cidadania na sociedade moderna (democrtica ou no), esteve associada universalizao da educao bsica. Numa sociedade democrtica, essa universalizao torna-se ainda mais necessria, porquanto dela depende o acesso do eleitorado a informaes essenciais para a participao poltica plena e esclarecida. A segunda, que se vem manifestando com intensidade crescente, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, reside na alterao do processo produtivo associada ao desenvolvimento tecnolgico, o qual exige mo-de-obra cada vez mais qualificada. Um sistema de educao bsica que atenda ao conjunto da populao hoje essencial ao desenvolvimento econmico. H um consenso quanto necessidade de polticas que garantam a universalizao do atendimento ao ensino fundamental e ao ensino mdio. Apenas o ensino fundamental em nada garante a incluso social via mercado de trabalho, cujos requisitos para a entrada cada vez se tornam mais rigorosos. O ensino mdio assume uma importncia fundamental, principalmente o de carter profissionalizante (BRITO, 2007). O atendimento ao ensino mdio passa a ser o grande gargalo da educao brasileira, no somente pela presso demogrfica, mas, tambm, pelo aumento significativo da populao que completa o ensino fundamental e deseja continuar os estudos. O ensino mdio vai enfrentar, dessa forma, dois grandes desafios: o primeiro atender a toda a demanda, e o segundo e aumentar a sua qualidade. Ainda convivemos com uma parcela significativa da populao com nvel mdio de escolaridade de menos de 10 anos, como atestam as elevadas parcelas de analfabetos ou de indivduos com at quatro anos de estudo, no conjunto da populao. H diferenas regionais bastante significativas nestes indicadores, mas
5 em todas as regies os contingentes absolutos de populao com baixo nvel de instruo so considerveis. Muitos estudos consideram que o investimento em capital humano responsvel por grande parte das diferenas de produtividade entre os pases (MENEZES-FILHO, 1997). Langoni apud Goldemberg (1993) foi um dos primeiros economistas a ressaltar a importncia da educao como fator explicativo para a desigualdade brasileira. Mostrou que parte do aumento da desigualdade no Brasil entre 1960 e 1970 ocorreu devido ao aumento na demanda por trabalhadores qualificados, associado industrializao. O carter claramente utpico de muitas de nossas polticas educacionais responsvel pelo seu fracasso. Essa situao se deve ao fato de no terem sido associadas a uma poltica social de longo alcance e no estarem aliceradas em uma clara conscincia dos obstculos econmicos, polticos e culturais que precisam ser enfrentados para a construo de um sistema educacional abrangente e de boa qualidade. No possvel, hoje em dia, aumentar substancialmente a renda mdia de adultos sem instruo, nem se consegue educar adequadamente crianas cujas famlias vivem beira da misria. Por isso mesmo, ao se traar uma poltica educacional, h de se evitar a posio simplista de que se pode resolver o problema da pobreza apenas abrindo escolas. Pobreza e ausncia de escolarizao so deficincias que somente podero ser superadas se enfrentadas simultaneamente, cada uma em seu lugar prprio (GOLDEMBERG, 1993).
2.SADE E HIGIENE 2.1. INDICADORES SOCIAIS Os indicadores sociais retratam o estado social de um grupo populacional representativo de um pas, estado, ou municpio. Os indicadores sociais constituem um sistema, e como tal, preciso que sejam vistos uns em relao aos outros, como elementos de um mesmo conjunto.
6 Tal conjunto composto por dados sobre as caractersticas da populao (nmero de habitantes, idade, sexo, raa, etc.), dados scio-econmicos (renda, ocupao, classe social, tipo de trabalho, condies de moradia e alimentao) e por dados ambientais (poluio, abastecimento de gua, tratamento de esgoto, coleta e disposio do lixo). A escolha dos dados que representam o estado social de uma nao depende dos objetivos que se pretende alcanar. Esses dados so essenciais para se avaliar as condies de vida e sade de uma populao, alm de fornecer informaes de todas as classes sociais, o que vem a contribuir na anlise das desigualdades sociais e regionais. As principais fontes de dados oficiais no Brasil so as produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), como as pesquisas censitrias (Censo Demogrfico e Contagem Populacional) e por amostra de domiclios (Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios, PNAD). A sistematizao desses indicadores pelo IBGE possibilita o monitoramento de polticas sociais e a disseminao de informaes relevantes para toda a sociedade brasileira.
2.2. INDICADORES EM SADE Os indicadores em sade foram desenvolvidos para facilitar a quantificao e a avaliao das informaes produzidas a partir de dados essenciais para a tomada de decises e para a programao de aes de sade. Dados sobre servios de sade (hospitais, ambulatrios, unidades de sade, acesso aos servios), dados de morbidade (doenas que ocorrem na comunidade) e os eventos vitais (principalmente bitos e nascimentos vivos e mortos), associados a outros indicadores sociais, devem refletir a situao sanitria de uma populao e servir para a vigilncia das condies de sade. A construo de um indicador em sade um processo cuja complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de determinada doena, at o clculo de propores, razes, taxas ou ndices mais sofisticados, como a esperana de vida ao nascer (RIPSA, 2002). A qualidade de um indicador depende
7 das propriedades dos componentes utilizados em sua formulao (frequncia de casos, tamanho da populao em risco etc.) e da preciso dos sistemas de informao empregados (registro, coleta, transmisso dos dados etc.). Esses indicadores, quando avaliados em conjunto, contribuem na avaliao das condies de desenvolvimento socioeconmico e infraestrutura ambiental, bem como no acesso e na qualidade dos recursos disponveis para ateno sade. No caso do Brasil, segundo a RIPSA (2002), a produo e a utilizao de informaes sobre sade se processam em um contexto muito complexo de relaes institucionais, compreendendo variados mecanismos de gesto e financiamento. Esto envolvidas: estruturas governamentais na gesto do Sistema nico de Sade (SUS); o IBGE; outros setores da administrao pblica que produzem dados e informaes de interesse para a sade; instituies de ensino e pesquisa; associaes tcnico-cientficas e as que congregam categorias profissionais ou funcionais; e organizaes no-governamentais.
2.3. VARIAES NOSOLGICAS O quadro nosolgico depende de condies geogrficas, climticas e tnicas. Representa as condies econmicas e sociais da populao em um dado momento. Portanto, os dados nosolgicos contm informaes bsicas sobre as quais repousa o conhecimento da realidade sanitria, indispensvel para o planejamento e a organizao dos servios de sade. A dieta inadequada e a inatividade fsica compem um complexo de causas que so de grande importncia para a sade da populao. Esses fatores se associam fortemente a muitas doenas crnicas no transmissveis, mas altamente prevalentes (LEVY COSTA et ali, 2005). Levy Costa et ali (2005) afirma ainda que, sendo a dieta passvel de modificao, torna-se necessrio o desenvolvimento de polticas para a preveno, tanto das deficincias nutricionais, quanto das doenas crnicas no transmissveis. Essa modificao deve ter por base a existncia de sistemas que monitorem, de preferncia com fluxos de informaes j existentes, os indicadores do consumo
8 alimentar. As Pesquisas de Oramento Familiar (POF) constituem fonte valiosa para obteno de indicadores do consumo alimentar, cujo uso crescente em pases em desenvolvimento.
2.4. ENDEMIAS REGIONAIS Convencionou-se no Brasil designar determinadas doenas, a maioria delas parasitrias ou transmitidas por vetor, como endemias, grandes endemias ou endemias rurais. Entre as principais doenas relacionadas est a malria, a febre amarela, a esquistossomose, as leishmanioses, as filarioses, a peste, a doena de Chagas, alm do tracoma, da bouba, do bcio endmico e de algumas helmintases intestinais, principalmente a ancilostomase (SILVA, 2003). Segundo Silva (2003), as doenas predominantemente rurais constituram a preocupao central da sade pblica brasileira por quase um sculo, at que diversos fatores, notadamente a urbanizao, desfizessem as razes de sua existncia como um corpo homogneo de preocupao, Hoje o que se percebe que essas doenas extrapolaram os limites rurais e hoje esto presentes em muitas reas urbanas do pas. Entre importantes centros urbanos que se destacam pelo convvio com endemias esto Manaus (malria e dengue), Porto Velho (malria e leishmanioses), Cruzeiro do Sul (malria), Rio de Janeiro (que em 2008 conviveu com um surto de dengue), Salvador (dengue), Teresina (leishmanioses), entre outras. Em 1999, foi implementado o Programa Controle de Endemias, no mbito do Sistema nico de Sade (SUS). Este programa descentraliza as aes nos estados e municpios, como estratgia para reduzir as doenas consideradas endmicas 1 no Brasil. No caso da Amaznia brasileira, suas caractersticas prprias vo alm das condies socioeconmicas e culturais. A prpria caracterstica geogrfica e demogrfica tem contribudo para manuteno de endemias e o aparecimento de epidemias. Malria, leishmaniose, hansenase, tuberculose, arboviroses e outras
1
Endemia uma enfermidade, em geral infecciosa, latente em certos pases ou regies por influncia de causa local.
9 doenas infecciosas apresentam os ndices de prevalncia mais elevados, cujos programas de controle ainda no conseguiram reduzir o impacto sobre a sade das populaes a existentes. Um problema srio que se percebe ao estudar as polticas e os programas de controle de doenas endmicas que nem sempre os recursos so destinados de forma proporcional. Um bom exemplo o que ocorreu no Piau, onde a maior parte do recurso destinado ao controle de endemias foi utilizada para o controle da dengue, embora sejam a leishmaniose e o calazar as doenas que matam mais. No entanto, como quem mais contrai a leishmaniose so pessoas mais pobres e de menor poder aquisitivo, acabam sendo menos assistidas.
2.5. NDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)2 Os indicadores de desenvolvimento humano oferecem uma avaliao geral das metas alcanadas por pases, estados e municpios em variadas reas do desenvolvimento humano. Dizem respeito ao nvel de bem-estar social, a partir de indicadores de educao (alfabetizao e taxa de matrcula), longevidade (esperana de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O ndice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Pases com IDH at 0,499 tm desenvolvimento humano considerado baixo; os pases com ndices entre 0,500 e 0,799 so considerados de mdio desenvolvimento humano; pases com IDH maior que 0,800 tm desenvolvimento humano considerado alto (IPEA/OPAS, 2001). Em relao ao Brasil, os indicadores de sade e condies de vida, como escolaridade e renda, tiveram, de um modo geral, evoluo favorvel na ltima dcada. A proporo da populao com menos de quatro anos de escolaridade alta em todas as unidades da federao embora com grande variao entre elas. Na dcada de 1990 essa proporo caiu 16,1% no Brasil. As piores situaes so observadas no Piau, Maranho e Alagoas e as melhores no Rio Grande do Sul, Distrito Federal e So Paulo (SANTAGADA, 2007).
2
O IDH tem como finalidade analisar as consequncias da acelerada urbanizao para a sade e higiene da populao e as medidas adotadas para o desenvolvimento de padres sanitrios
10 A correlao entre baixa escolaridade e proporo de bitos mal definidos, este como j referido, um indicador indireto de qualidade da ateno, alta. Ou seja, os estados com menores propores de populao com menos de 4 anos de escolaridade tambm apresentam as menores taxas de bitos por causas mal definidas. O ndice de efeito () igual a 1,045, ou seja, para cada 10% de reduo na proporo de pessoas com menos de 4 anos de escolaridade, corresponderia uma queda de 10% na taxa de bitos mal definidos (SANTAGADA, 2007). A taxa de pobreza varia de 10% em So Paulo a 64% no Maranho (razo entre valores extremos: 6,5), para uma mdia nacional da ordem de 28%. Na regio Norte a taxa de pobreza 1,2 vezes maior do que para o pas como um todo. Os estados do Nordeste apresentam taxas 1,9 vezes maiores do que a do Brasil. Seria necessria uma reduo de 21,4 % na taxa de pobreza na Regio Norte e 83,8% na Regio Nordeste para que estas regies possam atingir a mdia nacional (SANTAGADA, 2007). Segundo dados apresentados pelo IPEA/OPAS (2001), a partir da regresso que relaciona taxa de pobreza e cobertura pr-natal, a maioria dos estados se posiciona prximo reta de regresso, demonstrando que a cobertura com pelo menos 6 consultas de pr-natal compatvel com seu nvel econmico. O Distrito Federal um dos estados discrepantes, estando fora do intervalo de confiana. Embora seja um dos estados com menor taxa de pobreza, apresenta cobertura prnatal inferior quela que seria esperada para seu nvel de desenvolvimento. Os estados do Acre e do Amap tambm mostram coberturas inferiores ao que seria esperado para seu nvel econmico, mesmo tendo em conta que so estados com maiores taxas de pobreza. Em outras palavras, a cada reduo de 10% na taxa de pobreza haveria o aumento de 5% na cobertura do pr-natal. A disponibilidade de estudos sobre equidade em sade, embora crescente, ainda desproporcional a importncia do assunto. Parte da escassez parece associada carncia e, sobretudo, irregularidade de dados especficos. Incrementar o desenvolvimento de sistemas de informaes integrados, confiveis, abrangentes e acessveis, que possibilitem a anlise das desigualdades em sade, em suas diferentes dimenses alm da geogrfica, facilitaria a definio de prioridades
11 setoriais e melhoraria o planejamento e a avaliao dos programas (IPEA/OPAS, 2001). Melhorar a qualidade da informao j existente, integrar as diferentes bases de dados e implantar periodicidade adequada para as pesquisas amostrais, so outros pr-requisitos para o aperfeioamento do processo de formulao e avaliao das polticas setoriais. Nesse processo, o monitoramento das desigualdades em sade se configura como essencial, no apenas para os gestores do SUS, mas, da mesma forma, para os mecanismos de participao social, como os Conselhos e as Conferncias de Sade. De um lado, porque a equidade reconhecida como um dos princpios da doutrina que conforma o sistema pblico de sade, ainda que no literalmente explicitado na legislao. De outro porque, como mostra este estudo, possvel reduzir desigualdades em sade mediante polticas setoriais, mesmo na vigncia dos enormes e bem conhecidos desnveis sociais e econmicos, onde a concentrao de renda a situao mais emblemtica. Ao mesmo tempo em que se promove o aperfeioamento dos registros administrativos do SUS, mediante a incluso obrigatria de informao sobre escolaridade, seria buscada junto ao IBGE a incorporao de quesitos mnimos (essenciais) sobre sade na Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclio (PNAD), como j acontece com emprego, renda e educao.
3. EDUCAO SANITRIA A educao em sade constitui um conjunto de saberes e prticas orientados para a preveno de doenas e promoo da sade (COSTA & LPEZ, 1996). Trata-se, portanto, de um recurso por meio do qual o conhecimento cientificamente produzido no campo da sade, intermediado pelos profissionais de sade, atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a compreenso dos condicionantes do processo sade-doena oferece subsdios para a adoo de novos hbitos e condutas de sade.
12 Numa abordagem estratgica que privilegia a participao da populao envolvida na busca de solues viveis para os problemas de saneamento ambiental, uma das ferramentas mais importantes a Educao Sanitria e Ambiental pautada na concepo de um planejamento que visa resultados positivos, benefcios, e uma poltica eficiente para gesto pblica dos servios de saneamento bsico. Estes entendidos como, o abastecimento de gua, esgotamento sanitrio, drenagem urbana, coleta, tratamento e disposio de resduos slidos (LOUREIRO, 2000). O processo pedaggico deve ser pautado no ensino contextualizado, abordando o tema da questo da distribuio, uso e aproveitamento racional dos recursos hdricos, a coleta, tratamento, destino final dos esgotos e a possibilidade de reuso de gua, alm da coleta, destinao adequada, tratamento, reduo do consumo, reutilizao e reciclagem de resduos slidos domsticos (lixo).
4. ALIMENTAO NUTRIO E ANTROPOMETRIA A dieta inadequada e a inatividade fsica compem um complexo de causas de grande importncia para a sade da populao. Esses fatores se associam fortemente a muitas doenas crnicas no transmissveis e altamente prevalentes. Importante parcela das deficincias nutricionais, tanto no Brasil quanto no mundo, tambm tem na dieta seu principal fator etiolgico (LEVY-COSTA et ali, 2005). Para Levy-Costa et ali (2005) sendo a dieta passvel de modificao, tornase necessrio o desenvolvimento de polticas para a preveno, tanto das deficincias nutricionais, quanto das doenas crnicas no transmissveis. Essa modificao deve ter por base a existncia de sistemas que monitorem, de preferncia com fluxos de informaes j existentes, indicadores do consumo alimentar. Pesquisas de Oramento Familiar (POF) constituem fonte valiosa para obteno de indicadores do consumo alimentar, cujo uso crescente em pases em desenvolvimento. As condies de sade e nutrio de uma populao constituem um reflexo de seu consumo alimentar, principalmente para as crianas, cuja alimentao
13 adequada condio fundamental para o pleno crescimento e desenvolvimento. O estado nutricional, representado pelo equilbrio entre o consumo alimentar e as necessidades metablicas dirias especficas do organismo, indica em que proporo as necessidades fisiolgicas de nutrientes esto sendo supridas. Uma deficincia quantitativa e/ou qualitativa do consumo de nutrientes e as infeces de repetio constituem uma das causas imediatas mais significativas dos problemas de sade e nutrio (SIGULEM et ali,2006). Para Menezes e Osrio (2007), conhecer o padro de consumo alimentar de uma populao torna-se essencial para o planejamento de polticas pblicas de preveno e controle das carncias nutricionais. Apesar da importncia dos estudos de consumo alimentar na identificao dos principais problemas nutricionais, existem grandes lacunas de informaes relacionadas s questes de alimentao. Apesar do ritmo acelerado com que se processa a reduo da desnutrio no Brasil, ainda no existe uma regio onde se tenha completado a correo do dficit estatural de crianas menores de cinco anos. O alvo de se atingir os valores da curva de referncia de crescimento (a tabela do National Center of Health Statistics NCHS universalmente recomendada) est relativamente prximo de ser alcanado nas populaes urbanas do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, mas ainda acha-se bem distante no Norte e Nordeste. Por outro lado, a defasagem da relao altura/idade em crianas rurais ainda acentuada, mesmo no centro-sul (quatro vezes acima do limite de aceitao ou de normalidade) e no Nordeste (11 vezes acima do padro de referncia). J sob o aspecto da distribuio social, as crianas que pertencem ao tero superior de renda das famlias brasileiras apresentam curvas de crescimento que se superpem aos valores do padro internacional. No que se refere s populaes adultas, os valores baixos do ndice de Massa Corporal (IMC) indicariam que, com exceo do Nordeste rural, j no existiriam, desde o fim da dcada de 1980, populaes afetadas pela deficincia calrica, manifesta em peso deficitrio para a altura. A partir dos 18 anos de idade, o problema emergente seria, de fato, a questo do sobrepeso e da obesidade. Embora o estado de nutrio energtico proteica seja um aspecto paradigmtico da epidemiologia dos problemas nutricionais e seu trnsito entre a
14 desnutrio da criana e a obesidade do adulto, Batista Filho e Rissin (2003) aponta, para a necessidade de sair do reducionismo e fazer uma. descrio mais ampliada das mudanas decorrentes dos problemas nutricionais, cruciais no cenrio nutricional do pas.
5. SANEAMENTO BSICO Segundo a conceituao clssica do Manual de Saneamento de 1974 (BORJA, 2005), saneamento o conjunto de medidas que visam modificao das condies do meio ambiente com a finalidade de promover a sade e prevenir as doenas. A problematizao desta concepo, no entanto, desenvolveu uma nova definio de saneamento que traduzida no moderno conceito de Saneamento Ambiental. Por Saneamento Ambiental entendemos o conjunto de aes tcnicas e socioeconmicas, entendidas fundamentalmente como de sade pblica, tendo por objetivo alcanar nveis crescentes de salubridade ambiental, compreendendo o abastecimento de gua em condies adequadas; a coleta, o tratamento e a disposio adequada dos esgotos, resduos slidos e emisses gasosas; preveno e controle do excesso de rudos; a drenagem urbana das guas pluviais e o controle ambiental de vetores e reservatrios de doenas, com a finalidade de promover e melhorar as condies de vida urbana e rural (BORJA, 2005). Levantamento, feito em 2000, pelo IBGE, indica que, em alguns pontos, a situao do saneamento bsico no Brasil apresenta melhoras em relao ao levantamento feito onze anos antes. De 1989 para 2000, aumentou em 10% o nmero de municpios servidos por esgotamento sanitrio, a cobertura de abastecimento de gua cresceu 2%, chegando a 97,9% das cidades, e a coleta de lixo j feita em praticamente todos os municpios do Pas, ou seja, 99,4% (REVISTA CIDADES DO BRASIL, 2005). Em muitos itens, porm, esses avanos ficaram aqum do necessrio e, em alguns, casos houve regresso. O aumento do volume de gua sem tratamento um bom exemplo. Os nmeros mostram que a falta de saneamento, comum nas
15 comunidades pobres do interior do Pas, um problema sem soluo, mesmo nas grandes cidades. Segundo dados fornecidos pelo Ministrio das Cidades, em 2004, menos de 50% da populao brasileira tinha saneamento bsico satisfatrio, sendo que a maioria dos locais atendidos com este servio estava nas grandes cidades do pas. O desperdcio de gua pelas companhias concessionrias muito grande. A capital com a maior taxa de perdas das fontes dos mananciais at o consumidor final Porto Velho (RO), com 78,8% de desperdcio, e tambm a capital com menor cobertura por habitante. Das 27 capitais brasileiras, quinze perdem mais da metade da gua produzida. Esta quantidade daria para abastecer 38 milhes de pessoas por dia, sendo a mdia de consumo nas capitais de 150 litros por habitante dirios. Os locais com maior consumo so: Rio de Janeiro, Vitria e So Paulo, que chegam a gastar 220 litros por habitante ao dia, quando a ONU recomenda 110 litros por pessoa diariamente. Em termos de volume de gua, o Rio de Janeiro tem a maior perda, com um total de 618 piscinas olmpicas por dia; So Paulo segunda cidade com maior perda, com 425 piscinas olmpicas (LOURENO, 2008). O acesso rede de esgoto no atende a 30% da populao das grandes cidades brasileiras. Mais da metade no tem este servio essencial e 80% dos esgotos so lanados diretamente nos rios. Algumas cidades como Manaus, Belm e Rio Branco atendem, com rede de esgoto, a menos de 3% da populao que nelas residem, enquanto os maiores ndices de tratamento de esgoto so: Braslia, Curitiba e Rio de Janeiro, com mais de 60% de cobertura no servio. A populao pobre a mais sacrificada com esses ndices alarmantes de falta de cobertura de saneamento bsico. As doenas que poderiam ser evitadas com investimentos na rede de abastecimento de gua e de coleta de esgoto tem persistido por vrias geraes no Brasil. As obras necessrias para resolver este problema so caras, embora a nova Lei de Saneamento Bsico trace uma srie de diretrizes para os investimentos no setor. A nova legislao demorou quase duas dcadas para ser aprovada no Congresso Nacional. Segundo prognsticos, mais recentes, sero necessrios mais de R$ 50 bilhes por ano para que em 15 anos o problema seja solucionado, e
16 assim, haja uma queda significativa, em mdio prazo, das doenas decorrentes da falta de infraestrutura nas cidades brasileiras.
17 REFERNCIA BIBLIOGRFICA BATISTA FILHO, Malaquias; RISSIN, Anete. A transio nutricional no Brasil : tendncias regionais e temporais. Cad. Sade Pblica [online]. 2003, vol.19, suppl.1, pp. BORJA, Patrcia Campos.; MORAES, Luiz Roberto Santos. Saneamento como um direito social. In: 35 ASSEMAE - Recursos Humanos (2005: Belo Horizonte). Disponvel em: <www.semasa.sp.gov.br/admin/biblioteca/docs/pdf/35Assemae125. pdf>. Acesso em: 23 jul. 2009. BRITO, Fausto. A transio demogrfica no Brasil: as possibilidades e os desafios para a economia e a sociedade. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2007. FRENTE NACIONAL PELO SANEAMENTO AMBIENTAL. Contribuio para a Formulao de uma Poltica Nacional de Saneamento Ambiental . Braslia, 2003. 20p. GOLDEMBERG, Jos. O repensar da educao no Brasil. Estudos Avanados 7(18), 1993. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD). Sntese de Indicadores 2008. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE. Rio de Janeiro, 2009. IPEA/OPAS. Medindo as desigualdades em sade no Brasil : uma proposta de monitoramento. VIANNA , Solon Magalhes (coord.). NUNES, Andr Barata; SANTOS, Rita Barradas; SILVA, James Richard. Braslia: Organizao PanAmericana da Sade (OPAS), Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA), 2001. 224p. LEVY-COSTA, Renata Bertazzi; SICHIERI, Rosely; PONTES, Nzio dos Santos e MONTEIRO, Carlos Augusto. Disponibilidade domiciliar de alimentos no Brasil: distribuio e evoluo (1974-2003). Revista Sade Pblica 2005; 39(4): 530-40. LOUREIRO, C. F. B. Educao para a Gesto Ambiental: a cidadania no enfrentamento poltico dos conflitos socioambientais. In: Sociedade e meio ambiente: a Educao Sanitria e Ambiental em debate. So Paulo, Cortez Editora, 2000. LOURENO, Luana. Desperdcio dirio de gua suficiente para abastecer 38 milhes de pessoas. Agncia Brasil. Revista Digital Envolverde. 24 de Maro de 2008. Disponvel em: <http://www.somaagencia.com.br/artigos_ver.asp?id=223>. Acesso em: 23 jul. de 2009.
18 MENEZES, Risia Cristina Egito de; OSORIO, Mnica Maria. Consumo energticoprotico e estado nutricional de crianas menores de cinco anos, no estado de Pernambuco, Brasil. Rev. Nutr. [online]. 2007, vol.20, n.4, pp. OLIVEIRA, Antnio Tadeu de e SIMES, Andr Geraldo. Deslocamentos Populacionais no Brasil: uma anlise dos Censos Demogrficos de 1991 e 2000. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambu- MG Brasil, de 20- 24 de Setembro de 2004. ONZE ANOS DEPOIS. Pesquisa Nacional de Saneamento Bsico revela quais os avanos e retrocessos que o pas apresentou desde 1989 at 2000. Revista Cidades do Brasil. Abril - 2002. Edio 31. QUEIROZ, Silvana Nunes de; SANTOS, Jos Mrcio dos. Principais Alteraes nos Saldos Migratrios Brasileiros: Uma Anlise por Estados e Regies (19862006). In: XIV Encontro Regional de Economia da Associao Nacional dos Centros de Ps-Graduao em Economia, 2009, Fortaleza. Anais do XIV Encontro Regional de Economia da Associao Nacional dos Centros de Ps-Graduao em Economia, 2009. RIPSA. Indicadores bsicos de sade no Brasil: conceitos e aplicaes. Rede Interagencial de Informaes para a Sade - Ripsa. Braslia: Organizao PanAmericana da Sade, 2002. 299 p. SIGULEM, D. M; DEVINCENZI, U. M; LESSA, A. C. Diagnstico do estado nutricional da criana e do adolescente. J Pediatr. 2000; 76 (Supl 3): 275-84. SILVA, Luiz Jacintho da. O controle das endemias no Brasil e sua histria . Cienc. Cult. [online]. 2003, v. 55, n. 1, pp. 44-47. SANEAMENTO. Setor se movimenta, coloca em andamento inmeros projetos e obras, mas no consegue alterar perfil do Censo 2000. Revista Cidades do Brasil. Abril - 2005. Edio 61. SANTAGADA, Salvatore. Indicadores Sociais: Uma Primeira Abordagem Social e Histrica. Pensamento Plural. Pelotas [01]: 113 - 142, julho/dezembro 2007
Você também pode gostar
- Estado e Politicas Sociais Fundamentos e ExperienciasDocumento306 páginasEstado e Politicas Sociais Fundamentos e Experienciasmychelrios100% (1)
- (Jose Puppim) Empresas Na SociedadeDocumento187 páginas(Jose Puppim) Empresas Na SociedadePatricia PratesAinda não há avaliações
- Indústria Química Na AfricaDocumento2 páginasIndústria Química Na AfricaFernanda CeschinAinda não há avaliações
- Tecnologia e Mercado de Trabalho PDFDocumento8 páginasTecnologia e Mercado de Trabalho PDFerick_thadeuAinda não há avaliações
- NBR 7289 PDFDocumento16 páginasNBR 7289 PDFLeonardo Borsari Sixel100% (1)
- 21período Joanino E Processo de IndependênciaDocumento0 página21período Joanino E Processo de IndependênciaJoilson Silva BateraAinda não há avaliações
- Apostila 2015 - 1Documento185 páginasApostila 2015 - 1Cristiano HenriqsonAinda não há avaliações
- As Pequenas e Médias Empresas No Brasil e Na ChinaDocumento16 páginasAs Pequenas e Médias Empresas No Brasil e Na ChinasenraangelicaAinda não há avaliações
- Lei de Uso e Ocupação Do Solo de DivinópolisDocumento21 páginasLei de Uso e Ocupação Do Solo de DivinópolisGustavo TavaresAinda não há avaliações
- Intelli - Catalogo - HastesDocumento6 páginasIntelli - Catalogo - HastesmarleyAinda não há avaliações
- Slides FilosofiaDocumento37 páginasSlides Filosofiaresmaia3007Ainda não há avaliações
- Economia ExtrativaDocumento22 páginasEconomia ExtrativaJoyce PaculeAinda não há avaliações
- Breves Reflexões Sobre o Turismo Social A Partir Da História Institucional Do Serviço Social Do Comércio (Sesc) e Da Produção Acadêmica BrasileiraDocumento20 páginasBreves Reflexões Sobre o Turismo Social A Partir Da História Institucional Do Serviço Social Do Comércio (Sesc) e Da Produção Acadêmica BrasileiramarceloAinda não há avaliações
- Fabrica de Produção de Presilhas para CabeloDocumento56 páginasFabrica de Produção de Presilhas para CabeloTiago de Carvalho100% (1)
- Curso Profibus SiemensDocumento44 páginasCurso Profibus SiemensMarcelo Dias Bezerra57% (7)
- Curriculo DiegoDocumento2 páginasCurriculo DiegoDiego AbichAinda não há avaliações
- Tasco DobradiçaDocumento174 páginasTasco DobradiçaDavidBarcelosAinda não há avaliações
- EDUCAÇAO AMBIENTAL Livro-Texto - Unidade IDocumento33 páginasEDUCAÇAO AMBIENTAL Livro-Texto - Unidade IAléxia Vega100% (1)
- TCC Felipe Vegini - Versão RevisadaDocumento207 páginasTCC Felipe Vegini - Versão RevisadaFelipe VeginiAinda não há avaliações
- Rima Das Barragens Do Rio Ipojuca Tudo PDFDocumento101 páginasRima Das Barragens Do Rio Ipojuca Tudo PDFthifreitasAinda não há avaliações
- Standardização e Modularização Dos Cilindros Hidráulicos Das Quinadoras PDFDocumento104 páginasStandardização e Modularização Dos Cilindros Hidráulicos Das Quinadoras PDFLicinio FigueiraAinda não há avaliações
- Agro 2 PDFDocumento28 páginasAgro 2 PDFGenyelson NascimentoAinda não há avaliações
- A Indústria Do Alumínio - Estrutura e TendênciasDocumento46 páginasA Indústria Do Alumínio - Estrutura e TendênciasArlon MartinsAinda não há avaliações
- Completação de Poços de Petróleo - Eng. Luiz Eduardo TrindadeDocumento98 páginasCompletação de Poços de Petróleo - Eng. Luiz Eduardo TrindadeRafael Cunha100% (1)
- Analise e Gerenciamento de Risco P Anvisa - Aula 00 - Analise e Gerenciamento de Risco - Anvisa - Alinemeloni - Aula00 - 24327 PDFDocumento55 páginasAnalise e Gerenciamento de Risco P Anvisa - Aula 00 - Analise e Gerenciamento de Risco - Anvisa - Alinemeloni - Aula00 - 24327 PDFJailton NonatoAinda não há avaliações
- Programa Coleta Descarte PilhasDocumento3 páginasPrograma Coleta Descarte Pilhasmaluc0nAinda não há avaliações
- Resenha Do Filme GerminalDocumento2 páginasResenha Do Filme GerminalJonathan AmorimAinda não há avaliações
- Bauhaus - Acertos, Fracassos e Ensino.Documento11 páginasBauhaus - Acertos, Fracassos e Ensino.DUDDOBRAinda não há avaliações
- Exercício Engenharia The True CostDocumento6 páginasExercício Engenharia The True CostSillvano PiresAinda não há avaliações
- Processo de Produção de Superfosfato Triplo Utilizando Concentrado Fosfático Ultrafino ÚmidoDocumento12 páginasProcesso de Produção de Superfosfato Triplo Utilizando Concentrado Fosfático Ultrafino ÚmidoLeonel MiguelAinda não há avaliações