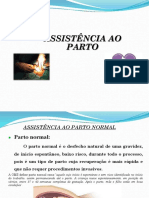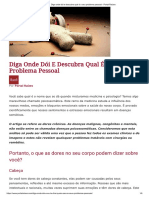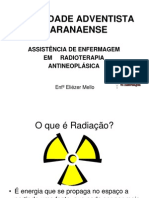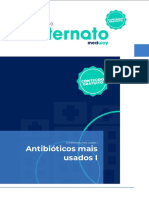Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Soja Beneficios
Soja Beneficios
Enviado por
Aretha MSilvaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Soja Beneficios
Soja Beneficios
Enviado por
Aretha MSilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ISOFLAVONAS E DOENAS CRNICAS
43
REVISO
EFEITOS BENFICOS D AS ISOFL AVONAS DE SOJA EM DOENCAS CRNICAS DAS ISOFLA
BENEFICIAL EFFECTS OF SOY ISOFLAVONES ON CHRONIC DISEASES
Elizabeth Adriana ESTEVES1 Josefina Bressan Resende MONTEIRO2
RESUMO Durante as ltimas dcadas, evidncias cientficas vm demonstrando que as isoflavonas podem trazer benefcios no controle de doenas crnicas tais como cncer, diabetes mellitus, osteoporose e doenas cardiovasculares. Estes compostos esto amplamente distribudos no reino vegetal e concentraes relativamente maiores so encontradas nas leguminosas, em particular, na soja (Glycne max ). Alm da sua atividade anti-estrognica, possuem diversas propriedades biolgicas que podem afetar muitos processos bioqumicos e fisiolgicos. As evidncias de que as isoflavonas protegem contra vrias doenas crnicas so baseadas em estudos experimentais e epidemiolgicos. Em humanos, estudos epidemiolgicos mostram uma maior incidncia de alguns tipos de cncer (mama, prstata e clon) e doenas cardiovasculares nas populaes ocidentais expostas a limitadas quantidades de isoflavonas de soja na dieta. Evidncia adicional para proteo contra o cncer e doenas cardacas tem sido verificada em vrios modelos experimentais com animais. As isoflavonas podem tambm prevenir a perda ssea ps-menopausa e a osteoporose. Efeitos da genistena na regulao da secreo de insulina tambm tm sido demonstrados. Os mecanismos pelos quais as isoflavonas podem exercer estes efeitos parecem depender, em parte, das suas propriedades agonistas-antagonistas dos estrgenos. Outros mecanismos hipotticos poderiam derivar de outras propriedades bioqumicas, tais como inibio da atividade enzimtica e efeito antioxidante. Termos de indexao: isoflavonas, doenas cardiovasculares, neoplasias, osteoporose, diabetes mellitus.
ABSTRACT During the last decades, scientific evidences have shown that isoflavones may have influence on chronic diseases control, such as cancer, diabetes mellitus , osteoporosis, and cardiovascular diseases. These compounds are widely found in beans, particularly in soybeans (Glycine max). In addition to their anti-estrogen activity, they have biological properties that may have impact on many biochemical and physiological processes. The evidences that isoflavones protect against chronic diseases are based on experimental and epidemiological studies. In humans, epidemiological studies clearly show a higher incidence of some kinds of cancers (for example: breast, prostate and colon) and cardiovascular diseases in western people that are exposed to limited amounts of soy isoflavones, such as daidzein and genistein, on diets. Additional evidences have been verified in several experimental animal models. The isoflavones may prevent bone loss and osteoporosis in post-menopause women. Effects of genistein on insulin release have also been showed. It seems that their mechanisms of action depend on their estrogen agonist-antagonist properties and other biochemical properties such as enzymatic activity inhibition and antioxidant effects. Index terms: isoflavones, soybean, cardiovascular diseases, neoplasms, osteoporosis, diabetes mellitus.
(1) (2)
Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Viosa. Departamento de Nutrio e Sade, Universidade Federal de Viosa, 36057-100, Viosa, MG, Brasil. Correspondncia para/Correspondence to: J.B.R. MONTEIRO.
Rev. Nutr., Campinas, 14(1): 43-52, jan./abr., 2001
44
E.A. ESTEVES & J.B.R. MONTEIRO
INTRODUO As isoflavonas (tambm chamadas isoflavonides) so compostos qumicos fenlicos, pertencentes classe dos fitoestrgenos e esto amplamente distribudos no reino vegetal. As concentraes destes compostos so relativamente maiores nas leguminosas e, em particular, na soja (Glycine max), sendo que as principais isoflavonas encontradas na soja e seus derivados so a daidzena, a genistena e a glicitena, as quais apresentam-se como vrias formas de conjugados glicosdicos, dependendo da extenso do processamento ou fermentao. Do total de isoflavonas, dois teros so de glicosdeos conjugados de genistena, sendo o restante composto de conjugados de daidzena e pequenas quantidades de glicitena. J nos produtos fermentados de soja, predominam no s a genistena, mas tambm a daidzena, devido a ao de glicosidases bacterianas. Sendo assim, a maior parte da protena de soja que utilizada pela indstria de alimentos contm isoflavonas em concentraes variadas (0,1-3,0.mg) (Setchell, 1998). Nas ltimas dcadas, tem havido um grande interesse nos fitoestrgenos e em particular nos potenciais benefcios que uma dieta rica nestes compostos pode conferir no controle de muitas doenas crnicas. O maior interesse dos pesquisadores na farmacologia e fisiologia das isoflavonas, pois apresentam estrutura no esteroidal, mas comportam-se como estrgenos na maioria dos sistemas biolgicos, alm de serem as mais abundantes dentre os fitoestrgenos. Em adio sua atividade anti-estrognica, estes compostos possuem diversas propriedades biolgicas (atividade antioxidante, inibio da atividade enzimtica e outras) que podem influenciar muitos processos bioqumicos e fisiolgicos (Setchell, 1998). A evidncia de que as isoflavonas protegem contra vrias doenas crnicas baseada em estudos experimentais e epidemiolgicos. Em humanos, estudos epidemiolgicos mostram claramente uma maior incidncia de alguns tipos comuns de cncer (mama, prstata e clon) e doenas cardiovasculares nas populaes ocidentais expostas a limitadas quantidades de isoflavonas de soja (por exemplo: daidzena e genistena) na dieta. Evidncia adicional para proteo contra o cncer e doenas cardacas, resultantes da administrao de isoflavonas de soja, tem sido verificada em vrios modelos experimentais com animais. As isoflavonas podem tambm prevenir a perda ssea ps-menopausa e a osteoporose (Brandi, 1997). Efeitos da genistena na regulao da secreo de insulina tambm tem sido demonstrados (Sorenson et al., 1994). Os mecanismos pelos quais as isoflavonas podem exercer estes efeitos parecem depender, em parte, das suas propriedades agonistas-antagonistas dos estrgenos. Outros mecanismos
hipotticos poderiam derivar de outras propriedades bioqumicas, tais como inibio da atividade enzimtica e efeito antioxidante (Brandi, 1997).
Metabolismo e ao fisiolgica das isoflavonas As isoflavonas esto presentes nos alimentos ligadas a acares e beta-glicosdeos. Nesta forma no so absorvidas pelo organismo humano. Somente as isoflavonas livres sem a molcula de acar, as chamadas agliconas, so capazes de atravessar a membrana plasmtica. Enzimas hidrolticas de bactrias intestinais so responsveis por estas reaes. No lmen, as bactrias convertem grande parte dessas agliconas em outras molculas. Existe uma variabilidade considervel na eficincia digestiva das isoflavonas. Somente as formas agliconas ou seus produtos metablicos so absorvidos pela barreira epitelial do intestino, a qual ocorre passivamente via micelas. Aps a absoro, estas molculas so incorporadas nos quilomcrons, que as transportam ao sistema linftico antes de entrar no sistema circulatrio. Os quilomcrons distribuem as isoflavonas em todos os tecidos extra-hepticos, onde iro exercer seus efeitos metablicos, antes de retorn-las ao fgado como quilomcrons remanescentes. A retomada das isoflavonas circulantes do sangue ocorre passivamente e todas as clulas que contm receptores para estrgenos potencialmente podem ser influenciadas por essas molculas. Quando estas molculas so secretadas na bile pelo fgado, parte reabsorvida pela circulao entero-heptica e parte excretada pelas fezes. (Anderson & Garner, 1997), Entretanto, a eliminao urinria das isoflavonas maior e corresponde a aproximadamente 10 30% da ingesto diettica (Setchell, 1998). Os efeitos das isoflavonas variam de tecido para tecido e em cada tipo, estas apresentam afinidade por receptores especficos. Tais efeitos ainda no so suficientemente elucidados a nvel molecular. Entretanto, estudos tem demonstrado que as isoflavonas possuem mecanismos gerais de ao que podem interferir no metabolismo de muitos nutrientes (Anderson & Garner, 1997). Um possvel mecanismo de ao geral das isoflavonas inclui efeitos estrognicos e anti-estrognicos, regulao da atividade de protenas (especialmente das tirosina quinases), regulao do ciclo celular e efeitos antioxidantes (Figura 1) (Kurzer & Xu, 1997). Estudos em humanos, animais e sistemas de culturas de clulas sugerem que as isoflavonas, especificamente a genistena e a daidzena desempenham um papel importante na preveno de doenas crnicas tais como, osteoporose, doenas do corao, cncer e diabetes.
Rev. Nutr., Campinas, 14(1): 43-52, jan./abr., 2001
ISOFLAVONAS E DOENAS CRNICAS
45
ISOFLAVONAS ISOFLAVONAS
Efeito genmico Efeito genmico Ncleo Ncleo
Efeito no genmico Efeito no genmico
*Regulao atividade *Regulao dada atividade
Estrognico Estrognico ou ou
de
((Inibio Inibio dede protena quinase) protena quinase)
ou ou Anti-estrognico Anti-estrognico
*Regulao dodo ciclo celular *Regulao ciclo celular
ou
*Atividade Antioxidante *Atividade Anti-oxidante
Expresso dede protenas alterada (+ ou -) ou Expresso protenas alterada (+
Alterao atividade deprotenas protenas (+ Alterao da da atividade de (+ou ou-)-
ATIVIDADE CELULAR ALTERADA ATIVIDADE CELULAR ALTERADA
Figura 1. Mecanismo geral de ao das isoflavonas no organismo.
Isoflavonas versus carcinognese O cncer o crescimento incontrolado de clulas para formar um tumor que, em alguns casos, pode invadir os tecidos adjacentes e se propagar, por processos de metstases, formando tumores secundrios em outras partes do corpo (Cameron & Pauling, 1979; Tolonem, 1990). Tem sido demonstrado que as isoflavonas da soja, especificamente a genistena e a daidzena, apresentam efeito anti-cancergeno. Estudos epidemiolgicos demonstram que nas populaes que consomem dietas ricas em soja e seus produtos, a incidncia de determinados tipos de cncer (clon, mama e prstata, principalmente) menor quando comparada com a incidncia em populaes que no consomem esses tipos de dietas. Em adio, acredita-se que a suplementao da dieta com certos produtos da soja, os quais tem mostrado suprimir a carcinognese em animais, poderia reduzir as taxas de mortalidade por cncer. Os mecanismos relacionando cncer e isoflavonas ainda so alusivos. Tem sido demonstrado que a atividade de vrias enzimas, principalmente a topoisomerase II e as tirosina quinases, inibida pela genistena e, em alguns casos, por outras isoflavonas. Em adio, outros estudos tm demonstrado propriedades anti-carcinognicas, anti-oxidativas, efeitos anti-estrognicos e anti-proliferativos das isoflavonas. Ento, pode-se inferir que estas molculas podem agir de maneiras diferentes, promovendo a inibio da carcinognese (Molteni et al., 1995).
A genistena, uma das duas mais importantes isoflavonas da soja, tem atrado muita ateno, no somente por causa do seu potencial efeito anti-estrognico, mas tambm porque inibe vrias enzimas envolvidas em processos de carcinognese. A concentrao da genistena na maioria dos produtos de soja varia de 1-2 mg/g (Barnes et al., 1995). As populaes orientais, que apresentam baixa incidncia de cncer de mama e prstata, consomem de 28-80 mg de genistena por dia, quase toda derivada de produtos de soja, enquanto que a ingesto diria de genistena nos EUA somente de 1-3 mg/dia (Wei et al., 1995). Zava & Duwe (1997) sugerem que a genistena a nica entre as isoflavonas que possui efeito potencial na inibio do crescimento de clulas cancerosas em concentraes fisiolgicas e que a daidzena s exerce algum efeito se combinada com a genistena. Lamartiniere et al. (1995) estudaram a atividade anti-carcinognica da genistena em um modelo animal de cncer de pele. A administrao diria na dieta de 250 ppm de genistena por 30 dias aumentou significativamente a atividade de enzimas antioxidantes na pele e no intestino delgado de camundongos. Estudos adicionais demonstraram que a genistena inibiu significativamente a oncognese induzida por 12-O-tetradecanoilphorbol-13-acetato (TPA) na pele dos animais em dose-dependente sendo que, baixos nveis de genistena (1 a 5 mmol) prolongaram significativamente o tempo de latncia do tumor e diminuram sua multiplicidade em
Rev. Nutr., Campinas, 14(1): 43-52, jan./abr., 2001
46
E.A. ESTEVES & J.B.R. MONTEIRO
aproximadamente 50%. Foi concludo que as propriedades antioxidantes e efeitos anti-proliferativos da genistena podem ser responsveis pelo seu efeito anti-carcinognico. Barnes et al. (1996) demonstraram que a genistena eficientemente absorvida no intestino e que, apesar de os nveis sangneos deste composto serem insuficientes para inibir o crescimento de um cncer de mama estabelecido, via mecanismos quimioteraputicos, so suficientes para regular a proliferao de clulas epiteliais em cncer e sendo assim, podem exercer efeito quimiopreventivo. Rao et al. (1997) investigaram os efeitos da genistena na carcinognese de clon induzida por azoximetano (AOM) e estudaram o seu papel modulatrio nos nveis de atividade da cicloxigenase (COX), 8-isoprostano e 15-hidroxiprostaglandina F2 -desidrogenase (15-PGDH) na mucosa colnica e em tumores de clon de ratos machos da linhagem F344. Com 5 semanas de idade, grupos de ratos F344 machos foram alimentados com dieta controle (AIN-76A) ou uma dieta contendo 250 ppm de genistena. Duas semanas mais tarde, todos os animais, exceto aqueles grupos tratados com veculo, receberam semanalmente injees de AOM (15 mg/kg de peso corporal) por duas semanas sucessivas. Todos os ratos foram alimentados com este regime por 52 semanas depois do tratamento com AOM, quando ento foram sacrificados. Os tumores do clon foram analisados histopatologicamente e quanto aos nveis de COX, 15-PGDH e 8-isoprostano sendo que o mesmo foi feito para a mucosa colnica. A administrao de genistena reduziu significativamente a multiplicidade e a invaso total do adenocarcinoma no clon, comparado com a dieta controle. Tambm, a genistena inibiu a atividade da 15-PGDH e os nveis de 8-isoprostano na mucosa colnica e nos tumores. Em contraste, no houve efeito significativo na atividade da COX. Estes resultados enfatizam que os efeitos biolgicos da genistena podem ser rgo-especficos, inibindo o cncer em alguns locais. A inibio dos nveis de 8-isoprostano indica seu possvel efeito antioxidante. Os mecanismos exatos da melhora dos tumores de clon pela genistena, ainda no so elucidados; provvel que seus efeitos possam, em parte, ser relacionados inibio da atividade de enzimas catablicas. Experimentos utilizando modelos animais com induo de cncer de mama e genistena purificada tm demonstrado que o tempo de exposio dos animais aos isoflavonides crtico. Ratos tratados no perodos neonatal ou pr-pubertal com genistena tem tido um tempo de latncia maior antes do aparecimento de tumores de mama induzidos por 7,12-dimetilbenzoantraceno e expressiva reduo no nmero de tumores. O mecanismo preventivo da genistena ocorre, em parte, pela sua atividade estrognica, a qual causa diferenciao das clulas das glndulas mamrias mais rpida. A administrao de genistena depois de 35 dias de idade apresentou alteraes menores no risco ao cncer de mama (27% de reduo). Em contraste, em animais ovariectomizados a genistena
aumentou a proliferao de clulas cancerosas comparado com a dieta controle. Futuros estudos sobre o potencial anti-cncer das isoflavonas de soja devem investigar a interao destas com outros componentes fitoqumicos da soja e explorar modelos animais de cncer de mama nos quais, genes especficos podem ser ativados ou inativados (Barnes, 1997). Wei et al. (1998) documentaram que a genistena inibiu significativamente a carcinognese de tumores de pele iniciados por 7, 12-dimetilbenzoantraceno (DMBA) e promovidos por 12-O-tetradecanoil-phorbol-13-acetato (TPA) em um modelo de carcinognese de dois estgios. No estudo de iniciao, 10 mol de genistena foram aplicados diariamente na pele de camundongos fmeas SENCAR por uma semana, seguido pela iniciao com 10 mol de DMBA. Os camundongos foram ento tratados com TPA duas vezes por semana (4. g). A genistena reduziu a incidncia e a multiplicidade dos tumores de pele iniciados pelo DMBA em aproximadamente 20% e 50%, respectivamente. No outro experimento, Wei et al. (1998), conduziram dois estudos de promoo usando camundongos CD-1 e SENCAR. No primeiro estudo, camundongos CD-1 foram iniciados com 100 nmol de DMBA, seguindo-se com a administrao de 1-5. mol de genistena/4.g de TPA, duas vezes por semana. No segundo estudo, camundongos SENCAR foram iniciados com 10 nmol de DMBA e em seguida receberam um regime de 5, 10 e 20.mol de genistena/2. g de TPA. Ambos os estudos mostraram que a genistena inibiu substancialmente a promoo de tumor de pele induzido por TPA pela reduo da multiplicidade dos tumores em aproximadamente 60 e 75%, respectivamente. Entretanto, a incidncia de tumores pareceu no ser afetada. Estudos mecansticos mostraram que a genistena inibiu o aparecimento de alteraes mutagnicas no DNA induzidas por DMBA e substancialmente suprimiu as respostas inflamatrias estimuladas por TPA na pele dos animais em aproximadamente 60% ou mais. Desta maneira, estes resultados sugerem que a genistena exerce efeitos anti-iniciais e anti-promocionais na carcinognese de pele provavelmente atravs da inibio do desenvolvimento de alteraes no DNA e inibio de eventos oxidativos e inflamatrios in vivo.
Isoflavonas versus osteoporose A osteoporose uma enfermidade crnica que ocorre quando a taxa de degradao ssea dos osteoclastos excede sua formao. Recentes estudos epidemiolgicos tem sugerido que a incidncia de osteoporose ps-menopausa menor na sia que no ocidente. Uma das possveis explicaes para esta diferena se baseia na elevada ingesto de produtos de soja, ricos em isoflavonas, pelas mulheres asiticas (Potter et al., 1998). Por outro lado, estudos de massa ssea em modelos-animais demonstram um efeito bifsico das isoflavonas na reteno
Rev. Nutr., Campinas, 14(1): 43-52, jan./abr., 2001
ISOFLAVONAS E DOENAS CRNICAS
47
ssea com altas doses apresentando menores benefcios e menores doses apresentando melhoria na reteno da massa ssea (Molteni et al., 1995). Outros estudos com animais tm mostrado que extratos enriquecidos com isoflavonas aumentam a massa ssea (Anderson et al. , 1998). Potter et al. (1998) demonstraram melhoria na densidade ssea em indivduos tratados com preparaes base de soja enriquecidas com isoflavonas, por um perodo de 6 meses. Estudos in vitro, alm de confirmar estas evidncias, estendem os conhecimentos da resposta bifsica observada em modelos-animais, estabelecendo que ambos, a genistena e o estradiol so txicos s clulas sseas em altas concentraes (10-4 M) e que, em baixas concentraes, a genistena e o estradiol aumentam a produo de biomarcadores sseos e fosfatase alcalina de maneira similar (Williams et al., 1998). Vrios possveis mecanismos tm sido sugeridos para explicar os efeitos benficos das isoflavonas de soja no tecido sseo, os quais podem ajudar a prevenir o desenvolvimento da osteoporose. Tem-se sugerido que os osteoblastos e os osteoclastos so as clulas alvo para a ao da genistena e da daidzena. Estudos em cultura de clulas semelhantes a osteoblastos sugerem que a genistena combina com receptores de estrgenos e exerce seus efeitos pelo mesmo mecanismo que este hormnio. Por outro lado, ela pode tambm exercer efeitos por outros mecanismos, independentes de receptores para estrgenos (Williams et al., 1998). Alguns investigadores tm sugerido que a genistena inibe a topoisomerase II, interferindo assim, com a progresso do ciclo celular, enquanto que outros sugerem que a genistena ativa receptores peptdicos ligados membrana, iniciando outros efeitos independentes de estrgenos. Por exemplo, os osteoclastos so dependentes da atividade de receptores tirosina quinase (PTK), ento os inibidores de PTK so candidatos preveno da osteoporose. A genistena e a daidzena, isoflavonas naturais, so inibidoras de PTK e poderiam agir por este mecanismo (Williams et al., 1998). Erdman Jr et al. (1996) investigaram mudanas na densidade ssea e no contedo mineral do osso antes e seguindo um perodo de 6 meses de alimentao. Mulheres em perodo ps-menopausa receberam 40 g de protena por dia, proveniente de isolado protico de soja com 1,39 mg de isoflavonas/g de protena (IPS) ou com 2,25 mg de isoflavonas/g de protena (IPS+) ou casena (controle). Os resultados indicaram aumentos significativos no contedo mineral e densidade do osso nos grupos IPS e IPS+ quando comparados com o controle. Apesar de ter sido um estudo curto prazo, estes resultados sugerem o papel potencial das isoflavonas de soja na manuteno da sade do osso. Ishida et al. (1998) investigaram os efeitos das isoflavonas, daidzina e genistina (precursoras da genistena e daidzena) na perda ssea em ratas ovariectomizadas (OVX) alimentadas com dietas deficientes em clcio. As isoflavonas foram administradas oralmente aos animais
por 4 semanas. Os ossos do fmur destes animais apresentaram significativamente menor densidade, fora de quebra, cinzas, peso e contedo de clcio e fsforo quando comparados com os animais no OVX. Estas mudanas foram prevenidas nos animais que receberam daidzina e genistina por 4 semanas em uma dose de 50 mg/kg/dia e nos animais que receberam uma estrona subcutnea (7,5. g/kg/dia) como controle positivo. A ovariectomia causou atrofia do tero e aumentou a taxa de excreo urinria de piridinoline e desoxipiridinoline. Isto foi prevenido pela administrao de daidzina e estrona, no ocorrendo com a genistina. O efeito preventivo do tratamento com daidzna na perda ssea em ratas ovariectomizadas parece ser devido supresso do turnover do osso e a genistina possui um mecanismo diferente da daidzna. Yamaguchi & Gao (1998) estudaram, in vitro, os efeitos da genistena e da genistina no componentes sseos em tecidos femurais obtidos de ratas fmeas em idade avanada. Estes tecido foram cultivados por 24 horas em um meio contendo ou veculo ou genistena (10-8-10-5 M) ou genistina (10 -7-10-5 M). A presena de genistena e genistina causou um aumento significativo na atividade da fosfatase alcalina, no contedo de DNA e clcio nos tecidos. O efeito da genistena foi maior que o da genistina. A presena de sulfato de Zn (10-5 M) causou um aumento significativo na atividade da fosfatase alcalina elevada pela genistena e nos contedos de DNA e clcio, o que no ocorreu com a genistina. Ento estes resultados sugerem que a genistena e a genistina possuem efeito anablico no metabolismo sseo em tecidos femorais de ratas em idade avanada e que o efeito da genistena aumentado pela presena do Zn, um elemento trao essencial. O efeito bifsico da genistena no tecido sseo de ratas ovariectomizadas (OVX) foi investigado por Anderson et al. (1998). Estes autores encontraram resultados consistentes com outros resultados recentes da literatura em clulas isoladas e tecidos reprodutivos, ou seja, doses mais baixas de genistena agem similarmente a estrgenos com um efeito benfico ao tecido sseo, mas em doses elevadas, podem exercer efeitos potencialmente adversos s funes celulares das clulas e tecidos sseos.
Isoflavonas versus doenas cardiovasculares As enfermidades cardiovasculares incluem o infarto e a arteriosclerose, que podem causar problemas vasculares, como o derrame cerebral. A causa principal destas enfermidades a obstruo do fluxo de sangue nos vasos sangneos em virtude da formao de placas gordurosas que, medida que aumentam de tamanho, reduzem o fluxo at que, em caso extremo, chegam a obstru-lo por completo. Um dos principais fatores que levam ocorrncia destas enfermidades so os nveis elevados de colesterol no sangue, pois este um dos maiores constituintes das placas de ateroma (Grundy, 1983).
Rev. Nutr., Campinas, 14(1): 43-52, jan./abr., 2001
48
E.A. ESTEVES & J.B.R. MONTEIRO
O consumo de soja tem sido associado reduo de doenas cardiovasculares, especialmente da arteroesclerose em modelos animais. Em adio, evidncias epidemiolgicas sugerem que populaes que consomem dietas ricas em soja e seus produtos apresentam uma menor taxa de mortalidade por doenas coronarianas (Lichtenstein, 1998). Apesar de estudos em animais sugerirem que a protena de soja reduz o colesterol sanguneo, estudos similares em humanos tem apresentado resultados menos consistentes. A presena ou ausncia de isoflavonas pode ser um fator que causa confuso. Esta frao, principalmente genistena e daidzena, tem apresentado efeito hipocolesterolemiante em animais e humanos (Huff et al., 1977). Estudos em animais demonstram que as isoflavonas parecem ser essenciais no efeito de reduo do colesterol sanguneo. Isolados proticos de soja que tiveram as isoflavonas removidas mostraram-se normo ou hipercolesterolmicos. As concentraes plasmticas de Lipoprotena de Baixa Densidade (LDL-colesterol) foram significativamente menores em macacos Rhesus tratados com isoflavonas de soja quando comparados com macacos tratados com formulados de soja sem isoflavonas. Estudos adicionais tm demonstrado que as isoflavonas no s desempenham um papel importante na regulao de lipoprotenas, reduzindo LDL e aumentando Lipoprotena de Alta Densidade (HDL), mas tambm protegem contra o desenvolvimento de placas de ateroma (Anthony et al., 1996). Em out r o e s t u d o , H o n o r e e t a l . ( 1 9 9 7 ) examinaram os efeitos das isoflavonas na reatividade vascular coronria em macacos Rhesus fmeas. A arteriosclerose foi induzida e os animais foram alimentados com dietas base de soja por 6 meses, idnticas em composio, exceto que as isoflavonas foram extradas de uma dieta (low-isoflavones) e mantidas intactas em outra (high-isoflavones). Resultados mostraram que as artrias das fmeas do grupo low-isoflavones se comprimiram enquanto que as artrias das fmeas do grupo high-isoflavones se dilataram. A administrao intravenosa de genistena causou dilatao nas artrias das fmeas do grupo low-isoflavones. Concluiu-se que as isoflavonas de soja, como os estrgenos de mamferos, aumentam a resposta de dilatao em artrias arteriosclerticas de fmeas de macacos Rhesus. Os mecanismos postulados so tipicamente baseados na ligao das isoflavonas a receptores estrgenos dentro das clulas de maneira semelhante ao estradiol, o que influenciaria no metabolismo do colesterol e das lipoprotenas. Em adio, as isoflavonas poderiam agir como antioxidantes, inibindo o processo trombtico e bloqueando a proliferao de clulas musculares lisas nas paredes das artrias (Potter et al., 1996). Por outro lado, o aumento do consumo de produtos de soja pode implicar reduo do consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas e colesterol e, sendo assim, exercem um efeito indireto na reduo do colesterol sangneo (Huff et al., 1977). A possibilidade de que o aumento de risco de doenas cardiovasculares associado com menopausa, a
qual dita ser amenizada pela soja, pode ser reduzida com isoflavonas de soja, foi testada em 21 mulheres. Foram avaliados os efeitos de 80 mg dirias de isoflavonas (45 de genistena) em um perodo de 5 a 10 semanas. A elasticidade arterial, a qual diminui com a idade, melhorou em 26% quando comparada com um grupo placebo. A presso arterial e os lipdios plasmticos no foram afetados. A capacidade vasodilatadora da microcirculao foi medida em 9 mulheres. A dilatao mediada por acetilcolina na musculatura dos vasos destas mulheres foi similar aos grupos placebo e genistena. A capacidade de oxidao da LDL medida in vitro no foi alterada. Ento, uma importante medida da sade arterial - elasticidade dos vasos foi significativamente melhorada em mulheres em menopausa cujo tempo de exposio s isoflavonas foi semelhante s convencionais terapias de reposio hormonal (Nestel et al., 1997). Acredita-se que a oxidao da LDL colesterol ocorre no interior das artrias quando estas partculas se tornam isoladas dos antioxidantes hidrossolveis circulantes. Tikkanen et al. (1998) hipotetizaram que as isoflavonas poderiam ser incorporadas nas lipoprotenas e possivelmente poderiam proteger contra a oxidao, a qual considerada aterognica. Para verificar tal hiptese, 6 voluntrios saudveis receberam 3 pores de soja (12 mg de genistena e 7 mg de daidzena), diariamente, por um perodo de 3 semanas. As LDL foram isoladas do sangue ao final de 2 semanas antes do consumo da soja e aps as 3 semanas de consumo. Observou-se um grande aumento nos nveis de isoflavonas plasmticas durante o perodo de alimentao com soja, mas somente uma pequena quantidade foi associada com as lipoprotenas (menos que 1% na frao LDL). As LDL foram submetidas oxidao in vitro mediada por cobre. Comparado com os valores da soja, as fases lag da curva de oxidao da LDL foram prolongadas em aproximadamente 20 minutos durante a ingesto de soja, indicando um reduo na suscetibilidade oxidao. Estes resultados sugerem que a ingesto de antioxidantes derivados de soja, tais com a genistena e a daidzena, podem promover proteo contra modificaes oxidativas da LDL. Como apenas pequenas quantidades destas substncias foram detectadas em LDL purificada, partculas de LDL modificadas podem ter sido produzidas in vivo pelas isoflavonas circulantes, promovendo resistncia oxidao ex vivo . Kirk et al. (1998) conduziram um estudo para determinar se as isoflavonas de soja conferem proteo contra a arteroesclerose em camundongos e se elas reduzem os nveis de colesterol srico e oxidao de lipoprotenas. Camundongos deficientes em receptores para LDL (LDLr-null) e camundongos C57BL/6 foram alimentados com dietas baseadas em protena de soja, ricas em gordura e com isoflavonas presentes (IF+), ou dietas nas quais as isoflavonas e possivelmente outros componentes, foram extrados (IF-). Devido ao fato de os animais LDLr-null desenvolverem arteroesclerose e hipercolesterolemia aps um tempo mnimo de exposio dietas ricas em gorduras, eles foram alimentados por 6 semanas enquanto que os C57BL/6 foram alimentados por 10 semanas. Os nveis plasmticos de colesterol no
Rev. Nutr., Campinas, 14(1): 43-52, jan./abr., 2001
ISOFLAVONAS E DOENAS CRNICAS
49
diferiram entre LDLr-null alimentados com IF- e aqueles alimentados com IF+, mas foram 30% menores nos camundongos C57BL/6 alimentados com dieta IF+ do que naqueles alimentados com dieta IF-. A susceptibilidade da LDL modificaes oxidativas, no foi alterada pelo consumo de isoflavonas. Todos os animais desenvolveram arteroesclerose, mas a rea de leso foi significativamente menor nos camundongos C57BL/6 alimentados com dieta IF+ quando comparados com aqueles alimentados com dieta IF-. Estes resultados sugerem que as isoflavonas de soja podem reduzir nveis de colesterol pelo aumento da atividade do receptor LDL, e a reduo dos nveis de colesterol pode oferecer proteo contra a arteroesclerose.
da insulina envolve a ativao de uma protena quinase dependente de Ca2+/calmodulina. A potencializao da secreo por agentes ativadores da protena quinase A ou C parece envolver um aumento na sensibilidade do sistema secretrio para o Ca 2+. A identificao das quinases e fosfatases responsveis no conhecida, mas a presena nas membranas de clulas. .de vrias quinases no dependentes de Ca2+ ou cAMP, incluindo a tirosina quinase, documentada juntamente com a presenas de ambas as protenas fosfatases dependentes e independentes de Ca 2+. A fosforilao de protenas est tambm envolvida nos fluxos de Ca2+ das clulas e evidncia apresentada de que a ativao da protena quinase C inibe a sinalizao pela reduo do influxo de Ca2+ dentro da clulas (Ashcroft, 1994). Devido ao seu efeito inibidor da protena tirosina quinase, a genistena vem sendo estudada como um composto regulador da secreo de insulina, cuja liberao controlada por mecanismos complexos de sinalizao celular que envolvem a ao destes receptores (Kahn, 1998). Os efeitos benficos que vm sendo observados em estudos com animais e culturas de clulas sugerem que a genistena pode ser uma alternativa no tratamento do diabetes, principalmente do tipo 2. Efeitos da genistena na liberao de insulina foram estudados usando clulas MIN6, que so clulas pertencentes a uma linha de insulinoma, sensveis glicose. Em concentraes no estimulatrias de glicose, a genistena no afetou a liberao de insulina. Entretanto, em concentraes estimulatrias (mnimo de 20 g/ml) a genistena aumentou significativamente a liberao de insulina. O contedo de cAMP nas clulas MIN6 foi tambm elevado significativamente pela genistena e a relao dose-dependente entre genistena e acumulao de cAMP foi consistente com a relao entre genistena e liberao de insulina. Estes efeitos foram inibidos por antagonistas de clcio ou pela omisso de clcio extra-celular. O acmulo de cAMP pode ter ocorrido, em parte, devido inibio da fosfodieterase pela genistena. Estes resultados sugerem que a genistena aumenta a liberao de insulina induzida por glicose devido sua contribuio para o acmulo de cAMP e modulao do clcio, o que depende do clcio extracelular (Ashcroft, 1994). O efeito de inibidores de tirosina quinases na secreo de insulina e proliferao de ilhotas foi examinado em culturas de clulas de ilhotas de Langerhans por Sorenson et al. (1994). Quando as ilhotas foram expostas a 100 mmol de genistena, um aumento de 5 a 10 vezes na secreo de isulina foi observado. O efeito na secreo de insulina foi detectado dentro de 1 hora e foi mantido por, no mnimo, 4 dias. A sensibilidade das ilhotas expostas genistena foi dramaticamente aumentada como demonstrado por uma elevao na curva de resposta doseglicose a menores concentraes de glicose. Em contraste, a proliferao das clulas das ilhotas foi dramaticamente reduzida na presena da genistena. Jonas et al. (1995) avaliaram os efeitos agudos da genistena no estmulo secreo de insulina em clulas do pncreas de camundongos. A genistena provocou um
Isoflavonas versus diabetes mellitus O diabetes mellitus uma sndrome caracterizada por nveis elevados de glicose sangnea em situaes de jejum, de forma crnica; alm disso acompanhado por alteraes no metabolismo de carboidratos, lipdios e protenas, sendo essas alteraes uma conseqncia do dficit da secreo ou da ao da insulina (Pallardo, 1977). A sobrevida dos pacientes diabticos acompanhada de numerosas complicaes tanto metablicas (hiperglicemia, hipoglicemia, dislipidemia) quanto vasculares (nefropatias, retinopatias e neuropatias) (Esminger et al. , 1994). As formas clnicas consideradas clssicas do diabetes so: o diabetes mellitus insulino dependente (DMID) e o diabetes mellitus no insulino dependente (DMNID) que mais freqente (Pallardo, 1977). A insulina o principal hormnio que regula o metabolismo da glicose. Nas clulas, a insulina ativa o transporte de glicose e aminocidos, o metabolismo de glicognio e lipdios, a sntese protica e a transcrio de genes especficos (Kahn, 1998). As aes biolgicas da insulina so iniciadas pela ligao deste hormnio a receptores especficos localizados nas membranas plasmticas das clulas responsivas. nfase tem sido dada em como o sinal inicial promovido pela ligao da insulina ao receptor, convertido aos efeitos finais deste hormnio no crescimento e metabolismo, como esta sinalizao alterada em estados de resistncia insulina, tais como no DMNID e qual o impacto gentico nestas funes (Alberts et al., 1997). Nas celulas, os receptores para insulina so enzimas estimuladas por ela prpria, com atividade de protena tirosina quinase. O mecanismo geral de ao da insulina inicia-se com a ligao deste hormnio aos receptores tirosina quinases na membrana celular. A ligao da insulina a estes receptores, que dependente das concentraes plasmticas de glicose, desencadeia uma srie de respostas intracelulares que iro culminar, entre outras coisas, no estmulo secreo da prpria insulina. Este processo tambm mediado por sinalizadores intermedirios tais como, o clcio e o AMP cclico (cAMP) (Alberts et al. , 1997). Estudos tm demonstrado que o clcio (Ca2+) intracelular est intimamente relacionado secreo de insulina. O efeito chave do Ca2+ na iniciao da secreo
Rev. Nutr., Campinas, 14(1): 43-52, jan./abr., 2001
50
E.A. ESTEVES & J.B.R. MONTEIRO
aumento na liberao de insulina, reversvel e dependente da concentrao (10 a 100 mol). Este efeito foi marginal na liberao basal ou na presena de nutrientes no metabolizados e muito maior na presena de glicose. O aumento na liberao da insulina causado por 100 mmol de genistena foi cessado pela adrenalina ou omisso do clcio extracelular, e no foi acompanhado por qualquer aumento nas concentraes de cAMP, inositol fosfato ou adenina nucleotdeo. Apesar da genistena ter inibido sensivelmente os canais de potssio sensveis ao ATP, este efeito no explica a sua ao na liberao da insulina porque esta ocorreu mesmo quando estes canais foram bloqueados. A genistena tambm foi efetiva quando os canais de potssio sensveis ao ATP foram abertos. Paradoxalmente, a genistena diminuiu o influxo de clcio nas clulas . A daidzena, um anlogo da genistena, no afetou as tirosina quinases, foi sensivelmente menos potente nos canais de clcio e potssio, mas aumentou a secreo de insulina de maneira similar. Drake & Posner (1998) sugeriram que a protena tirosina fosfatase (PTPs) desempenham um papel crtico na regulao da ao da insulina em parte atravs da desfosforilao da forma ativa do receptor para insulina (IRK) e atenuao da sua atividade de tirosina quinase. Aps a ligao da insulina, o IRK ativado rapidamente internalizado no aparelho endossomal. Estudos em fgado de rato sugerem um processo regulatrio complexo por meio do qual as PTPs podem agir, via desfosforilao seletiva do IRK, para modular sua atividade de maneira positiva e negativa. A genistena tem mostrado ao
ativadora das PTPs, estimulando a secreo de insulina. Desta maneira, a identificao dos mecanismos de ao da genistena nestas protenas, facilitaria o desenvolvimento de alternativas no tratamento do diabetes melito. Os mecanismos pelos quais as isoflavonas, especialmente a genistena, exercem este efeito ainda no so bem elucidados. Sabe-se que a genistena um potente inibidor das protenas tirosina quinases (receptores para insulina), e sua ligao a estes receptores promove aumento da secreo de insulina. Como as pesquisas vem demonstrando que, na presena da genistena ligada ao receptor, ocorre acmulo de cAMP e clcio intracelulares, pode-se inferir que um possvel mecanismo de ao destes compostos seria via ativao das protenas quinases (A e C). As protenas quinases A e C ativam cascatas de fosforilaes de protenas que culminam com a transcrio de genes para a insulina, o que aumenta a secreo deste hormnio. Em contraste, estas protena quinases, via de regra, so ativadas por receptores de membrana ligados protena G (outra classe de receptores de membrana) e no por receptores tirosina quinases. De alguma maneira, a inativao dos receptores tirosina quinases pela genistena, promoveria a ativao das protena quinases A e C, via mecanismos dependentes de clcio e cAMP. Em adio, tem sido observado que a daidzena promove um aumento na secreo de insulina proporcional genistena e, a daidzena no um inibidor de tirosina quinases, sugerindo mais uma vez, que o mecanismo que leva ao aumento da secreo da insulina envolve muito mais do que a inativao dos receptores tirosina quinases (Figura 2).
G enistena Genistena
D aid zena Daidzena
quinase q uinase Membrana M em b rana celular celular tirosina R Receptor eceptor tirosin a
Q Quinase u inase C C QQuinase u inase AA
?
cAMP cA M P
2+ C a2+ Ca
M Membrana em bra na nuclear n ucl e ar
FFosforilao osforilao de de protenas p rotenas fi
DNA D NA
T ran scrio de d egenes genespara para a Transcrio i li
AUMENTO DA SECREO AUMENTO DA SECREO
Figura 2. Possveis mecanismos de ao das isoflavonas no controle da secreo de insulina.
Rev. Nutr., Campinas, 14(1): 43-52, jan./abr., 2001
ISOFLAVONAS E DOENAS CRNICAS
51
CONSIDERAES FINAIS Estes estudos so de extrema importncia devido alta incidncia de doencas crnicas na maioria das populaes e podem contribuir para se encontrar maneiras alternativas, no medicamentosas, para o controle destas.
macaques. Fertility and Sterility , Birmingham, v.67, n.1, p.148-54, 1997. HUFF, M.W., HAMILTON, R.M.G., CARROL, K.K. Plasma cholesterol levels in rabbits fed low fat, cholesterol-free, semipurified diets: effects od dietary proteins, protein hydrolisates and amino acid mixtures. Atherosclerosis , Limerick, v.28, p.186-195, 1977. ISHIDA, H., UESUGI, T., HIRAI, K. Preventive effect of the plant isoflavones, daidzin and genistin, on bone loss in ovariectomized rats fed a calcium-deficient diet. Biological and Pharmaceutical Bulletin , Tokyo, v.21, n.1, p.62-66, 1998. JONAS, J.C., PLANT, T.D., GILON, P. Multiple effects and stimulation of insulin secretion by the tyrosine kinase inhibitor genistein in normal mouse islets. British Journal of Pharmacology , London, v.114, n.4, p.872-880, 1995. KAHN, C.R. Section on cellular and Molecular physiology. JOSLIN Magazine, v.11, n.3., p.17, 1998. (Research Report. 199798). KIRK, E.A., SHUTERLAND, P., WANG, S.A. Dietary isoflavones reduce plasma cholesterol and atherosclerosis in C57BL/6 mice, but not LDL receptor-deficient mice. Journal of Nutrition , Bethesda, v.128, n.6, p.954-959, 1998. KURZER, M.S., XU, X. Dietary phytoestrogens. Annual Review of Nutrition , Palo Alto, v.17, p.353-381, 1997. LAMARTINIERE, C.A., MOORE, J., HOLLAND, M. et al. Neonatal genistein chemopreventives mammary cancer. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine , New York, v.208, n.1, p.120-123. LICHTENSTEIN, A.H. Soy protein, isoflavones and cardiovascular disease risk. Journal of Nutrition, Bethesda, v.128, n.10, p.1589-1592, 1998. MOLTENI, A., BRIZIO-MOLTENI, L., PERSKY, V. In vitro hormonal effects of soybean isoflavones. Journal of Nutrition, Bethesda, v.125, p.751-756, 1995. Supplement 3. NESTEL, P.J., YAMASHITA, T. SASAHARA, T. Soy isoflavones improve systemic arterial compliance but not plasma lipids in menopausal and perimenopausal women. Arterioscler Thromb Vasc Biol, v.17, n.12, p.3392-3398, 1997. PALLARDO, J.P.M. Avances em diabetes. Madrid : Grupo Aula Mdica, 1977. 269p. POTTER, S.M., PERTILE, J., BERBER-JIMENEZ, M.D. Soy protein concentrate and isolated soy protein similarly lower blood serum cholesterol but differently affect thyroid hormones in hamsters. Journal of Nutrition , Bethesda, v.126, n.8, p.2007-2011, 1996. POTTER, S.M., BAUM, J.A., TENG, H. Soy protein and isoflavones: Their effects on blood lipids and bone density in postmenopausal women. American Journal of Clinical Nutrition, Bethesda, v.68, n.6, p.1375S-1379S, 1998. Supplement. RAO, C.V., WANG, C.X., SIMI, B. Enhancement of experimental colon cancer by genistein. Cancer Research, Baltimore, v.57, n.17, p.3717-3722, 1997. SETCHELL, K.D. Phytoestrogens: the biochemistry, physiology, and implications for human health of soy isoflavones. American Journal Clinical of Nutrition , Bethesda, v.134, n.6, p.1333S-1343S, 1998. Supplement. SORENSON, R.L., BRELJE, T.C., ROTH, C. Effect of tyriosine kinase inhibitors on islet od Langerhans: evidence for tyrosine
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALBERTS, B., BRAY, D., LEWIS, J. Biologia molecular da clula. 3.ed. Porto Alegre : Artes Mdicas, 1997. 1294 p. ANDERSON, J.J.B., GARNER, S.C. Phytoestrogens and human function. Nutrition Today , v.32, n.6, p.232-239, 1997. ANDERSON, J.J., AMBROSE, W.W., GARNER, S.C. Bhiphasic effects of genistein on bone tissue in the ovariectomized, lactating rat model. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, New York, v.217, n.13, p.345-350, 1998. ANTHONY, M.S., CLARKSON, T.B., HUGHES, C.L. Soybean isoflavones improve cardiovascular risck factors affecting the reproductive system of peripubertal rhesus monkeys. Journal of Nutrition , Bethesda, v.126, p.43-50, 1996. ASHCROFT, S.J. Protein phosphorilation and beta-cell function. Diabetologia, Berlin, v.37, p.21S-29S, 1994. Supplement 2. BARNES, S. The chemopreventive properties of soy isoflavonoids in animal models of breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment , The Hague, v.46, n.2-3, p.169-179, 1997. BARNES, S., PETERSON, T.G., COWARD, L. Rationale for the use of genistein-containing soy matrices in chemoprevention trials for breast and prostate cancer. Journal of Cellular Biochemistry, New York, v.22, p.181S-185S, 1995. Supplement. BARNES, S., SFAKIANOS, J., COWARD, L. Soy isoflavonoids and cancer prevention. Underlying biochemical and pharmacological issues. Advances in Experimental Medicine and Biology, New York, v.401, p.87-100, 1996. BRANDI, M.L. Natural and syntetic isoflavones in the prevention and treatment of chronic diseases. Calcified Tissue International, New York, v.61, p.1S-8S, 1997. Supplement 1. CAMERON, E., PAULING, L. Cancer and vitamin C. New York : Linus Pauling Institute of Science and Medicine, 1979. 238p. DRAKE, P.G., POSNER, B.I. Insulin receptor-associated protein tyrosin phosphatase (s): role in insulin action. Molecular and Cellular Biochemistry, The Hague, v.182, n.1-2, p.79-89, 1998. ERDAMAN Jr, J.W., STILLMAN, R.J., LEE, K.F. Short-term effect of soybean isoflavones on bone in postmenopausal women. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE ROLE OF SOY IN PREVENTING AND TREATING CHRONIC DISEASE, 2., 1996, Belgium. Program and Abstract Book . Belgium, 1996. p.21. ESMINGER, A.H., ESMINGER, M.E., KONLANDE, J.F. Diabetes mellitus : foods and nutrition encyclopedia. London : RRC, 1994. p.555-575. GRUNDY, S.M. Absorption and metabolism of dietary cholesterol. Annual Review of Nutrition , Palo Alto, v.3, p.71-96. 1983. HONORE, E.K., WILLIAMS, J.K., ANTHONY, M.S. Soy isoflavones enhance coronary vascular reactivity in atherosclerotic female
Rev. Nutr., Campinas, 14(1): 43-52, jan./abr., 2001
52
E.A. ESTEVES & J.B.R. MONTEIRO
kinases in the regulation of insulin secretion. Endocrinology , Baltimore, v.134, n.4, p.1975-1978, 1994. TIKKANEN, M.J., WAHALA, K., OJALA, S. Effect of soybean phytoestrogen intake on low density lipoprotein oxidation resistance. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , Washington DC, v.95, n.6, p.3106-3110, 1998. TOLONEM, M. Vitamins and minerals in health and nutrition. London : Ellis Horwood Series in Food Science and Tecnology, 1990. 231p. WEI, H., BOWEN, R., CAI, Q. Antioxidant and antipromotional effects of the soybean isoflavone genistein. Proccedings of the Society for Experimental Biology and Medicine , New York, v.208, n.1, p.124-130, 1995. WEI, H. BOWEN, R., ZHANG, X. Isoflavone genistein inhibits the initiation and promotion of two stage skin carcinogenesis in mice. Carcinogenesis, New York, v.19, n.8, p.1509-1514, 1998.
WILLIAMS, J.P., JORDAN, S.E., BARNES, S. Tyrosine kinase inhibitor effects on osteoclastic acid transport. American Journal of Clinical Nutrition, Bethesda, v.68, n.6, p.1369S-1374S, 1998. Supplement. YAMAGUCHI, M, GAO, Y.H. Anabolic effect of genistein and genistin on bone metabolism in the femoral-metaphyseal tissues of elderly rats: the genistein effect is enhanced by zinc. Molecular and Cellular Biochemistry , The Hague, v.178, n.1-2, p.377-382, 1998. ZAVA, D.T., DUWE, G. Estrogenic and antiproliferative properties of genistein and other flavonoids in human breast cancer cells in vitro. Nutrition and Cancer , Hillsdale,v.27, n.1, p.31-40, 1997. Recebido para publicao em 23 de dezembro de 1999 e aceito em 5 de abril de 2000.
Rev. Nutr., Campinas, 14(1): 43-52, jan./abr., 2001
Você também pode gostar
- Atlas Pneumo PDFDocumento672 páginasAtlas Pneumo PDFGabriela Bichir100% (4)
- FQ CCO 005 Termo de Consentimento Informado para Procedimento CirurgicoDocumento1 páginaFQ CCO 005 Termo de Consentimento Informado para Procedimento CirurgicoPaulo Soares NetoAinda não há avaliações
- Aula 1 Terapêutica Medicamentosa e Atuação DaDocumento35 páginasAula 1 Terapêutica Medicamentosa e Atuação DaMoises CarlosAinda não há avaliações
- Assistência Ao PartoDocumento58 páginasAssistência Ao PartoEliezer AndradeAinda não há avaliações
- Caderno de Apoio Ao Professor Descobrir A Terra Texto 9ºDocumento318 páginasCaderno de Apoio Ao Professor Descobrir A Terra Texto 9ºtelmacorvoAinda não há avaliações
- Dor Visceral PDFDocumento4 páginasDor Visceral PDFInês Gomes100% (1)
- Prova Atibaia PDFDocumento16 páginasProva Atibaia PDFLucas Henrique MunizAinda não há avaliações
- Tuberculose Pulmonar: Alfredo RadiologiaDocumento20 páginasTuberculose Pulmonar: Alfredo RadiologiaAlfredo AltuzarraAinda não há avaliações
- Dmso e Azul de MetilenoDocumento5 páginasDmso e Azul de MetilenoJerusa RodriguesAinda não há avaliações
- Curso 169110 Aula 17 Prof Ana Cristina v1 GrifadoDocumento48 páginasCurso 169110 Aula 17 Prof Ana Cristina v1 GrifadoKarine BonjourAinda não há avaliações
- Exercícios de Viroses e BacteriosesDocumento2 páginasExercícios de Viroses e BacteriosesNATALIAinda não há avaliações
- Protocolo AntibioticoprofilaxiaDocumento23 páginasProtocolo AntibioticoprofilaxiaThaís CerceauAinda não há avaliações
- Diga Onde Dói e Descubra Qual É o Seu Problema Pessoal - Portal RaízesDocumento6 páginasDiga Onde Dói e Descubra Qual É o Seu Problema Pessoal - Portal RaízesedilenelagedoAinda não há avaliações
- Manual de MagnetoterapiaDocumento9 páginasManual de MagnetoterapiaRosa R Lima100% (4)
- Composição Centesimal e Mineral de Plantas Medicinais Comercializadas No Mercado Do Porto de Cuiabá, Mato Grosso, BrasilDocumento10 páginasComposição Centesimal e Mineral de Plantas Medicinais Comercializadas No Mercado Do Porto de Cuiabá, Mato Grosso, BrasilmatheusAinda não há avaliações
- Micromundo Manual PDFDocumento7 páginasMicromundo Manual PDFJuliana VazAinda não há avaliações
- Texto 10 - Produção Do Fracasso Escolar e A Medicalização Da Infância e Da EscolaDocumento30 páginasTexto 10 - Produção Do Fracasso Escolar e A Medicalização Da Infância e Da EscolaMarcinha MoreiraAinda não há avaliações
- Fórmulas Magistrais ChinesasDocumento35 páginasFórmulas Magistrais ChinesasvitorAinda não há avaliações
- TCLE MicroagulhamentoDocumento2 páginasTCLE MicroagulhamentoRebeka EstherAinda não há avaliações
- Compreensão TextualDocumento3 páginasCompreensão TextualDaniely Nassar de PederAinda não há avaliações
- Assistencia de Enfermagem em Radioterapia AntineoplasicaDocumento89 páginasAssistencia de Enfermagem em Radioterapia AntineoplasicaSo Enfermagem100% (2)
- Antibióticos Mais Usados IDocumento28 páginasAntibióticos Mais Usados IBruno Guedes100% (1)
- Diana Palmer - FLOR DA PAIXAODocumento113 páginasDiana Palmer - FLOR DA PAIXAOBrendah MonteiroAinda não há avaliações
- Plano Odontologico BB Dental Essencial PDFDocumento25 páginasPlano Odontologico BB Dental Essencial PDFJuscelino Alves de OliveiraAinda não há avaliações
- Planocontingencia1305 PDFDocumento108 páginasPlanocontingencia1305 PDFetiennecoanAinda não há avaliações
- Raiva 2007Documento46 páginasRaiva 2007Euder Luiz de AlmeidaAinda não há avaliações
- Mega Revisão de CirurgiaDocumento171 páginasMega Revisão de CirurgiaAlvaro Ramires de MoraesAinda não há avaliações
- 5 Texto de Apoio - Reino FungiDocumento7 páginas5 Texto de Apoio - Reino FungiDoug100% (1)
- Reconducao de VascularDocumento3 páginasReconducao de VascularAline MostaroAinda não há avaliações
- Resenha - Filme - Um Estranho No NinhoDocumento2 páginasResenha - Filme - Um Estranho No NinhoAlessandra Nascimento Nunes100% (1)