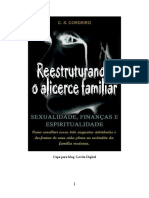Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Campo Na Selva Visto Na Praia
O Campo Na Selva Visto Na Praia
Enviado por
Rafael Lemos de SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- Ladino + Ficha de TrabalhoDocumento6 páginasLadino + Ficha de TrabalhoHelena Moita BoullosaAinda não há avaliações
- Guia Definitivo Do Marketing ImobiliárioDocumento57 páginasGuia Definitivo Do Marketing ImobiliárioConcursoSocialBrasil Concurso100% (3)
- Joaquim Nabuco. Obras Complestas. Vol.13 Cartas A AmigosDocumento325 páginasJoaquim Nabuco. Obras Complestas. Vol.13 Cartas A AmigosJoão Paulo MansurAinda não há avaliações
- 250 Provérbios Árabes PDFDocumento20 páginas250 Provérbios Árabes PDFVictorHelvécioMartins100% (1)
- Resumão Imunologia - Parte 2Documento22 páginasResumão Imunologia - Parte 2Gabriela VazAinda não há avaliações
- MapavédicofabioassunçaoDocumento5 páginasMapavédicofabioassunçaoelaineestrelaAinda não há avaliações
- CruzDocumento12 páginasCruzEdward D. JimmyAinda não há avaliações
- Preço Sugerido para Serviço Fora de GarantiaDocumento2 páginasPreço Sugerido para Serviço Fora de GarantiaPerionda NoronhaAinda não há avaliações
- Apostila de File SystemsDocumento13 páginasApostila de File SystemsWilliamRochaAinda não há avaliações
- África ContemporaneaDocumento6 páginasÁfrica ContemporaneaCarlos NériAinda não há avaliações
- Ca1394 AnexosDocumento63 páginasCa1394 AnexosPEDROAinda não há avaliações
- Lamina XP Tesouro LFTDocumento1 páginaLamina XP Tesouro LFTJoão VitorAinda não há avaliações
- Estudodassolucoes 2013Documento38 páginasEstudodassolucoes 2013Vanin Silva De SouzaAinda não há avaliações
- Karenina San Tosca LargaDocumento148 páginasKarenina San Tosca LargaMarcus Vinícius SpositoAinda não há avaliações
- Editado - Atividades de ConjunçõesDocumento1 páginaEditado - Atividades de ConjunçõesKLINE VICTORIA NOLETO MEDEIROSAinda não há avaliações
- A Liturgia JudaicaDocumento19 páginasA Liturgia JudaicaDaniele Rocha100% (1)
- 2012 37 4433 PDFDocumento13 páginas2012 37 4433 PDFnazanoAinda não há avaliações
- Estudo de Cenário Do Desporto e Do Lazer Vale Do TaquariDocumento14 páginasEstudo de Cenário Do Desporto e Do Lazer Vale Do TaquariSabrina BruxelAinda não há avaliações
- 10 - Gestao Da Qualidade em Laboratorios de Analises ClinicasDocumento6 páginas10 - Gestao Da Qualidade em Laboratorios de Analises ClinicasdiogoianoAinda não há avaliações
- Diagnóstico Organizacional - PesquisaDocumento3 páginasDiagnóstico Organizacional - PesquisachriscostAinda não há avaliações
- Técnicas de Realização de Exames em Ressonância MagnéticaDocumento94 páginasTécnicas de Realização de Exames em Ressonância MagnéticaAntonio AmaralAinda não há avaliações
- PROPORÇÃO ÁUREA: Guia para Criação de Marcas - Versão 02Documento54 páginasPROPORÇÃO ÁUREA: Guia para Criação de Marcas - Versão 02Klayton RenanAinda não há avaliações
- Esteban - Maria Teresa. Avaliar Ato TecidoDocumento2 páginasEsteban - Maria Teresa. Avaliar Ato TecidoMichelle A. FernandesAinda não há avaliações
- Histologia e EmbriologiaDocumento39 páginasHistologia e EmbriologiaJohn Mesquita100% (1)
- Avaliação 8° AnoDocumento2 páginasAvaliação 8° AnoKatia Cristina100% (2)
- Colocação de Implantes Dentários em Doentes Que Fazem Tratamento Com BifosfonatosDocumento5 páginasColocação de Implantes Dentários em Doentes Que Fazem Tratamento Com BifosfonatosTiago Araújo100% (1)
- VS XV-2 (TXT - 05)Documento18 páginasVS XV-2 (TXT - 05)Edoardo GolinskiAinda não há avaliações
- Reestruturando o Alicerce Familiar - C. S. CordeiroDocumento159 páginasReestruturando o Alicerce Familiar - C. S. CordeiroEmerson Luiz BertoniAinda não há avaliações
- Ficha de Revisão CNTDocumento5 páginasFicha de Revisão CNTPilar BugioAinda não há avaliações
- Calculo R2Documento55 páginasCalculo R2CayopereiraAinda não há avaliações
O Campo Na Selva Visto Na Praia
O Campo Na Selva Visto Na Praia
Enviado por
Rafael Lemos de SouzaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Campo Na Selva Visto Na Praia
O Campo Na Selva Visto Na Praia
Enviado por
Rafael Lemos de SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
o CAMPO NA SELVA,
STODAP IA*
lU@lD0D 0D f88ll
sts so rmcnia p e
Lrfexe pois, ms espr que
tnferveis, sobr m atividades c
mo etlogo &Iricnista. Sou bachrel
em cincas soiai pla PUC-RJ (1973),
metre (1977) e doutor (1984) em antrp
loga soial plo Mueu Nacionl, prfes
sor do Prgam de Ps-Grduo em An
trploga Scial (pPGAS) det mem
intituio dese 1978. Fi brve psqui
ent a sieade Yawalapti (Mato
), KuIina (Ac) e Yanmmi (Ro
Ili), e um trbalho mis longo sbr os
Arawet, pvo de lngua tupi-@ni do
Mdio Xingu (pan).
Sou um etnlogo, isto , aquela espcie
de antrplogo soial que se interspr
soiedade simples, de tradio clturl
Eduardo Vveirs de Castr
no-oidental etc. Na acdemia brsileir,
isto sigifica que su um "especialista em
ndio". ll acpo de "etnlogo" arbi
tnria; estou seguindo uma tendncia que
existe n meio cientfco loal (e conag
da ns clasifics do CNPq); em outr
pas, a palavr tem outrs conotas. L
antrplogo que etudam sieade in
dgens so hoje uma minoria dentr da
diplin n Brsil; ele, sbretudo o que
etudam ciss como parnt, ritul ou
cmlogia, so visto pr su clegs
como prticno um ofcio bizrr, um
pouc antqudo, simbolicment impor
tnte mas demasiado tnico e, no fndo,
irrlevante. Em tr, psvel que no
concbamo como a aritocia d disc
plin, desendentes em linh dirt do
heri fundador - cmo uma espcie de
bdmans da religio antrplgc, eco
lhido plo orlio do trbalho de cmp
Et tablho difere pu d 8W vero orginal. lid W semrio "A OlrO do tablh intlectul",
orpmo pr @ io Ntl e ADpla de Ct U,qu W ruliou dwaot o XV EDDt P' d AO
(Lmbu, ouub de IW).alp. UO mwekDdod o proo mplo orJol.t 1w2O
oolC do wM@ . mIucrdu pJO opndo do noHeici mw'" aG de ae itr o covite
de ae d Cul 00 pn publi-I. OnlmeDt We@lrrggI, de qu ammd pr m.
d joialidde e c.DW; pr wo ris de cbtinlimo expUcit muit graDe. Sme WWpr ao leitr
um gde 8W e dsja, que ra bm preit do qu pe achar pr aqui. Arade I IWVelho
NYNmAlitu d veIDlrioru m .rig, e ... . ugef gp.
WWmm,to m1tmvol. 3,D- I0.1w2,g I70-190.
o C NA SEVA V1DA PR
171
junto a primitivo autntics, prdido no
coro da slva. Etudamo sociedades
que, se no so "complexas", so cmple
t; aprendemos lnguas e cotumes exti
c; trtamos de asunto como xamanis
mo, aliana matrilateral, metades exog
micas, ritos funerros, canibalismo; admi
nitramo, em suma, aqueles 8dCrG
aprntados ao novio ante que enve
rdem, majoritariamente, plas sendas
prfna da antroplogia em sentido lato.
Par Ds, as antrplogias urbanas e rris
so etnologizes do alheio, obra de
aventureiros que invadiram com nossa
bandeir o domnios dos buro vizinho.
N etnlogos continuamos morndo na
cidade velh da antropologa.
Etou brincndo. Lantroplogo, c
mo vm testemunhando as reunis da
PL,somos muito unido, e no des
W. Somo unnime no afinnar que a
antrploga no se defne por seu objeto,
ma pr su mtodo; que no estudamos
aldeias ou cdades, ms em aldeias ou ci
ddes - que no estudamo pvos, mas
prblemas ... Lresto, iso de "ndio is
Iado" tmbm no existe mis, s que j
existiu, ou est acabando (dese o sculo
XI), e pranto estamos toos necea
mente etudando segmento de uma scie
dade diver e cmplex. Ademais, e pr
menos que o etnlogo e os demis antro
plogo s cmuniquem (e no falams
bstante), temo em comum um conjunto
drfernia bsicas, uma mem hgo
gfa, e outrs coisas. m no crio etr
exagerndo ao dizr que a etnologa de
sempnh uma funo identitra estrt
gc dentro de noss camp disiplinr,
bm como um papel terco maior. L
coneito, mtnos e prblemas crce
rtico da antrpologa form folado no
estudo destas sociedades que prvilega
mo: cultur, comparo, supero dia
ltic de nosas categorias soiolgcas,
aproximao qualittiva e vivida do obje
, teno contitutiva entr o pariclar e
o univerl, tudo isto imediatamente o
horizonte da etnlogia. Com as devidas
resslvas e qualifcas, o trbalho de
cmpo junto a sieade numericamnte
pequenas, de tradio cultural no-iden
tal, e su rsultado tpico, a mnogafia
etnogfic, continuam a ser a rferncia
clssica da antrplogia, e, ous dizer, a
raiz de sua autonomia como disiplina.
Sou, em sguida, um uamercnist" -
espcialista ns "mbaix da Amric
do Sul" -, confonne o totemismo geogfi
c prticado pela cmunidade antrplg
ca interconal. Ebra tais categoras d
uamericanista" uafica.nista" ueurpanis- , ,
ta" etc. m em princpio, aplicr-s
tambm a historiadors, a soilogo, a
estudioos de ppula campness ou
urban, elas so sobretudo imprnte n
ornizo da cmunidade dos etnlogo,
ou, em gerl, do espialistas em povo
primitivos ou antigo (lingistas, arquelo
gos). Elas defnem o esopo de assoca,
congo e joris cientfic, bm cmo
de intituto e equip de pequisa; apare
cem n Curr|CuM e nos annios de psi
acadmica; e ela evo para os
etnlogos, too um complexo folclric
de rpresnta: tem cceritic,
dispi terics, at memo tipos de
prnlidade distint. No si se existe
algo smelhnte entr o soilogo e pli
t610go; entr o historiador, o totemimo
clnol6gco (o "medievalists" etc.) par
ce desmpnhr um papl anlo
p
o ao de
noss epcializ regonis.
imprnte oberar que "amercnis
ta" no um gnr de que "brilianst"
seria um espce. Nosa epie so an
te oi como "ait", "moameri
canista ", "espcialist no ndio das prda
rias norte-amercana" Uamzonista" e ,
,
subvaredades do tip "tupin610go", "jiva
r6logo" ou "esuimologsta". Par a etn
loga que prtic, o fato do Arawet ou
Yawalapti esta!m dentr do territ6rio br
sileir e srm um "mnoria tnica" s
172 8MWMO-1Ww0
prinnte o ]riri, enuanto elemnto
da histria particlar deste pvos. A rla
das sieade indgns cm a sie
dade ncionl s me dm rspito prue
so pare d circntia das prmeirs -e
aina um p que no foi at agor
minh pMpao principal?
S etudei ndios no Brsil, prque a
antrploga prticda pr aqui se cncen
tr quase excluivamente em fenmenos
intmur. Er nturl ir par o Alto Xin
gu, no par a slva peI; er mais fcil
e mis barto; e havia tanto a fa:ere como
l. No prue bWe, contudo, qul
quer conexo entr o dio do Xingu e a
"realidade brsileira" -tomei-me america
nista e no brsiianista. Mas s me tomei
americnista, e no afrcanista ou oanis
w foi prque fa:r etnologia no Brsil
sigificva estudar dios no Brsil, pas
perifric sem (ex-)lnias exteras.
Meu professrs erm amricnistas; e
finlmente, no teria sido fcil obter rman
ciamento do CNPq, da ou do escri
trio brileir da Fundao Ford par fa
:r psquisa na Nova Guin. Em outrs
palavr, ser um americanist brsileir
no de fora alguma a mesm coisa que
ser um americanista francs ou ingls.4
Fui fazr antropologia par pder no
etudar a "realidade brsileir" - um co
de bvarsmo temtic. O comptente en
sino de soiologa n PUC entre 199 e
1973 mtrva ao aluno a mistur da
pa: a sntsima trindade Mar-Webr
Durkheim, um bocdo de epistemologa
bacbelardo-a1tbuserian, e dos cvala
rs de soiologia do subeenvolviroento.
A de toda a epistemofilia, e de alguns
excelente prfes ores de teoria sciolg
c, o horiznte prorlSionl que eu enxer
gva er a soiologa do Brsil, vero
teria da depndnia, que me entendiava
at a more. Qera sir dali o mis rpido
pO v"l, lugar cmpletmente fe das
minhas ideias. O pa m concera como
cidado, no como cientist scial -uma
distino que admito prblemtic.
S
Em fga da siologa do subesnvol
villnto, o' C de Luiz Cta Lm
sobr o etrturlismo levaram-m a ler a
obr de Lvi-Straus) que m ctivou de
sada: a ambio universalista de su pn
samento aliada a um prigoo sntido do
detlh C'Tto; su vontade de rigor lg
co aaa a um prfnda paixo etti
c; su cpacidade de prticr a b abtr
o a parir de um matria rnita e
extica, tal a mitologia rabelaisian dos
nCio brileir, que ganhva em fio
ao ter exibida sua etrtur contrpnttica
subjacnte, Uo deUo metdico do siste
Mde csamnto autralian, que rvel
vam uma luxuriante matemtic slvagem.
Acbi que achar: eis que meu prblem
er o esprito humano, no eta ou aquela
soiedade (sobretudo, no eta aqui). Eu via
n antrploga de Lvi-Strusum ep
cie de mta-soiologa, que etaria pal a
sociologa cmo a picanlis par a pico
loga. Lvi-Strus m cnduzu antrp
loga, e isto determinou mrlao cm
a disiplin. Am de americanist, acbi
me tomando um etnlogo "etrturalist".
Etrturlist eslarcido, claro - M
etrturlista, foue dmW.
NDNU80U N8CDD8l
Em 197476, a tradio etnolgc do
Museu Nacional estava em baixa. O
PPGAS foi fundado em 19; minh dis
sertao de 1977 sobr os Yawalapti, o
trigimo-stimo mestrdo da instituio,
foi apena a tereira a verar sobre uma
soiedade indgen.6 Pouco antes da cria
odo PPGAS, RnueLria e Jlio Csar
Melatti haviam ido par a Un; Robro
Cardoso de Oliveir, David Maybur-L
wis e Liz de Cstr Fara cndu o
Prgrma em seu primir Q,e log
o LNA8VAVlDAPRA
173
em seguida Robro DaMatt retorou de
Hrard para se juntar a ele. Cardoso, o
iddor do PPGA, foi par a Un em
1971, e Maybur-Lwis voltou a Harard.
Por algum motivo, este dois pequisdo
m rpnsveis pr prjeto de pequis
que mrm pa n antroploga br
sileira, no cbgrm a forar um contin
gnte de etnlogo no PPGAS; quando l
entri eles j tinham partido. Robro Da
Matt, aps sua tes sobre o Apiny,
cmeou a se voltar par o estudo de as
pctos da soiedade brasileira. Asim, se a
antrploga do PPGA estava em plen
eferescncia, a rea indgen adormecia:
o mvimento dominante era o de anexao
das problemticas uman, campones e
ncionl? m foi atravs dos Lf de
Matta sobr teoria do parentesc e sobr
etnologa sul-amercana que rencontrei
Uvi-Strs e a idia de estudar ndios:
pi apsar de tno o etruturalismo abor
vido na grduao, no entrei no Musu j
tendo em mnte um prjeto de trbalho em
etnologa stit sC; eu queria mesmo
er apens fugr da sociologa do Brasil.
Em 1976, quando eu j iniciava minha
psquis com o Yawalapi do Parque do
Xngu, Anthony Seeger chegou ao
PPGA. Seger er rm-doutordo de
Chicago, estava ligado ao gpo do Hr
vardlCntrl Bril Projet, e etudava os
Suy, gpo j do Parue do Xingu. Ele
Crientou com Matta o meu mestrado e
foi meu orientador no doutordo. Foi ele
quem me formou etnlogo, eninndo-me
muitas coisas que no s achm no livr.
Seeger rlanou a etnologa como ra de
trbalho WMueu Nacionl, restablecen
do a cntinuidade com um d linhas de
puisa que ali se desnvolveram nos
an , aquela que deriva do projetn de
etudo do l do Brsil Central. A outra
l que rmonta a Robero Crdos de
Oliveira (e pr ele a Darcy Ribir, a Gal
vo, Wagley, Baldu, e em outr e mis
prnipal direo ao Forestan drela
raciais e de clase), iria sr retomada em
novas bases pr Joo Pacheo de Oliveir,
meu contemPorne de PUc, que fizra o
mestrado n Un com Cardoo e que in
gre u no doutorado e n corp doente
do PPGAS junto cmigo.
Embora intitucional e Q almente
entrelaada, as duas linhs principais de
pequis etnolgca do Museu Nacionl
apntavam-m em dir optas. A li
nha identificda a Robro Cardoo de Oli
veir, landa em seu projeto "Etudo de
rea de frco intertnic no Brasil"
(1962), parecia-me demasiado prxima
daquilo de que eu fga como o diab da
cruz. Com efeito, Cardoo de Oliveir
(1978[1972]) propunha uma "sociologa
do Brasil indgena", enquanto eu buscava
um antropologa a parir de soiedade
indgens (acidentalmente) brasileirs. Por
trs dteorias de Cardos, apsar de sus
contribuie decisiva par a sciologa
geral do cntato intertnic, eu acreitava
divisr vestgo da tradicionl subordin
o da etnologa braileir a uma Teoria do
Brsil, cuja expreso carcturlmnte
exemplar er a obra de seu antW r
Darcy Ribiro, que conagar sb o moo
terco a domo que denuniava.!
Asgunda mde psquisa, identific
da a Maybur-Lwis, permitia o acss
antropologia de minha preferncia. Trat
va-se do etudo etngfic dsoiedade
l e Bororo do Brasil Centrl, que haviam
sido objeto de trbalhos clebrs de Ni
muendaju e Uvi-Straus, e que aprsenta
vam enigs conidervei para a teora
do parntec e par as tiplogia em vigor
sobr as culturs sul-americanas. Ll e
Borro possuem um orani:o soial
-
complexa, onde se rencntrm fiurs
clssica da etnlogia: mtde, Sieda
de crimniais, clase de idade, termino
logiasde parnte de tip "crw-mah"
(um dos gadget prediletos do ellteni-
,
14 E8m81klC-I992I0
dos), ritos de iniciao, prestas cerimo
niais, aldeias circlars ...
Maybul-Lwis for aluno de Herr
Baldus, em So Paulo, e depis de Rodney
Nedbm, em Oxford. Hvia-se distingui
do pr suas cntribui chamda "teo
ra da alian", que vem a sr a vClo
ingle da teoria d'As etrras eLeena
M d]M hvia tmbm entrdo
em uma plmica com Lvi-Strusa pr
pito das orani:s dualists; e havia
prouzdo um dprimeiras monogfias
moer sobre um soieade indgena
sul-americna.
9
Ele e o gp de "j.lo
go" -Malt, Melatti, Tll r, Croker, L
ve, Bambrer, e numa prxima gerao
acdmic, Seeger -erm asim uma liga
o cm o centr clsic da teria antro
plgc, cgde "r o ndios brasilei
n srie que inlua o trbriandee, os
Nuer, o Kchin e o Crw. A antrpologa
que praticvam er uma clagem onde en
trvam (pmtm-me um rpida e mali
cios rotulao em ismo) o etrturl-fun
cionlismo d Radclife-Brown, Fores e
Evan-Pritchd, o funcionlismo indivi
dualita de Malinowski, Fuh e Lc o
simblism dramlrico de Vicor Thmer,
o culturalismo gniano de Shneider e
Ln e o etruturlism de Lvi-Straus
(em verso foremnte neehmiani:da).
A doagen de cda cmpnente deta
c terc variavam confonne o in
divduos;
tO
MCieio que se pe Ccte
Ha inpirao' gerl do grup (com ex
ceo de Teren Tmcr) plo rtulo D
lgc de "etruturaJ-ulturlismo". b
um prouto deste cntext, embra talvez
. mi prximo do etrmmo que meu
mior, pis mfonno bsic rm
t a uma trdio antes frW que anglo
X.Lkfonn, as elngaflas de Mat
ta (1976) e Seger (1981 ) form Omoelo
esnciais do meus trabalho -ainda que
no cria que meus dois prfesre s
reon nle.
Fique finalment claro que a etnologia
que pratic uma das muitas pssveis, que
no a nica praticda WMuseu Nacionl
(no sequer a numrcmente dominante,
aliou alhure e que no a nonna de nda.
Nmreivindico de su carter clssic
poe sr, ou quetionda, ou usada justa
mente par desqualilc-Ia, pr anacrnica
ou memo ucolonizda" -pacincia.
H
L C8RQD
Meio que pr acso, cmo smpr se
diz, no estudei uma soiedade j. Lno
tinha exemplos recntes de clegas etnlo
go no PPGAS; Matta no m enorajou a
estudar ndios: suspito que coniderass o
assunto teoricamnte esgotado, de um mo
do gerl. Antes de me decidir pla etnolo
gia, ferei um bom temp cm a antropo
loga uran, trabalhando cmo asistente
de Gilbero Velho em psquias sbre o
estilo de vida da clase mdia carioa e a
cultur das drogas. Tenho at hoje interse
pelo tem. Mas rsolvido a exprmentar o
trabalho cm ndio, embarquei num ex
curo que a lingista Crlotte Emmerich
cnduziu ao Parque do Xingu em 1975-
havia uma tradio de estudos xinguano
no M uu Nacionl, em antroplogia e em
cincias nturais; acabi voltando l e fa
zno um di rao sbr os Yawalap
ti. No doutordo, aps duas tentativas m
logadas de achr uma situao ue me
conviess, fi parr n Arawet.
1
Com exco de um breve sure dQ
Kulin do mestudei siedades frc
mente articladas ao sistem ncionl, isto
, relativamente Htradicionais" e "ila_
das". mdu te form sbre gp
com meno de d1nta g m,o primeir
par de um sistem rgonl indgen pro
tegdo, em 1975-n, de interfernias dis
rptiva dM o outr um pvo que em
o LNA s8vAVl DA rk 175
1981 t apnas cinco anos de cntato
rgular com o ro indigenista oficial, e
quase nenhum intero cm etrangei
. Houve neta eolh muito romntis
m e emulao, ms foi tmbm algo con
sistente com mu interse terics. Sem
pr etive coniente de que o Yawalapti
e o Awet no repreentavam nenhuma
situo tpic, sja da coio indgen
cntemprnea, sja do que teria sido o
mundo pr-clombiano: seu pqueno con
tirgente demogfc, sua cndio rlati
vamente isolada e protegda o fruto da
mesm histria hotil que detruiu ou su
brdinou cntenas de outrs soiedade.
m se eu etive" interesado em fen
mno mjoritrios, no teria ido etudar
dios, para comear; e estes pvo apre
sntavam um situao mis simples, par
o que me interes va: o etudo de outr
par u nno a fnnula de Wittgentein -
"ronuas de vida". Tratava-s de encontrar,
n etreita marem do psvel, coi
propriamente exprimentis, isto , onde eu
pude= fzr abtrao legtima dcn
x entr o que se pe abarcr com o
olho e o que et alm. Assim, a eslh
de gup "isolado" foi um deo ttica
de limitao: queria enontrar um fonna
de vida sufcientemnte di!tante Q que
fosaprenvel em su equemtismo b
sic; apreenvel, ito , pr aquilo que
Lvi-Strus chmu de "pnto de vista
astronmico" da etnologa.
Elvi, em amb o C etnogfas
gri, m cm nfas n "cosmlogia":
as estrturas epcio-tempris da siabi
lidade, 8 psio do humnos n ordem
do sr vivo, a classifc tnics e
sio-pltics, o dispitivo e cooi
de ariclao entr o $wC su exterior,
Oidioms simblic orndo em tor
WdsubUque comunicm o cr
e o mundo, 8 ideloga do parenteso, a
etpicologa, a concepo da Q , a
etologa, etc. E nnhum momento b
propramente "etnoocia", ou se o f foi
uma etno-<oologia: preupava-me a on
tologia soial yawalapti e arawet, a con
cepo de soiedade que dava unidade aos
domnio simblico que ile a orienta
o terica e prtic do pnamento soial
destes povo. Para tanto, er prio ass
eiar eta invetigao cmolgca a um
descro soiolgc - sistem de parn
teo, estrutura ecnmic, vida pltica,
ornizao ritual ... dimens que tomei
como imers num quadr idelgc mis
amplo, ineparveis do discr indgen
sobr a identidade e a diferena, o soal e
o extr-social, o huU e o no-humno,
a crralidade e a epiritualidade, a vida e
a more.
nis estudo s pdem ser chamado de
"estruturalista" com alguma bvontade.
Se ele efetivamente o so, prque as
dimem semnticas que prvilegiarm,
e as interpretae a ela dadas, so tribu
trias de uma leitur etnogfica d
Mytolgius de Lvi-Slrlss, interss
da menos ns propredade geris do dis
curo mitolgico em si que no pnment
soial amerndio expres neste disuro.
L temas e o etilo inteletual de minhs
etngfa derivam da, embr eu tnha
dado puca ateno mitologia yawalapti
ou arwet enqunto U,prferioo trha
lhr cm um mterial mis heterlito. O
que talvez rsgate etes estudo da epigo
mseja sua orientao prpramente etno
grfca, de um lado -a tentativa de recon
tituio de sitem loi de pnmento
e ao -, e, 0outr, uma cr inquietao
terc que s aventura nas frnteira da
temtica etrturlist.
Na m pquis sbr o Arawet,
em particular, tntei explorar domnio on
de a mquin lvi-strlls ian s motr
limitada, cm o Ldaquele dispiti
vo simblic dcultur ameria que
epam a um cnpo metaforta d
sigifico e ao opradors inte,rtti
vo "totmic" que supm um cntrt
elttico e revervel entr tenno que pr-
176 DmWRO-IWI0
mnem ditinto das rla que o li
gam
.
O feIlmn-tip dUdispitivo
metoofic, asimtric e inverveis
foi Qmo Cibalismo ritul dpvo
tupi, que agsuma form teolgC
e etolgC entr o Arawet. Fi a p
da queto do cnibalism que cmeou a
s desnhr o que vem seno u tbalh
atual, cnuzdo em sintonia com o de al
gun colegs n Brsil e no exerior: uma
investigo cmartiva sbr o lugar e a
fo da alteridade ns siedades
nic. Ito m levou a rtomr quests
clssiC da teoria do parnteco e a cmi
nhr n diro de um teria mis abtta
das etrtur soai am?nica.
Dise acima que apns imrpriamen
te ms etnogafas poeram ser cni
deradas estrturalistas. Ito vale em gerl
Q toa desrio mongfC de um
soiedade. O etrturlismo no um
teria da soiedade, ou mlhor, cmo ob
serou (criticamente) Pier Qatr, ele
"uma soiologa sem sieade"; seu ob
jeto so etrtrs socais de pmamato,
no a Etrtur Soial ou a Soiedade,
ciss que Lvi-Strls, um vez vencida
a D mrfologst d'As ea el
mcN, no par crr que existm. O
objeto empric: esta ou aquela soiedade,
no psui nenhum ralidade eminente ao
rgard e/ign do etrturalism, voltado
par as diferns intr- e interoietria,
o "afatamento diferenciais" entre dom
nios semntr 100i. Tera da diferen
e da tnforo, mto do contrte e
da comparo, foclizno estrturs
parciais, rlegndo toa totalizo ao do
mio do "moelo ntivo", idelogia e ao
vivido, o etrturlismo exige a etnogafa
cmo cndio, ms par poer supr-Ia,
dissolvendo-a em estrturs ao mesmo
tempo mi geris e meno totais.
13
Or, a
etnogfia, alm do imprtivo prtico e
metoolgic da totalizo, envolve tm
bm um nUro privilegamento do
"mdelo ntivo", o nico cpaz de dar um
sntido inm ao fato (sem o qul a
etnloga vir etologa), o nic Qm
onde a totlizo tem um lugar terc
legtimo. Et ideologa ntiva, que visa
um horonte dttlizo smpr inaca
bado, no seno aquilo que cstummo
chmar"cultur". E outrs palavrs: k
(ba) etogafa W ariamnte cltu
nlista, isto , "interprttiva"; o culturlis
mo a metodologa estrllirlista do fazr
etnogfc.
14
Apar de minha cnentro mono
grfc, tbalhei dentro de um cntexo
cmpartvo exlcito, balizdo pr que
t teriC plprias do amercnismo das
ltima. dua dadas. Falando do Yawa
lapli, dirig-me a quests da etnologa
xinguana; no CO dos Arawet, tentei
contruir um mdelo geral das rsmolo
gias tupi-guarni (rorndo etnog
fias cntemprnas e aos mterais qui
nhentsts sobr os Tpinamb), bem C
mo tbalhei sbr um fundo cmpartivo
pan-am7nico. Adotei, em amb o c
6 as soiedade de lgu J do Brsil
Cenl cr um espie d tip-ideal
cntrstivo, dimagem sinttc da "soie
dade prmitiva" amldia em rlao
qul eu meia o afatment dmu m
terai. LJ m serirm como a iC
das linhagen seriu aos j-logo do
ans e 70 - cm antagnist. |
MM tlvez invitvel para um amzo
nist forado em U abofer etnog
fc foremente cntro-brsileir, teve sua
utilidade hurtic, Mno deixou de
prouzir algun efeito arifciais. Hoje,
buo um modelo cpaz de gerar as trn
forms que comprendem as forms
soiais amniCs e cntr-brasileir.
Finlmente, estes trbalhos eto mr
Cdo por um dilogo com o cmp ame
ricnista contemprno, e por a com a
teoria antrpolgc gerl
.
Sua ambio
ltima a de enontrar um linguagem
adequada par desrver as soiedades
amerndias, e ao faz-lo, de suprr algu-
o C NA 8VAVlDA rkA 177
M antinomias clsicas, em espcial
aquela entr cultur e sociedade, entre des
crio "csmolgca" e desrio siol
gc; tambm a de sabr at onde eta
"sologa sem siedade" que o etru
turlismo pe no levar, n compreno
dsocedades amerndias.
N8 80lV8
Discorr na introduo d repctivas
tees, cmo me foi inculcdo por meus
mnelos etnogfics, sobre a condis
d psquisa junto ao Yawalapti e aos
Arawet, bm como forei uma recon
tro (inevitavelmente romanceada) de
cmo cheguei aos problemas que vim a
tratar. Ningum sabe muito bm como fez
o prpro trbalho de camp, e sb menos
ainda como pasou dele etnografia pro
pramente dit: que procsso de generali
zo, noralizo, idealizo, abtra
o e sutilizo trnformam o cderos
dcmpo em tess e arigo. Atulmente,
quando est muito em evidncia a questo
d etngfia cmo gnro literrio e as
exprincas com novas "discurividade"
etnogfcas - com rultado que vo do
salutar ao dontio, do elegante ao gteso
-, o antroplogo proupam-se bastante
cm isto; algun Cm que controlam cri
ticamente su prpra digesto discuriva,
e pnam memo que isto lhes autorz a
cntrlar a do outros. Registro-o para no
g r por igornte, ms o assunto no me
intersa e me irrita um pouc; vou tentr
no exagerr n banlidade e na rB-
c, & s@
m pqui cm os Yawalapli foi
muit cra, memo par o padis de um
mtrdo: cra de dois M de cmp
(voltei g m doi me um & ap
defender a di rao). Tve difculdades
burtic e logtica Q chegr ao
Xingu, prblema de praz acadmic, e
pquei pr falta de prevern. No su
um aprciador fantic 0delcia da vida
silvestr, e memo no ambiente amno do
Parue do Xingu tive mct de dess
pro. Mas ceio ter coneguido um r
sultado mvel, gas ao Yawalapti.
Muitos dele eram inforantes sofI Stic
do, excelentes falantes de prugus e es
pcialistas em psquisador; viviam alm
disto em um sistema pluritnic que os
predispunha questo ddiferens. Dei
me muito bm com ele. A litertur sbre
o Xingu era ento mais fc que a hoje
dispnvel, mas er exten, e eu hvia lido
quas toa; de rsto, cu etava entupido de
etnogafias sbre a Amrica do Sul, a Me-
,
lansia e a Africa, e as etnogfias alheia
formam uma teia mental de temas, quet
e mtodo que subtituem vantajosmente
o manuais de psquisa de campo, a aulas
de metoologia etc. O trbalho etnogfic
duplamente empico; afora algums r
gs elementars de bm sen, e uma lista
de iten obrigatros a srem cbr -
fa um planta da aldeia; fa um cno;
colh a terminologa de parnte; ebe
etnotaxonomias; ecrva um dirio CC. -,
cda um s vir cm pe, e no sb de
antemo o que o epr.
Eta plo mens a situao de quem
parte para o cmp sm nenhum problema
espal em mente: fi etudar o Yawala
piti, no testar uma teoria. verdade que a
antropologia estuda problemas, e no po
vos, como dise Evan-Pritchar; mas seu
prblemas so aquele do povo que e
tuda - prblemas pstos pr etes pvo
par si mesmo, e pranto para os antro
plogos. Foi o mesmo Evan-Pritchrd
(1978: 3() quem sugeriu que o antrp
logo deve seguir o que encontr n soie
dade que ecolheu etudar: ele no s inte
rs va por bruxaria, ma o Aznde sim;
no tinh paixo espeial pr vacs, ms
os Nuer sim; logo ... O que smpr se pasa
uma negoiao entr os problemas do
etnlogo - psoais tanto quanto terc
178 E S IOSTRm ~JWJ0
- e os problemas de seu infonnantes, to
mado em mior ou menor medida como
a expreso de um penamento integal
mente soial.
lS
claro que ningum chega
nu e virem diante da sociedade que foi
estudar; eu tinha uma idia muito geral
sobr o que queria saber: por exemplo se,
como e pr que os ndio do sistema allo
xinguano diferiam sigifictivamente das
sociedades j estudadas por meus profes
sores; queria ver tambm se reencontraria
no Xingu a emoo intelectual que experi
mentar ao ler as Mylologie.
No cbeguei a fcar temp suficiente
entr o Yawalapti para poer falar algo de
sua lngua, condio fundamental para o
tipo de trabalho que me proponho. No
correr de minha estada, alm de fazer o
dever de csa antropolgico, fui alinhavan
do detalhes que me pareciam significati
vos, moulas de tems clssico, vagas
intuies de conjunto. Alguns tpicos se
destacram, pariculannenle uma Cltearia"
da fabrico do coro que, sobre pennilir
articular domios diveros, como a ideo
loga do parentesc, as recluses rituais, os
regimes sxual e alimentar, a imagem do
homem ideal, o xamanism e a dona, os
valores simblicos do espao, parecia in
dicr tambm que o pnamento xingua no
no profess um dualismo entre pD s
fics e pO o soiais, entre o que
releva da espontaneidade natural e o que
resulta da intereno cultural: a fisiologia
era ali imediatamente uma moral. Outro
gancho heurtico imprtante foi foreido
pr um uQda lngu yawalapti, que me
pareceu conistente cm um aspeto cen
tral de sua comologa: trata-se de um con
junto de moificadores nmnais que ex
prmem a distncia progresiva dos entes
do mundo em fac de um mundo mtico
espiritul de prottipo ou de esncias
ideais, definidas como sendo ao mesmo
tempo prfeita e excssivas em relao s
suas rplicas atuais. Isto, aoiado a in
mers outrs pistas, levou-me a caracter-
zr a cosmologia yawalapti como fundada
na gradao e n continuidade, em ntido
contrste com o etilo binrio e descnti
nuta do J.
No ter sido ridcula eta preteno a
falar da "omologia yawalapti", e mesmo
"xinguana", depois de apenas dois mee
de campo junto a uma populao cuja ln
gua eu mal cnhecia? Sem dvida. Talvez
no tivese a mesma Ld de pau hoje em
dia. Mas tive a mesma pretenso com os
Arawet, junto a quem pasei onz mees;
e estou to seguro (isto , no muito) do que
dise em linhas gerais dos Yawalapti, que
foi pouco, como do que dise dos Arawet,
que foi bem mais. Quanto tempo e cnhe
cimento so necessrios para que gmo
falar da "csmologia" de um pvo, de pleno
direito? No hjamais pleno direito; aquele
conhecido idiotismo franc -
lUHlse pas
se come sr', deveria ser tomdo cmo
uma mxima intetprctativa es encial; ele
tanspor o que dizemos para seu lugar
apropriado: um univero de discuro, isto ,
um mundo em "modelo reduzdo", abstrato
e convencionalmente simplifcado, onde s
trava um dilogo aproximativo entre lin
gagen heterogneas.
Algumas coisas justificam, talvez, a
inevitvel extrpolao que ocrre quando
deixamos o domnio pdestre do obsr
vel e quantificvel. Si que esta uma
posio um tauto obscurantista, acr
dito que a intuio esencial. Lvi
Straus, falando de Paul din, usou a
palavr "faro" para este dom que estimou
rr; e foi Radin, falaudo pr too, quem
disse que "ningum sab muito bm cmo
faz o prprio trabalho de cmp".
16
H de
fto um aspecto inconciente no prs
etnogfic, e no sei o quanto ele pde ser
rduzido pr alguma vigilncia epistemo
lgca. O cmp um exprncia "totl",
na acepo de Gofrn; ele envolve fre
qentemente privae senrio-afetivas
drsticas, capazs de ptouzir um estado
anorl de "prcpo extr-ulturl"; e
o CAM NA bmVAVl DA PAIA 179
sbrtudo, ele oper sinteticamente, isto ,
prde por saltos qualittivo n direo
de uma form global, onde a rflexividade
analtica, irrefletidamente, decobre-s
produtora de objetividade. No silogsmo
etnogfco, b mis n conluso do que
o que foi poto ns premoberacio
nis e do que et explcito nas rgs
metoolgics de inferncia.
H enlo a intuio; mas ela trinada,
e isto esncial. No "tempo de serio"
de um etnlogo deveria ser contado, no s
seu temp de campo, cmo aquele que ele
pasou s impregnndo de etnogrfas
alheias, e o que o autors destas etnoga
fas passram ele prprios no campo. A
exprincia de cada um a experincia
acumulada por geras de pequisadore,
sem a qual nenhum pesquis, por mis
long que sa, poe trnender sua pari
culardade. A cultura distintiva do etnlogo
su cultur terica e etnogrfic: isto
que depra e trin a sua intuio, e isto
que forec a ponte indutiva que ele frn
queia meio inconcientemente. Nada im
pde, claro, que sua intuio posa lhe
faltar, suas indus manquem, e suas con
clu sejam absurdas. Mas a compara
o su cntrole constante. Etnogafia
tnto voao cmo erudio.
No cheguei a pretender saber o que,
par os Yawalapli, cIlpnderia ao gado
par os Nuer e brxaria para o Azande.
P linhs de investigao form surgndo
ao sbr de cnveras decoidas, n rfra
o que minhs prguntas sfriam ao se
rm rpondidas, e conforme o que as ps
sos estavam interdas em rvelar. No
avani sbre temas que si so imporan
te n vida yawalapti, cm as acss
de feitiaria, sendo incpaz, pelo pouco
temp que ali etive, de me orientar no
mundo florentino da pltic alto-xingua
n; ml arnhei o prblemas do xamanis
mo, da ecatologa, do ritul... fI em su
mum exerccio de estilizo etnolgca,
mais til par q que par a etnologa
xmguan.
Antes de chegar no Arawet, pasei
dois U entr o Kulin do m, em
1978, para um levantamnto etnogfc.
P prpdiva erm inter ntes, mas a
situao do Kulina, pro enlo W m
lhas do aviamnto e do barco, tntando
adquirir intrmento para mlhorr su
psio no sistema regonl, disputdo p
la Igja, pla tPe plo patr, fez
me deistir. Ele no prcisvam de um
etnologa cntemplativa, intrda em
comologa, ritual e parentes, ms de
uma antroplogia da ao; creiam de al
gum cm maior cmpreno da histria
e da sociologia da Pnia, e que fos
capaz de etudar algo que lhe inteD .
Ete no er, infelizente, o Ou C.
Deixei de estudar o Kulin no prue ele
no fos m "trdicionis" (su cultura h-
cionva vigoromente), ms sim prue
eu prguia um situao mis simple.
Dsistindo dele, tentei um puisa cm
os Ya nomami, mas embars logtic
me fram arrepiar cmap mm
se de cmp em 1979, b pare dele
pasada num posto indgen. Foi enlo que
me sur o Arawet, pquen e igt
tribo tupi-_ni que hvia sido anxda
plo Etado brasileir em 1976.
Lvei quase um ano saltando o obt
culo annado por um do stors enlo
mais inepto, corrpto e autoritro da
burrca ntiva, a Fundao Nacionl do
ndio. Comeei o trabalho de cmpo em
1981 e o temi em 1983, Qno um
total de onz mes n aldeia do Ipixun.
Por motivo diverso, entre o quai algun
j menciondo quando falei do Yawala
pti, no cheguei a passr mais de m
mess e meio sguido n ra. Repetido
ataques de malria encerraram o trbalh
antes do desejvel.
Perto dos Yawalapti, os Arwet erm
selvagen hrd CO. Praticamente mono-
I 3swsIRC-199210
Iges, com puc exprinia dos brn
co e nenhuma de antrplogo, minh
convivnia cm ele foi inten e educ
tiva par ambas as pares. Envolvi-me
emonlmente cm as g , aprendi
como pude sua lngua, algumas tentati
vas de viver pareido com elas, e conduzi
uma psquisa muito mis desrganizda
que aquela cm o Yawalapti. Como a
maioria do etngfo, muita vezs e
queci o que etava fazndo l, e tno o
temp acompanhou-me a seno de que
no teria nenhuma ka cver.
L Arwet tendem a ser expanivos,
sMtico, muito puco didtics e me
ns aina cerimonios. Su jito me er
m atrente que aquele quas hiertico
dos Yawalapti, mas tmbm de mais dif
C convivncia. m timidez frente a
estrnhos me alIapalhou bastante. No Alto
Xingu ela er sign de ba educo, e
facilitava o dilogo; nos Arawet, de mau
humor: feli7llente, eles erm demsiado
autoentrdo para a tomarem pr angn
O.L,no m lembr onde, que o rgme
enunciativo da etnogafia "clsica" con
fer um psio de poer absoluto ao
autor, e que este contrle discurivo mni
fest o poer pltic-nmic da sce
dade que ele rprnta sbre aquela que
etuda -eta denncia sria de exorao
tais exprimentas plifniCs e L
autoris que a etngfia deveria praticr.
Poe ser que, esnbism pare, a crtic
tenh algum fndamento, mas psicolog
cmnte a cis outr: nun m snti
exelado qualquer pder que fo e sobr
o Arwet. Ao contrro, ele erm os
seobores do mu estr l; e l estava inti
rmnte sua mrc, igornte, deajeita
do e ridculo, sujeito a mu "objeto"; at
que me reconhecssm um peronlidade
mais varada que a de umcurioo prvedor
de ben, fui uma espie de chimpa
enjaulado que, em vezde rbr, tinh que
dar banns ao humano. A sua palavr
er a lei; se pudese, que a decifrs.
No teobo nenhum iluso de que os
Awet sjam "co-autores" de meu livro;
falei deles, a parir de minha problertiu
o do que acreditei srmseus problemas,
sem me pmpar em restituir um "pnto
de vista do nativo" (que no cb, dupla
mente, num livr); e se cmeti no pucs
literatices, foi par me diverir, e ao leitor.
LArawet no me deram esta intimidade,
de trat-los como "sujeito" do que eu
cvi; preoupi-m muito mis cm a
poltic discuriva dos Arawet, com o
complexo regime enunciativo que articula
sua vida poltica, o xamanism e o ritual
guereiro, que com m pltic discur
siva par os Arawet. Neste sentido, esre
vi ur pea normal de "realismo etnog
fico", estilo hoje vituprado.
17
Entre o Arawet, ao cntrrio da exp
rincia anterior, apeguei-me muito ceo a
uma queto: rlao entre os humanos e
os Mar tenno que tndnzi pr "deus" ou
"divindade", e em pariclar ao tem da
IIanuhstiao cnibal ptum sfrida
plos viventes no cu, que o IIanforma em
ser smelhantes quele que o devoram,
o Mai. Acritei que o deus e su intri
gant cnibalismo eram "o problema" det
soiedade, seu gado ou sua bruxaria. Com
nestes caos proverbiais, entretanto, ele s
me interesvam enquanto via de aces a
algo meno cncrto e mais geral; no C
a comologa Arawet, sua cnepo do
hmem, da sieade e do mundo. mG
que gdo nuer ou bruxaria 8e, a rlao
entr hum e deus n pnmento
arwet fnionou para mcmo um an
logo do kMde Malinowski, dHW de
Baten ou da guera de Fortan: cr
aquele "fato sial totl" que serve de fio
condutor Qa investigao de uma cultu
r. No si s o cmplexo de relao cm
o Mai opa um lugar psiclogicmnte
cntrl n vida do Awet; m, tal cmo
sua vida me foi pr ele aprentada, pn
que s IIte de algo efetivamente imprn-
o CmNA SEVA, VSIDDA PRAIA 181
te em sua cmologa: o Mar e o que lhes
dizia rpito eram o "idiom", o tps
doonante da cultura arwet. S asim ele
peria desempnhar com prinncia a
funo que lhe atrbu, a de eixo Q a
cntro de um etnogafia gemi, sem o
qul eta se tor um teioa ficha dividida
em tpic eslar: ecnomia, parente
c, pltic, religio, mudan sial etc.
m no duvido que outr etngfo, que
paris de outrs quest e outrs m,
fos capaz de oferecr uma imagem da
siedade arweli cpaz de i1uonr asp
to que deixei na sombr.
Falei acima na fno de "gancho" heu
rtico desempnhada por certos temas ou
cmplexos de uma cultura na contro
de uma etnografa. preciso ter claro que
este recurso, se mais que um mer for
malismo expoitivo -pi uma sociedde
ou cultura no se deixa abrdar com igual
felicidade pr qualquer lado -, no revela
pr iso um espcie de quintesncia da
forma de vida que dCvemo, su plano
diretor ou sua chve-mstra. prciso,
sobretudo, cutela com a linguagem teori
cista que trt um cltura como se foss
um conjunto de prpis filosficas s
br o mundo, cpazes de serm reduzidas
a "princpios" esnciais. No sei at que
pnto esta rpresentao prncipista de
uma cultur alheia inevitvel -eu certa
mente exagerei na doe, em onh tes
sobr os Arawet -, ms ela pelo menos
no deveria ser vista como nalural; cer
tamente to convencionl quanto a viso
intrmentalista e "estrlgca" que se co
tum prpr como altertiva mais "ver
dadeir" a ela. Digamos que acredito n
prinipialidade da teotologia dos Ara
weli tanto quanto, pr exemplo, eles acr
ditm em sua subtncia: a existncia ps
tum, divin e cleste, excelente - U
ningum cra o prprio Q par
antecip-Ia. Teoria, l cmo O, teoria.
Isto pto, foi delibrdamente que dei
um interrtao "anaggca", n dupla
acpo do termo,
18
da cltur arwet:
prgui ali as manifeta da teloga
doMai; e buquei ligarum quantidade de
. . -
pO o, evento e cnceito a um Vio
total do mundo, que funcionria cmo um
espcie de cu formal suprm deta cul
tur. O que a no de "fato sal totl",
seno um reivindicao da angogia cmo
mtoo interrtativo? Cm p&de l
nics de c2, etilo de pintur cr
ral, expnidiomtiOs, movimento r
hais, txonooas dparentesc, a algo C
mo um "cultur", sem um efor
metic de suprinterrlao (no sntido
tel) deta H de deLque, tom
do em si, so mudos, U que uma vez
encdedo s pm a falar, sugerindo uma
significao que o engloba a todos? Ana
gogia e anlogia so pmimentos auto
mtic do etngfo. No cr de onh
anli do materiais arawet, vim a pr
br que a fora de uma cdeia demontti
va, quando s trat de anlir um sistem
simblic, depnde meno da for intrin
seca de su elos individuais que do nmr
de conexs que cda um entrtm com os
demis: preciso rcininr em rde e no
em linha, como o objeto que estudamo.
Demontrr, aqui, fazer OO.
Pactuei, sbretudo, com o demnio da
angogia quando fiz da vida araweli a
exprsso de uma flosofia do devir que se
manifestaria em seu estilo de soiabilida
de, sua tica, sua vida ritual, seu xamanis
mo e sua esatologia. Isto foi, rpito, deli
berdo. Quis aprentar o Arwet sob
esta luz: como praticno, sno prfe
sando (pois tm mis o que rr, e no
possuem metaficos profISionis), uma
autntica ontologia, capaz de ser inferida
de suas formas de soiabilidade e de su
estilo cognitivo. Quis dar a seu pnamen
to uma apresntao que o livrass do exo
tismo de pacotilh e do soiologm ac
chpante; ecolhi um voabulrio vaga
mente flosfc par que o rspeitam
182 E S HSTRCS-199210
cmo penamnto.
19
logenuidade logo
cntric de mpare, crmente.
D incio, o prblema com que me de
frntei era o seguinte: o que fazer cm a
siedade arawet? Como d sentido ao
que eu via -onde etava, a rigor, a socieda
de? Defontva-me com um daquelas tpi
L " orninf fluidas'" da Amaznia,
sem sgent soiocntrics, sem gu
p de deendncia, sem normas claras de
alian ou de ridncia, cm uma chefa
nominal, e nenhum pendor pa ra a ao
coletiva; par piorr as coisas, mesmo os
lugares cmun do americnismo tropicl
no erm levado muito a srio: c0v0d,
evito dos afin, tbus alimentres, rela
cmplicdas cm os espritos da mata,
simbolismo epacial desenvolvido ... De
morei um puco a prcbr que a sada er
o Anismo e as entidades nele envolvi
das, o Mal e o mor do gup; em
seguida, que havia um cmplexo guerreiro
importante; dei-me conta que as idias r
laciondas morte e ao detino ptumo
peritiam "costurar" a siedade e a pe
5 a soologa e a psicloga arawet. Se
eu no tinha nenhum interes espcial pla
teologa, pla more, pla lego de espritos
que povoa o Carwet, pasei a t-lo
desde que ficou claro que era sobre isto que
ele preferam falar cmigo; er, tambm,
uma das pucs coisas a que eu me podia
a@ , nquele pvo "impereptvel", sm
nenhuma queda par a mincia rt ou
par o epetclo sociolgco. O canibalis
mo divino, fnalmente, me abriu o caminho
at os Tpinamb: decdi que ete tr da
estologa arwet rmtia ao cmplexo
da antrpfaga ritual tupi-guarani, e que os
fato arwet e o fatos quinhntists ilumi
nvam-s mutuamnte. Aquilo que no -
pinmb fom siologa, n Arawet ha
via sido trnforado em picteologa; e
prnto, hvera que ver quo siolgic
em eta, quo picteolgc aquela.
Dois etudos foram fundamentais par
que minha anlise tomasse forma: o de
Hlene Clastres (1975) sobr o profetismo
tupi-g antigo, o de Manuela Careiro
da Cunha (1978) sobr o sistem funerrio
e a noo de Qentre os Xb, grup
j. O primeiro, alm de me dar um lingua
gem par pnar a comologia arawet den
tr de um horiznte tupi-guarani, seriu-me
para conolidar a idia de que a metafica
arwet cncebe a cndio human ou
social como um lugar precrio e intvel,
um interalo entre foras do extra.cial:
Naturez e Sobre naturez, mundo aoinal e
mundo divino. Foi este livro que me prmi
tiu ver, ainda, a imprtncia decisiva da
temporalidade e do devir W cosmologa
tupi-guarani, em detrimento daquela m
n espacialidade cmo domnio privilega
do de incrio do soial, cractertica do
more geomerio das soieade j. A partir
da, prpus um mndelo da cosmologa tu
pi -guarani onde a dimeno tempral en
globa a epacial; onde, n primeira, o H
predomina sobre a origem; n sgunda, a
vericalidade sobre a horizontalidade; onde,
finlmente, o extral engloba hierar
quicmente o huH/soial, a alteridade
prdendo e determinndo a identidade.
Tentei ainda motrr cmo o cnibalm
tupi-g era um dispositivo cntrl de
ta comologa, que cnolidava em um
figura a questo da temprlidade e a d
alteridade detemdora.
O trabalho de Careiro da Cnh foi
outra inspirao imprnte. Sua anlise da
morte seriu de moelo para muito do que
escrvi; suas coniders sobr a escto
logia ajudaram-me a pmr a distintivi
dade da concepo arawet. Se Manuela
pe definir a esatologia kbcmo um
rflexo sbre as condis de p ibilid
de do sois, sugeri que a ecatologa ar
wet m que isto: um espa de
rlas imdiatamnte siai; n ver
de, o espao da rlao soial pr exc
lnia -a aliana entre o deuses e hmen.
o LNASF VA, 1DA PRA 183
Um do apcto que mis me intrigava
n rlao do humano cm os Mai era a
mistura de antagonismo e dejo. Ldeuses
elm ao mesmo temp clasificdos como
inimigo canibais e pndo cmo arawet
preitos. Lmoro, devordo e refeito,
cm-s com etes deus. Qundo eles
vm tera, prlibam alimento e bbidas
ofercido plo humno; e toda a orgni
zo ritul do grp g em tomo de festas
onde o deus e moros so convidado de
bn. Lgo me ficou Omque os deuss
so um epie de arUlS lI3ncendentis
do viventes, a quem s ligm por relas
de Lento e prestas aliment. De
mri a entender o que eles davam em tro
de cnjuge e de cmida; agor estou eero
de que a vida: a cosmologia arwet fala
de um appse prvodo plo deaba
mnto do cu, e um srie de indcio (pois
as gno gotam de mencionr ests
cois) suger que os morto e a cmida
crimonial so o pnhore da ba-vontade
do Mai desta vida prvisria tentr de
que o humnos s benefciam.
Ldeussencmavam assim a ambigi
dade carcterstica das rla de afinida
de no pHento amer,dio: necessrias
prgoas, ela fundam o sois, ms
trzm par dentro dele a exterioridade pre
datria. Ora, a vida soial arawet me par
OdeUr delibera0nte a rlaes
de afnidade; ao cntrrio de tants clturs
do continente, no m regrs de evitao
onomstica ou cmportamental entre afin.
Eles profesm tmbm um ideal de endo
gmia de parntela (e mgdo matrimuio
clssic do tupi-guarni, cm a flh da
i), que sugere ur vontade de fcar
"entr parnte", dispnando ao mximo a
afinidade. Mais ainda, su iustituio mis
valorizda e evidente um tipo de amizde
formal entre no-parentes fundada n par
tilh de cnjuge: um relao, exatamente,
de "antiarmidade". Ela srve de moelo
genrico de k rlao soial cm estr
M,oupando asim o lugar que a miora
das soiedade amerdias cncee afni
dade. tudo isto que dava soieade
arawet este aspo amorfo, puc estr
turado sgundo as linhas cannic do
mundo prmitivo, reblde aliana e r
cipridade intitinte. m acrditei ter
achdo um rspta: a a em b
for clssic de dispitivo soiogentic
-a umtrmonial e a rlao de af
dade-havia sido, cmo tantas outra cisa
na cultura arawel, desloada da ter Q
o cu, ou melhor, para as relas c a
terra e o cu, entre humano e divindade.
A teologa arawet era diretamente U
soiologa, e no um fantasm su; a soie
dade inclua os deues e os mortos; e sua
metade visvel, o mundo humano, era a
pare subordinada de uma etrutura bierr
quic cmplexa, fundada n reiprocidade
diacrnic e asimtrca entre o humano
morais e os canibais imorais.
A detemo do etatuto "afnl" da
alteridade divin muito s aproveitou das
anlises de Manuela sobre a identifico
krah6 entre morto e af (um ter que
aparece em numers etnogfias, U
que ela soube explorr muito bm). Um
outr aspecto de su trabalho tambm foi
til ao meu. Sua defnio da Q krah
por p de dupla nego, onde a
identidades se cntituem plo emparelha
mento com "antnimos", onde algo s
plenmente si memo no momento de sua
negao pr uma figura contrria, onde "eu
sou aquilo que o que eu no sou no "
(Creiro da Lm 1978: 145), parecu
me oferecr um contrste fscinntecom o
dispitivo arwel (e tupi-g em ge
ri) de contro da Q e de pio
de identidades. O juzo ontolgic k
um prfeito exemplo de juz analtic, fun
dado em um lgic da oposio diacrti
ca.
20
Ora, o "mtodo cnibal" a esatologa
arawet e da soiologa guerira do tupi
nmb Qm ante ser um L de
juz sinttic a priori, onde a suplement
rdade prdomin sobre a cmplementari-
184 FlO S ITRC- 19210
dade, onde a pruo da identidade exige
um sda Q for do Usujeilo", uma in
corro da a1teridade de um modo din
mic, scrifcial mais que totmico, meto
nmic m que metfrico, onde a posi
o de "eu" e de uoutr" rverbrm sem se
deter em nnhum do plo; onde, fl
mente, a prdico anltic e atributiva d
lugar prdao sinttic e incrporante.
Et I de rciouio sriu par que eu
tentmrcr a singularidade do cniba
lismo tupi-g dentr 0 concps
da alteridade caracteticas das cosmolo
gas amndias, singularidade que rsumi
n f6nnula: "o Otr no um eplho, ms
um destin",
Ao fnal desta interpretao da cosmo
loga arwet, embaruei em uma ranli
se do complexo guerrir-canibal dos an
tigos Tpinamb, tomando Florestan Fer
nnde cmo principal interloutor. Flo
rstan trtou a vingana antropofgc
tupinmb como um culto aos mortos do
gup e um cmunho com os ancestris.
O ctivo de guerra era uma vtima sacrifi
cial que restablecia a continuidade da so
ciedade cm seu prprio pasado, a vin
gana cnibal era movida por uma "dial
tica inter". A religio tupinamb, de que
a guerra era um intrmento, er um culto
durkbeimiano da eunomia e da restauro
do "N cletivo",
Par chegar a eta interrto, Flores
tan prcisou rlegar ao plano das "funs
dervadas do scro humano"um aspec
to a meu ver esencial, a sber, o vaIor
iniciatrio da execuo do cativos (cndi
o indispnvel ao aL do homen
condio de adulto, cpau de terem f
lhos legtimos), bm cmo a mquina da
renomao e rnominao que gva em
toro da plz guerreira. Precisou subor
dinar as fn criativas e produtivas da
guer s" fun restauradoras e re
cuperadors, o futuro ao Q do, a relao
com o outr ao "N coletivo". Como
altertiva, propus uma viso onde os ini-
migo, mis que intermedirio entre vivo
e morto do gp, eram um plo esncial
de atrao da soieade; onde a vingan
er um fm e no um meio, e a more de um
membr do gup um mero pretexto par a
reproduo da relao soial intituinte,
aquela que s tratava cm o inimigo.
Assim cmo a soiedade arwet inclui o
Mai; a siedade tupinamb inclu seus
inimigo: era preciso repenar a geometria
simples de um pario entre "interior" e
"exterior" do sois.
Analisei o simblismo do cativo cm
cunhdo e cmo de estimo, sua
relao cm o doro feminino, sua fun
o de prtao mtrmonial, sua "uxori
loalizao" forada e as rla disto cm
a regr de rsidncia tupinamb, as cne
xs entre o casamento prferencial hiper
endogmico (avuncular) e a "hiper-exoga
mia" que era o Lento do cativo cm
mulheres do grp. Sublinhei o valore
esatolgics da more em mo inimigas,
ligados problemtic pan-tupi de imora
lizao pela sublimao da poro crrp
tvel da pessoa -alisei o cnibalismo do
ponto de vista da vtima, cmo sndo o
ritual fnerrio ideal. Finalmente, arris
quei-me a enfentar a queto do rito cni
bal, de interprtao terica espinhoa. A
leiturs "simblistas" e etrturalistas do
canibalismo, que prtndem ir alm da im
putao de crenas pic-bromatolgca
aos selvagen (do tipo "incrporao da
for" dos inimigos), ebarram num pro
blema bsic: o ato memo do cmer o
humano. Pois o efeito simblico visado
plo rtual, tal cmo imaginados plo an
listas, poeriam sr relizados sem a liter
lidade dos Thpinamb - cmo o so em
tantas culturas do planta -, que comiam de
fato seus cativo de guer. Apasgem ao
ato um problema maior Qas teorias do
ritual. Foi asim que, fore do que divisar
n etologa arwet, vim a definir o c
nibalismo tupinmb como um pOde
determino lgca plo inimigo, um "in-
o C NA SF V AVIST DA PR 185
crro da mde", que reundava
em um "pr-s no lugar do outro" de fora
incorrr su pnto de vista ma is que sua
subtncia. Meu argumento, simplemente
pto, que o cnibalism er um moo de
virr inimigo, e isto er o preso definidor
da identidade tupimb, identidade cn
ttufda inmcmnte pla, ou melhor, H
alterdade.
2t
Acho que isto pag as minhas dvidas.
ACnto apnas que mtese s preo
cupu em vetir eta interrta cm
ur cpiosa etnogfia, onde s fala da
ecnomia do milho e da c, da chefia, da
organizo ritual, da morfologia da aldeia,
do ciclo de vida, da sexualidade, da tica,
do xarnismo, da guer, do parentec ...
Cometi tambm excur cmpativos
que sem do mundo tupi-g: aSim um
melo lgc das onomstica amern
dias, outr das foras rituais da amizde.
Qm etnogfas e idias, alm da j
moiondas, sriram de moelo e dba
liz: as deJoano Overiug, de Peter Rivire,
de Patrck Mengel, de Ltine e Stepben
Hugb-Jone, a vasta Iitertur tupinolgca.
Mais tarde, reconhei no trbalbs de
mu colegas BrceAlbr, P-Lin
Tylor, Pbilipp Decla, Pbilipp Ern
IsabeUe Combs, Peter Gow, Cecilia
MOur Grahm Townleu, Dorque
GaUois, Rafel Basto, Vane a L, Arcy
Lp da Silva, Ndia Farage, e W de
mu alunos Aparecida VJlaa, Tania Stol
W mio Ferrir da Silva, mn
Atnio Gonlves, ND Hieatt, Mr
nio Teixeira Pinto, Carlo Fauto, quests
smelhnte s minhas, ou plo menos ma
triais que cnverem com o mu.
H888@00 800fC8D8I8
Dzsis atrs, uma cletn de
enaio sobr soiedades indgen sul-
amercn tria o subttulo de "Etnologia
do continnte meno conheido". A a ntro
ploga s contitui no sculo Aa parir
de realidades sco-culturais da fica,
Oeania, ndia e Amrica do Nore. AAm
rica do Sul eteve margem dete movi
mento sistemtic de investigao sobr as
formas no-uropias de vida soial, carc
tertic da moemidade tardia: o dio
sul-amercno foi o Selvagem da filosofa
dos sulo XV a X ,no Primitivo da
antropologa vitoriana (Taylor 198). No
cab aqui anlisar a clls - algumas
bvias -deste esquecimento; o imprante
obsrar que tna a problemtic da dis
ciplin, todo o seu tems e concitos
distintivo, foram folado no cntato cm
as socieade afcns, melanias, asiti
ca, nore-americans, e no seu ricohete
sobr os estudos da antiguidade eurpia: a
rciproidade, o totemismo, as linhgen, a
exoga . o mana, o tabu ... No dilogo
entre as categoria da ro soiolgica
oidental e o cnceito ntivos contrban
deado dentro da antrploga e ali
tranfonnado em nonnas tercs) as s
ciedades sul-americn smpr form ig
nordas ou pasivas. Quando algum de
rr em W s voltava par elas, com um
interes maior que o da coleta de iten da
cultur mterial ou de exotismos moris,
no fia seno a rra r confore crit
rio e quests impto de for, a nu
desta mistur de Rom antiga, fric e
Austrlia que et pr trs da imagem ge
nric de "sieade primitiva" entretida
pla antroploga. Psoieade das ter
baixas da Amric do Sul at bm pouc
estiolavam-s no limbo antrpolgico: mal
estudadas e pior entendidas, erm o terno
baldio onde vicejavam a formas de tni
o, o desenvolvimentos abrdo, os
perros involutivos, a adapts r
gs ivas, as "etrtur fuxas". Como o
concito (virdo noras) da antrpologa
no se aplicavam bem a elas, reolvia-s o
prblem no s as aplicndo ao concito.
186 ESlS u1RCO~ I992I0
Povo da nturez pr exclncia, o ndios
sul-americanos nunca chegaram a hu
um discuro propriamente soiolgco so
bre suas fonnas de existncia coletiva, nem
a gerar quests de intersse univerl.
Ai o amricnismo deixou poucas
marcas no acro da disciplina. Lntura
listas e etnlogos alemes que andarm por
aqui no sclo A e comeo do sulo
X no chegaram a se impr trdio
acadmica moera, embra tenham in
fluenciado decisivamente o americanis
mo: ele contituram o ndios como estes
Natirvolkm de interes museogfco e
psicolgco, que viviam fora da histria?2
O venervel Joumal d la Soit d
Amricaniste nunca ultrapassou as fron
teirs da subspcialidade eotrica, onde
arqueologia, lingstica, antroplogia e
amadorismo eclarecido cnviviam pacfi
ca e obscuramente. Nenhuma monografa
clssic, nenhum ensio terc relevante
se refer privilegiadamente aos ldios das
terras baixas sul-americanas, vtims de
indigncia antropolgica:
LAmazonie foumit au cmparatiste et
au gnrliste de mtraux ethnogap
biques, non des moeles d'analys g
nrux tels qu' en a four I' ethnologie
aficaniste (Ies Nuer, les liv ... ), asiatique
(l'Inde des cste, le Kacbin) ou o-
niste (Ies likopia, les Trobriand). A
I ' empirisme extrme, I 'absence de
spbistiction thorique s' a joute encor
le cractere 'bricol' des anlyss soio
logque en amricallisme: on fait avec
des cncept forgs aillurs, d'ou une
persistente indquation, resentie au
jourd'hui par tous les amricanistc, en
tr la ralit laqueUe ils snt confnt
et le outils scientifiques dont ils disp
snl... (Taylor 198: 217
Ete estado de coisas, denuniado bj
bastante tempo, cnhecu um revirvolta
bm ante da data em que aparecu a cole-
tnea acima evoda, mas os efeito de U
mudana s vieram a atingir uma O
crtica de dez par c. A rviravolt foi
a obra de Lvi-Strans, o primeiro graode
terico a trr cen as soiedades sul-
. . . -
amencn; e a masa cnUc so o num-
estudo monogfic de qualidade
que proliferarm na lti dcada. Hoje, as
lacuns do mapa etnogfc sul-amricno
cmem a ficr menor que as r co
nhecidas, das quais divers (o J-Boror,
os Yanom, o Thkano, o Crb da
Guian) j eto maduras para a empr
que se impm: uma clasifico tipolg
ca mis sofISticada que as dispnveis, um
Slt compartiva global, um eforo de
generalizo terica que rede fn nosos
intrmento concituais.
Falamos da rvirvolta lvi-strausiana
sofida pelo americanismo. Na verdade,
Lvi-Strn nun esveu um mono
gafia tpic, e sua cntribuio m in
fluente, e a mais propriamente "soiolg
ca" - Les m lmetairs d la
parnJ -refere-e muito puco Amrica
do Sul, em parte porque tal rego no hvia
sido, em 1949 (data da prmeir eio),
objeto de etudos sufciente par a incr
porar discus o do Iivro.2 Mas em pare
tbm cmo hoje etamo em condi
de ver, prque esta no uma rego que s
enquadra cm fcilidade no moelo glo
bais de "estrtur elementar de parnteco"
ali propto, como tmpuc no pardig-
- ma da "teoria da decndncia" da antrop
logia anglo-africnista, e isto que a tor
intersnte para a teora doparntc. Em
segundo lugar, a iage de soiedade
amerndia, e de "soedade primitiva" em
geral, que s pe extrir da obr de Lvi
Straus, notadamente de Tite trpie,
de seus arigo de divulgaoe de entrvis
M,exprime ur concpo steentista de
sociedade primitiva, onde o cntrste mo
ralizante com a moderdade oidental (e
memo cm ksieade p-neoltic)
o CAM NA SEVA VT DA PRA 187
f a eonmia de uma coniderao mis
detida da vida sial e pltic das ppula
amrias, em fvor de uma cmo
lga pimista e entrpic da queda do
hsim depis desta Idade de Ouro
que a Amric pr-lombian.
tal viso idelgic de Uvi-Stral ,
muito mis que Uanliss estrturis da
orgnizo soial e da mitologa, que ser
iDrrada pr Pierr Oalres e trnfor
mada em uma metafsica de gnde sucs
s (epcialmente for da antroplogia).
Unino "dixhuitimisme" a "sixanle-hui
tism", CIasls formulou um teoria
pltic, cisa que smpre faltou ao etr
turlismo; entretanto, partiu do lado tori
cmen.te mais conerador de Uvi
Strlls, aquele dos Nambikwar do Tis
te tropiqs, no o dos Borro ou Kadi
wu; e siologa sm soiedade do
etrturlismo, acabu rpndendo cm
uma soiedade sem soiologa - U que
pdermos chmar de o pior 0 dois
mundos.
24
Mesmo assim foi cm seu La
soiCOn l't que os fio sul-ame
ricno oferecram pla primeir .vez um
pardig subtantivo ao cnjunto da dis
ciplin,o que demntr quea conio de
8mrcnista de Lvi-Strus no foi dei
siva par a incrao do estrturlismo
antrplogia. E como muit trabalhos
rnle aletam a obr de Claslrs sriu
de aguilho par que s comga clo
cr no hornte a Uetno-soiologia", ou a
"ontologia "social" do pvo amernio,
que em Uvi-Strls pia sr apren
dida algo iniretamnte.
m a parir de 19, cm a publica
o de Ic cm cl lc cu|l, que a relidade
ameria deveria de fato prtender cida
dania antrplgic. Cm ete livro sac
deu a um esala cntinentl, decober
de temas e etrutur de mbito trnultu
r cpaZ de foreer um bae para
tenttivas de sntee cmpartiva.
Seno, em prpio, um etudo que se
rontra n mitologs indens do cn-
tinente, as Mytholgi iri o cntudo H^
velar algo que ainda no foi de too ro
nhecido pla teria antroplgc (e que
talvez nem mesmo sja aceito pr su autor,
nesles tenno): que os materiais simblicos
de que as sieade sul-ameriL lan
gmo Q s contiturem, e asim a
estturs contrveis pelo anlista, so
rfrato ctegorias uualmenteempr
gdas pla antrploga. Princpio cmo
lgco abstrato embutido em opies
de qualidades senveis, um dialtica da
identidade e da diferena recrrente e com
plexa, um lgic soial incrita no coro e
no fuxo mteriais, uma ecnomia desig
no e um soiologa de categorias - so
esles o materiais e pO o que parecem
tomr o lugar dos idiomas jurlistas e eco
nomicists com que a antropologia descre
veu as siedade de outras p do pla
neta, com su feixe de direitos e devere,
seus grp crrdo prtuo, seu r
gme de prpriedade e heran, seus mo
do de prduo linbageir ... Lnge de s
contiturem em contedos "supretrtu
ris" das culturs indgens sul-americ
ns, esles materiais e pO ariculam
uma lgca que imeiatamente soiolg
ca, e s enontram n "bas", com valor
estruturnte. Na verdade, est distino
entr "be "sUprestrtt", entr "rp
resentao" e "intituio", partilha to pr
sistente n ro soiolgca oidental, que
coub ao etrtursmo de Uvi-StrI
disolver (Lr 198: 137. A ncs ida
de det dis oluo foi j m algum tempo
sentida plo aricnistas, pois as soie
dade inens do cntinente pem s
cntituir em labrtrio prvilegado par
a desmontgem no s dos cncito de
mio alC da antroploga, como de
bpare de seu inniente teric.
por isto que as Mythologiqus IIO
eninam muito mis sbr a soiedades
amerndias que, pr exemplo, o textos do
mesmo autor sbr a chefa ou a guem na
Amric do Sul. Pkque s is e a
188 F8H81RC-J992I0
hoje consenual cntatao de que os mo-
-
delo anltico clssicos so indequados
par as soieade que etudamos, a tetra
loga de Lvi-Strauss foi a primeira tenta
tiva de apwnder as soieade do cnti
nente em sus prprios termo (empresa
"hennenutica", prtanto, que no esprou
o irterretativismo para s fa?er), bm c
mo de forcer um inventrio geral do
rprrio simblic a parir do qual cda
formao scio-cultural deriva suas dife
renas espcficas.
Lque se advoga acima no uma esp
cie de solipsismo hiprculturalista, que
acreditasse existir uma teoria prpria para
cda soiedade; no se trta de reivindicar
uma etnologia regionalista, presa fcil de
absurdos do tipo "terias brasileiras para
ndios brsileiros" e da por diante, mas
uma etnologia reginal. Trata-se de con
tatar o baixo rendimento das abrdagens
juralistas ou marxistas clssics, e de suge
m uma reflexo sobr os principios de
organi7o das formas soiais amerndias
que enrique o acervo de matrius anal
ticas disponveis. O reconhecimento de
que a prpetiva de Lvi-SU univer
salista, negando quaisquer bareirs esen
ciais entr formas soiais distintas no tem
p e no espa, no nos deve impdir de
prcebr que problemtics etnogrficas
divers favorcm o desnvolvimento de
I d'
26
As' A mguagen ,vers. ,m cmo a u-
trlia e o sudeste asitico "pruziram" a
teoria de alian de parenteco, a frica a
teria d linhagens, a Amrica do Sul
tropicl ainda et espra de um intuio
temtic euivalente, uma "controlling
metplor" capa? de srir de baliz.
Eta busca de uma linguagem aprpra
da s ralidade que etudamo vem mar
cando a etnologia sul-americanista recen
te. Sem ter deixado de ser o continente
menos cnhecido, a Amrica do Sul asis
tiu ns duas ltimas dcadas . um bom
etoogfic que perite aos otimistas es-
perarque o papl desmpenhado pla i
ca n anos 30 a 50, e pla Nova Ouin nos
anos a 80, caber Amaznia nos anos
vindouros -o de usin de modelo tericos
novos.
27
Tal expetativa comeou a ser
anunciada entre 1976 e 1981, em texto
progamtic que bucavam consolidar
as aquisie ento rcentes, formular o
termos da rejeio do moelos em curo,
propor temas e prblemas focais. Destaco
algun deste textos: o de J. Overing Ka
plan que intruzm e cncluem o simp
sio "Soial time and soial space in low
land South American scieties", realizado
no Congrso intemaciona I de americanis
tas de 1976, que se tomou o marco terico
da N contempornea da espeialidade
(Overing Kaplan [org.] 1977); ainda de J.
Overing Kaplan (1981), um notvel co
mentrio comparativo coletnea do et
nlogos do HarvardlCentral Brazl Project
(Maybur-Lwis [org. ] 1979); e o trabalho
introdutrio ao simpio "A cntruo da
pesoa nas sociedades indgenas brsilei
ras", reali7.do no Mllsu Nacionl em
1978, que Seger, mme eu esrevemos.
Ete ltimo trbalho avanava a idia de
que as soiedades indgens do cntinente
se caracteri7.riam pr
uma elabro particularente rca da
noo de pessoa, com referncia ep
cial corrlidade enqunto idiom
simblic focal ( ... ) sugerimo que a
noo de ge uma coniderao do
lugar ao cor humno n viso que a
sociedades indgens fazm de si mes
mas so cm bsic Q um
compreno adequda da orani7o
soial e cosmologia destas soieade
(Seger, mm & Vveiros de Castr
1979: 3).
E cm isto tentamo subtituir a cc
ter. es negativas 0 ora. so
ciais amerndias -smpre decrtas cm
"fluidas", isto , eluivas diante do par-
o CNA8OVANIAWA 189
digas afriLou autrlianos -pr uma
detennino psitiva. A fluidez siolg
c era um iluso de tica, um questo de
estar prrando a ordem W lugar errdo;
a aunia muito geral de gup defnido
"jurlmente" e d regas menics de r
lao entr estes gps sugeria uma %
pl lgc d qulidade snveis to
evidente Wclturs alilrias: er prali
que s deveria bWa etrutr soal.
Ete texto dervava de idias preentes
W trbalho de Matta, Seger e outros
j-logo, e em mnor mdida de minh
psquis recnte sbre o Yawalapti.
28
Embr evoando Maus, lvi-Stralls e
Dumoo! ele mnifetava tambm uma
gande infuncia do trabalhos de David
5ider e Lrd Gertz, da chamada
Ilantrploga simblic" american: o te
m da "g' caracertic desta orien
to. Fe sriu de guia par meu trabalho
sguinte com o Awet, embora quela
altura eu j no estives to slidrio com
cr apto seu. Asar de seu suL
bibliogfico ( muito citado), ele par
hje vago, georic, e demsiado a-soio
lgic, queimndo a pntes cm o rtante
da displin; falt ali, sbrtudo, um dilo
go mior cm a kmda a de c
mnto, isto , cm a km lvi-straussian
dparenteso. Meu prblem atual, alis,
peria sr rsumido nisto: cmo reler A
estura elmen r dprmco luz
do univer simblic mpado plas
Mytli.
Em 1978, a "crise de pardigmas" que
asola hoje a antroploga no etva to
clar para D-o que havia era uma feun
da crise de coneito. Mas o fato que o
otimismo amercnista prnec, pelo
meno W mio que freqento mis. Nos
Etado Unido, a polarizo entre pr
pctivas eclgcas e bnnnuticas no
deve etar dando espao para qualquer
cneno entuiasmado. A prpetiva
eolgco-materialista sempre teve o ame
ricnismo trpicl como um de su terr-
no de caa privilegiados, mas seu cn
fronto com o Ujdealistas" e Ilfonnalistas"
(os praticntes da antrploga simblic,
os etrturalists, etc.) nunc foi levado
ralmente a srio plos etnlogos de outro
pases, embora talvez o devess.
29
Quanto
ao ps-modermo, este ainda ml che
gou etnologia indgena do continnte,
embr o suc o de pblico e crtica da
frente pioneira abra pr Tausig (1986)
prometa seguidors; possivelmente tere
mo de aguentar muita bsteira para poer
ouvir alguma cis ba.
Nao creio que o movimnto de "retomo
do sujeito" que s poe ver na antrpologia
contemprnea -sja em nome do signifi
cado, da ao, ou do criticismo plifnic
-venha ter gnde influncia imediata s
br o americanismo tropicl, que ainda tem
pla frente a tarefa de sabr o que so eta
soiedades que estuda. Em tr, s existe
algum tema que rtom, trnformdo, e
com impacto crcial sobre a espcialidade,
oda histria. No maqui epa par falar
sobr isto; mas no rest dvida que ete
tema condena diferentes trajetria inte
lehais do ltimo ano, que ele pnnite
um dilogo crtico e uma cmplementar
dade (ou suplerntaridade) cm o etrtu
r Iismo, e que ele vem oupando a cn em
numeroos trabalho recentes. Natural
mente, foi preciso que a histria s etnolo
gzs antes que a etnologa pudes s
historicizr. Sr atravs da histria, de um
lado, e de um siologa rnovada do
mundo amerndio, de outro, que a perp
tivas at aqui estanque da etnologia ''tradi
cional" C da sociologia de ('oo1to" pe
ro s encntrar.
H8l0DI0SCO
Meu trabalho atual derva de algums
inatisfae ps oais com a tee sobr o
Awet. A etnogafia propramente dit,
V E8K8TMO-I992I0
de que me orulh btt. foi um pur
owda pela linguagem temerria que a
ador; sobrtudo. prebi que o nxos
entre a vida social arwet e minh apr
sento de sua cmologa no haviam
fcdo sufcienteunte explcitos: alguns
leitor devem ter tido a imprso que os
Arwet viviam no s cm a caba. mas
cm o rsto do rrpo n lua.
Em sum: faltava soiologa no temp
r. Faltava um trtamento mais conistente
do parntc. um das puc ras tm
tics do trabalbo em que ecnomizi nas
digscmpartivas. mpntam
bm dar um funento mis preiso a
meu esb de clasifca 0''toplo
gias soiai" amerndias: n V trbaJhei
com um opio entr um modelo de
soiedade abra a su exterior. que O
sita se exteriorizr para per interiorizar
rur simbUo cntitutivo de sua
for. e um melo de siedade fechada.
que introjeta e sializa a difern de uma
vez por todas. cntituindoe dialetic
mente cm totalidade pr excluo de um
exteror cncebido cmo mer comple
mnto lgic mm,um meio de no-sia
Iidade a fuoionrcomo fundo para a fora
sial. Trtare-ia de dois regmes da dife
rn ditinto, que chami de "soiedades
sm interior" e "soiedades sem exterior"
(ui outras plardades alegriO: sie
dade ICsacrifciais" vs. Utotmicas", Umeto
nmics" V8. Umetaf6rcas", "cntrfugas"
vs. "centrptas". etc.). onde s pe facil
mente reconbeer o Arawet e seus cng
nrs amzIoo - O grup da Guiana.
outr Tpi-GuaraI. o Jvaro -. de um
lado. e o l-Bororo. de outro. Er priso.
sbretudo. articlarestes dois regime. para
no m sir com mis uma daquelas dico
tomia que criam mais problemas que re
solvem.
A nW idade de dar um forao em
teria do parenteso ao alunos que come
ci a orientar no PPGAS a partir de 1984.
e que se encaminhvam para a etnologia
ingen. levou-me a rler em sUivo
cur a literatur prinente. Dtivem
no sobre a chamada ''teoria da aliana".
isto . 8 long linhgem de dismque
deriva d'As eua emears dpa
ro, examinndo seus desnvolvi
mentos mis recentes. Trbalhmos muito
sobre a ndia e o Ceilo drvidiano. pois
j m algum temp os etnlogo tm cha
mado a ateno para as semelhnas entre
as temlogias e rgras de aliana am
znica e o chmdo usislem dravidiano".
Lemos a prouo sobre o pa renteco na
AmazIa. onde s destacam os trabalho
pioneiros de P. Rivire e J. Overing. Re
centemente. abordamos a litertura sobr
as termnologias Ucrwmaha" e os "sis
temas semicomplexo", de modo a per
incorporar o l em H discusso.
Isto levou formulao de um programa
de puisa sobr O sistemas de parnte
amzIco. tanto Qverificr que moi
fca ele impm n teria clsic da
alian - seja na vero ortooxa lvi
strausian, seja n leitura de Louis Du
mont (que me inJuenou bastante) -. co
mo Q tentar foMr uma linguagem
soiolgica mais padronizda. capaz de
aprntar as forma sociais amerndias
a um pblic etnlgico no espcialzdo
no cntinente. Inter-m sobrtudo de
temnr o crrlato siolgico prei
6do tip gerl azIc de comologia.
Vou retomrao Arwet em breve; mas
no Qum etudo detalhdo de su siste
ma de parntes. que me exigira plo
menos Mumess cocntrdos de camp.
algo 'e n? tenho tempo nem sade para
fazr. Febnnente. algun etudantes do
PPGAS esto ralizndo pesquisas etno
grfics onde ete tem opa o primeir
plano. e os resultados tm sido mais que
promisor. Trnrevo abaixo o prlogo
do projeto de puis sobr que trabalho
b quatr B par que s veja cmo o
tema do parenteso s vincula ao meu tr
balho anterior.
LLAMNA8OVAYLAWA1A 191
Depis de dcadas de preeminncia,
quando foi ao memo temp mde pnta
e espinha dorsal da antrpologa, o estudo
do parentec abandonou o centro da disci
plin. O rigor mortis da esolstic "jura
lista", o bizntinismo das plmics teri
cas, o impaes do fonnalismo, a pnosa
aclimao de teorias de ambio univeral
fora de seu nichos etnogficos, tudo isto
desmbou em uma dvida metdic, teo
rizada pr autoridade arrpendidas com
David Schneider e Rodney Needham, lde
re, respectivamente, das veres adtural
relativista e antico-nihilista desta crz
da critica. Sintoma tpico de uma cincia
incera, os debate antrplgcs sbre a
nturez do parentesc foram encrrado
"not through unanimity but exhaustion"
(M. Strtbem).
Isto no quer dizer que os joris profJS
sionais temdeixado de publicar sobr o
asunto, ou que avanos lois no se pro
duziIam. Em algumas regi etnogr.icas
o progso do cnhecimento bneficiou
tmbm a teria do parenteco, cmo na
Melansia e n Amrica do Sul. Mas, de
mneir geral, pe-s dizr que o tema
andou em perigo de sucumbir pn
combinadas do historcismo rvisionista,
do ceticismo analtico e das ''teorias da
prtic". A voga hennenutic de origem
american, em particlar, deu um forte
contrbuio para o descdito do enfoue
siolgc dominnte na autropologia do
parnt, sem deixar ainda de bombar
dearo esforos de fonllalizo do cmpo.
Tal estado de coisa, de que ainda no
emergimos inteiramente, et longe de sr
apnas negativo. Os estudo de parentesco
esto hoje potencialmente libros de mui
tos armos. O citicismo histric os
alerta contra a crena n purz de seus
conceitos; o culturalismo, contra o prsu
psto da universalidade substntiva de su
refernte, e asim contr nturalismos di
vero; a vigilncia anltic e a sofstica
o etnognfic torm ingnus as simpli-
ficas tiplogsta e o mnejo negligente
de no como "camnto", "desen_
dncia)l etc.
O problema agor o de recntrir um
soiologia do parenteo snvel dimen
so simblic, livre da idia de que su
objeto um ordem eminnte, cpaz de n
intruzr diretamente ao univeral, ou de
que as siedades primitiva enntram 0
priori msu nvel etrtgco de desco
e su plano emprico de tolzo. S hoje
mum relativo conno quanto imposi
bilidade de s reduzr a "soiedade primiti
va)l ao parenteo - e mis m, s s
concorda que o lugar deta ordem de fto
em cada soiedade s detemvel a
psteriori -, deve-s entretanto admitir que
L ordem pode ser uma esclh analtica
interessante em ceros contexto.
Este 0 o cso das soiedades indgens
da Amaznia, que ainda esto spr de
um verdadeiro tratamento siolgico, c
paz de dissolver a antinomia hoje em
vigor. ecologia vs. cltur, histria vs. et
nog fia, ecnomia pltic vs. comologa
descritiva, soiologia do cntato vs. anlis
de mndas ideolgcas ... nl tratamento
permitiria, em paricular, diminuir a distn
cia entre o epcialistas em sieade
foremente ariculadas ao sistemas ncio
nis (que praticm uma siologa histric
esncialmente exterista) e aqueles vol
tado para soiedade "tradicionis" (que
preferem as abrdagen intemtas e sin
crnicas com nfase comolgic). E talvez
ele sja a condio para suprarmo defni
tivamente est Mcontraredade, sie
des "acutturadas", objeto da siologa do
contato, versus siedades "pur", objeto
da indagao culturalista. Uma soiologa
da Amaznia indgen pe sr a lingua
gem comum a ligr prsptivas que s tem
mantido estanques, spardas pr prn
cito mtuo.
Atacr eta trfa plo vis do parntes
c imp, no C prnte, um cntata
o imprnte: a de que o cncito intau-
192 T 8m81RO-I992I0
rador cm que op, o de Soeade,
um conito problemtic - memo, e
sbretudo, par aquelas fonn soiais
"tdicionais", que a etnologa tem temati
zdo com s conistisem em unidades
discreta, CUde mcorncia ex
prsiva. O clsic prblem da "unidade
de anlise" no aqui cntingnte, ms
contitutivo do objeto. Isto algo que o
idiom substanialista do "contto inter-
meou no pritia ver cm a clarz nea
sria: que s trta de um problema que
cmantes daquele, histrco, da aricu
lao do sistems amznic cm as so
cieade ncionais. O regme soiolgc
da Amaznia indgen colo-n, em sn
tes, o defo de elabrr um crtica no
nminlista da noo de Sieade.
O pro@de invetigao que inicia
mo uma anlis compartiva dos siste
ms de parnteo das sieade indge
ns da Amric do Sul tropicaJ, em particu
lar aquelas da Amznia brsileira. Tais
. sistems devem sr abrado em su di
ferente nveis (ctegorial, nrativo, em
pric), examindo em Sl prpriedades
fome ems" indnia soiolgcs.
m a exploro compartiva do pa
rente W sedades amznic no
implica o islamnto de tal ordem de fat.
Ao cntrrio, est deve ser tomada como
unidade sinttica orgnda por fluxos
ecollmiC, clasifics soiopltiOs
e equems comlgco. No prsup,
tampuc, que tl unidade sinttica seja ela
mem unificnte e sintetiznte, isto , que
ela seja um instncia ou "cigo" cm
qualquer privilgo. Aeslh do felme
nos de parenteso para a soiologa com
parativa da Amaznia sobrtudo ttica,
derivando d fator com a prciso e a
cmparbilidade dos materiai, a presen
de etruturs fonnais que obrigam abr
tur do enfoue mongrfco, e a psibi
lidade de um dilogo mais amplo cm o
colJ da teria antroplgca.
O estudo do sistemas amaznic de
parMno deve asim tom-lo cm
objeto aboluto, ou cmo rmetendo a
uma orem epcial dotada de valores de
temnte. Ahiptee de trabalh que no
guia, na verdade, segue n direo opt.
Po de um anlise das propriedade
lgcs das temlogias e das formas de
caamento, avaliando em sguida a infle
xo detes dispitivo por outro sistemas
de clasifico e pr sua interao com a
pragtic da ordeno das rede soiais
concrets, o que prtendemo sugerir que
o parenteso (alian e filiao) no um
intncia totalizdor do sois, mas ao
contrrio uma dimno englobada, subor
dinda e loal. Ao determinr su lugar W
estruturs da 8bilidade amnic, o
que visamo so o limite do parntes,
sua ciruncrio pr ordens e p
que se aprentam como emrgentes ou
como antepto (uma altertiva empca
e tericamente crcial) a partir deste regme
u0do parenkn regio .
O C do parnkaqui, ento, sra
o msmo que j s dise sr o da filoofia
ou o da histria: como elas, o parnk
"men tout, condition d'en sorir ... "
Ma que a tudo, entretanto, ele poe levar
no queto do too, dede que sja to
mado pr seus limite, pr seu exterior.
Uma cniderao do rgime loal do pa
rnteso amaznico permitir asim que se
inage sobr a condis de totalizao
do 8mamerndio, prblematizndo esta
totalizo, invetigando as condis de
emergncia de totlidades soiomol
gicas tomadas axiomaticmente como da
das. A queto, em suma, a de sabr se e
como s pe falar em Soieade -ava
tare da categoria da Totalidade -n C
das fon amaznicas; a de tentar
determinr as prpriedade globai destas
fonn frnte ao funcionmento loal
de sls estrtur d parnteco. No se
trt, as i de mis um explicao pr
crnia, tpica do americanismo tropicl,
o LANA8VA,VBDAWAIA 193
dum problemtiVo psitiva dos
limite dos pardigmas antropolgcs
quando defrontado cm a situao ama
znic. Trta-s de sabr qual a parte d
to neste cso.
Pas ados quatro aDOS, j halgun rsul
tdo defmido (Viveiros de Cstro . pre
k [1); Viveir de Cstro & Fausto H
prlo): a determinao da .fmidade poten
Ccmo categoria de bas da siabilida
de amaznic, cuja etrutur se crcteriza
plo englomnto hierrquic da conan
giiinidade pla afnidade, da afmidade real
pla a fmidade ptencial, do parenteso pelo
no-parenteso, do interior plo exterior, da
produo pla prdao; uma teoria sobre
a rlao entr a soologia da brestrita
e a ideologa da prdao ontolgca n
Aznia; uma crtic e uma generaliz
o do "sistema drvidiano" de Dumont a
parir do materais amnicos; um re
amdo csmento patrilateral n Am
ric do Sul e de su etatuto tcrico, que
question o do@ainda em vigor sbr
eta fora de aliana, e cpaz de levar a
um rformulao da Kn generalizda
do sistems de aliana propsta pr Fran
i Hritier (Hritier 1981; Viveiro de
Cstr 19, lIprelo [2)); o ebdeuma
estrutura de parentec cpaz de englobar
o drvidianto amaznico e o sistemas
smicmplexos de tipo j. Pmmuito
fzer. Depis disto, sr temp de passr
B outra cois: quem sb-rp"fa pr
blemtica do "cntato"?
ND88
1. Roub cnsiderae e exemplos de Pei
raoo 1992: 35.
2. A diferena entr a tadi 0 eIDoto
gias regonais pde chegar, em alguns pass, ao
cnfito idolgc abrto. Ek foi o cso da
Fran no fim do ano 70, quando o a(ricnis-
Ud prsuso marista deferirm M ataque
virulento contra o americnismo loal. acdo
de "soixantc-huitard". anarquista, idealista e re
adoorio, fundado em uma idologa do Bom
Selvagem. O alvos di retos erm RJaulin. P.
Oastes e J. Lizot, e pr tris dele, Lvi-Struss.
Aone-OIristine Taylor (198), a partir dete de
bate, caeveu um artigo obigatrio sobre o
cmp histrio e terio do "americanismo
tropicl", onde entretanto o que cW ao
contexto epcificmente brasileiro puc de
senvolvido.
3. "Notese a grande diferen que existe no
estudo de gups indigenas quando se os onc
b cmo situados no Brasil, ou quando s os
comprende como parte do Brdsil" (Peirano
1991: 73). Incluo-me obviamente W primeiro
cso se algo parte de algo. pra mim "o
Brasil" qu parte do cntexto em que eto os
grups indgenas que estudo. Minha auto-ef
nio cmo "americnista", diga-s de pasa
gem, uma orientao deliberada (e algo
provoctiva) para a comunidad acadmic in
teroaonal. em detrimento d uma na ao
cmp naconal, onde o Iotemismo terico e
pltio mais que o gegrfc (ete sria aqui
reundante, pis somos toos "americnistas"
mesmo quem odeia o rtulo cmpar.feliz aos
Congrsss Interaconais de Americnistas)
tende a prevalecr (op.ct.: 21). Para o leitor que
dejar cntrastar minhs opinies ipos
veis cm uma viso mais objetiva e analtic dos
rumos, cntexto e dilemas da antroplogia ba
sileira, em particular da etnologia indgena, os
trbalhos de Mariza Peirano (1991, 1992) e de
A1cda Ramos (199) so uma refernia funda
mentI. Para um dpimento recnte de um an
trplogo cm muito mais exprinca que _
abrdndo quete semelhante s que aqui
apnas M ver o prcptivo texto de Malta
1992.
4. Tito que o prinpl libi do etnlo
gos brasileirs da minba epe junto agn
cias fnaoiadras oficiais este, de que ele
etudam ppula brasileiras, ede que prtan
to su trablho de alguma forma rlevante pn
o ps enquanto tal. Ete cmpromiss ao menos
verbal (Q onde entr M fore dEo de auto
cnvencimento) cm a expativa de s etr
fazendo uma "cinda sodal inters ada" (pera
no 1991: 79) -o qu nia que dizer Wria-
194 F81 8wIRC-I992I0
mente uma cincia sdal interesant-tem sid
deisivo n fxar nosa etologia no estuo de
ndios dnt do terrtrio brsileiro. E tal exp
tativa uma das cisas mais D partilhadas no
cmp insttuconal e inteletual onde o etnlo
go ptisa se mover. Como princpio idelgic
ou cmo dispsio mental d sus patre, da
FUNAI s ONGs, passando pr numerosas
agncas fnancadoras. pla Igreja progressist,
plo elo-petismo de Darcy Ribiro e seus
admiradores, pla imprena, no h quem no a
entretenha em alguma medida. A obrigao de
justificr a puisa em trmos de sua imprtn
eia par a ompreno de "problemas" nacio
nais (cmo o "problema indgena") . Omo se
sab, uma cracerstic ds cincias soiais pra
ticd Mbpass prifricos, sobretudo daqueles
que vivem em ais cnica de idntidade (ou, se
prferirem, qu ainda eto a sofrer as dore do
-ntio-builingj.
.
5. Peirano (1991: 53-54) regstra o rment
ro de um profesor de Florestan Ferande,
elogando suas monogafias sobre o Tupinmb
cmo sendo o marc da recnstruo do pnto
zero da histria do Brasil . Outos, rmo Darcy
Ribiro, apntvam o deinterese de tais obras,
pr srem "desvinculadas de nosa temtic"
(op.cit.: 54). Amim, que no troo os maci,
mante e magstais eaitos etolgicos de
Floretan pr toda a su obra psterior, intere
sou-me precsamente isto: os Tupnmb e sus
cngneres eram a prta de srda da histria do
Brasil, etando, gras a Deus, desvinculado de
Mtemtic.
6. A outas duas, de P. Marc Amorim
sobre o Potiguar e de G. Zrr sobre os Awetf,
foram apresntads os primrdio dos ano 70,
etnd enle as primeiras d PPGAS.
7. Crdoo e Maybr-Lewis foram tambm
deisivo n onstruo das linhas de puisa
do PPGAS sobe o campsinato, cm su "Pro
jeto de Etudo Cmprado Nordete-Brasil Cn
trai". Registre-se ainda a passagem pelo
Programa, pr volta de 1971, dos etnlogs AI
cda Ramos e Kenneth Taylor, depis instalados
na UnB. Para a memria intitucional rente da
etnologia e antroplogia no Brasil, o leitor p
de-s reprar ao roteiro de Melalli (1983); para
o "poo heric" do PPOAS, e em geral para
a fas imediatamente anterior instituconaliza
o da antrplogia univeritria, vejam-s os
depimentos d Laraia (1992) e Cstro Faria
(1992).
8. A obervao de Sahlins (1988) sobre
teria do "World System" e sobre a tentativa de
E.Wolf de aitic-Ia, de que ambas terminam pr
ser expreso superetrutural do imprialismo
que depream. pr tranformar os pvos sub
metidos dominao ocidental em objeto pas
sivos, vtimas das leis de movimento do capital
sem qualquer autonomia cultural e projeto pl
tio prprio - eta obrao paree aplicr-se
prfeitamente a muito da produo paradigmti
c sobe a "aculturo" ou o "ontato intertni
c", seja pla nfas que tais estudos pem em
noes omo "integrao", seja pr um fundo
teric hegeliano que recle a cncitos cmo
"cnscincia infeliz". Para um exame atico
detalhado das terias da aculturao e do cnta
lo, ver Oliveira Filho 1988 (captulo J). Apres
me a admitir que isto que chamo imprecisamente
de "teria d ontato" atingiu hoje um nvel de
sofsticao terica elevado, e que as fronteiras
entre a etologia "clsic", pecupada cm o
estudo ou a reonstituio das formas culturais
tradicionais dos pvos indgenas, e a etnologia
"do cntato", que toma cmo pnto de partida
as etuturas de articlao pltic e enmic
entre este pvo e as socieades envolventes,
vm-se tomando cd vez mais fluidas, e isto
no rcnte. Autores cmo Terenc lUrer,
Robrto DoMatta, 1.C.Mela"i, BruceAlbrt,AI
cida Ramos, Dominique Gallois, Peter Gow e
muito outos ontriburam ou vm cntribuin
do, desde vrias dires, pra pavimentar o
abismo que separava tradiconalmente etas ver
tentes.
9. Ak-ShvanJe Soiet (Maybury-Lwis
1967), Ilablho que emuJa mongrafias dsi
L trazendo mente, em particular. ThNuer.
Mas o livro exib tambm uma forte influncia
de Fore e (m, sobretudo de um clebre
artigo de 1958 dete ltimo autor, sobre a termi
nologia d parentesc trobriandesa, que alis
marc a maioria dos trabalho do grupo do
Harard/Cntral Brazi l Project sobre o parentes
c e a morfologia soial j.
10. Aim, de meu dois professor, creio
que Malta s mollava ( p . . . ) mais um e
truturl-funconalista modulado pr Vctor Tur
Der e Lvi-Strus, ao pas que Seeger, tambm
infuencado pr V. Turer, prec-me repre-
o C NA SOVAVT DA PA 195
sntar cm bio a tadio cltualista d Qic
go. De too o grp d j-logo, apna Tereoc
Tumers idntifcr orento marxist, ioo
denvolver um moelo prprio e cmplexo de
interpetao das sedads j, cuja infunca
apnas agora cmea a s sntir. Taylor
(1984:217). em um ligeir aL de fuodamen
tlism, oga a ete grup quJqur filiao es
tturalista autntic: "aux U.S.A par ailleur.
I'intlucno relle de Lvi-Straus a t grnde
prtie toufe au pro(t d'une sore d morpho
logsme pseudo-structuralistedilfu ntamment
par Maybur-Lewis et se disciplc .... Par M
mapamento do cmp teric da antroplogia
no anos 60 a 80, ver o tablho de S.Otner
(1984), qu pnnite ruprar algo do ontexto
geral da formao que se nbia no PPOAS nos
ano 70.
11. Como no falarei disto adiante, e para
evitar passr uma impres o excivamente re
aconria, reordo que minha crreira d etnlo
go "clssic" no me impdiu de prticpar na
medid d minha omptnca da luta plos
direitos indgenas. Integrei pr dois mandatos as
cmiss indgenas da Aao Brasileira de
Antoplogia, fiz lobby no trblhos da Cn
tituinte, cmpreci a incontveis plestras e atos
pbios. esrevi a propsito deste ou daquele'
aburdo que se prptrava ontra o pvos ind
genas, arrisquei anlise d cnjuntura indige
nista, trablhei pla demarco do territrio
arawet etc. Etas atividde, cntudo, no deri
varam de uma ptic de pquisa voltda para
tais temas, nem chegaram (at agora) a direcio
nar meu trabalho como etnlogo - fui obrigado
asim, pr tempramento terir. a manter meu
"ppl cvico-pltic" (peirano 1991: 19,87) de
"inteletual" epialist em ndios distinto de
meu interese epulativos.
12. Sobre os Yawalapti, ver Vveiro de C
tro 1977, 1978 e 1979. Sobre os Arawet, ver
Vveiros de Cst 1986(1984], e a verso sub
tancalmente reista e moificda dest R
publicda recentemente em ingls (Vveiros de
Castro 1992).
13. Reaproveito uma ctao que usi alhu
M. "l|et grand temp, pur I ' ethnologie, d se
dlivrer de I'illusion o de toutes piers pr
les fonctionnaliste, qui prMent Je limite pra
tique ou le enferme le genre d'tud qu'ils
pronisnl pur de propit abolues des
objel au'qul. ils I . appiqunt Cn' . t ps
une risoo gqu'un etologue cntonne
pndant un ou deux W dans une ptite un
socale, baDe ou villag et s'eforo d la aaiir
cmme totlit, pU aoir qu'l d'aulr ni
veaux que olui ou la Wit ou I'oppnt
le placnt, ctt uni De s dissut ps l ds
deg dive do d ensemble qui retent le
plus souvent iDsouponns." (Uvi-Straus
1971: 545).
14. Como o difusionismo a teria ettu
ralista d histra. ACDcpO lvi-stausina
de histra es nalmente difuiooista, pis,
domnio extra e antietutural d evento pro, a
bistoricidade no pde sno ser o rum d
acs, da migrao, d coqu acdental de e
truturs . . "Evenemencalidad" aqui eventua
lidade; a noo d uma legalidade propiamente
histrc sera um oximoro. Ete difusionismo
histric, uma espacializao do temp, suger
ainda que histria sempre vem de for: da
naturea, de outras socedade. OlturalisOO et
nogrfr e dfusionismo histrc -no eue
mos a enorme drvida de Lvi-Strauss pr
a esola basian.
15. Ctic-se hoje a tendnca etgafos
a psar do que lhes dism inivduo, em
cntextos epfcs, a daras etetpi
ficantcs do tip: "O Bongo-Bongo pnam
que .... ,"OBongo-Bng dizem .... Sem dvi
da, h a um equematismo pigoo e uma in
duo selvagem, pra no falar de um fund
etocntrio que rncbra too di ind
gen cmo exprimino uma onca cleti
va monoltica. Por outro lado, parece-me
igualmente evidente que um indivdu pe
crar, derivar e delirr, mas isto no o libra d
sua circuDtnca. Vvem lembrand que os
Dogoo no so Ogolemmli, mas pr que
esu que Ogotemmli um dogn.
16. Citado pr Evans-Pritcbrd 1978: 28.
17. Tardiamente dprad d su B e
pirista, a antoplogia anglo-sxi expr agor
par o Brasil vras rers d plvora,
ente as quais s detc a idia de que no
do e interreto da rlidad que no
envolva uma cntJo sal e pitcmente
determinada do sujeito, QO objeto e do cnhei
mento, e a idia de que (d um cro pnto de
vist) tuo pnto de vista, text, disu. A
literatura sote a qLto, pr, cnt e muito
IV FI sH1RCo- I2t0
plo antrio abundnte. Aqui fa minhas
apnas estas pndera d Henano Vanna
(1988: 70-71), sobre a auada lextual ista de
Marcu, Fisher & Oa: "O que et sendo o|o-
cada em xeque a relao de pder existente
entre um escitor ativo e um objeto psivo, que
'Do U o direito' d falar sbre si prpro ( ... )
Nada tenho cntra es exprincias .... Pelo
puo qu i' li, pme etar em jogo uma
sofistico 'p-estruturalista' do antigo relis
mo, agora muito mais 'humilde' diante da dife
rena. Se no conseguimos dizer qual
exatamente o pnto de vista do nativo, temos que
encntrar brechas na nosa eaitura para que o
out fa ouvir, 'diretmente', sua voz. Existe
a uma supsio de que o outr quer falar para
o nos pbio. Existe tambm, pr trs de s
proptas libtrias. o ideal il uminista de que
todo sr clasifcdo omo objeto pasivo tem
que s tomar um sujeito ativo, memo ontr sua
vontade. Existe ainda, no cmbate ao realismo
etnogrfic, uma tola exigncia: todo anb'oplo
go deve sr peta."
18. "Angogique. A. Sanagogque-clui
de quatre sens de l'iture qui est cnidr
.
cmme le pu profond Cqui cnsiste muu
symble de coss cnstituant le monde divino
B. Employ para Liboiz omme adjecif du mot
inducion ... ( ... ) il rattache GMBU prcdeDt:
'C qui mne la supreme Cus', dit-i!... 'et
appl anagogique O le philosphe ausi
bien que ce les thologens ... . (l..lande, Vo
cabulir teliqut et crilique de la phil
phie, s.v.).
19. Eta decso Dad deve ao pmps tom
filosfic hoje em voga na antroJlogia, sobre
tudo Mstores mais expstos infuncia ame
ricana recente: Coi um tique pssoal, e uma
estratgia d apreentao.
2. Digo juzo ontolgic prqu ceio se
pr genralizar a frmula citada at um "o sr
aquilo que o no-sr no ". que me p
rumir prfetamente a dialtic j.
21. Neta interreto, m - como de
resto em m a mi nha anlis da omologa
arawet -ao cooi todleuiano de "devi r" ,que
me preu til pr pencher uma lacuna teri
c d disurs estrtural ista sbre lad "so
ficial" do pnsamento slvagem, Comeci a
ruminar ets idias em 1981; LM de en
to, o dvir dleLian foi bstante maltatad
pr um modismo bsbaque, prefiro no inistir
sobre o asunto. Longe de renegar a recundidade
do "instigante" pnsmento de Gilles Deleuze,
acho melhor agor, ontud, apnas subnten
d-lo e o aproveitar cm o mximo de discrio.
22. Vemais uma vez Taylor 1984, que cha
ma a ateno po papl de trrio que ocupa
esta viso oitootst alem dos Nalrolm,
dentro das imagens nturalists do ndio. entre o
Bom Slvagem francs do sculo XV e o
. Adaptativo universal" da eclogia cultural
amecicna do sulo X.
23. Registre-se entretanto que os arigs se
minais de Lvi-Straus sbre as organizas
dualistas no Brasil Cntral. eaitos n0 anos 50
(indufdos n Anthrplogie strudural) eto
diretmente na origem d movimento de restu
do dos l d dcda de 60.
2. Dus imagens de sciedade primitiva
pdem sr identifcadas em Li-Staus, epito
mizads reptivamente nos Nambikar e nos
Boror dos Triste trique: a mnada contra
tul rouseuista, que tmbm um organismo
natural em bmeots demogrfic-tooI6gi
c, e o crstal sool6gio, onde se exprme uma
geomelria cmplexa e ontraditra. Na mna
da, temos a pltic e a moral d estruturalismo;
no cistal , sua ettic e a sua lgc. Rel
ve- entrtanto que, cnrorme o pathas psi
mista que percorre Tristes tropiques, os
Nambikso menos o tip-ideal de soceda
de primitiva que su imagm, a miragem necs
sariamente i l usria deste mundo perdido:
"J'avais eercb uoe soil rduite s plus
simple expsion. Clle de Nambkara I'tait
au piol que j'y truvai seulement des bomme"
(195: 35). aaslres pivilega, cmo modelo de
socedade pimitiva, no os J e Bororo de L
vi-Straus, mas os euivalente organizconais
dNambikara, a socedade Acb
.
{uayal do
Paraguai, junto a qum fez su tablho decm
p -pvo morologicmente simples, nmadCy
pquo. Qundo roi ao numeYanomami
-arqutips de sua tra d guem prmitva -,
tralou- omo s fossm mnads acb mult
plicds.
2. VeTaylor (1984: 217-18), que obera
que Uvi-Straus marou a antroploga no en
quanto amerimt, Q enquanto teric da
etologa em gerl, e qu isto vale memo pra
o meio amecicnista. "sauf au Brsil-, No se
o CA NA 5IV7 NTIAWAA 197
quem ela tem em mente ao excluir o Brasil (e ela
pare etar incluindo tanto o americanismo eu
ropu e norte-americno cmo aquele praticdo
nos demais pse d Amric Ltina), no p
dendo ser o gruJ de Maybury-Lewis - ver a
nota 10 acima. De qualquer modo, bvia a
infunca lvi-strausiana em monografias me
morveis cmo a de J. Oveting Kaplan (1975)
sobre os Piaroa, as de C. Hugh Jones (1979) e S.
Hugh-Jone (1979) sbre os Barsana, e a de
Seger (1981) sobre o Suy. Ela tem entretanto
razo ao indicar que nenhuma cracteristic
mente amerndia entrou na corente geral de
discus antroplgics.
26. No suficiente, ou memo adequdo, o
tiJ de nominalismo que forecu algum temJ
no interior da atic ingles ao paradigma rad
clitTe-browniano (ver a obra de C ou d
famos discusso sbre os "modelos aficnos"
na Nova Guin), atitude que cnae em Bmpar
der todo os gtos, equecndo-se que princ
pi os uni versai s abstratos - "poder",
"etratgias", "prticas" - no subtituem te
rias loais, de mdio alcnce, adaptadas reali
dades que querem descrever. Toda teoria
antroplgica tem uma bse etnogrCc de elei
o, e espcal mente adequada a esta bs.
Nossa disciplina ainda no atingiu um etgio
onde seja fcil pssar do locl ao global, do
particular ao universal.
27. Aim, Taylor (1984: 216, 232), aps
castigar a situao "fssil" do americanismo tro
pical, fala de um "renouveau thorique qui
s'bauche dans la discpline depuis un dcnie'
e de uma "renaisanc innatendue".
2.Ver Jr exemplo a noode "cmunidde
de substncia" uada por Matta (1976) para c
racteri zar a ideologia do prenter apinay,
depis retomada pr Seger, e que pde sr
vinculada a um texto esencial de Melatti (1976
[19681), que salvo engano o primeiro a apntr
a centralidade sociolgica dos pro de
construo dual da p a j, plo "genjtor" -o
corp - e plo "nomi nadoc" - a prsonalidde
soial. De modo geral, a reiscusso pr Malta
do sistema sal apinay a parti r das idelogias
do parentec e da nomi nao foi deisiva cmo
anteente dcte artigo, da R d Scger e de
vrios trabalhos Jsteriore sobre o J e outros
pvos indgenas.
29. O rente livro de Dla (1986) sobre
os Jvaro acitou o deafo cm rara Qmptn
ei a. Diga.se que a plmica "material istas/dea
l istas", repreentada M americnismo topical
sobretudo cmo "eclogistas culturais v. sim
blistas e etruturalistas', cracterstica dos anos
70, es dando lugar agora a etudos mais srios,
elnogaficmente muito valioos, pr parte dos
'materialistas", e a uma cnscincia das deter
mi naes materiais menos preguiosa, pr parte
dos "idealistas".
30. Em 199t e 1992 fiz duas viagens aos
Arawet, de um m cd, no contexto de um
projeto ptrocinado plo Cntro Ecumnico de
Documentao e lnfonnao (CEDI). Demos
inicio a um programa de monitorao eolgic,
topgrfic e jurdica do territrio arawet. que
cmea a ser invadido pr ompanhias madei
reiras; organizamos uma expio multi meios
sobre o grup, inaugurada em So Paulo em
outubro de 1992 e etamo nos preparando para
manter um programa regular de armpanha
menta da situao do grup, combinando ativi
dades de psquisa e apio Jogstio. Preparei
ainda uma vero resumida, para pblic no-es
pedalizado, de minha etnogafia arawet, que
incrpora o que pude ver em minhas viagens ao
grupo em 198 e 1991-92(Vveiros de Cstro no
pre' [3]).
DO@l88
CARDOSO DE OLIVEIRA, Robrto. 1962.
"Estudo de reas de fio intertnica no
Brasil' , Amica Latina, V (3)j 85-90.
-. 1978 [1972].A soio"gia do Brasil mge
na. Rio de Janeiro, Temp Brasileiro/nB.
2m.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 1978. Os
mortos e os outros. So Paulo, Hudte.
CASTRO FARIA, Lus de. 192. "Devoo an
trollgic - as quatro etaes de uma via
triunfal" i n M. Cr & R. Laraia (org.),
Roberto Cardoo d Oliveira (omenagem).
Cmpinas, IFCnicmp, p.9-15.
CTE, Hlene. 1975. La terre sons mal:
le prophtisme tupi-guarani. Paris, Minuit
DAA, Robrto. 1976. Um mundo divido:
a estrutura soial dos ruiosApiny. Petr
plis, \res.
198
E1 s msrRc - 199110
-. 1992. "Relativizndo o interpetativismo" i n
M. Cra & R. Laraia (orgs.), Roberto Car
doso J Oliveira (hmenge). Cmpinas,
IFCH!Cmpinas, p.49-77.
DESCOlA, Pbilipp. 198. La mRdoesti
que: sbJisme Mprai daM I'olg,'e
des Achuar. Paris, Maisn de Sienc de
) ' Homme.
EVANS-PRITC, Edward. 1978. "Algu
mas reminiscncias e reOexes sobre o
ubbde cmp" in Bruxari orculos e
magi eJre osAzand (edio reumid pr
Eva Oi/lies). Rio d Janeiro, lhar Eitore,
p.298-316.
HKR, Franise. 1981. L'eereie de l
parJ. Paris, Seuil/Gallimard.
HUOH-JONES, Olristine. 1979. Frm tMMilk
Riwr: spatial and teporal presses in
Norhwst Amazoia. Cmbridge, Cmbrd
ge Univerity Pres.
HUGH-JONES, Slephen. 1979. TPaim an
m Pkiades: iniliation and cosmolg in
NOfhwst Amazonia. Cmbridge. Cmbrid
ge Univerity Pres.
L Roue de Baro. 1992. "A cmuni
dade de origem" i n M. Cra & R. Lraia
(org.), Robrto Cardos de Oliveira (e
Mgem). Ca mpi nas, IFCH/Campi nas,
p.17-24.
LVI-STUS, aaude. 1955. Trites tri
ques. Paris, Plon.
-. 197I. MhowgiquesJVL'Hommen. Paris,
Plon.
MAYBURY-LEWlS, David. 1967. AJ--a
vane Soiet. Oxord, lhe aacendon Prs.
MAYBURY-LEWlS, David (org.). 1979. Dia
lec/ieal Soielies: lhe G ant Boror 01
Cenral Brazi'. Cmbridge, Mas, Harard
University W.
MEL,Jlio Cr. 1976 [196&J. "Nomin
dor e geni tre: um aspo d dualismo
Krah" in E.Schaden (org.), Leituras de et
nolgia brasilira. So Paulo, aa. Editora
Naconal, p.139-4.
-. 1983. -A antrplogi a Brasil: um rotei
r", Trabalos e Cicias Soiais Srie
Ang i, nO . Brsnia, Universidde
de Brasnia.
OLIVEIRA FILHO, Joo Pachec de. 1988. '0
ISSO govero': os TicU e o rgime Iu/e/ar.
So Paulo, Editor Marc Zro /CNPq.
ORlNER, Shen. 198. "Thery in anllirop
logy sin lhe sixtie". Comparaliv S/udis
in Soie and History. 261): 126-6.
OVERING KAPLAN, Joanna. 1975. 7Pia
ro: a pople 01the Orinoco basin. Oxford,
Te aarendon Pr.
-. 1981. "Reviewaricle: Amazonian anlbrop
logy", Jourl ofLatin American Studies,
13(1): 1515.
OVERING KAPLAN, Joanna (or.). 1977. "S
eial time and socal space in Lwland Soutb
Amencan soieties" in Actu JX I Con
g Il/erlJionl dsAmriamistes (1976),
volume ll.Paris, Soct de Amricnistes,
p.7-394.
PEO. Mariza. 1991. Uma antropologia M
plural (tr eerincias contemprneas).
Brasnia, Editora UnB, p.51-84.
-. 1992. "0 antrplogos e sus linhagens" i n
M. Crr & R. Lraia (org.), Robrto Car
doso d Oliveira (homenagem). Cmpinas:
IFlnicmp, p.31-47.
kOS. AIcida. 1990. "Ethnology Brazi lian
style". Trabals em Cicias Soiais Srie
AlJropologia. nO 89. Braslia, Universidade
de Brasl ia.
SAHLINS, Marshall. 198. "Csmologias do
capitalismo: o stor trans-paeifoo do 'Siste
ma Mundial .. Anais da X Reunio
Brasilira de Antrpowgia (1988). Campi
nas. As ocao Brasileira de Antroploga.
p.47-105.
SEEGER, Anlhony. 1981. Natur ."d Soiet in
Cenral Brazi/: lh Su Indian o Mala
Grosso. Cmbridge. Mas. Harard Univer
sity Pr.
-, RohrtoDA A& Edurdo VIVEIROS
DE CASTRO. 1979. "A cns!ruo da ps
soa nas soceades indgenas brasileiras".
Bolli do Museu Naci onal, nQ 32: 2-19.
TAUSSIG, Michel. 1986. Shomanism, Colo
nialism, and lhWlMa,,: a study in terror
and Maling. Olicago, 3Univerity ofChi
cago Pres.
TAYLOR, Anne-Olrisline. 1984. "L'america
nisme tropical, une frontire fossile de
I 'etbnologie?" In: B.Rupp-Eisenreich (org.).
Hisloires de I'anhroolgie: X-X si
cks. Pars, KJinkied, p.213-33.
NA JR., Herma"o. 198. O mundo funk
carioca. Rio de Janeiro, Jorge Zhar Editor.
VIVEIROS DE CASTRO, Edurdo. 1977. lndi
vfduo e sociedade no Alto Xingu: os
Yawalapti. Dissrtao d metrado apre
sentada ao PPGAS do Museu Nacional.
UFRJ.
o C NA SEVA V1ODA PRAA 199
-. 1978 . Alguns aspectos do pensamento ya
walapti (Alto Xingu): classificaes e
transformas", Boletim do Museu Nacio
nal, c".
-. 1979. "A fabrico do cr na soied
de xinguana, Boletim do Museu Nacional,
nO 32.
-. 1986. Araweti: os deuses canibais. Rio de
Janeiro, Jorge Zhar Editor /ANPOC.
-. 1990. "Princfpios e parmetos: um cmen
tri o a L'exercice de la parente ..
Comunicaes do PPGA, nO 17.
-. 1992. From |henemy's poim of view: hu
manit mdivinit in anAmazonian societ.
Olicago, The University of Clicgo Pres.
no prelo (1] _. Alguns asptos da afinidade
no dravidianato amaznic" in E. Vveiros de
Cstro & Creiro da Cunha (ogs.),Ama2
nia: etnlogia e histria ingen. So Paulo,
Ncle de Histra Indgena e do Indigeais
mo / USP.
no prelo [2] - "Structures. rgimes. strat
gies", L'Homme, 12 (janv.-mal 1993).
no prelo [3] -Arawel: o g do Ipiun.
So Paulo, CEDI.
VIVEIROS DE CTRO, Eduardo & Crlos
FAUSr. no pelo. puisance et I'ade:
la parenr dns le base krr l 'Atri
que du Sud", L'Homme, 127-129
(ot.-1993), n' thmatique Anthrplo
gie et histoire de socit amazoniennes".
Eduardo Vveiros de Castro profesor do
Progama de Ps-Graduao em Antroplogia
Socal do Mueu Naconal da UFRJ.
Você também pode gostar
- Ladino + Ficha de TrabalhoDocumento6 páginasLadino + Ficha de TrabalhoHelena Moita BoullosaAinda não há avaliações
- Guia Definitivo Do Marketing ImobiliárioDocumento57 páginasGuia Definitivo Do Marketing ImobiliárioConcursoSocialBrasil Concurso100% (3)
- Joaquim Nabuco. Obras Complestas. Vol.13 Cartas A AmigosDocumento325 páginasJoaquim Nabuco. Obras Complestas. Vol.13 Cartas A AmigosJoão Paulo MansurAinda não há avaliações
- 250 Provérbios Árabes PDFDocumento20 páginas250 Provérbios Árabes PDFVictorHelvécioMartins100% (1)
- Resumão Imunologia - Parte 2Documento22 páginasResumão Imunologia - Parte 2Gabriela VazAinda não há avaliações
- MapavédicofabioassunçaoDocumento5 páginasMapavédicofabioassunçaoelaineestrelaAinda não há avaliações
- CruzDocumento12 páginasCruzEdward D. JimmyAinda não há avaliações
- Preço Sugerido para Serviço Fora de GarantiaDocumento2 páginasPreço Sugerido para Serviço Fora de GarantiaPerionda NoronhaAinda não há avaliações
- Apostila de File SystemsDocumento13 páginasApostila de File SystemsWilliamRochaAinda não há avaliações
- África ContemporaneaDocumento6 páginasÁfrica ContemporaneaCarlos NériAinda não há avaliações
- Ca1394 AnexosDocumento63 páginasCa1394 AnexosPEDROAinda não há avaliações
- Lamina XP Tesouro LFTDocumento1 páginaLamina XP Tesouro LFTJoão VitorAinda não há avaliações
- Estudodassolucoes 2013Documento38 páginasEstudodassolucoes 2013Vanin Silva De SouzaAinda não há avaliações
- Karenina San Tosca LargaDocumento148 páginasKarenina San Tosca LargaMarcus Vinícius SpositoAinda não há avaliações
- Editado - Atividades de ConjunçõesDocumento1 páginaEditado - Atividades de ConjunçõesKLINE VICTORIA NOLETO MEDEIROSAinda não há avaliações
- A Liturgia JudaicaDocumento19 páginasA Liturgia JudaicaDaniele Rocha100% (1)
- 2012 37 4433 PDFDocumento13 páginas2012 37 4433 PDFnazanoAinda não há avaliações
- Estudo de Cenário Do Desporto e Do Lazer Vale Do TaquariDocumento14 páginasEstudo de Cenário Do Desporto e Do Lazer Vale Do TaquariSabrina BruxelAinda não há avaliações
- 10 - Gestao Da Qualidade em Laboratorios de Analises ClinicasDocumento6 páginas10 - Gestao Da Qualidade em Laboratorios de Analises ClinicasdiogoianoAinda não há avaliações
- Diagnóstico Organizacional - PesquisaDocumento3 páginasDiagnóstico Organizacional - PesquisachriscostAinda não há avaliações
- Técnicas de Realização de Exames em Ressonância MagnéticaDocumento94 páginasTécnicas de Realização de Exames em Ressonância MagnéticaAntonio AmaralAinda não há avaliações
- PROPORÇÃO ÁUREA: Guia para Criação de Marcas - Versão 02Documento54 páginasPROPORÇÃO ÁUREA: Guia para Criação de Marcas - Versão 02Klayton RenanAinda não há avaliações
- Esteban - Maria Teresa. Avaliar Ato TecidoDocumento2 páginasEsteban - Maria Teresa. Avaliar Ato TecidoMichelle A. FernandesAinda não há avaliações
- Histologia e EmbriologiaDocumento39 páginasHistologia e EmbriologiaJohn Mesquita100% (1)
- Avaliação 8° AnoDocumento2 páginasAvaliação 8° AnoKatia Cristina100% (2)
- Colocação de Implantes Dentários em Doentes Que Fazem Tratamento Com BifosfonatosDocumento5 páginasColocação de Implantes Dentários em Doentes Que Fazem Tratamento Com BifosfonatosTiago Araújo100% (1)
- VS XV-2 (TXT - 05)Documento18 páginasVS XV-2 (TXT - 05)Edoardo GolinskiAinda não há avaliações
- Reestruturando o Alicerce Familiar - C. S. CordeiroDocumento159 páginasReestruturando o Alicerce Familiar - C. S. CordeiroEmerson Luiz BertoniAinda não há avaliações
- Ficha de Revisão CNTDocumento5 páginasFicha de Revisão CNTPilar BugioAinda não há avaliações
- Calculo R2Documento55 páginasCalculo R2CayopereiraAinda não há avaliações