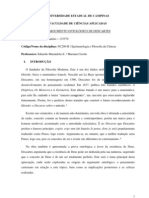Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Utilitarismo - Utilitarismo (John S Mill) - Tradução Por Pedro Galvão
Enviado por
Luiz Fernando Rodrigues FerreiraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Utilitarismo - Utilitarismo (John S Mill) - Tradução Por Pedro Galvão
Enviado por
Luiz Fernando Rodrigues FerreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
J ohn Stuart Mill
Utilitarismo
~ PORTO EDITORA
COM O APOIO CIENTFICO DA
SOCIEDADE PORTUGUESA DE FILOSOFIA
13
Introduo, Traduo e Notas de
Pedro Galvo
FEVI2005 ISBN 972-0-41083-3
Execuo grfica: Bloco Grfico, Lda. R. da Restaurao. 387 4050-506 PORTO' PORTUGAL
7
47
83
41
75
67
109
117
121
Indice Geral
Anexos
Da conexo entre justia e utilidade
Notas
Bibliografia
ndice analtico
Do tipo de prova que o princpio da utilidade admite
I~'
O que o utilitarismo
1 1 1
Da sano ltima do princpio da utilidade
1. outilitarismo e lohn Stuart MiIl
2. Epistemologia moral
3. A teoria do valor: hedonismo
4. A teoria da obrigao: consequencialismo
5. Motivao moral
6. A prova do utilitarismo
7. A objeco da justia
8. O utilitarismo depois de MiIl
9. Leituras
IlW IW ! I! l! lm m m lm " " & D II I. J 9~
9
13
14
18
26
27
29
32
37
l~m F.W iI=-=I'l(:J -." i:J .It::Itt=U]
gl _
Observaes gerais
Utilitarisl/lo, de Jolm Stuart Mill
Pedra Galvo
Porto Editora
Ttulo:
Autor:
Editora:
Pedro Galvo
Licenciado em estre em Filosofia pela Universidade de Lisboa, onde prepara agora o
doutoram ento, com um a bolsa de investigao daFundao para aCincia eaTecnologia,
na especialidade de tica. Mem bro da direco da Sociedade Portuguesa de Filosofia.
Participou em vrias publicaes apoiadas pelo Centro para o Ensino da Filosofia
desta instituio, e tam bm autor de artigos de tica norm ativa. Publicou diversas
tradues de obras filosficas eedita um a revista electrnica de filosofia m oral e
poltica (www.trolei.net).
Reservados todos os direitos.
Esta publicao no pode ser reproduzida, nem transmitida, no todo ou em parte, por qualquer pro-
cesso electrnico. mecnico, fotocpia, gravao ou outros, sem prvia autorizao escrita da Editora.
~ PORTO EDITORA Rua da Restauraco, 365 4099-023 PORTO' PORTUGAL
www.portoeditora.pt E-m ail pe@portoedilora.pt Telefone (351)226088300 Fax (351)2260883 01
PORTO EDITORA, LDA. - 2005
Rua da Restaurao. 365
4099-023 PORTO - PORTUGAL
Nota de apresentao
Esta traduo do Utilitarisl1lo foi realizada apm tir das edies organizadas
por Geraint W illiam s (Everym an, 1996) e Roger Crisp (Oxford University
Press, 1998). Am bas baseiam -se na quarta edio da obra (1871), a ltim a
publicada durante avida deJ . S. Mill. Alm das notas deW illiam s edeClisp,
consultei aedio castelhana de Esperanza Guisn (Alianza Editorial, 1984).
Tanto na Introduo com o nas Notas deste livro, tentei no s e1ucidar
o contedo do Utilitarisl1lo sem pressupor quaisquer conhecim entos filo-
sficos prvios, m as tam bm situ-lo no contexto filosfico actual. Espero
que esta opo, alm de alim entm ' a cm iosidade pelos problem as e teorias
que se discutem na filosofia m oral, deixe claro que o valor desta obra de
Mill no m eram ente histrico.
As referncias ao Utilitarisl1lot indicam o captulo e o pargrafo em
causa. Por exem plo, 2.3 refere o terceiro pargrafo do Captulo 2. Nas refe-
rncias relativas aoutras obras deMill, os nm eros indicam , respectivam ente,
o volum e e apgina da edio de J ohn Robson m encionada na Bibliografia,
Este livro beneficiou im enso das revises e sugestes de Teresa
Castanheira, Pau1aMateus, Pedro Madeira, Ricardo Santos e lvm 'ONunes.
Agradeo-lhes calorosam ente toda a ateno que dispensm am . Estou tam -
bm grato ao Prof. Antnio Franco Alexandre por m e ter orientado no
estudo da teolia m oral de Mill. Por fim , no posso deixar de referir o apoio
financeiro da Fundao pm 'a a Cincia e a Tecno1ogia e do Fundo Social
Europeu no m bito do li Quadro Com unitrio de Apoio. Agradeo aBolsa
deD outoram ento (SFRH!BD/9016/2002) que m efoi concedida.
- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. O utilitarism o eJ ohn Stuart Mill
Um a parte im portante da filosofia m oral resulta do problem a de saber
com o devem os viver. O utilitm ista enfrenta este problem a declm oando que
devem os perseguir afelicidade - no s anossa prpria felicidade, m as a
felicidade de todos aqueles cujo bem -estm opoder ser afectado pela nossa
conduta. Os interesses do agente no tm , na verdade, m ais im portncia
do que os interesses de quaisquer outros indivduos, sejam eles quem
forem . D este m odo, o utilitarista advoga um a estrita igualdade na conside-
rao dos interesses. O padro ltim o da m oralidade, diz-nos,
unicam ente a prom oo im parcial da felicidade. J ohn Stuart Mill expri-
m iu assim aideia central do utilitarism o:
o credo que aceita a utilidade, ou o Princpio da Maior
Felicidade, como fundamento da moralidade, defende que
as aces esto certas na medida em que tendem a promo-
ver a felicidade, erradas na medida em que tendem a
produzir o reverso da felicidade. (2.2)
Apresentado desta m aneira, o utilitm oism o pode at pm oecer um a dou-
trina quase trivial e dem asiado genrica para ter algum valor prtico.
Com o se tornar claro, nada disto verdade. Se fosse pouco m ais do que
um trusm o inofensivo, a perspectiva utilitarista no teria enfrentado,
9
Ulilitarismo
desde que foi proposta, aforte oposio de m uitos filsofos. E essa oposi-
o tem resultado, em grande m edida, do facto de o utilitarism o ter
consequncias prticas que m uitos no esto dispostos a aceitar. A rele-
vncia prtica do utilitarism o, alis, torna-se m anifesta logo que
exam inam os os debates m orais e polticos m ais im portantes em curso:
quando, por exem plo, se analisa a m oralidade do aborto ou da eutansia,
se investiga com o devem os reagir s desigualdades sociais e pobreza
absoluta ou se discute com o devem os tratar os anim ais no-hum anos ou o
am biente em geral, os argum entos utilitaristas assum em um lugar proem i-
nente sem pre que o debate filosoficam ente inform ado.
No entanto, o credo fundam ental do utilitarism o inegavelm ente
vago. Afinal, em que consiste a felicidade? At que ponto estam os m oral-
m ente obrigados a prom ov-la? E com o afectar a sua prom oo o m odo
com o devem os tom ar decises? Estas so apenas algum as das questes que
o utilitarista tem de esclarecer. E, com o seria de esperar, m uitas vezes os
utilitm istas divergem profundam ente na m aneira com o desenvolvem a sua
perspectiva transform ando-a num a teoria m ais precisa. Nas seces 4 e 5
desta Introduo, quando enfrentarm os o problem a de identificm ' o tipo de
utilitm ism o que Mill advoga, o leitor poder form ar um a noo da conside-
rvel diversidade das tem ias utilitm 'istas disponveis.
Mill no o fundador do utilitarism o. Esse epteto costum a ser atri-
budo a J erem y Bentham (1748-1832), que props a doutrina na
Introduo aos Princpios da Moral e Legislao (1789). No entanto, em
virtude da sua m aior conciso e acessibilidade, foi o Utilitarismo que se
tornou a obra em blem tica da tradio utilitarista, sendo hoje um dos
clssicos da filosofia m oral m ais lidos e discutidos. Esta obra foi publi-
cada pela prim eira vez em 1861 ao longo de trs edies da Fraser's
Magazine, um a revista intelectual dirigida a um pblico bastante am plo.
Mill tinha ento cinquenta e cinco anos. Porm , reconhecia-se convicta-
m ente no utilitarism o desde a adolescncia, altura em que teve o prim eiro
contacto com o pensam ento m oral de Bentham . Na sua Autobiografia
(1873), descreveu a adeso entusistica ao Princpio da Maior Felicidade
(ou princpio da utilidade): Este deu unidade m inha viso das coisas.
Agora eu tinha opinies, um credo, um a doutrina, um a filosofia e, num
dos m elhores sentidos da palavra, um a religio, cuja inculcao e difuso
poderia tornar-se o principal propsito exterior de um a vida (1. 69).
D e certo m odo, a poderosa influncia de Bentham em Mill recua
quase ao seu nascim ento, em 1806, na cidade de Londres. O seu pai, o
filsofo e econom ista J am es Mill (1773-1836), inclua-se entre os radi-
10
1
Utiltlarismo
cais filosficos, um grupo liberal orientado por Bentham que m arcou a
vida poltica da Gr-Bretanha. Em penhado em fazer de J ohn Stuart um
lder intelectual do m ovim ento filosfico institudo por Bentham , J am es
Mill sujeitou-o aum a educao extraordinariam ente exigente: f-lo com e-
ar a aprender grego logo aos trs anos e latim aos oito; aos doze anos
Mill j tinha lido todos os dilogos de Plato, e pouco depois, alm de
dom inar os elem entos bsicos da econom ia, era versado em histria,
lgica em atem tica.
Por volta dos vinte anos, esgotado por todo este treino intensivo que
inibiu o seu desenvolvim ento afectivo, Mill sofreu um a profunda depresso
nervosa. A poesia, especialm ente a de W ordsworth, parece ter desem pe-
nhado um papel im portante na sua recuperao. Superada esta crise, Mill
m anteve-se fiel aos princpios fundam entais de Bentham , ruas alargou con-
sideravelm ente os seus interesses e procurou novas fontes de inspirao
estudando autores com m ientaes fIlosficas m uito diversas.
Ainda na casa dos vinte anos, Mill conheceu e apaixonou-se por
Harriet Taylor, a m ulher que m arcou profundam ente a sua vida afectiva e
se tornou um a fonte decisiva de estm ulo intelectual. Em bora fosse casada,
Mill m anteve sem pre com ela um relacionam ento m uito prxim o.
Acabaram por casar em 1851, dois anos aps a m orte do seu m arido. O
casam ento foi feliz, m as infortunadam ente breve: em 1858, durante um a
viagem aAvinho, Harriet Taylor m orreu.
A vida profissional de Mill foi alheia ao m eio acadm ico. O seu pai
preferiu m ant-lo afastado das universidades eproporcionou-lhe um a cm '-
reira na Com panhia das ndias Orientais. Mill trabalhou nesta instituio
at sua dissoluo, dispondo de m uito tem po para actividades intelec-
tuais e polticas. A par da investigao filosfica que o celebrizou,
alim entou um a profusa correspondncia e escreveu incansavelm ente pm 'a
vrias revistas. A eleio para a Cm ara dos Com uns, em 1865, repre-
senta o seu sucesso poltico m ais assinalvel. Apesar de no ter
conseguido a reeleio, Mill foi bastante aplaudido pela sua defesa dos
direitos das m ulheres e das classes trabalhadoras. Passou os ltim os anos
de vida em Avinho com Helen, a sua enteada. Morreu em 1873, tendo
sido sepultado ao lado da sua m ulher.
Mill costum a ser considerado o m aior filsofo de lngua inglesa do
sculo XIX. Alm do Utilitarismo, as suas obras filosoficam ente m ais sig-
nificativas so Um Sistema de Lgica (1843), Exame da Filosofia de Sir
William Hamilton (1865) e, no dom nio da filosofia poltica, Da
Liberdade (1859). Nas duas prim eiras obras, Mill desenvolve um a filoso-
11
Ulililarismo
fia geral que se reflecte na sua teoria m oral. Na verdade, para com preen-
derm os o Utilitarismo devem os ter em m ente dois aspectos dessa
filosofia: o em pirism o eo associacionism o.
D e acordo com o em pirism o, todo o nosso conhecim ento se baseia,
em ltim a anlise, nos dados dos sentidos ou na experincia. O raciocnio
puro, alheio a qualquer experincia, no proporciona qualquer conheci-
m ento genuno - no existe conhecim ento a priori. Mill, indo m ais
longe do que a m aior parte dos em piristas, defendeu que at a lgica e a
m atem tica so em pricas.
O associacionism o um a teoria sobre o funcionam ento da m ente
hum ana. Segundo esta perspectiva, as nossas ideias (todas elas baseadas
na experincia) estabelecem relaes entre si atravs de leis gerais de
associao. A tarefa da psicologia descobrir essas leis e us-las para
explicar o com portam ento hum ano. Veja-se, por exem plo, com o Mill des-
creve a Segunda Lei da Associao em Um Sistema de Lgica:
Quando duas im presses foram frequentem ente experienciadas (ou at
se pensm os nelas) sim ultaneam ente ou em sucesso im ediata, sem pre
que um a dessas im presses, ou a sua ideia, se repete, tende a excitar a
ideia da outra (8.852). Se, por exem plo, sentim os repetidam ente frio
sem pre que seguram os em neve, tenderem os apensar em frio quando vir-
m os ou pensarm os em neve.
No que diz respeito filosofia poltica de Mill, im porta referir o seu
trao fundam ental: a defesa do liberalism o. Em Da Liberdade, persegue-se
o objectivo de estabelecer o seguinte princpio, conhecido por princpio da
liberdade: o nico fim para o qual os seres hum anos esto autorizados a
inteIferir, individual ou colectivam ente, na liberdade de aco de qualquer
indivduo a sua prpria proteco (1.9). Este princpio im plica, entre
m uitas outras coisas, que toda a legislao destinada unicam ente aim pedir
que as pessoas conduzam m al a sua prpria vida inaceitvel. D esde que
isso seja com patvel com aliberdade dos outros, cada indivduo deve poder
seguir o curso de vida que lhe parecer m elhor. Um problem a interessante
o de saber se este princpio ser sequer consistente com o utilitarism o.
Afinal, a tica utilitarista diz-nos para prom over im parcialm ente a felici-
dade. Isto significa que ser perm issvel lim itar a liberdade individual (por
exem plo, inibir a liberdade de expresso) sem pre que essa lim itao d m i-
gem a um m aior total de felicidade. Nessas circunstncias, parece que um
utilitarista teria derejeitar oprincpio da liberdade.
12
UliIi(arismo
2. Epistem ologia m oral
O prim eiro captulo do Utilitarismo consiste sobretudo num a breve
incurso na rea da filosofia m oral hoje conhecida por m etatica. Nesta
rea no sediscutem questes valorativas ou norm ativas (isso corresponde
cham ada tica norm ativa, na qual se enquadra a m aior parte desta obra),
m as problem as m ais abstractos sobre a prpria natureza da m oralidade. O
problem a m etatico aflorado neste captulo um a questo de epistem ologia
(ou teoria do conhecim ento) m oral: com o sabem os o que est certo ou
elTado?
Um a soluo para este problem a im plica postular aexistncia deum sen-
tido m oral queintui aspropriedades m orais em cada caso particular. Tal com o
aviso ou aaudio nos perm item percepcionar' cores esons em objectos par'-
ticulares, tam bm este sentido nos m ostrar'ia directam ente que determ inados
actos so certos e outros so elTados. Mill afasta sum ariam ente esta tem ia a
favor daperspectiva segundo aqual precisam os deprincpios par'adeterm inar'
as propriedades m orais dos actos. Se, por exem plo, querem os saber se um
agente procedeu erradam ente ao m entir num a dada ocasio, no basta inspec-
cionar' atentam ente os aspectos particulares do caso - precisam os de o
analisar luz deprincpios m orais gerais, com o sem pre elTadom entir ou
Pode-se m entir apenas par'asalvar um a vida. (Em term os contem porneos,
Mill um generalista, no um particularista.)
D este m odo, a questo inicial conduz-nos ao seguinte problem a: com o
podem os saber quais so os princpios m orais correctos? Mill distingue aqui
duas teorias m etaticas, identificando-se com a segunda: o intuicionism o e
o indutivism o. O intuicionista julga que, graas a um a form a de intuio
intelectual, podem os descobrir a priori os princpios m orais sem os inferir
de quaisquer prem issas em pricas. O indutivista, pelo contrrio, sustenta
que o conhecim ento desses princpios tem um a base em prica. Podem os
inferir indutivam ente esses princpios apartir da experincia.
Os exem plos m ais sim ples de induo so as generalizaes em pricas:
observam os, por exem plo, um conjunto lim itado de corvos e constatam os
que cada um deles negro; por induo, conclum os que todos os corvos so
negros. Com o este exem plo deixa claro, as inferncias ou argum entos induti-
vos, m esm o que partam de prem issas verdadeiras, no nos proporcionam a
garantia absoluta de que a concluso seja verdadeira. (No fica excluda a
possibilidade de, num a prxim a ocasio, observarm os um corvo de outra
cor, o que refutaria aconcluso geral.) Os ar'gum entos dedutivos (ou deduti-
13
Utilitarismo
vam ente vlidos), pelo contrrio, tm esta caracterstica notvel: se todas as
suas prem issas so verdadeiras, tem os a garantia de que a sua concluso
verdadeira. Por exem plo, de prem issas que nos dizem que todos os corvos
so negros eque um dado anim al um corvo, podem os deduzir que esse ani-
m al negro. Ficarem os ento com a garantia de que esse anim al negro,
m as a~enas sej tiverm os estabelecido averdade deam bas asprem issas.
Mill anuncia o objectivo, executado sobretudo no Captulo 4, de apre-
sentar um a prova da tica utilitarista. No entanto, esclarece que no tem
em m ente o ideal de um a prova dedutiva, ou seja, no vai tentar justificar o
princpio da utilidade exibindo-o com o aconcluso de um argum ento dedu-
tivam ente vlido com prem issas inquestionavelm ente verdadeiras. A sua
~m bio m ais m odesta: apresentar consideraes susceptveis de fazer o
m telecto dar ou recusar o seu assentim ento doutrina (1.5). Note-se, no
entanto, que um intuicionista nem isso faria. Em vez de tentar justificar de
algum a m aneira o princpio m oral fundam ental que lhe parecesse correcto
lim itar-se-ia a encar-lo com o um a verdade auto-evidente, que qualque;'
pessoa razovel teria de aceitar, m esm o na ausncia de qualquer prova.
3. A teoria do valor: hedonism o
oCaptulo 2 visa esclarecer o contedo da tica utilitarista. Esse escla-
recim ento decorre apar de respostas avrias objeces que, alegadam ente,
resultam de um a incom preenso do utilitarism o. Para obterm os um a im a-
gem e:clareced~ra da teoria de tica norm ativa proposta neste captulo,
prefenve! exam m ar separadam ente os seus dois com ponentes principais:
um a teona do valor e um a teoria da obrigao m oral. Estas teorias so bas-
tante independentes entre si. partida, no estarem os a ser inconsistentes
se concordarm os com aquilo que Mill defende acerca do valor m as no da
obrigao m oral- ou vice-versa. '
Com ecem os por delim itar o m bito da teoria do valor avanada neste
cap~lo. Esta no visa abranger tudo aquilo que bom ou valioso, j que
~eclrcuns~reve felicidade ou bem -estar individual. Por outras palavras,
eum a teona sobre aquilo que torna avida de um indivduo boa ou valiosa
para si prprio.
Mill, tal com o Bentham , prope um a perspectiva hedonista do valor. D e
acordo com o hedonism o, o bem -estar consiste unicam ente no prazer e na
14
Utililansmo
ausncia de dor. A vida de um indivduo boa para si prprio apenas em
virtude de exibir um forte predom nio das experincias aprazveis sobre as
experincias dolorosas. Alm disso, com o Roger Crisp salienta (1997: 26),
tanto Bentham com o Mill advogam o hedonism o total: pensam no s que
o bem -estar consiste em experincias aprazveis, m as tam bm que essas
expelinias so boas ou valiosas apenas devido sua aprazibilidade, eno,
por exem plo, porque satisfazem os nossos desejos ou porque esto de
acordo com avontade deD eus.
Existem duas alternativas principais ao hedonism o. D e acordo com um a
delas, o bem -estar de um indivduo consiste prim ariam ente na satisfao
dos seus desejos ou preferncias. Um a vida boa aquela em que m uitos
desejos intensos so satisfeitos e poucos so flUstrados. D urante o sculo
XX, vrios fllsofos (incluindo diversos utilitaristas proem inentes) abraa-
ram esta perspectiva eensaiaram -na em m uitas verses diferentes. Um a das
verses m ais plausveis lim ita o bem -estar satisfao dos desejos racionais
einform ados. A segunda alternativa, tal com o o hedonism o, explica o bem -
-estar sem apelar satisfao de preferncias, m as ope-se-lhe reconhe-
cendo um a pluralidade irredutvel de valores: alm do prazer, h coisas que
tornam a nossa vida boa para ns prprios independentem ente de serem
desejadas ou de proporcionarem experincias aprazveis, com o o conheci-
m ento, a vutude, a autonom ia ou a am izade. O utilitalism o ideal de G. E.
Moore envereda por esta alternativa.
D e acordo com o hedonism o de Bentham , o valor dos prazeres depende,
em ltim a anlise, apenas de dois factores: a sua durao e a sua intensi-
dade. Os m elhores prazeres - sem elhana, obviam ente, das piores dores
- so os m ais prolongados e intensos. Assim , Bentham tem um a viso
puram ente quantitativa do bem -estar. Pressupe que os prazeres (eas dores)
so, pelos m enos em princpio, inteu'am ente com ensurveis: depois de ter-
m os determ inado quantitativam ente aintensidade e adurao de um prazer
(ou dor), podem os m ultiplicar um a pela outra de m odo adeterm inar o valor
dessa expelincia; sefizelm os o m esm o a outro prazer (ou dor), poderem os
com par-lo com oprim eiro para descobru' qual tem m ais valor.
A inovao essencial de Mill relativam ente ao hedonism o de Bentham
consiste em defender que, alm da durao eda intensidade, tem os de aten-
der qualidade dos prazeres. Alguns tipos de prazer so, em vu tude da sua
natureza, intrinsecam ente superiores a outros. E, para m axim izarm os o
nosso prprio bem -estar, devem os dar um a forte preferncia aos prazeres
superiores, recusando-nos a troc-los por um a quantidade idntica ou
15
U~lilarismo
Assim , parece que a teoria do valor de Mill, alm de ser coerentem ente
hedonista, consiste num hedonism o m ais sofisticado do que o de Bentham .
No entanto, antes de nos ocuparm os da sua tem ia da obrigao m oral, vale
apena referir dois dos argum entos m ais fortes que foram avanados contra
ohedonism o clssico deBentham eMill.
Um desses argum entos, proposto por D erek Parfit (1984: 493-494) e
J am es Gtiffin (1986: 7-8), diz-nos que os hedonistas clssicos pressupem
euadam ente que o prazer (ou a dor) um tipo distinto de experincia ou
estado m ental. Se exam inarm os prazeres com o os de m atar a sede, ctiar um
Neste ponto, um defensor da perspectiva de Mill recusar-se-ia a aceitar
que os prazeres so com ensurveis desta m aneira. D m a que nem todos os
prazeres so m ensurveis num a nica escala ou balana. Mas nesse caso,
prossegue aobjeco, Mill precipita-se na segunda face do dilem a: podem os
aceitar que os prazeres superiores tm m ais valor, m as no por serem m ais
aprazlveis. Tem de haver um a propriedade diferente da aprazibilidade que
contribua para tom ar asexpetincias boas ou valiosas. Porm , deixarem os de
ser totalm ente hedonistas a partir do m om ento em que adm ititm os que o
valor das experincias no determ inado apenas pela sua aprazibilidade.
Em bora esta objeco possa parecer persuasiva, Crisp (1997: 33) reve-
lou claram ente asua fraqueza:
17
Segundo Mill, o valor de uma experincia aprazvel
depende no s da sua durao e intensidade, mas tambm
da sua qualidade, da sua natureza intrnseca. Mill pode
sugerir, ento, que o prazer superior valioso devido sua
aprazibilidade, evitando assim a primeira face do dilema. Um
prazer inferior poderia ultrapassar o peso de um prazer
superior somente se a sua natureza se transformasse de tal
maneira que ele deixasse de ser um prazer inferior. Aumen-
tar apenas a quantidade - isto , a durao e a intensidade
da experincia aprazvel - no seria suficiente. Alm disso,
enquanto se excluir uma comensurabilidade cardinal total,
Mil! no tem de deixar de afirmar que os prazeres superio-
res so mais aprazveis e, por isso, mais valiosos. Isto
significa que Mil! pode evitar a segunda face do dilema,
segundo a qual ele deixaria de ser um hedonista por postu-
lar uma propriedade distinta da aprazibilidade que torna as
coisas boas. Os prazeres superiores so bons para as pes-
soas simplesmente devido sua aprazibilidade.
CFT-UTll-2
Utilitarismo
m esm o m aior de prazeres inferiores. Em term os gerais, Mill identifica os
prazeres inferiores com os prazeres corporais econsidera superiores aqueles
prazeres que resultam do exerccio das nossas faculdades intelectuais. Para
justificar esta identificao, apela figura dos <~uzescom petentes (2.8),
que cm Tesponde queles indivduos que experim entaram e apreciaram os
tipos de prazeres que im porta com parar. Mill sustenta que, se estes juzes
preferem os prazeres do tipo A aos prazeres do tipo B, isso m ostra que os
prazeres do prim eiro tipo so superiores aos do segundo. No entanto, con-
vm sublinhar que no apreferncia dos juzes que tom a um dado tipo de
prazer superior a outro. O veredicto dos juzes no determ ina a qualidade
dos prazeres; constitui apenas um a prova em prica da superioridade intrn-
seca de alguns prazeres em relao aoutros.
O que ter levado Mill a insistir na im portncia da natureza intrnseca
dos prazeres? Se, com o Bentham tinha alegado, o bem -estar deum indivduo
fosse determ inado unicam ente pela quantidade de prazer, ento qualquer
prazer corporal incipiente, caso seprolongasse por tem po suficiente, podelia
tom ar-se prefervel a um a vida m ais curta, m as extrem am ente aprazvel em
term os intelectuais e afectivos. Contudo, quem trocaria, por exem plo, um a
vida hum ana criativa e rica em afecto por um agradvel banho m orno com
um a durao de m ilhes de anos? Osjuzes com petentes, diria Mill, estando
fam iliarizados com anatureza dos diversos tipos deprazer em questo, recu-
sar-se-iam afazer essa troca, pois no se deixatiam iludir por consideraes
puram ente quantitativas.
O hedonism o de Mill foi recorrentem ente confrontado com o
seguinte dilem a: ou no constitui um avano em relao perspectiva de
Bentham ou, em rigor, no um a perspectiva hedonista. Se Mill um
hedonista genuno, com ea a objeco, ento tem de aceitar que s a
aprazibilidade torna um a experincia m ais valiosa do que outra.
Suponha-se, im aginando um a espcie de balana de prazeres, que colo-'
cam os num dos pratos um prazer superior e no outro prato um prazer
inferior. Se form os aum entando a aprazibilidade do prazer inferior,
haverem os de chegar a um ponto em que este pesar m ais do que o
superior, pois cada um deles s tem valor em virtude da sua aprazibili-
dade. D este m odo, a distino entre prazeres superiores e inferiores no
nos levar alm do hedonism o de Bentham .
16
Utltitarismo
filho, andar de bicicleta, m agoar um inim igo, ler um rom ance ou ganhar um
prm io, constatarem os que estes prazeres so to diversos que, enquanto
expelincias, no tm em com um qualquer qualidade distinta. Por isso, o
hedonism o s ser defensvel caso d lugar a um hedonism o de prefern-
cias~>.Nesta perspectiva, reconhece-se que os prazeres (e tam bm as dores)
pm tllham apenas um a celta relao com os nossos desejos ou preferncias:
todos os prazeres so desejados quando so expelienciados, eso m aiores ou
m elhores apenas em virtude de serem m ais desejados. D este m odo, o bem -
-estm ' no pode ser concebido independentem ente da satisfao de desejos.
. O segundo argum ento, avanado por Robert Nozick (1974: 42-45),
atm ge no s o hedonism o clssico, m as qualquer perspectiva que entenda o
bem -estm ' apenas em term os de certas expelincias subjectivas ou estados
m entais. Im aginem os um a m quina de realidade virtual capaz de oferecer
um a vida m uito lica em experincias aprazveis, perm itindo at que o seu
utilizador desfrute de quaisquer prazeres supedores. Suponham os que tem os
de tom m ' a seguinte deciso: continum ' a ter um a vida genuna, nem sem pre
generosa nos prazeres que apreenchem , ouligarm o-nos m quina ehabitm '-
m os para sem pre o seu m undo ilusrio. Que opo nos perm itm a ter um a
vida m ais valiosa para ns prprios? D e acordo com o hedonism o, m esm o
q~e am quina nos proporcionasse apenas um a vida ligeiram ente m ais apra-
zlVel do que aquela com que podem os contar no m undo real, viveram os
m elhor caso optssem os pela ligao. Mas Nozick sugere que essa seria um a
m opo: querem os fazer certas coisas, e no apenas ter a experincia de
as fazer. No caso de celtas expedncias, querem os a experincia de realizm '
as aces ~u depensm ' que as realizm os apenas porque, antes de m ais, que-
rem os reahzm ' essas aces. Ou seja, o nosso bem -estar no determ inado
apenas por experincias, pela m aneira com o as coisas se nos apresentam
subjectivam ente - a verdadeira origem dessas experincias tam bm
im porta. Se, por exem plo, um a pessoa quiser acim a de tudo constituir um a
fam lia e educar bem os filhos, nada ter a ganhar em ligar-se a um a
m quina que, depois de gerar um a encantadora fam lia vutual, lhe gaJ .'antir
todas as experincias associadas aser um a boa m e ou um bom pai. O hedo-
nism o paJ .'eceser incapaz deacom odm ' estefacto.
4. A teoria da obrigao: consequencialism o
Um a teolia da obrigao especifica pdncpios que nos perm item ava-
liar o estatuto m oral dos actos, isto , determ inar que actos so
m oralm ente elTados, perm issveis ou obrigatrios. As teorias da obrigao
18
I
I
j
I
Utiltarismo
consequencialistas so aquelas que supem que as consequncias das nos-
sas opes constituem o nico padro fundam ental da tica. D e acordo
com as perspectivas consequencialistas m ais fortes e directas, a nossa
nica obdgao bsica m axim izaJ .' o bem : o acto m oralm ente certo (ou
obrigatrio) sem pre aquele que, avaliadas as coisas de um a form a estri-
tam ente im parcial, dar origem m elhor situao ou ao m aior bem .
A tica de Mill - e qualquer outra verso de utilitarism o - um
exem plo de consequencialism o. (O utilitalism o, alis, cOlTesponde s pers-
pectivas consequencialistas nas quais se presum e no s que o bem a
prom over consiste exclusivam ente no bem -estm ' dos seres sencientes, m as
tam bm que adishibuio do bem -estar no intlinsecam ente im portante.)
Com o verem os, est longe de ser consensual que Mill defenda um a teoria
consequencialista das m ais fm tes e dU'ectas, m as, se adm itu'm os que esse
o caso, obterem os o seguinte princpio tico: o acto m oralm ente certo (ou
obdgatdo) sem pre aquele que, considerados devidam ente todos os pra-
zeres e todas as dores, dar origem ao saldo m ais positivo. (Note-se, a
propsito, que a distino entre prazeres supedores e prazeres infedores
torna o apuram ento deste saldo m ais com plicado.) Resum idam ente, o acto
certo sem pre aquele que m axlniza oprazer.
Antes de discutum os o problem a de saber se esta a perspectiva que
Mill subscreve, vale a pena distinguir o consequencialism o das tem ias da
obrigao deontolgicas. No fcil traar rigorosam ente esta distino,
m as para os nossos propsitos basta apontar um aspecto essencial da
deontologia: um defensor desta posio pode atdbuu' um grande peso
prom oo do bem , m as paJ .'aele o estatuto m oral de um acto no deter-
m inado unicam ente pelo valor das suas consequncias, pois existem
restries que colocam fortes lim ites quilo que perm issvel fazer em
funo do m aior bem . Os deontologistas reconhecem , pelo m enos, um a
restrio geral contra m altratar pessoas inocentes. J ulgam no s que
errado m altratar seriam ente pessoas inocentes pm 'a benefcio dos outros,
m as tam bm que errado m altrat-las m esm o que isso seja necessrio
para im pedir que outros agentes m altratem pessoas inocentes. (Este
segundo aspecto capta a ideia de que as restries em causa so centra-
das no agente.) Por vezes, recorre-se ao idiom a dos direitos para
exprim ir a posio deontolgica: cada indivduo tem certos direitos
m orais bsicos (com o o direito a no ser m altratado) que nem sem pre
podem ser violados com ajustificao de que a sua violao necessria
pm 'aproduzu' um m aior bem social.
Im m anuel Kant (1724-1804) , sem dvida, o filsofo m ais influente da
tradio deontolgica. Tal com o Mill, Kant props um a tem ia da obrigao
19
Utililarismo
que tem um nico princpio tico fundam ental: o im perativo categrico. D e
acordo com este princpio, devem os agir apenas segundo m xim as que pos-
sam os querer universalizar. Se no podem os querer que todos ajam segundo
um a certa m xim a, ento ela no universalizvel e, por isso, devem os
rejeit-la. Im agine-se, por exem plo, um a pessoa que age segundo am xim a
Faz prom essas com ainteno de as no cum prires. No podem os querer
que esta m xim a se torne um a lei universal: se todos os agentes fizessem
prom essas com a inteno de as no cum prirem , a prpria prtica de fazer
~rom essas desapareceda, pois esta baseia-se na confiana entre as pessoas.
E pura e sim plesm ente impossvel todos fazerem prom essas com ainteno
de as no cum prirem . Por esta razo, no podem os querer que todos ajam
segundo essa m xim a - ela deve ser rejeitada.
Kant tentou m ostrar que o im perativo categrico im plica vtias restri-
es ou proibies m orais absolutas - alegou que sem pre errado, por
exem plo, quebrar um a prom essa, m entir ou com eter suicdio. No pode-
m os realizar actos com o estes m esm o que a sua realizao possa dar
origem a um grande bem ou evitar um grande m al. (Note-se, no entanto,
que nem todos os deontologistas defendem que as restries so absolu-
tas.) Kant sustentou tam bm que o im perativo categrico pode ser
form ulado com o um a exigncia de respeito pelas pessoas: devem os tratar
as pessoas com o fins, e nunca com o sim ples m eios ao servio de interes-
ses pessoais ou sociais.
Podem os avanar agora para o problem a de identificar o tipo de conse-
quencialism o (ou utilitarism o) proposto por Mil! . Num artigo m uito
discutido, 1. O. Urm son (1953) sugeriu que a teoria da obrigao de Mill
assenta em duas teses fundam entais:
1. Um a aco particular certa se estiver de acordo com as regras
m orais correctas; errada se transgredir algum a das regras m orais
correctas.
2. Um a regra m oral correcta em virtude de asua aceitao prom over
o fim ltim o - afelicidade geral.
Se Urm son tem razo, Mill no defende a form a m ais directa de utilita-
dsm o: a sua teoda no um utilitadsm o dos actos, m as um utilitarism o das
regras. Quem aceita o pdm eiro tipo de teoria aplica directam ente o padro
utilitarista a actos particulares, ou seja, diz-nos que cada acto certo ou
enado apenas em virtude deprom over afelicidade ou ainfelicidade. O utili-
tarista das regras, pelo contrtio, pensa que o estatuto m oral dos actos
20
Ulililarismo
particulares depende da sua conform idade acertas regras, m ais precisam ente
da conform idade quelas regras que constituem o cdigo m oral correcto.
isto que nos diz atese 1. O padro utilitadsta usado apenas para identificar
as regras que devem os incluir no nosso cdigo m oral. Essas regras, com o
nos di;z;atese2, so aquelas cuja aceitao geral prom ove obem -estar.
Para tornar ntida a diferena entre estas duas form as de utilitarism o,
im aginem os que um dado agente est na seguinte situao: se quebrar
um a prom essa, produzir m ais bem -estar do que se m antiver a sua pala-
vra. O utilitarista dos actos dir que perm issvel (ou m esm o obrigatrio)
o agente quebrar a prom essa, pois esse o acto que m axim iza o bem -
-estar. O utilitarista das regras poder discordar. A aceitao geral da regra
No devem os quebrar prom essas prom ove seguram ente o bem -estar.
Por isso, os actos particulares de quebrar prom essas so errados. Pela
m esm a razo, errado fazer coisas com o assassinar ou torturar pessoas
inocentes m esm o nos casos particulares em que um acto de assassnio ou
de tortura m axim izaria afelicidade geral.
Com o estes exem plos deixam claro, o utilitm ism o das regras estfrequen-
tem ente m ais prxim o daticakantiana (eda deontologia em geral) do que o
utilitm ism o dos actos - tal com o Kant, outilitm ista das regras avaliaam orali-
dadedos actos pm ticulm 'es apelando adiversas regras gerais. Porm , estas duas
teorias divergem profundam ente no m odo com o justificam essas regras. Pm 'a
Kant, com o vim os, as regras m orais aobservar deconem daexigncia deuni-
versalizao que constitui o im perativo categrico. E Kant supunha que este
princpio m oral fundam ental tinha um a autOlidade a priori: estabelecem o-lo
sem reCOlTerexperincia, reconendo unicam ente razo. No contexto douti-
litarism o das regras, pelo contrrio, as norm as m orais que ditam am oralidade
dos actos so estabelecidas por m eios em plicos. PaI'adecidir sehavem os de
incluir no nosso cdigo m oral regras com o No devem os quebrar prom es-
sas, A m ulher deve obedecer ao m arido ou Nunca devem os praticm ' a
eutansia, tem os de avaliar o im pacto da sua aceitao na felicidade geral,
usando pm 'aoefeito os dados em plicos disponveis.
Ser Mill um utilitarista das regras? O princpio da utilidade, recorde-
m os, diz-nos que as aces esto certas na m edida em que tendem a
prom over a felicidade, erradas na m edida em que tendem a produzir o
reverso da felicidade (2.2). Aparentem ente, seria difcil encontraI' um a
form ulao m ais clm 'a do utilitaI'ism o dos actos. Porm , Urm son defende
que a referncia s tendncias das aces aponta para um com prom isso
com o utilitarism o das regras:
21
Ulititarismo
Em rigor, podemos dizer que uma certa aco tende a
produzir um certo resultado apenas se estivermos a falar de
t,ipos de aces em vez de aces particulares. Ingerir
alcool pode tender a produzir alegria, mas o meu acto de
beb~r este copo particular ou produz ou no produz alegria.
Assim, parece que aqui podemos muito bem j ulgar que Mill
est a dizer que as regras morais probem ou ordenam tipos
de aces. Na verdade, est a afirmar que as regras morais
correctas so aquelas que promovem o fim ltimo [... ].
(1953: 6)
Sob a interpretao proposta por Urm son, o princpio da utilidade
refere-se atipos de aces, com o m entir ou roubar, pois im prprio dizer
que um acto particular, com o um a m entira ou um roubo, tende a produzir
felicidade ou infelicidade - s podem os atribuir esse tipo de tendncia a
classes de aces. Urm son, no entanto, est enganado. Encontram os a
prova do seu erro num a carta que Mill escreveu a J ohn Venn em 1872. A
passagem crucial aseguinte:
Concordo consigo quando diz que a maneira correcta de
testar aces atravs das suas consequncias test-Ias
pelas consequncias naturais da aco particular, e no
~elas consequncias que se verificariam caso toda a gente
fizesse o mesmo. Porm, na maior parte dos casos, consi-
derar aquilo que aconteceria se toda a gente fizesse o
mesmo a nica maneira de descobrirmos a tendncia do
acto no caso particular. (17.1881) .
Esta passagem m ostra trs coisas im portantes. Em prim eiro lugar, Mill
considera perfeitam ente apropriado falar de tendncias arespeito de actos
particulares. Em segundo lugar, revela um a ntida inclinao para o utili-
tarism o dos actos. Por fIm , Mill sustenta que na m aior parte das situaes
devem os pensar com o se fssem os um a espcie de utilitaristas das regras.
Este ltim o aspecto o m ais intrigante etem de ser esclarecido.
Com ecem os por salientar que o princpio da utilidade prim ariam ente
um padro que visa indicar o que torna os actos m oralm ente certos ou erra-
dos. Um padro deste gnero, um critrio de m oralidade, no deve ser
confundido com um guia para tom ar decises. Se aceitssem os o utilita-
rism o dos actos e incorrssem os nessa confuso, tentaram os aplicar o
22
Utililarismo
princpio da utilidade em todos os casos de m aneira a decidir o que fazer.
Isso im plicaria estar sem pre acalcular os custos eos benefcios de cada um
dos cursos de aco disponveis. D adas as nossas lim itaes cognitivas, os
clculos infm dveis acabariam por nos deixar praticam ente paralisados e,
em cons~quncia disso, desperdiaram os im ensas oportunidades de pro-
m over afelicidade geral. O utilitarism o delTotar-se-ia asi prprio.
Mill est perfeitam ente consciente disto. Por esta razo, no sugere de
form a algum a que o nosso pensam ento m oral deve estar exclusivam ente
dom inado por consideraes utilitaristas. Em term os contem porneos,
recusa aideia de que existe apenas um nvel de pensam ento m oral. A sua
teoria antecipa signifIcativam ente o influente utilitarism o de dois nveis
desenvolvido por R. M. Hare, que se baseia na distino entre o nvel
intuitivo e o nvel crtico do pensam ento m oral. Segundo Hare, devem os
perm anecer quase sem pre no prim eiro destes nveis. Em vez de tom arm os
decises raciocinando de um a form a utilitarista, m elhor lim itarm o-nos a
observar as regras que constituem am oralidade com um , isto , a seguir as
intuies m orais que nos inculcaram - entre outras, a intuio de que
errado quebrar prom essas, roubar ou m atar. Mill aceita esta ideia.
D efende que precisam os de nos guiar pelos princpios secundrios da
m oral idade com um , at porque estes resultaram em grande m edida da
influncia tcita do padro utilitarista. A experincia dos seres hum anos
m ostrou, por exem plo, que a aceitao geral de um a regra contra quebrar
prom essas prom ove o bem -estar. Por isso, tem os de cultivar um a forte dis-
posio para m anter as prom essas que fazem os, evitando iludirm o-nos
com pretextos de teor utilitarista para quebrar prom essas.
Porm , Mill no afIrm a que devem os lim itar-nos a aderir cegam ente
m oralidade com um ou, m ais precisam ente, aos costum es m orais da socie-
dade em que vivem os. Por vezes, os princpios secundrios entram em
conflito epodem os ser forados aescolher, por exem plo, entre quebrar um a
prom essa e roubar um certo objecto. Em casos deste gnero, sugere Mill,
tem os de apelar ao critrio utilitarista para decidir o que fazer. Alm disso,
o cdigo m oral institudo est longe de ser perfeito: apar da sabedoria acu-
m ulada por m uitas geraes de seres hum anos, encerra supersties e
preconceitos nocivos para afelicidade geral. Para refOlm ar apropriadam ente
o nosso cdigo m oral, tem os de o exam inar luz do padro utilitarista.
Mill, alis, lutou por reform as sociais e polticas considerveis, sendo de
destacar a este respeito a sua defesa resoluta da liberdade individual e da
igualdade entre os sexos. Presum ivelm ente, encontrou no princpio da utili-
dade ajustifIcao fundam ental para essas reform as.
23
UliIiLarismo
Podem os ento dizer que Mill, tal com o Hare, alm do nvel intuitivo
r:conhece um nvel crtico do pensam ento m oral: um nvel em que racio-
CInam os de um a form a utilitarista tanto para resolver os conflitos de
de.veI~e~gerados p:l.a m oralidade com um com o para apeIfeioar erever os
pnncIplOS secundanos que aconstituem .
. Alm de determ inar se a teoria consequencialista de Mill um utilita-
nsm o dos actos ou das regras, desejvel caracteriz-la sob outros
as~ec~os im portantes. Um desses aspectos diz respeito distino entre
dOIStIpos de teorias utilitaristas: as que nos dizem que o m elhor acto
aquele que dar o,rigem ao m aior total de bem -estar e as que afirm am que
o m elhor acto e aquele que produzir o m aior bem -estar mdio.
Geralm ente, presum e-se que Mill defende o utilitarism o total. Podem os
~erceber a im portncia desta distino se im aginarm os que um utilitarista
t~~a ~e determ inar a poltica dem ogrfica do seu pas. Se ele fosse um
utIlItansta total, tenderia a prefeIir um a populao cada vez m aior ainda
qU,e.esse crescim ento im plicasse algum a reduo da qualidade d~vida
m edIa. Se, pelo contrrio, fosse um utilitarista de m dia, no hesitaria em
tom ~r m edidas pa.rareduzir drasticam ente o tam anho da populao, desde
que ISSOse traduzIsse num aum ento da qualidade de vida m dia.
?ut~a distino im portante a que separa o utilitarism o objectivo do
subJ ectIvo. ~e acordo com o utilitarism o objectivo (ou actualista), o
~elhor acto e sem pre aquele que efectivam ente m axim iza o bem -estar,
Iil~~pe~dentem ente daquilo que o agente previu ou poderia ter previsto. O
utIhtansm o subjectivo (ou probabilista), pelo contrrio, identifica o
m elh~r a:to at~ndendo perspectiva epistm ica do agente: agir da m elhor
m aneIra e segUIr o curso de aco que, ponderadas as probabilidades luz
dos dados disponveis, se apresenta m ais prom issor. Im agine-se, por
exem plo, um agente bem -intencionado que decide dar alim entos a um
hom em m uito pobre. Em bora ningum o soubesse, esse hom em extre-
m am ente alrgico ~um a substncia presente nos alim entos e acaba por
m on:e~'p~uco depOISde os ter ingerido. Ser que o agente procedeu bem ?
O utihtansta subjectivo, m as no o objectivo, diIia que sim . Im aginem os
agora que um agente m al-intencionado tenta envenenar um a pessoa ino-
~ente que est bastante doente. No entanto, o veneno acaba por curar
Iil~~pe~adam ente essa pessoa. Este segundo agente ter procedido bem ? O
utIlItansta objectivo, m as no o subjectivo, diria que sim . Infelizm ente
no f~cil determ inar que tipo de utilitarism o Mill pretende defender:
(Mas veja-se Crisp (1997: 99-101).)
24
Uhtilarismo
Um a terceira distino a ter em conta incide no grau de exigncia do
utilitarism o. D e acordo com a verso m ais forte de utilitarism o, aquela
que costum a ser atribuda a Mill, o acto certo sem pre aquele que maxi-
miza o bem -estar. Ou seja: sem pre obrigatrio, e no apenas
perm issvel, realizar os actos que daro origem ao maior bem . Esta pers-
pectiva, que nos coloca sob a obrigao perm anente de prom over a
felicidade geral no m xim o grau possvel, tem o seguinte corolrio: se um
acto no m axim iza o bem -estar, ento m oralm ente errado.
Para term os um a ideia das exigncias m orais que decorrem das verses
m axim izantes de utilitarism o, im aginem os um agente que est a decidir o
que fazer com o seu dinheiro. Suponham os que, entre todas as opes dispo-
nveis, aquela que resultar nas m elhores consequncias a de doar 10 000
euros UNlCEF. Porm , o agente doa apenas 9 000 euros a esta institui-
o - ou opta por entregar os 10 000 euros Oxfam . Nesse caso, diria o
utilitarista m axim izante, elefez algo dem oralm ente errado.
D ado que a exigncia de m axim izao tem im plicaes to contra-
-intuitivas, no surpreendente que tenham sido propostas verses sub-
-m axim izantes de utilitarism o, nas quais se exige apenas que o agente
prom ova suficientem ente o bem -estar. Ser que Mill advoga um a perspec-
tiva m ais m oderada deste gnero? No fcil responder conclusivam ente
a esta questo, m as o princpio da utilidade parece autorizar um a resposta
afirm ativa. Mm al, Mill diz-nos que as aces esto certas na medida em
que prom ovem a felicidade, e erradas tam bm na medida em que no a
prom ovem . Ora, isto sugere que o certo e o errado adm item graus: no
nosso exem plo, a opo de doar 10 000 euros UNICEF pode ser m axi-
m am ente certa, m as da no podem os inferir que seja errado doar apenas
9 000 euros ou entregar o dinheiro Oxfam . luz do critrio de Min,
estas opes tam bm podem ser avaliadas com o m oralm ente certas, ainda
que o sejam num grau um pouco inferior.
O Utilitarismo proporciona seguram ente um a boa oportunidade para
discutir as qualidades e os defeitos das diversas form as que esta teoria da
obrigao pode assum ir. No entanto, com o vim os, nem sem pre fcil
dizer que teoria especfica Mill est interessado em defender. Em parte,
isto pode acontecer porque as distines que introduzim os nesta seco
(entre outras) no eram m uito ntidas para os filsofos do sculo XIX.
Alm disso, im porta no esquecer que Mill no estava a escrever para um
pblico m uito especializado e interessado em distines filosficas rigo-
rosas. Mas talvez exista outra razo para a dificuldade de caracteIizar a
teoria m oral de Min. Num artigo notvel, D aniel J acobson (1993) susten-
25
Utililarismo
tou que no Utilitarismo aindetenninao propositada. D e acordo com a
interpretao ecum nica avanada por J acobson, o objectivo de Mill
no propor e articular um a form a definida de utilitarism o, m as defender
o credo com um dos utilitadstas contra os autores associados ao intui-
cionism o. Por isso, as tentativas de encontrar nesta obra um a verso
particular de utilitarism o so com pletam ente deslocadas. Mesm o que esta
interpretao peque por exagero, vale apena t-la em m ente durante a lei-
tura do Utilitarismo.
5. Motivao m oral
obreve Captulo 3 incide em duas questes sobre m otivao m oral.
Mill com ea por perguntar o que poder m otivar as pessoas para agir em
conform idade com a tica utilitadsta. Esta questo oportuna porque o
utilitarism o, contrariam ente m oralidade com um , no est ligado a um
forte sentido de obrigao. Afinal, aeducao que recebem os faz-nos sen-
tir obrigados, por exem plo, a m anter prom essas e a no roubar, m as
geralm ente no tem os um a m otivao anloga para prom over afelicidade
geral. Nos ltim os dois pargrafos do captulo, Mill concentra-se na
segunda questo, que tem um carcter norm ativo: porque deverem os estar
m otivados para agir de acordo com o utilitarism o?
A resposta deMill para aplim eira questo consiste em sugerir que aedu-
cao pode ser refOlm ada de m aneira a m otivar as pessoas para prom over a
felicidade geral. Ou seja, as sanes dam oralidade podem ser colocadas ao
servio do utilitarism o. Um a sano, no sentido tcnico relevante neste
contexto, um a fonte de prazeres e dores que m otiva efectivam ente as pes-
soas para agir. Entre as sanes m orais, Mill distingue as sanes externas da
sano interna. As sanes externas dependem directam ente dos outros e
incluem o receio de reprovao ea afeio. A sano interna aconscincia
do indivduo ou o seu sentido do dever. Esta resulta da educao, m as acaba
por adquirir um a vida prpria, proporcionando um a m otivao m oral inde-
pendente dainfluncia directa dos outros.
Mill enfrenta aquesto norm ativa apelando sociabilidade natural dos
seres hum anos. Estam os constitudos de form a a desejar que os nossos
interesses estejam em harm onia com os dos nossos sem elhantes. Por isso,
se atenderm os cada vez m ais aos interesses dos outros em direco
im parcialidade apontada pelo utilitm ism o, descobrirem os que a nossa
26
Utilitarismo
vida cada vez m elhor para ns prprios. Podem os encontrar aqui um
argum ento a favor do utilitarism o que apela ao interesse pessoal. Porm ,
com o Crisp (1997: 92-93) observa, Mill pm 'ece ser dem asiado optim ista
quanto coincidncia entre o interesse pessoal e am oralidade utilitarista:
em bora sej~plausvel afum ar que m uitas pessoas tm um a vida m elhor
para elas prprias em virtude de atenderem consideravelm ente aos interes-
ses dos outros, apartir de um certo ponto as exigncias da im parcialidade
podem lesar o interesse pessoal.
6. A prova do utilitarism o
O Captulo 4, no qual Mill expe o seu argum ento fundam ental afavor
do utilitarism o, tem sido intensam ente discutido. Muitos filsofos, entre
os quais se destaca Moore (1903), sustentaram que aprova de Mill gros-
seiram ente falaciosa, m as os estudos m ais recentes perm item -nos ter um a
opinio m ais favorvel aseu respeito.
O denso pm 'grafo 4.3 um dos m ais im portantes da prova e alim en-
tou m uitas confuses. O objectivo de Mill o de m ostrm ' que afelicidade
(ou o prazer) desejvel. Para esse efeito, com ea por estabelecer um a
analogia entre propriedades com o a visibilidade e a audibilidade e a pro-
priedade de ser desejvel. Com o podem os saber que um certo objecto
visvel? Obviam ente, apontando o facto de as pessoas o verem . D o
m esm o m odo, alega Mill, podem os determ inar que um a coisa desejvel
apontando o facto de as pessoas a desejm 'em . Pode parecer, no entanto,
que esta analogia com pletam ente deslocada. D izer que um a coisa vis-
vel afirm ar que esta pode ser vista; porm , dizer que um a coisa
desejvel no afirm ar sim plesm ente que esta pode ser desejada -
declarar que merece ser desejada. Por isso, no podem os deduzir que um a
coisa desejvel apenas apartir do facto de esta ser desejada.
Isto verdade, m as aanalogia que Mill pretende traar no repousa neste
erro to elem entar. A ideia apenas ade com parar as questes defacto com
as questes de fins ltim os: tal com o podem os recorrer nossa capacidade
de ver ou ouvir para detelm inar que coisas so visveis ou audveis, tam bm
podem os recorrer capacidade de desejar para determ inm ' que coisas so
desejveis. O facto de desejarm os um a coisa com o fim ltim o, ede no ver-
m os qualquer razo para no a desejm m os, pode no provar dedutivam ente
que essa coisa desejvel, m as constitui evidncia em pica a favor da sua
27
Utililarismo
desejabilidade. Ora, ns desejam os o prazer com o um fim ltim o e no
vem os nisso nada de objectvel. Isto d-nos boas razes para concluir que o
prazer desejvel com o um dos fins ltim os daaco.
O segundo m om ento decisivo da prova de Mill surge tam bm em 4.3,
consistindo essencialm ente na seguinte inferncia: a felicidade de cada
pessoa um bem para essa pessoa e, logo, afelicidade geral um bem para
o agregado de todas as pessoas. Esta parece ser tam bm um a inferncia
precipitada. Considerem os, por exem plo, a posio do egosta, isto , de
algum que defende a teoria segundo a qual cada agente deve prom over a
sua prpria felicidade. O egosta reconhece que a sua prpria felicidade
um bem , m as por que razo h-de concluir que a felicidade geral um
bem que im porta prom over? A verdade que a inferncia de Mill
depende de vrios pressupostos que no so form ulados no Captulo 4.
Antes de apontarm os esses pressupostos, considerem os o ltim o m om ento
principal da prova: a tentativa de m ostrar que a felicidade (ou o prazer)
no apenas um dos fins ltim os da conduta - que ela , na verdade, a
nica coisa desejvel com o fim .
Os crticos do utilitarism o poderiam dizer que, alm da felicidade, tam -
bm a virtude um fim ltim o. Mill, curiosam ente, no responde a esta
objeco sugedndo que a vittude desejvel apenas enquanto m eio para a
felicidade. Adm ite que desejam os a virtude considerando-a desejvel em si
m esm a e que isso peIfeitam ente aceitvel. Contudo, recusa aideia de que
afelicidade ea virtude estejam radicalm ente separadas: asegunda, sustenta,
um ingrediente fundam ental da prim eira. Para justificar esta afirm ao,
apresenta um a explicao associacionista que aplicvel no s vittude,
m as a qualquer outro fim ltim o alegadam ente alheio felicidade que os
seus crticos possam illdicar. verdade que pdm eiro desejam os a virtude
enquanto m eio para afelicidade, m as vam os associando gradualm ente avir-
tude felicidade at que esta se torna desejada por si m esm a, e isto
acontece porque ter conscincia dela um prazer, porque aconscincia de
estar sem ela um a dor oupor am bas as razes (4.8).
Regressem os agora ao problem a de saber com o podem os infedr o uti-
litarism o a partir da tese segundo a qual a felicidade, e s a felicidade,
desejvel. Segundo Crisp (1997: 77-87), a inferncia de Mill resulta da
aceitao tcita de quatro pressupostos diferentes.
Suponham os que atender s exigncias da m oral perseguir ou pro-
m over um certo fim - este o pressuposto teleolgico. E im aginem os
que, por oposio queles que subscrevem posies com o o egosm o,
estam os dispostos a atender a essas exigncias, isto , a ter em conta de
algum a form a os interesses dos outros. (Estam os assim a introduzir o
28
Utililarisrno
pressuposto moral.) Coloca-se ento a seguinte questo: que fim devere-
m os perseguir de m odo a atender s exigncias da m oral? O ~esu~t~do
fundam ental do Captulo 4 o de que a felicidade (ou o prazer) e o UlllC.O
fim ltim o de toda a aco hum ana - e, consequentem e~te, da m ?rali-
dade. Por isso, atender s exigncias da m oralidade e pe:~egu~r. ou
prom over a felicidade. Ora, a felicidade te~~m a natureza aditlV~(e ~st.o
que nos diz opressuposto agregativo): a feliCIdade de A som a~a ~~ehcI-
d d de B m aior do que a felicidade de cada um destes m dIvIduos
a e . 'd d '
considerados isoladam ente. D ado que a m aneira com o a fehcI a e esta
distribuda entre indivduos diferentes no im porta (este o pressuposto
da imparcialidade), a m elhor situao aqu~la que co~resp?n~de.a um
m aior total de felicidade. Por isso, atender m axrm am ente as eXIge~c.Iasda
m oralidade agir de m aneira a dar origem ao m aior total de fehcIdade.
Chegam os assim tica utilitarista. .
Obviam ente, qualquer um destes pressupostos coloca problem as m Ulto
delicados, m as a sua explicitao coloca-nos em condies de fazer um a
avaliao cuidada da prova de Mill.
7. A objeco dajustia
O Captulo 5, o m ais longo da obra, um a tentativa de responder
objeco ao utilitarism o que Mill considera m ~is forte. ~e a~ord?, com
esta objeco, a tica utilitarista est em conflito com a.J u~tla, J a ~u.e
aparentem ente a realizao de certas injustias pode m axm llzar a fehcI-
dade geral. Por exem plo, condenar um a pessoa inocente m orte ou dar
um certo bem a quem m enos o m erece injusto, m as em alguns casos
actos com o esses podero dar origem ao m aior bem . Mill faz um p~rc.urso
argum entativo m uito sinuoso para m ostrar que ajustia no conStl~1 um
obstculo insupervel para o utilitarism o. D e m odo a to~ar m .ai.sper-
ceptvel a estrutura geral desse percurso, ." a~e ~pena IdentIficar e
descrever resum idam ente os seus m om entos prm CIpais. .
Nos pargrafos 5.1 e 5.2, Mill illtroduz o problem a d.oqual se.Vaioc~-
par. verdade que tem os um forte sentim ento de j~stIa, ~as ~sso nao
significa que este seja um a revelao de ~lgum ~realidade obJ ectl,:,a que
se sobreponha ao princpio da utilidade. E precIso, portanto, clarificar o
estatuto desse sentim ento.
29
Ulili(arismo
A investigao da natureza da Justia desenvolve-se ao longo dos
pargrafos 5.3-5.15. Mill tenta encontrar a caracterstica distintiva dajus-
tia, e para esse efeito com ea por identificar os vrios contextos em que
classificam os com o justos ou injustos certos m odos de agir ou certas
estruturas sociais. Este exam e inicial conduz distino entre seis esferas
dajustia. D iz-se que injusto (i) violar os direitos legais das pessoas; (ii)
violar os direitos m orais das pessoas; (iii) no dar a cada pessoa aquilo
que ela m erece; (iv) violar os com prom issos que assum im os perante os
outros; (v) favorecer algum as pessoas de um a form a indevidam ente par-
cial; (vi) desrespeitar as exigncias de igualdade, cujo contedo, no
entanto, m uito controverso.
D ado que os term os <<justiaou injustia tm aplicaes to diver-
sas, qual ser o vnculo m ental que as m antm unidas? Mill tenta
encontrar um a resposta fazendo um a breve incurso etim olgica. D esta
incurso resulta a concluso de que a noo dejustia exprim ia original-
m ente a ideia de conform idade s leis existentes e, num m om ento m ais
avanado, a ideia de respeito pelas leis que deviam existir. por isso,
alis, que desejam os que quem com ete injustias seja castigado de
algum a form a. Porm , surge aqui um a dificuldade: no conseguim os
ainda distinguir a justia da m oralidade em geral. Mill form ula o pro-
blem a nos seguintes term os:
[A] ideia de sano penal, que a essncia da lei, faz
parte no s da concepo de inj ustia, mas tambm da con-
cepo geral daquilo que errado. No consideramos uma
coisa errada caso no j ulguemos que uma pessoa deve ser
punida de uma maneira ou de outra por a ter feito - se no
pela lei, pela opinio dos seus semelhantes; se no pela opi-
nio, pelas repreenses da sua prpria conscincia. Este
parece ser o verdadeiro ponto decisivo da distino entre a
moralidade e a simples convenincia. (5.14)
oque distingue, ento, ajustia das outras reas da m oralidade? Mill
recorre aqui distino entre obrigaes perfeitas e obrigaes im peIfei-
tas. Ser generoso um a obrigao im perfeita: tem os o dever geral de ser
generosos, m as as ocasies e os m eios para exercer a generosidade ficam
ao nosso critrio. No m atar, pelo contrrio, um a obrigao peIfeita, j
que este dever no nos d um a latitude sim ilar. Mill sustenta que estas
obrigaes, por oposio s im perfeitas, im plicam um direito m oral corre-
30
Utilitarismo
lativo. Os outros tm direito a no ser assassinados, m as no possuem o
direito nossa generosidade. Mill conclui:
Parece-me que este aspecto do caso - um direito de
uma pessoa correlativo obrigao moral - constitui a dife-
rena especfica que distingue a j ustia da generosidade ou
da beneficncia. A j ustia implica algo que, alm de ser
certo fazer e errado no fazer, uma pessoa individual pode
exigir de ns enquanto seu direito moral. (5.15)
Esta a concluso principal a respeito da natureza da justia. Nos
pargrafos 5.16-5.23, Mill discute m ais detalhadam ente aorigem do senti-
m ento de justia. Um dos elem entos da ideia de justia, sustenta, o
desejo de punir a pessoa que inflige um m al a algum . E este desejo tem
um a dupla origem : o im pulso de autodefesa e o sentim ento de sim patia,
que nos faz participar de algum a form a no sofrim ento e no prazer dos
outros. D ado que tanto o im pulso de autodefesa com o a sim patia so natu-
rais (ou am orais), o que torna m oral o sentim ento dejustia? Mill defende
que a sua m oralidade resulta do facto de o sentirm os apenas a respeito de
am eaas ao bem geral.
Nos pargrafos 5.26-5.31, exam ina-se o problem a de saber se ajustia
um padro m oral ntido. A resposta de Mill negativa: quando se dis-
cute, por exem plo, ajustificao do castigo, a com pensao pelo trabalho
ou a cobrana de im postos, as pessoas com opinies diferentes apelam a
princpios de justia ilTeconciliveis. Para resolver os co~i,t~s entre. ~s
perspectivas divergentes dajustia, tem os de recorrer ao pnncIpiO da utlli-
dade. O padro utilitarista tem um a autoridade superior.
Esta discusso, note-se, surge entre os dois conjuntos de pargrafos
que incidem m ais intensam ente na relao entre o utilitarism o e as regras
da justia: 5.24-5.25 e 5.32-5.33. Estas regras probem a violao dos
direitos individuais, protegendo os aspectos m ais im portantes do bem -
-estar hum ano. A ideia central de Mill a de que o padro utilitarista jus-
tifica a atribuio de um a enorm e im portncia s regras da justia. No
m om ento final do captulo (5.34-5.38), avaliam -se algum as regras dajus-
tia proelninentes, com o a injuno da reciprocidade (<<oprincpio de dar
a cada um aquilo que m erece) e a exigncia de igualdade. No entanto,
regras com o estas no so absolutas, j que em alguns casos o padro da
utilidade pode pennitir asua violao:
31
UliltarisrTlO
33
CFT-UTIL-3
Segundo Hare, o reconhecim ento de que os juzos m orais so prescn-
es universalizveis leva-nos, no nvel crtico do pensam ento m oral,_ a
fazer os m esm os juzos que um utilitarista dos actos. Se esta afirm aao
surpreendente for verdadeira, o prescritivism o universal, (caso seja ,cred=
vel enquantQ tem ia sobre o significado dos juzos m orm s) proporcIOnara
um a boa justificao pm 'a a tica utilitarista, Mas por que haverem os de
pensar que a perspectiva m etatica de Hare conduz ao utilitarism o?
Vrios filsofos que estudm 'am atentam ente o intrincado argum ento de
Hm 'e defenderam que este salto ilegtim o. Em bora no seja este o
lugm ' para determ inar se tm razo, podem os, pelo m enos, esboar o argu-
m ento apartir do exem plo m uito sim ples que o prprio Hare utilizou para
o introduzir,
Im aginem os que, para estacionar o nosso autom vel, anica soluo
m udar de lugm a bicicleta de outra pessoa. D esejam os estacionm ' o carro,
m as o proprietrio da bicicleta prefere m ant-la onde est. S~r~que m ud~-
-la de lugar a opo m oralm ente acertada? D ado que os J UIZOSm orm s
so universalizveis, a resposta para esta questo no pode depender do
sim ples facto de serm os ns os proprietrios do autom vel. Seja qual for
o nosso juzo, tem os de estar dispostos a faz-lo independentem ente da
posio que ocuparm os nesta situao, Assim , precisam os de im agi~ar o
que estar no lugm ' do proprietrio da bicicleta, com os seus desejos e
m otivaes. Adm itam os que conseguim os representar perfeitam ente a sua
posio para ns prprios. Quando o fazem os, sustenta Hare, form am os
um desejo com a m esm a intensidade no sentido de a bicicleta ficar onde
est, Este desejo vai rivalizar com o nosso desejo original de estacionar o
autom vel m ovendo a bicicleta, m as suponham os que lhe bastante infe-
rior em intensidade, Nestas circunstncias, prevalece o desejo original, o
que resulta na concluso de que, afinal, devem os m udar a bicicleta de
lugar. Note-se que o proprietrio da bicicleta, se utilizasse o m esm o
m todo de raciocnio, acabaria por fazer a m esm a prescrio, j que, ao
im aginm ' perfeitam ente a nossa posio, form aria um desejo de m over a
bicicleta m ais forte do que o seu desejo original de m ant-la onde est,
Este m todo, alega Hare, capaz de gerar o acordo m oral apartir de pre-
ferncias divergentes.
O exem plo apresentado sim ples em parte porque envolve. apen~s
dois indivduos. Na prtica, os casos m ultilaterais podem ser m UIto m ars
com plexos, m as Hare supe que no colocam dificuldades tericas acres-
cidas: em todas as situaes, a exigncia de universalizar as nossas
prescries leva-nos a aprovar apenas as opes que resultaro na m aior
8. O utilitarism o depois deMill
[A] j ustia um nome para certas exigncias morais que,
consideradas colectivamente, ocupam um lugar mais ele-
vado na escala da utilidade (e, por isso, tm uma
obrigatoriedade mais forte) do que quaisquer outras, ainda
que possam ocorrer casos particulares em que outro dever
social to importante que passa por cima das mximas
gerais da j ustia. (5.37)
Nestes term os, conclui Mill, o utilitarista pode conviver bem com as
exigncias dajustia.
UlililariSrTlO
Sobretudo no contexto da filosofia analtica da segunda m etade do
sculo XX, a tica utilitarista suscitou um debate filosfico extraordina-
riam ente rico e m ultifacetado, Seria insensato tentar resum ir aqui todos os
aspectos e desenvolvim entos im portantes desse debate, m as vale a pena
m ostrar, ainda que de um a form a m uito sucinta, com o o utilitarism o foi
defendido e criticado por alguns dos filsofos que m ais se destacaram no
dom nio da tica,
Com ecem os pelas tentativas de justificao do utilitarism o. Um a das
m ais discutidas foi proposta por Hare e, por oposio prova de Mill,
no apela a dados em pricos, baseando-se antes no estudo m etatico do
significado dos term os e dos juzos m orais, D e acordo com a teoria
m etatica de Hare, conhecida por prescritivism o universal, os juzos
m orais tm um significado irredutivelm ente prescritivo, Ao fazer um juzo
m oral, no estam os a descrever certos aspectos do m undo, m as a exprim ir
as nossas preferncias form ulando um a prescrio. Porm , as prescries
morais tm um a propriedade lgica interessante: so universalizveis. Isto
significa que, se fizerm os um certo juzo m oral sobre um a dada situao,
terem os de fazer o m esm o juzo sobre quaisquer outras situaes poss-
veis precisam ente sim ilares, seja qual for a posio que ocupem os nessas
situaes - caso contrrio, estarem os a ser incoerentes. Por exem plo, im a-
ginem os algum que pensa o seguinte: Eu devo m entir a X nesta
situao, m as, num a situao exactam ente sim ilar em que X est no m eu
lugar e eu estou no lugar de X, X no deve m entir-m e. Esta afirm ao
fere a exigncia de coerncia que decorre da universalizabilidade dos ju-
zos m orais.
32
Utitilarismo
satisfao total de desejos ou preferncias, e, assim , os nossos juzos coin-
cidiro sem pre com os veredictos do utilitarism o dos actos.
Peter Singer props um a m aneira sem elhante de defender o utilita-
rism o. Singer (1993: 28-30) pretende m ostrar que chegam os
rapidam ente a um a posio inicialm ente utilitarista, a partir do m om ento
em que aplicam os o aspecto universal da tica tom ada de decises sim -
ples, pr-ticas. Com ecem os, ento, por im aginar que estam os num nvel
em que as consideraes m orais no afectam m inim am ente as nossas
decises - num a espcie de estdio pr-tico. Se tiverm os de escolher
entre duas opes possveis, com o tom arem os a deciso? Terem os, sem
dvida, de determ inar com o cada um a das opes afectar os nossos pr-
prios interesses, eescolherem os aquela que m ais os satisfizer.
Suponham os agora que com eam os a pensar eticam ente. D ado que os
juzos ticos devem ser form ulados de um a perspectiva universal, reco-
nhecem os, ao adoptar essa perspectiva, que os nossos interesses, pelo
sim ples facto de serem nossos, no tm m ais im portncia do que os inte-
resses alheios. Em lugar dos m eus interesses, declara Singer, tenho
agora de tom ar em considerao os interesses de todas as pessoas que
sero afectadas pela m inha deciso. Isso exige que eu pondere todos esses
interesses e adopte a aco que tenha m aior probabilidade de m axim izar
os interesses dos afectados. Chegam os assim ao utilitarism o.
Note-se que Singer, contrariam ente a Hare, no tem a pretenso de
defender que o aspecto universal da tica im pe dedutivam ente um a tica
utilitarista. O seu objectivo, m ais m odesto, deixar clara aplausibilidade
do utilitarism o enquanto concepo m inim alista da tica: para agir
m oralm ente tem os, pelo m enos, de atender aos interesses alheios. Talvez a
prom oo do bem -estar geral no seja tudo o que preciso levar em conta
nas decises ticas, m as com pete aos adversrios do utilitarism o m ostrar
que existem outros factores im portantes. Enquanto estes no tm sucesso,
o utilitarism o m antm -se credvel.
Um a terceira defesa interessante da tica utilitarista partiu de J ohn
Harsanyi. Para com preender o argum ento de Harsanyi, im aginem os um
indivduo, X, que pretende escolher entre dois sistem as sociais - por
exem plo, entre um a dem ocracia liberal e um a ditadura m arcada pelo
nepotism o. Suponham os que X quer apenas atender racionalm ente aos
seus prprios interesses. Se ele souber que posio especfica vai ocupar
em cada um dos sistem as, no poderem os dizer que os avaliar de um
ponto de vista m oral. (Por exem plo, provavelm ente escolheria a ditadura
se soubesse que, nesse sistem a, seria sobrinho do ditador.) D e m odo aque
34
Utilitarismo
sua escolha tenha um carcter m oral, sugere Harsanyi, devem os im aginar
que X no sabe que posio vai ocupar nos sistem as em questo - est sob
um vu de ignorncia, para usar a expresso celebrizada pelo filsofo
J ohn Rawls. Este vu assegura aim parcialidade necessria para um a deci-
so tica..
Vejam os, ento, com o X avaliaria as opes disponveis se estivesse
nessa situao peculiar. Suponham os que a sociedade consiste em n indi-
vduos. D enotem os os nveis de bem -estar (ou de utilidade) de que os
indivduos 1,2, , n desfrutariam no sistem a social em causa da seguinte
m aneira: Uj, U2, , U
n
. Sob o vu de ignorncia de Harsanyi, X atribuir
a m esm a probabilidade, l/n, situao de ocupar qualquer posio social
especfica e, consequentem ente, situao de desfrutar qualquer um dos
nveis de bem -estar Uj, U2 ... , U'l' Se X for racional, escolher o sistem a
social que lhe oferecer as m elhores perspectivas de bem -estar, ou seja,
tentar m axim izar a utilidade esperada, com o se diz na teoria da deci-
so. Com o poder fazer isso? Para sim plificar, suponham os que tem os
apenas quatro cidados e que os nveis de bem -estar em cada sistem a so
os seguintes:
D em ocracia Uj =4 U2= 3 U3- 3 U4-2
D itadura Uj=6 U2-2 U3-1 U4-1
Com o no sabe que posio ocupar em qualquer dos sistem as sociais,
X atribuir um a probabilidade de '/4 hiptese de, em cada sistem a, ocu-
par cada um a das posies possveis. Poder ento calcular a utilidade
esperada de am bas as opes. Os clculos para a opo da dem ocracia e
para aopo da ditadura so, respectivam ente, os seguintes:
(4 x 1/
4
) +(3 x 1/
4
) +(3 x 1/
4
) +(2 x 1/
4
) =3
(6 x 1/
4
) +(2 x 1/
4
) +(I x '/4) +(I x 1/
4
) =2,5
Interessado em m axim izar a utilidade esperada, X escolher, nestas
circunstncias, o sistem a social dem ocrtico. Ao faz-lo, ter escolhido o
sistem a que, considerados todos os indivduos, exibe o m aior bem -estar
m dio: com o podem os constatar com facilidade, o bem -estar m dio na
dem ocracia ena ditadura corresponde, respectivam ente, a3e a2,5.
Podem os ver agora o resultado que Harsanyi pretende estabelecer. Os
agentes racionais m axim izam a utilidade esperada. Sob um vu de igno-
35
Utilitarismo
rncia que os faz assum ir um a perspectiva m oral, escolhem as opes que
m axim izam o bem -estar m dio de toda a populao considerada, isto ,
adoptam um utilitarism o de m dia. Assim , tal com o Singer, Harsanyi
sugere que chegam os ao utilitarism o quando, partindo da ideia de agir
racionalm ente num contexto am oral, introduzim os (neste caso atravs do
vu de ignorncia) a noo m nim a de im parcialidade ou universalidade
que caracteriza o ponto de vista tico. S que Harsanyi, em vez de pensar
que a tica utilitarista m eram ente plausvel, julga que esta se im pe de
um a form a conclusiva.
Apesar destas tentativas de justificao engenhosas, os fundam entos
do utilitarism o e a form a m ais precisa que a doutrina deve assum ir conti-
nuam a ser objecto de grande controvrsia. Por exem plo, se, sem elhana
dos trs autores referidos, advogarm os um utilitarism o de preferncias,
enfrentarem os o problem a delicado de saber com o podem os com parar as
preferncias de pessoas diferentes. Alm disso, precisarem os de determ i-
nar se, na deliberao m oral, devem os atribuir peso a todos os tipos de
preferncias, incluindo as m alvolas ou as que dizem respeito prim aria-
m ente vida dos outros. Caso queiram os excluir alguns tipos de
preferncias de m odo aevitar im plicaes prticas contra-intuitivas, com o
poderem os faz-lo justificadam ente?
A tica utilitarista tem sido criticada por razes m uito diversas. Entre
as crticas que receberam m ais ateno, destaca-se a objeco da integri-
dade. Colocada inicialm ente por Bernard W illiam s, esta objeco diz-nos
que o utilitarism o constitui um a forte am eaa integridade hum ana. Aqui
o term o integridade no tem o sentido de honestidade ou decncia
m oral. A integridade de um a vida hum ana algo que resulta dos projectos
e com prom issos pessoais que a estruturam e unificam , conferindo-lhe um
sentido determ inado. Segundo W illiam s, o utilitarism o exige que cada
agente veja os seus projectos e com prom issos de um a perspectiva absolu-
tam ente exterior ou im pessoal. Por exem plo, im aginem os um a pessoa que
decidiu dedicar um a parte essencial da sua vida criao literria. Para
ela, a vida deixaria de fazer sentido caso se visse privada da literatura. D e
acordo com o utilitarism o, alega W illiam s, essa pessoa deve ver os seus
projectos literrios apenas com o um m eio para produzir resultados valio-
sos no universo com o um todo, eestar disposta a abdicar deles logo que a
prom oo im parcial do bem o exija. Assim , o utilitarism o facilm ente nos
aliena da nossa vida e, por isso, no um a teoria tica aceitvel.
Outra objeco influente, avanada por J ohn Rawls (1971: 156), con-
siste em defender que o utilitarism o no leva a srio a distino entre os
diversos sujeitos, isto , no presta ateno suficiente ao facto de cada
36
Utililarismo
pessoa ter um a vida prpria para viver. O princpio da escolha racional
aplicado a um sujeito, acrescenta Rawls, tom ado tam bm com o prin-
cpio da escolha social. Por exem plo, racional sujeitarm o-nos a um a
operao dolorosa caso isso seja necessrio para viverm os com sade
durante os prxim os vinte anos: a dor intensa sentida num curto perodo
de tem po ' am plam ente com pensada pelo bem -estar futuro. O utilitarista
estende este princpio de escolha sociedade no seu todo, perm itindo que
- alguns indivduos sofram grandes m ales para benefcio de outros sem pre
que isso m axim ize o bem -estar total ou m dio. Segundo Rawls, esta
extenso im prpria, j que se traduz num a insensibilidade absoluta ao
m odo com o o bem -estar est distribudo por pessoas com vidas distintas.
Nenhum a destas objeces proporciona um argum ento conclusivo
contra o utilitarism o. Mill, alis, diria seguram ente que as crticas com o as
de W illiam s e de Rawls falham o alvo. Mm al, um das am bies funda-
m entais do Utilitarisl1lo deixar claro que a tica utilitarista, alm de ser
com patvel com um plena realizao pessoal, torna possvel um a existn-
cia social harm oniosa.
9. Leituras
Crisp (1997) um guia inestim vel para a leitura do Utilitarisl1lo - e
no s. Lyons (1997) rene dez ensaios influentes sobre esta obra de Mill,
sendo recom endvel para um estudo m ais avanado. Para um a breve
exposio da filosofia de Mill, leia W ilson (2002). Singer (1993) discute
vrios problem as actuais de tica prtica num a perspectiva utilitarista e
Rachels (2002) um a das m elhores introdues filosofia m oral. Am bos
os livros esto disponveis em boas edies portuguesas.
Cam pbell (2003) explica os problem as e as teorias principais da epis-
tem ologia m oral. D ancy (2001) apresenta com clareza o debate entre
generalistas eparticularistas.
O Apndice I de Partit (1984) e aParte I de Griffin (1986) so discus-
ses incontornveis sobre anatureza do bem -estar.
Kant (1785) a defesa clssica de um a tica deontolgica. Sobre a
teoria da obrigao de Mill, im porta destacar Urm son (1953), Brown
(1973) eJ acobson (2003). O Captulo 5 de Crisp (1997) prope aideia de
que Mill defende um utilitarism o de vrios nveis. A Parte I de Hare
(1981) desenvolve averso m ais conhecida deste tipo de teoria.
37
Utilitarismo
Para um a perspectiva sem elhante de Mill sobre a relao entre o
interesse pessoal e a m oralidade, veja-se o Captulo 12 de Singer (1993).
D uas boas discusses da prova de Mill so W est (1982) e o Captulo 4
de Crisp (1997). Para um a anlise m ais detalhada, veja-se Sayre-McCord
(2001).
Para aperspectiva de Mill acerca dajustia e dos direitos m orais, veja-
-se Lyons (1977) eBerger (1979).
As justificaes do utilitarism o aqui apresentadas encontram -se na
Parte II de Hare (1981), no Captulo 1 de Singer (1993) e em Harsanyi
(1977). O Captulo 2 de Resnik (1987) um a introduo excelente ao
tem a das decises sob ignorncia. As objeces da integridade eda distin-
o entre pessoas so avanadas, respectivam ente, em Sm art e W illiam s
(1973) e no Captulo li de Rawls (1971).
38
Utilitarismo
39
-~-----
Observaes gerais
Entre as circunstncias que definem o estado actual do conhecim ento 1
hum ano, poucas diferem m ais daquilo que se poderia ter esperado, ou so
m ais reveladoras do atraso em que ainda se detm a especulao sobre os
assuntos m ais im portantes, do que o escasso progresso que se realizou na
resoluo da controvrsia sobre o critrio do certo e do errado. D esde os 5
prim rdios da filosofia, a questo do summul1l bonu11l,t ou, o que o
m esm o, do fundam ento da m oralidade, foi considerada o problem a princi-
pal do pensam ento especulativo, ocupou os intelectos m ais dotados e
dividiu-os em seitas e escolas que m antiveram um a guerra vigorosa entre
si. E, passados m ais de dois m il anos, prosseguem as m esm as discusses, 10
os filsofos ainda se agrupam sob os m esm os estandartes rivais, e nem os
pensadores, nem ahum anidade em geral, parecem estar m ais prxim os de
chegar a um consenso neste assunto do que na poca em que o jovem
Scrates ouviu o velho Protgoras e defendeu (supondo que o dilogo de
Plato se baseia num a conversa real) a teoria do utilitarism ot contra a 15
m oral popular do sofista.
verdade que h um a confuso e incerteza sem elhantes, e em alguns 2
casos um a discordncia sem elhante, no que diz respeito aos prim eiros
princpios de todas as cincias, no sendo excepo a m atem tica, que
considerada a m ais certa de todas elas, m as isso no dim inui m uito (na
verdade, geralm ente no dim inui nada) a fiabilidade das concluses des- 5
41
10
15
20
25
3
5
10
15
Utililarismo
sas cincias, Pode-se explicar esta aparente anom alia com o facto de as dou-
trinas detalhadas de um a cincia no costum arem ser deduzidas daqueles
que so considerados os seus prim eiros princpios, nem de a sua evidncia
deles depender, Se no fosse assim , no haveria cincia m ais precria, ou
cujas concluses estivessem m ais insuficientem ente estabelecidas, do que a
lgebra, que no detiva qualquer da sua celteza daqueles que habitualm ente
so ensinados aos alunos com o sendo os seus elem entos, j que estes, tal
com o so apresentados por alguns dos professores m ais em inentes, esto to
cheios de fices com o alei inglesa e de m isttios com o a teologia, As ver-
dades que, em ltim a anlise, so aceites com o ptim eiros ptincpios de um a
cincia, so na realidade os resultados finais da anlise m etafsica praticada
nas noes elem entares em que essa cincia versada, easuarelao com a
cincia no a dos alicerces com um edifcio, m as a das razes com um a
rvore - estas podem desem penhar igualm ente bem o seu papel m esm o que
nunca tenham sido desentelTadas eexpostas luz, Mas, em bora nacincia as
verdades pm ticulares precedam a teotia geral, pode-se esperar que acontea
o contrtio num a m te prtica, com o am oral ou alegislao, Toda aaco
realizada em funo de um fim , e as regras das aces, pm 'ece natural sup-
-lo, devem tom m ' todo o seu cm 'cter ecor do fim que servem .t Quando nos
envolvem os na perseguio de um objectivo, um a concepo clara e precisa
daquilo que perseguim os parece ser a ptim eira coisa de que precisam os, e
no a ltim a coisa a procurm '. Pensam os que um teste do celto e do errado
tem de ser o m eio de determ inar aquilo que est certo e aquilo que est
errado, eno um a consequncia deo telm os j determ inado,
No seconsegue evitm ' adificuldade recOlTendoteotia popular segundo
a qual h um a faculdade natural, um sentido ou instinto, que nos infOlm a
acerca daquilo que est certo e elTado,t Afinal, alm de aprpria existncia
de um tal sentido m oral ser um a das questes em disputa, m esm o aqueles
que acreditam nessa faculdade e tm algum as pretenses filosficas foram
obtigados aabandonar aideia deque, tal com o os nossos outros sentidos dis-
cem em as im agens ou sons efectivam ente presentes, tam bm ela discem e
aquilo que est certo e errado no caso particular que enfrentam os, Segundo
todos os seus intrpretes dignos do nom e de pensadores, a nossa faculdade
m oral proporciona-nos apenas os ptincpios gerais para fazer juzos m orais;
ela um ram o danossa razo, no danossa faculdade sensvel, edeverepor-
tar-se s doutrinas abstractas da m oral, no percepo m oral de casos
concretos, A escola intuitiva da tica,t no m enos do que aquela que pode-
m os designar por escola indutiva, insiste na necessidade de leis gerais.
Am bas adm item que am oralidade de um a aco pm ticular no um a ques-
42
I. Observaes gerais
to de percepo directa, m as de aplicao de um a lei aum caso pm ticulm '.
Reconhecem tam bm , em grande m edida, as m esm as leis m orais, m as diver-
gem quanto sua evidncia e fonte a partir da qual estas obtm a sua
autoridade, D e acordo com a ptim eira opinio, os ptincpios da m oral so
evidentes a priori, no exigindo outra coisa para im por asua aceitao alm 20
da com preenso do significado dos term os. D e acordo com aoutra doutrina,
o certo eo elTado, tal com o averdade eafalsidade, so questes de observa-
o eexperincia, Porm , am bas defendem que am oral tem de ser deduzida
apm tir de ptincpios, e aescola intuitiva afim Ia to veem entem ente com o a
indutiva que h um a cincia da m oral. No entanto, um a e outra raram ente 25
tentam fazer um a lista dos ptincpios a priOli que devem servir deprem issas
dessa cincia; m ais raram ente ainda fazem qualquer esforo para reduzir
esses vtios ptincpios aum nico prim eiro ptincpio oufundam ento com um
da obrigao, Ou presum em que os preceitos com uns da m oral tm um a
autotidade a priori, ou estabelecem com o base com um dessas m xim as um a 30
ideia geral, cuja autotidade m uito m enos bvia do que asprprias m xim as
eque nunca conseguiu conquistar aaceitao popular. Mas, para que as suas
pretenses no sejam infundadas, deve haver um ptincpio ou lei fundam en-
tal na raiz de toda a m oral,t ou, se existirem vtios, deve haver entre eles
um a determ inada ordem de precedncia; e o princpio, ou aregra para deci- 35
dir entre os vrios princpios quando estes entram em conflito, deve ser
auto-evidente,
Investigar at que ponto os m aus efeitos desta deficincia foram m itiga- 4
dos na prtica, ou em que m edida as crenas m orais da hum anidade foram
viciadas ou tornadas incertas devido ausncia de qualquer reconhecim ento
distinto de um padro ltim o, im plicatia um exam e e crtica exaustivos das
douttinas ticas do passado e do presente. Contudo, setia fcil m ostrar que, 5
seja qual for aestabilidade ou consistncia que essas crenas m orais tenham
atingido, ela deveu-se ptincipalm ente influncia tcita de um padro no
reconhecido, Em bora a inexistncia de um ptim eiro princpio reconhecido
tenha tom ado a tica no tanto um guia, m as antes um a consagrao, dos
sentim entos que os hom ens efectivam ente tm , ainda assim , com o os senti- 10
m entos dos hom ens, tanto de aprovao com o de averso, so m uito
influenciados por aquilo que eles supem ser os efeitos das coisas na sua
felicidade, o ptincpio da utilidade, ou, com o Bentham lhe cham ou m ais
tarde, o Ptincpio daMaior Felicidade, teveum grande peso naform ao das
doutrinas m orais m esm o daqueles que m ais desdenhosam ente rejeitam asua 15
autotidade. Nem h qualquer escola de pensam ento que, por m enos disposta
que esteja a reconhecer a influncia das aces na felicidade com o nico
princpio fundam ental dam oralidade efonte da obtigao m oral, serecuse a
43
20
25
30
35
5
5
10
15
20
Ulj [ itarisrno
adm itir que esta um a considerao das m ais substanciais, e at predom i-
nante, em m uitos dos detalhes da m oral. Eu poderia ir m uito m ais longe e
dizer que os argum entos utilitaristas so indispensveis para todos esses
m oralistas do a priori que atlibuem algum a im pm tncia argum entao. O
m eu presente propsito no o de criticar esses pensadores; porm , no
posso deixar de referir, a ttulo de exem plo, um tratado sistem tico de um
dos m ais ilustres deles: aMetafisica da tica, de Kant. tNo tl'atado em ques-
to, este hom em notvel, cujo sistem a de pensam ento continuar a ser
durante m uito tem po um dos m arcos na histria da especulao filosfica,
estabelece com o origem e fundam ento da obrigao m oral o seguinte pri-
m eiro princpio universal: Age de form a a que aregra segundo a qual ages
possa ser adoptada com o lei por todos os seres racionais. Mas, quando
com ea a deduzir deste preceito cada um dos deveres efectivos da m orali-
dade, fracassa, de um a m aneira quase grotesca, na tentativa de m ostrar que
haveria um a contradio, um a im possibilidade lgica (para no dizer fsica)
na adopo, por todos os seres racionais, das regras de conduta m ais escan-
dalosam ente im orais. Tudo o que m ostra que as consequncias da sua
adopo universal seriam tais queningum escolheria sujeitar-se aelas. t
Na presente ocasio, esem discutir m ais as outras teorias, vou tentar con-
tlibuir para acom preenso eapreciao da tem ia utilitarista ou dafelicidade,
bem com o para prov-la no sentido em que esta susceptvel de prova.
evidente que essa no poder tratar-se de um a prova no sentido com um e
popular do term o. As questes sobre fins ltim os no adm item prova directa.
Quando sepode provar que um a coisa boa, tem de sefaz-lo provando que
essa coisa um m eio para algo adm itido com o bom sem prova. Prova-se que
aarte m dica boa em virtude deconduzir sade, m as com o ser possvel
provar que a sade boa? A arte m usical boa porque, entre outras coisas,
produz prazer, m as que prova sepode dar para aafirm ao de que oprazer
bom ? Sendo assim , caso seafirm e quehum a frm ula abrangente que inclui
todas as coisas boas em si m esm as, sendo as restantes coisas boas, no boas
com o um fim , m as boas com o um m eio, afrm ula pode ser aceite ou rejei-
tada, m as no tem a para aquilo que habitualm ente se entende por prova.
No devem os, no entanto, inferir que a sua aceitao ou rejeio tem de
depender de um im pulso cego ou de um a escolha arbitrria. H um sentido
m ais am plo da palavra prova no qual esta questo, com o qualquer outra
das questes controversas dafilosofia, susceptvel deprova. O assunto est
dentro do alcance dafaculdade racional, eessa faculdade no lida com elede
um a m aneira m eram ente intuitiva. Podem apresentar-se consideraes sus-
ceptveis de fazer o intelecto dar ou recusar o seu assentim ento doutrina, o
que equivale aum a prova.
44
I. Observaes gerais
Vam os exam inar aqui anatureza dessas consideraes, de que m aneira
se aplicam ao caso e, consequentem ente, que razes podem ser apresenta-
das para aceitar ou rejeitar a frm ula utilitarista. Porm , com preender
conectam ente a frm ula um a condio prelim inar da sua aceitao ou
rejeio raional. Creio que a prpria noo im peIfeita que geralm ente se
form a do seu significado o obstculo principal que im pede a sua aceita-
o, e que, m esm o que se pudessem elim inar apenas os erros de
interpretao m ais grosseiros, a questo ficaria m uito sim plificada e um a
grande parte das dificuldades seria rem ovida. Sendo assim , antes de tentar
entrar nas razes filosficas que podem ser apresentadas para aprovar o
padro utilitarista, vou oferecer algum as ilustraes da prpria doutrina
com o objectivo de m ostrar m ais claram ente aquilo que ela , de a distin-
guir daquilo que ela no , e de rem over as objeces prticas que tm
origem em interpretaes erradas do seu significado ou que lhes esto
estreitam ente ligadas. Tendo assim preparado o terreno, irei depois, tanto
quanto m e for possvel, esforar-m e por esclarecer a questo, entendida
com o um a questo de teoria filosfica.
45
6
5
10
15
-~------
oque outilitarism o
Ser suficiente um breve com entrio ao erro grosseiro de supor que 1
aqueles que defendem a utilidade com o teste do certo e do errado usam o
term o naquele sentido restrito, m eram ente coloquial, segundo o qual autili-
dade se ope ao prazer. Tem os de pedir desculpa aos adversrios filosficos
do utilitm lsm o que sejam confundidos, nem que seja apenas por m om entos, 5
com algum capaz de um equvoco to absurdo, que se tom a m ais extraor-
dinrio em virtude de a acusao contrria (a de referir tudo ao prazer, e
isso tam bm da form a m ais grosseira) ser outra das acusaes com uns ao
utilitm " sm o. E, com o fez notar de fOlm a perspicaz um autor talentoso, o
m esm o gnero de pessoas (em uitas vezes am esm a pessoa) denuncia ateo- \O
ria por ser im praticavelm ente austera quando a palavra 'utilidade' tem
precedncia sobre a palavra 'prazer', e por ser dem asiado voluptuosa na
prtica quando a palavra 'prazer' tem precedncia sobre a palavra 'utili-
dade'. Aqueles que percebem algum a coisa do assunto esto conscientes
de que todos os autores, de Epicurot a Bentham , que defenderam a teoria 15
da utilidade, no entendiam por ela algo a contradistinguir do prazer, m as o
prprio prazer em conjuno com aiseno de dor, e, em vez de oporem o
til ao agradvel ou ao ornam ental, declm " aram sem pre que estes se contam
entre aquilo que abrangido pelo til. Ainda assim , a m ultido com um ,
incluindo am ultido de autores, cai perpetuam ente neste erro bsico no s 20
em jom ais eperidicos, m as tm nbm em livros de peso epretenso. Tendo
apanhado apalavra utilitarista sem conhecer nada sobre ela excepto o seu
47
1 1 . o que o utilitarismo
5
15
30
25
10
20
4
5
5
49
CFT-UTIL-4
e m ais nobre - absolutam ente baixo e desprezvel, defender um a dou-
trina digna apenas de porcos, aos quais os seguidores de Epicuro foram
desdenhosam ente com parados logo m uito cedo; eos defensores m odernos da
doutlina esto ocasionalm ente sujeitos acom paraes igualm ente sim pticas
pelos seus cticos alem es, franceses eingleses.
Quando foram atacados desta m aneira, os epicuristas responderam sem -
pre que no eram eles, m as os seus acusadores, querepresentavam anatureza
hum ana aum a luz degradante, pois a acusao supe que os seres hum anos
no so capazes de ter quaisquer prazeres alm daqueles que so acessveis
aos porcos. Se esta suposio fosse verdadeir'a, a acusao no podelia ser
desm entida, m as nesse caso deixada deconstituir' um a objeco, j que, seas
fontes de prazer fossem precisam ente as m esm as para os seres hum anos e
para os porcos, aregra de vida que fosse suficientem ente boa para uns seria
suficientem ente boa para os outros. Sente-se que a com parao da vida epi-
curista com a vida das bestas degradante precisam ente porque os prazeres
de um a besta no satisfazem as concepes defelicidade de um ser hum ano.
Os seres hum anos tm faculdades m ais elevadas do que os apetites anim ais e,
quando setom am conscientes delas, no vem com o felicidade nada que no
inclua a sua gratificao. Na verdade, no considero que os epicuristas
tenham sido inteiram ente irrepreensveis no m odo com o extraram os seus
esquem as de consequncias do plincpio utilitatista. Para o fazer de m aneir'a
satisfatlia, tm de se ter em conta m uitos elem entos esticos, bem com o
cristos, m as no h qualquer teoria da vida epiculista conhecida que no
atribua aos prazeres do intelecto, dos sentim entos eda im aginao, incluindo
os sentim entos m orais, um valor m uito m ais elevado enquanto prazeres do
que aos prazeres da m era sensao. Contudo, tem de se adm itir' que, de um a
m aneir'a geral, os autores utilitadstas atriburam a superim idade dos prazeres
m entais sobre os corporais sobretudo m aior perm anncia e segurana, bem
com o m enor dispendiosidade, dos prim eiros - isto , s suas vantagens
circunstanciaist, eno suanatureza intrnseca. E em todos estes aspectos os
utilitadstas provat'am com pletam ente a sua posio, m as podeliam ter invo-
cado arazo m ais fm te, com o lhepodem os cham ar, com inteira consistncia.
totalm ente com patvel com o princpio da utilidade reconhecer o facto de
que alguns tipos deprazer so m ais desejveis evaliosos do que outros. Selia
absurdo supor que, enquanto que na avaliao de todas as outras coisas se
considera tanto a qualidade com o a quantidade, a avaliao dos prazeres
dependesse apenas daquantidade.
Se m e perguntarem o que entendo pela diferena qualitativa de praze-
res, ou por aquilo que torna um prazer m ais valioso do que outro,
Utllitarismo
som , usam -na habitualm ente para exprim ir a rejeio ou o m enosprezo do
prazer em algum a das suas form as, com o ada beleza, a do ornam ento ou a
da diverso. Alm disso, o term o no m al aplicado apenas em deprecia-
o, m as tam bm , ocasionalm ente, com o elogio, com o se im plicasse um a
superioridade em relao frivolidade e aos m eros prazeres efm eres. E
este uso pervertido o nico pelo qual apalavra popularm ente conhecida,
eaquele pelo qual anova gerao est aadquirir anica noo do seu sig-
nificado. Aqueles que introduziram apalavra, m as que durante m uitos anos
deixaram de a usar com o ttulo distintivo, podem m uito bem sentir-se cha-
m ados a recuper-la se ao faz-lo puderem contribuir para a salvar desta
degradao absoluta.
O credo que aceita a utilidade, ou o Princpio da Maior Felicidade,
com o fundam ento da m oralidade, defende que as aces esto certas na
m edida em que tendem a prom over a felicidade, erradas na m edida em
que tendem a produzir' o reverso da felicidade. Por felicidade, entende-se
o prazer e a ausncia de dor; por infelicidade, ador e aprivao de prazer.
preciso dizer m uito m ais para dar um a viso clara do padro m oral esta-
belecido por esta teoria - em particular, que coisas inclui ela nas ideias
de dor e de prazer e em que m edida isso ainda um a questo em aberto.
Mas essas explicaes suplem entares no afectam a teoria da vida em que
esta teoria da m oralidade se baseia - nom eadam ente, a ideia de que o
prazer e a iseno de dor so as nicas coisas desejveis com o fins, e de
que todas as coisas desejveis (que so to num erosas no esquem a utilita-
rista com o em qualquer outro) so desejveis ou pelo prazer inerente em
si m esm as ou enquanto m eios para a prom oo do prazer e da preveno
da dor.
Ora, tal tem ia da vida excita em m uitas m entes, e entre estas contam -se
algum as das m ais estim veis em sentim ento epropsito, um desagrado invete-
rado. Consideram que supor que a vida no tem (com o dizem ) nenhum fim
m ais elevado do que oprazer - nenhum objecto dedesejo eem penho m elhor
48
oautor deste ensaio tem razes para acreditar que foi ele a primeira pessoa a divulgar a
palavra utilitarista. No a inventou. mas adoptou-a de uma breve passagem dos Annals 01
lhe Parish. do Sr. Galt.t Depois de a usar como designao durante vrios anos, ele e outros
abandonaram-na devido a uma crescente averso a tudo aquilo que se parecesse com um
emblema ou senha de uma seita. Porm, como nome para uma nica opinio, e no para um
conjunto de opinies - para denotar o reconhecimento da utilidade como um padro. e no
para qualquer maneira especffica de o aplicart - o termo satisfaz uma necessidade lingufs-
fica e, em muitos casos, oferece ummodo conveniente de evitar parfrases cansativas.
5
2
25
30
10
15
3
5
10
6
5
10
15
20
25
UUlitarismo
sim plesm ente enquanto prazer e no por ser m aior em quantidade, s h
um a resposta possvel. D e dois prazeres, se houver um ao qual todos ou
quase todos aqueles que tiveram a experincia de am bos derem um a pre-
ferncia decidida, independentem ente de sentirem qualquer obrigao
m oral para o preferirt, ento ser esse o prazer m ais desejvel. Se um dos
dois for colocado, por aqueles que esto com petentem ente fam iliarizados
com am bos, to acim a do outro que eles o preferem m esm o sabendo que
acom panhado de um m aior descontentam ento, e se no abdicariam dele
por qualquer quantidade do outro prazer acessvel sua natureza, ento
terem os razo para atribuir ao deleite preferido um a superioridade em
qualidade que ultrapassa de tal m odo a quantidade que esta se torna, por
com parao, pouco im portante.
Ora, um facto inquestionvel que aqueles que esto igualm ente fanri-
liarizados com am bos, eque so igualm ente capazes de os apreciar ede se
deleitar com eles, do um a preferncia m uitssim o m arcada ao m odo de
existncia que em prega as suas faculdades superiores. Poucas criaturas
hum anas consentiriam ser transform adas em qualquer dos anim ais infe-
riores perante a prom essa da plena fruio dos prazeres de um a besta,
nenhum ser hum ano inteligente consentiria tornar-se tolo, nenhum a pes-
soa instruda se tornaria ignorante, nenhum a pessoa de sentim ento e
conscincia se tornaria egosta e vil, m esm o que apersuadissem de que o
tolo, o asno e o velhaco esto m ais satisfeitos com a sua sorte do que ela
com a sua. No abdicaria daquilo que possui a m ais do que eles em troca
da plena satisfao de todos os desejos que tem em com um com eles. Se
algum a vez desejasse estar no seu lugar, iss:aconteceria apenas em casos
de infelicidade to extrem a que, para lhe escapar, teria de trocar a sua
sorte por quase qualquer outra, por m uito indesejvel que esta parecesse
aos seus olhos. Um ser com faculdades superiores precisa de m ais para
ser feliz, provavelm ente capaz de um sofrim ento m ais agudo e certa-
m ente -lhe vulnervel em m ais aspectos. Mas, apesar destas
desvantagens, no pode nunca desejar realm ente afundar-se naquilo que
se lhe afigura com o um nvel de existncia inferior. Podem os explicar esta
recusa com o nos apetecer - podem os atribu-la ao orgulho, um nom e que
dado indiscrinrinadam ente a alguns dos m ais e a alguns dos m enos esti-
m veis sentim entos de que os seres hum anos so capazes; podem os
referi-la ao am or liberdade e independncia pessoal, ao qual os esti-
cos recorreram , fazendo dele um dos m eios m ais eficazes para ainculcar;
ao am or ao poder ou ao am or excitao, que realm ente participam e
contribuem para ela. No entanto, a m aneira m ais apropriada de entender
50
1 1 .o que o utilitarismo
esta recusa com o um sentido de dignidade que, de um a form a ou de
outra, todos os seres hum anos possuem em proporo (em bora de m odo
nenhum exacta) s suas faculdades superiores - este sentido um a parte
to essencial da felicidade daqueles em que forte que tudo o que se lhe
oponha s l1)om entaneam ente poder ser objecto de desejo. Quem supe
que esta preferncia im plica um sacrifcio de felicidade - que, em igual-
dade de circunstncias, o ser superior no m ais feliz do que o inferior ----:
confunde as ideias m uito diferentes de felicidade e de contentam ento. E
indiscutvel que um ser cujas capacidades de deleite sejam baixas tem
um a probabilidade m aior de as satisfazer com pletam ente, e que um ser
am plam ente dotado sentir sem pre que, da form a com o o m undo consti-
tudo, qualquer felicidade que possa esperar ser im perfeita. Mas pode
aprender a suportar as suas im perfeies, se de todo forem suportveis, e
estas no o faro invejar o ser que, na verdade, est inconsciente das
im perfeies, m as apenas porque no sente de m odo nenhum o bem que
essas im perfeies qualificam . m elhor ser um ser hum ano insatisfeito
do que um porco satisfeito; m elhor ser Scrates insatisfeito do que um
tolo satisfeito. E se o tolo ou o porco tm um a opinio diferente porque
s conhecem o seu prprio lado da questo. A outra parte da com parao
conhece am bos os lados.
Pode-se objectar que, sob ainfluncia da tentao, m uitos daqueles que
podem aceder aos prazeres superiores preferem ocasionalm ente os inferio-
res. Mas isto inteiram ente com patvel com um total reconhecim ento da
superioridade intrnseca dos prazeres superiores. D evido fraqueza de
carcter, os hom ens elegem frequentem ente o bem que est m ais m o,
em bora saibam que este m enos valioso; eisto ocorre tanto quando aesco-
lha entre dois prazeres corporais com o quando entre prazeres corporais e
m entais. Entregam -se a vcios sensuais que prejudicam a sade, em bora
estejam perfeitam ente conscientes de que a sade o m aior bem . Pode-se
ainda objectar que m uitos daqueles que com eam por ter um entusiasm o
juvenil por tudo aquilo que nobre afundam -se na indolncia eno egosm o
m edida que avanam na idade. No entanto, no creio que aqueles que pas-
sam por esta m udana m uito com um escolham voluntariam ente aclasse dos
prazeres inferiores em detrim ento da dos superiores. Creio que, antes de se
dedicarem exclusivam ente aos prim eiros, j se tornaram incapazes de fruir
os segundos. Na m aior parte das naturezas, a capacidade para os sentim en-
tos m ais nobres um a planta m uito delicada, que m orre facilm ente no s
devido a influncias hostis, m as tam bm sim ples falta de alim ento - e,
na m aioria dos jovens, m orre rapidam ente se a sua posio na vida lhes
51
30
35
40
45
7
5
10
15
20
25
8
5
10
15
9
5
10
Utili! arisrno
reservou ocupaes e os lanou para um a sociedade desfavorveis para
m anter em exerccio essa capacidade superior. Os hom ens perdem as suas
aspiraes superiores m edida que perdem os seus gostos intelectuais por-
que no tm tem po ou oportunidade para selhes dedicarem , eno seviciam
nos prazeres inferiores porque os prefiram deliberadam ente, m as sim por-
que so os nicos a que tm acesso ou so os nicos com que ainda
conseguem deleitar-se. Pode-se perguntar se algum que perm aneceu igual-
m ente sensvel a am bas as classes de prazeres algum a vez preferiu calm a e
infOlm adam ente os inferiores; no entanto, foram m uitos os que, em todas as
pocas, sucum biram num a tentativa ineficaz de os com binar.
Entendo que no pode haver qualquer recurso deste veredicto dos nicos
juzes com petentes. Se a questo determ inar qual de dois prazeres vale
m ais fluir, ou qual de dois m odos de existncia o m ais gratificante para os
sentim entos, independentem ente dos seus atributos m orais e das suas conse-
quncias, o juzo daqueles que esto qualificados pelo conhecim ento de
am bos (ou, se estiverem em desacordo, do da sua m aioria) tem de ser adm i-
tido com o final. E esse juzo relativo qualidade dos prazeres tem de ser
aceite sem a m enor hesitao, pois no h qualquer outro tribunal a que
recorrer m esm o na questo da quantidade. Que m eios existem para determ i-
nar qual am ais aguda de duas dores, ou am ais intensa de duas sensaes
aprazveis, a no ser o sufrgio geral dos que esto fam iliarizados com
am bas? Nem as dores nem os prazeres so hom ogneos, e ador tem sem pre
um a natureza diferente da do prazer. Com o se pode decidir se vale a pena
perseguir um prazer especfico custa de um a dor especfica ano ser pelos
sentim entos e pelo juzo dos experientes? Por isso, esses sentim entos e esse
juzo tm direito m esm a considerao quando declaram que, independente-
m ente da questo da intensidade, o tipo de prazeres resultantes das
faculdades superiores prefervel ao daqueles que so acessveis natureza
anim al separada das faculdades superiores.
Insisti neste aspecto porque ele um a parte necessria de um a concep-
o perfeitam ente justa da utilidade ou felicidade, entendida com o nica
regra directiva da conduta hum ana. Porm , ele no de m aneira algum a
um a condio indispensvel para a aceitao do padro utilitarista, pois
esse padro no am aior felicidade do prprio agente, m as o m aior total
de felicidade em term os globais, e, em bora seja possvel duvidar que um
carcter nobre seja sem pre m ais feliz devido sua nobreza, no pode
haver dvida que ele torna as outras pessoas m ais felizes e que o m undo
em geral ganha im ensam ente com ele. D este m odo, o utilitarism o s pode
atingir o seu fim atravs da cultura geral da nobreza de carcter - e isto
52
1 1 . O que o utilitarismo
seria verdade m esm o que cada indivduo fosse beneficiado apenas pela
nobreza dos outros, e a sua prpria, no que diz respeito felicidade, cons-
titusse um a sim ples subtraco do benefcio. No entanto, a sim ples
apresentao de um a absurdidade com o esta ltim a torna a refutao
suprflua.
Segundo o Princpio da Maior Felicidade, com o acim a se explicou, o
fim ltim o, em relao ao qual e em funo do qual todas as outras coisas
so desejveis (independentem ente de estarm os a considerar o nosso pr-
prio bem ou o bem das outras pessoas), um a existncia tanto quanto
possvel livre de dor e, tam bm na m edida do possvel, rica em deleites no
que respeita quantidade e qualidade - e o teste da qualidade, bem
com o a regra para a confrontar com a quantidade, a preferncia sentida
por aqueles que, em virtude das suas oportunidades de experincia, s
quais tm de se acrescentar os seus hbitos de conscincia e observao
de si prprios, dispem dos m elhores m eios de com parao. Sendo isto o
fim da aco hum ana, necessariam ente, segundo a opinio utilitarista,
tam bm o padro da m oralidade. Este padro define as regras e os precei-
tos da conduta hum ana, cuja observncia pode assegurar aos seres
hum anos, no m aior grau possvel, um a existncia com o a que descreve-
m os - e no s a eles, m as, na m edida em que a natureza das coisas o
perm ite, atodas as criaturas sencientes. t
A esta doutrina ope-se, no entanto, outra classe de crticos. Estes dizem
que afelicidade, sob qualquer form a, no pode ser o propsito racional da
vida eda aco hum anas, porque, antes de m ais, afelicidade inalcanvel.
E perguntam desdenhosam ente Que direito tens aser feliz?, um a questo
que o Sr. Carlylet adensa ao acrescentar: Que direito, h pouco tem po
atrs, tinhas sequer a ser? D epois, dizem que o hom em pode viver sem
felicidade, que todos os seres hum anos nobres sentiram isso e que no
poderiam ter-se tornado nobres sem aprender a lio da renncia .ou
Entsagen - um a lio que, depois de inteiram ente com preendida e aceIte,
o com eo eum a condio necessria de toda avirtude.
Se tivesse fundam ento, a prim eira destas objeces iria ao m ago da
questo, pois, se os seres hum anos no pudessem ter qualquer felicidade,
alcan-la no poderia ser o fim da m oralidade ou de qualquer conduta
racional. Ainda assim , m esm o nesse caso poder-se-ia dizer algo a favor da
teoria utilitarista, pois a utilidade inclui no s aprocura da felicidade, m as
tam bm apreveno ou aIlltigao da infelicidade, e, se o prim eiro objec-
tivo for quim rico, haver todo o espao e a necessidade m ais im periosa do
segundo, pelo m enos enquanto ahum anidade se considere apta para viver e
53
15
10
5
10
15
11
5
10
12
5
5
10
15
20
13
5
10
15
Ulililarisroo
no serefugie no acto de suicdio colectivo queNovalist recom enda em cer-
tas circunstncias. No entanto, quando se afirm a categoricam ente que
im possvel que avida hum ana seja feliz, esta assero, seno for um a esp-
cie de jogo de palavras, pelo m enos um exagero. Se por felicidade se
entender um a contnua excitao altam ente aprazvel, suficientem ente
bvio que ela im possvel. Um estado de prazer exaltado dura s alguns
m om entos ou, em alguns casos ecom algum as inte1rupes, horas ou dias, e
o brilhante claro ocasional do deleite, no a sua cham a serena e perm a-
nente. D isso estavam to plenam ente conscientes tanto os filsofos que
ensinaram que a felicidade o fim da vida com o aqueles que os escarnece-
ram . Por felicidade no entendiam um a vida de xtase, m as um a existncia
com dores escassas e transitrias, preenchida por m om entos de m uitos e
variados prazeres, com um a predom inncia decidida dos activos sobre os
passivos, t ebaseada no seu todo naideia deno esperar da vida m ais do que
aquilo que ela nos pode dar. Para os que tm sido suficientem ente afortuna-
dos para aobter, um a vida assim constituda parece ter sido sem pre digna do
nom e de felicidade. E, m esm o hoje, um a tal existncia a sorte de m uitos
durante um a parte considervel das suas vidas. A deplorvel educao actual
e as deplorveis estruturas sociais so o nico verdadeiro obstculo que
im pede que esta esteja ao alcance dequase todos.
Os crticos talvez possam duvidar que os seres hum anos ficassem satisfei-
tos com um a poro m oderada de felicidade caso fossem ensinados a
consider-la o fim davida. Mas um a grande parte dahum anidade tem vivido
satisfeita com m uito m enos. Os elem entos principais deum a vida gratificante
parecem ser dois, em uitas vezes considera-se cada um deles suficiente para o
propsito: tranquilidade eexcitao. Com m uita tranquilidade, m uitos desco-
brem que podem viver satisfeitos com pouqussim o prazer. Com m uita
excitao, m uitos podem reconciliar-se com um a quantidade considervel de
dor. No h, seguram ente, qualquer im possibilidade inerente em fazer com
que at a hum anidade em geral una am bas as coisas, pois estas esto to
longe de ser incom patveis que form am um a aliana natural - o prolonga-
m ento de um a delas prepara e excita o desejo da outra. S aqueles em que a
indolncia corresponde aum vcio no desejam aexcitao aps um intervalo
derepouso; s aqueles em que anecessidade deexcitao um a doena sen-
tem a tranquilidade que se lhe segue com o algo m aador e inspido, e no
com o algo aprazvel em proporo directa excitao que a precedeu.
Quando as pessoas toleravelm ente afortunadas na sua sorte visvel no
encontram deleite suficiente na vida para que esta se torne valiosa para si
prprias, geralm ente isso acontece por no se im portarem com ningum a
54
1 1 .o que o utililarismo
no ser consigo m esm as.t Para os que no tm afectos pblicos nem priva-
dos, as excitaes da vida so m uito reduzidas, e, em todo o caso, perdem
valor m edida que se aproxim a o m om ento em que, com am Olte, todos os
interesses egostas tm de term inar. Mas aqueles que deixam atrs de si
objectos .deafeio pessoal, especialm ente os que cultivaram tam bm um
sentim ento de solidariedade para com os interesses colectivos da hum ani-
dade, preservam um interesse pela vida que to intenso na vspera da
m orte com o no vigor dajuventude eda sade. A seguir ao egosm o, acausa
principal de um a vida insatisfatria a falta de cultura intelectual. Um a
m ente culta - no quero dizer ado filsofo, m as qualquer m ente que tenha
sido exposta s fontes do conhecim ento eque tenha sido ensinada aexercer
as suas faculdades num grau tolervel - encontra fontes de interesse ines-
gotvel em tudo o que a rodeia: nos objectos da natureza, nas realizaes
m tsticas, nas fantasias poticas, nos incidentes da histria, nos m odos de
vida dahum anidade do passado edo presente enas suas perspectivas para o
futuro. possvel, na verdade, tornm m o-nos indiferentes a todas estas coi-
sas, e isso sem term os esgotado um m ilsim o delas, m as isso s acontece
quando nunca tivem os qualquer interesse m oral ou hum ano e procurm os
nelas apenas agratificao dacm iosidade.
Ora, no h absolutam ente nenhum a razo na natureza das coisas para
que todos os que nascem num pas civilizado no recebam um a cultura inte-
lectual capaz de proporcionar um interesse inteligente por esses objectos de
contem plao. E to-pouco h um a necessidade inerente que torne qualquer
indivduo num ser egosta, desprovido de qualquer sentim ento ou interesse
que ultrapasse os que se centram na sua m iservel individualidade. Mesm o
hoje, bem frequente encontrarm os algo m uito superior, o que proporciona
um bom pressgio daquilo que a espcie hum ana poder conseguir.
Qualquer ser hum ano decentem ente educado pode ter, ainda que em graus
diferentes, afectos privados genunos e um interesse sincero pelo bem
pblico. Num m undo em que h tanta coisa capaz de despertar o interesse,
tanta coisa que deleita e tam bm tanta coisa para conigir e m elhorm ', qual-
quer pessoa que possua esta poro m oderada de requisitos m orais e
intelectuais pode ter um a existncia que se pode considerar invejvel, e, a
no ser que as m s leis ou asujeio vontade de outrem aprivem daliber-
dade de usar as fontes de felicidade que esto ao seu alcance, ela no
deixar deencontrar essa existncia invejvel seescapar aos m ales positivos
da vida, s grandes fontes de sofrim ento fsico e m ental, com o am isria, a
doena, a crueldade, a baixeza ou a perda prem atura dos objectos de afei-
o. D este m odo, o aspecto fundam ental do problem a reside na luta contra
55
20
25
30
35
14
5
10
15
20
25
30
35
40
45
15
5
10
Ulilllarismo
estas calam idades, das quais s com um a rara boa sorte seconsegue escapar
totalm ente - tal com o as coisas so hoje, no possvel evit-las e, m uitas
vezes, no se pode m itig-las num grau considervel. No entanto, ningum
cuja opinio m erea algum a considerao pode duvidar que a m aior parte
dos grandes m ales positivos do m undo rem ovvel e que, se os assuntos
hum anos continuarem a m elhorar, acabar por ficar confinada a estreitos
lim ites. A pobreza, que im plica sem pre sofrim ento, poder ser com pleta-
m ente elim inada atravs da sabedoria da sociedade, com binada com o bom
senso e a providncia dos indivduos. Mesm o a doena, o m ais intratvel
dos inim igos, pode ver indefinidam ente reduzida a sua dim enso graas a
um a boa educao, tanto fsica com o m oral, e aum controlo apropriado das
influncias nocivas - o progresso da cincia, alis, prom ete um futuro com
conquistas ainda m ais directas a este inim igo detestvel. E todo o avano
nessa direco livra-nos no s de algum as eventualidades que nos encur-
tam a vida, m as tam bm , o que nos interessa ainda m ais, que nos privam
daqueles que nos proporcionam felicidade. Quanto s vicissitudes da vida e
a outros desapontam entos relacionados com circunstncias m undanas, eles
so principalm ente o efeito degrandes im prudncias, dedesejos m al regula-
dos ou de instituies sociais m s ou im perfeitas. Em sum a, todas as
grandes fontes do sofrim ento hum ano so subjugveis num grau elevado, e
algum as delas quase inteiram ente, pela diligncia e esforo hum anos. E,
em bora a sua rem oo seja dolorosam ente lenta - em bora um a longa
sequncia de geraes v perecer antes que a conquista esteja term inada e
este m undo se torne tudo aquilo que, no fosse a falta de conhecim ento e
vontade, facilm ente poderia ser -, ainda assim qualquer m ente suficiente-
m ente inteligente e generosa para participar no esforo extrair da prpria
luta, por m uito m odesta e discreta que seja a sua participao, um nobre
deleite que no trocalia por qualquer suborno com aform a de um a satisfa-
o egosta.
E isto conduz verdadeira avaliao daquilo que os crticos dizem
sobre a possibilidade e a obrigao de aprender a viver sem felicidade.
Inquestionavelm ente, possvel viver sem felicidade; dezanove vigsim os
dos seres hum anos fazem -no voluntariam ente m esm o nas partes do
m undo actual m enos m ergulhadas na barbrie e, m uitas vezes, o heri ou
o m rtir tm de o fazer voluntariam ente por um a coisa que valorizam
m ais do que a sua felicidade individual. Mas que essa coisa se no a
felicidade dos outros ou algum dos requisitos da felicidade? nobre ser
capaz de abdicar inteira ou parcialm ente da nossa poro de felicidade.
Mas, afinal, este sacrifcio pessoal tem de ser para um fim , no o seu
56
1 1 . o que o utilitarismo
prprio fim , e se nos disserem que o seu fim no afelicida,~e, m as a;~-
tude, que m elhor do que a felicidade, pergunto se o herOl ou o m art~
fariam o sacrifcio se no acreditassem que este iria livrar outros de sacn-
fcios sem elhantes. Fariam o sacrifcio se pensassem que a sua renncia
felicidade. pessoal no produziria qualquer fruto para qualquer um d~s
seus sem elhantes, m as que tornaria a sua sorte sem elhante e os colocana
tam bm na condio de pessoas que renunciaram felicidade? Aqueles
que so capazes de renunciar ao deleite pessoal da vida quando com essa
renncia contribuem m eritoriam ente para aum entar a felicidade total no
m undo m erecem toda a honra, m as aquele que faz ou professa fazer essa
renncia para qualquer outro propsito no m erece m ais adm irao do
que o asceta em cim a da sua coluna. t Ele pode ser um a prova inspiradora
daquilo que os hom ens podem fazer, m as, seguram ente, no um exem plo
daquilo que devem fazer.
Em bora s num estado m uito im perfeito das estruturas do m undo qual-
quer um possa servir m elhor a felicidade dos outros atravs do sacrif~cio
absoluto da sua prpria felicidade, ainda assim , enquanto o m undo estiver
neste estado im petfeito, adm ito inteiram ente que aprontido para fazer um
tal sacrifcio a virtude m ais elevada que se pode encontrar no hom em .
Em bora a assero possa ser paradoxal, acrescentm 'ei que, no estado actual
do m undo, a capacidade consciente de viver sem felicidade proporciona.a
m elhor perspectiva de aconquistar na m edida em que ela alcanvel, pOlS
s essa conscincia pode colocar um a pessoa acim a das eventualidades da
vida, fazendo-a sentir que, m esm o que o destino e a fortuna faam o seu
pior, no tm poder para a subjugar - este sentim ento libel1a-a do exc~sso
de ansiedade relativam ente aos m ales da vida e pennite-lhe, com o am Ultos
esticos nos piores tem pos do Im prio Rom ano, cultivm ' ti'anquilam e~te as
fontes de satisfao que lhe so acessveis, sem se preocupm ' com a lllcer-
teza da sua durao nem com o seu fim inevitvel.
Entretanto, que os utilitaristas nunca deixem de rec1am m ' a m oralidade
da devoo pessoal com o propriedade que, tanto ao estic~com o .a~
transcendentalista,t lhes pertence por legtim o direito. A m oralidade utih-
tarista reconhece nos seres hum anos o poder de sacrificm 'em o seu prprio
m aior bem pelo bem de outros. S serecusa aadm itir que o prprio sacri-
fcio seja um bem . Pm 'aela, um sacrifcio que no aum enta nem tende a
aum entar o total de felicidade um desperdcio. A nica renncia pessoal
que aplaude a devoo felicidade - ou a alguns m eios para a felici-
dade - dos outros, seja da hum anidade considerada colectivam ente ou de
alguns indivduos dentro dos lim ites im postos pelos interesses colectivos
da hum anidade.
57
15
20
16
5
10
15
17
5
10
18
5
10
15
20
2S
30
19
S
Uhtitarisrno
Tenho de voltar arepetir o que os crticos do utilitarism o raram ente tm
ajustia de reconhecer: que a felicidade que constitui o padro utilitarista
daquilo que est certo na conduta no afelicidade do prprio agente, m as
ade todos os envolvidos. Quanto escolha entre asua prpria felicidade ea
felicidade dos outros, o utilitarism o exige que ele seja to estritam ente
im parcial com o um espectador benevolente e desinteressado. t Na regra de
ourot de J esus de Nazar', lem os todo o espito da tica da utilidade, Tratar'
os outros com o querem os que nos tratem e am ar' o nosso prxim o com o a
ns m esm os constituem aperfeio ideal da m oralidade utilitarista. Quanto
aos m eios par'a a m xim a aproxim ao a este ideal, a utilidade prescreve,
em prim eiro lugar', que as leis e estruturas sociais coloquem tanto quanto
possvel afelicidade ou (com o selhe pode cham ar' par'afalar' em term os pr-
ticos) o interesse de qualquer indivduo em harm onia com o todo, e, em
segundo lugar, que a educao e a opinio, que tm um poder to grande
sobre o carcter hum ano, usem esse poder para estabelecer na m ente do
indivduo um a associao indissolvel entre a sua prpria felicidade e o
bem com um , especialm ente entre asuaprpria felicidade e aprtica daque-
les m odos de conduta, negativos e positivos, que a considerao pela
felicidade universal prescreve, no s de m aneira a que o indivduo seja
incapaz de conceber consistentem ente a possibilidade de ser feliz agindo
contra o bem geral, m as tam bm de m aneira aque um im pulso directo pal'a
prom over o bem geral possa ser um dos habituais m otivos para agir em
todos os indivduos, e que os sentim entos ligados a esse im pulso possam
ocupar' um lugar am plo e proem inente na existncia senciente de todos os
seres hum anos. Se os adversrios da m oralidade utilitatista aconsiderassem
com o ela verdadeiram ente, no sei que recom endao oriunda de qual-
quer outra m oralidade poderiam dizer que lhe falta: que desenvolvim entos
da natureza hum ana m ais belos ou m ais elevados poderia qualquer outro
sistem a tico supostam ente alim entar, ou com que m otivos par'a agir, ina-
cessveis ao utilitatista, poderiam tais sistem as contar de m odo aque as suas
ordens fossem cum pridas,
Os crticos do utilitarism o nem sem pre podem ser acusados de o repre-
sentarem a um a luz desonrosa, Pelo contrrio, aqueles que tm um a ideia
m inim am ente justa do seu carcter desinteressado encontram por vezes um a
falha no seu padro, considerando-o dem asiado elevado par'aahum anidade,
D izem que ordenar' que as pessoas ajam sem pre com o objectivo de prom o-
ver os interesses gerais da sociedade exigir dem asiado. Mas dizer isto
perceber m al o prprio significado de um padro m oral e confundir aregra
da aco com o seu m otivo. t Com pete tica dizer-nos quais so os nossos
deveres, ou por m eio de que teste podem os conhec-los, m as nenhum sis-
58
1 1 .O que o utililarismo
tem a detica exige que o nico m otivo do que fazem os seja o sentim ento do
dever; pelo contrrio, noventa e nove centsim os de todas as nossas aces
so realizadas por outros m otivos - e bem realizadas, se a regra do dever
no as condenar. extrem am ente injusto para o utilitatism o que esta incom -
preenso e,specficasuscite um a objeco, visto que os m oralistas utilitaristas
foram alm de quase todos os outros ao afirm ar que o m otivo, em bora seja
m uito relevante para o valor do agente, irrelevante para a m oralidade da
aco, Aquele que salva um sem elhante de se afogar' faz o que est m oral-
m ente certo seja o seu m otivo o dever, seja a esperana de ser pago pelo
incm odo; aquele que trai um am igo que confia em si culpado de um
crim e, m esm o que o seu objectivo seja servir outro am igo relativam ente ao
qual tem m aiores obrigaes: Mas lim item o-nos s aces praticadas pelo
m otivo do dever eem obedincia directa ao princpio: um a incom preenso
do m odo de pensar' utilitarista julgar' que ele im plica que as pessoas devam
fixal' a sua m ente num a generalidade to grande com o o m undo ou a socie-
dade no seu todo. A grande m aiOlia das boas aces no tem em vista o
benefcio do m undo, m as o de indivduos, a partir dos quais se constitui o
bem do m undo;t enestas ocasies os pensam entos do hom em m ais virtuoso
Um adversrio, cuja integridade intelectual e moral um prazer reconhecer (o Reverendo
J . L1ewel/yn Oaviest). criticou esta passagem dizendo: .Como bvio, a circunstncia de ser
certo ou errado salvar um homem de se afogar depende muito do motivo que levou realizao
do acta. Suponha-se que um tirano, quando um inimigo seu saltou para omar para fugir de si, o
satvou de se afogar simplesmente para lhe poder in/ligir torturas mais requintadas. Seria esclare-
cedor dizer que o salvamento foi 'uma aco moralmenle certa? Suponha-se tambm, em
conformidade com um dos exemplos correnles nas investigaes ticas, que um homem trai a
confiana de um amigo, porque, se no o fizesse, o amigo ou algum dos seus seria fatalmente
prejudicado. O utilitarismo compelir-nas-ia a chamar traio "um crime", como se esta tivesse
sido praticada pelo motivo mais mesquinho?"
Eu sugiro que aquele que salva uma pessoa de se afogar para depois a matar com torlu-
ras no tem s um motivo diferente daquele que faz a mesma coisa por dever ou
benevolncia - o prprio acta diferente, No caso imaginado, o salvamento do homem
apenas oprimeiro passo necessrio de um acta de longe mais atroz do que teria sido deix-lo
afogar-se. Se o Sr. Oavies tivesse dito -a circunstncia de ser certo ou errado salvar um
homem de se afogar depende muito" - no do motivo, mas - .da inteno", nenhum utilita-
rista teria discordado. Por causa de um lapso to comum que se torna desculpvel, o Sr.
Oavies confundiu, neste caso, as ideias muito diferentes de motivo einteno, No h assunto
que os pensadores utilitaristas (e Benlham de forma proeminente) se tenham esforado mais
por esclarecer. A moralidade de uma aco depende inteiramente da intenot - isto ,
daquilo que oagente quer fazer. Mas omotivo - isto , osentimento que oleva a querer fazer
as coisas de uma certa maneira - no relevante para a moralidade quando no relevante
para o acta, embora tenha uma grande relev/mcia para a nossa avaliao moral do agente,
especialmente se indicar uma disposio habitual boa ou m - um trao de carcter que
provavelmente ir dar origem a aces teis ou prejudiciais.
59
10
IS
20
2S
30
35
40
45
20
5
10
15
Ulililarismo
no precisam de ir alm das pessoas especficas envolvidas, excepto na
m edida em que lhe seja necessrio assegurar-se de que, ao benefici-las,
no est aviolar os direitos - isto , as expectativas legtim as eautorizadas
- de qualquer outra pessoa. Segundo a tica utilitarista, o objecto da vir-
tude a m ultiplicao da felicidade: as ocasies em que qualquer pessoa
(excepto um a em m il) tem o poder de am ultiplicar aum a escala abrangente
(por outras palavras, de ser um benfeitor pblico) so excepcionais, t e ape-
nas nessas ocasies um a pessoa cham ada aconsiderar autilidade pblica;
em todos os outros casos, a utilidade privada, o interesse ou felicidade de
apenas algum as pessoas, tudo aquilo a que tem de dar ateno. Apenas
aqueles cujas aces tm um a influncia que se estende sociedade em
geral precisam de se preocupar habitualm ente com um objecto to am plo.
D e facto, no caso das abstinncias - das coisas que as pessoas se abstm
defazer devido aconsideraes m orais, ainda que num determ inado caso as
consequncias de as fazer pudessem ser benficas - seria indigno um
agente inteligente no estar consciente deque aaco peItence aum a classe
de aces que, se geralm ente fossem praticadas, geralm ente seriam prejudi-
ciais, ede que este o fundam ento da obrigao de se abster de arealizar. t
A considerao pelo interesse pblico im plicada por este reconhecim ento
no m aior do que aexigida por qualquer outro sistem a m oral, j que todos
eles prescrevem aabstinncia de tudo aquilo que seja m anifestam ente pem i-
cioso para asociedade.
As m esm as consideraes im pugnam outra acusao doutrina da utili-
dade, baseada num a incom preenso ainda m ais grosseira do propsito deum
padro de m oralidade e do prprio significado das palavras certo e
errado. Afum a-se frequentem ente que o utilitarism o tom a os hom ens frios
e desprovidos de sim patia, que gela os seus sentim entos m orais pelos indiv-
duos, que os faz interessarem -se apenas pela seca e dura considerao das
consequncias das aces, excluindo dasua avaliao m oral as qualidades de
onde em anam essas aces. Se esta assero significa que no adm item que
a sua avaliao de um a aco com o certa ou errada seja influenciada pela
opinio que tm sobre as qualidades dapessoa que apratica, ento no cons-
titui um a objeco ao utilitarism o, m as a qualquer padro de m oralidade,
pois certam ente nenhum padro tico conhecido decide que um a aco boa
ou m por ter sido praticada por um hom em bom ou m au, eainda m enos por
ter sido praticada por um hom em am vel, corajoso ou benevolente - ou por
ter as caractersticas contrrias. Estas consideraes so relevantes no para a
avaliao das aces, m as para a avaliao das pessoas e, na tem ia utilita-
rista, nada h de inconsistente com a existncia de outras coisas que nos
interessem nas pessoas alm do facto depraticarem aces certas ou enadas.
60
1 1 .O que o utililarismo
Os esticos, na verdade, com o uso eITado e paradoxal da linguagem que
fazia parte do seu sistem a, m ediante o qual lutaram para secolocar acim a de
toda apreocupao alheia virtude, gostavam m uito dedizer que aquele que
tem a virtude, tem tudo - que esse, e s esse, rico, belo, um rei.
Porm , a,doutrina utilitarista no aceita esta descrio do hom em virtuoso.
Os utilitaristas tm toda aconscincia de que h outras propriedades equali-
dades desejveis alm da virtude, e esto perfeitam ente dispostos a
conceder-lhes todo o seu valor. Tm tam bm conscincia de que um a aco
certa no indicia necessariam ente um carcter virtuoso,t e de que as aces
censurveis procedem frequentem ente de qualidades dignas de louvor.
Quando isto m anifesto num caso particular, m odificam a sua avaliao do
agente, m as certam ente no do acto. Adm ito, todavia, que pensam que, a
longo prazo, am elhor prova deum bom carcter so asboas aces, eque se
recusam resolutam ente aconsiderar boa qualquer disposio m ental se asua
tendncia predom inante for produzir um a conduta m . Isto tom a-os im popu-
lares entre m uitas pessoas, m as trata-se de um a im popularidade que tm de
partilhar com todos aqueles que levam a srio a distino entre o certo e o
errado - e um utilitarista consciencioso no tem de ansiar por afastar esta
repreenso.
Se com a objeco se pretende dizer apenas que m uitos utilitaristas
olham par'aa m oralidade das aces, tal com o m edida pelo padro utilita-
rista, de um a form a dem asiado exclusiva, e no do nfase suficiente s
outras belezas de carcter que contribuem para tornar um ser hum ano digno
de am or ou de adm irao, a objeco pode ser adm itida. Os utilitaristas que
cultivaram os seus sentim entos m orais, m as no as suas sim patias nem as
suas percepes artsticas, caem neste erro, acontecendo o m esm o atodos os
outros m oralistas nas m esm as condies. E o que pode ser dito par'adescul-
par os outros m oralistas serve tam bm para eles, nom eadam ente que, se tem
de existir algum eno, m elhor que seja neste sentido. Para dizer averdade,
podem os afirm ar que, tanto entre os utilitaristas com o entre os defensores de
outros sistem as, existem todos os graus im aginveis de rigidez e de lassido
na aplicao do seu respectivo padro: alguns chegam m esm o aser putitana-
m ente rigorosos, m as outros so to indulgentes quanto o poderiam desejar
um pecador ou um sentim entalista. No entanto, em teIm os globais, um a dou-
trina que coloca num lugar proem inente o interesse da hum anidade na
represso epreveno daconduta que viole alei m oral no , provavelm ente,
inferior aqualquer outra quando setrata de voltar as sanes da opinio con-
tra essas violaes. verdade que aqueles que reconhecem diferentes
padres de m oralidade tendem por vezes a discordar quanto questo O
que viola a lei m oral?. No entanto, a diferena de opinio em questes
61
20
25
30
35
21
5
10
15
20
22
5
10
15
20
25
30
23
Utililarismo
m orais no foi introduzida no m undo pelo utilitarism o, e esta doutrina pro-
porciona um m odo tangvel e inteligvel, ainda que nem sem pre sim ples, de
resolver tais diferenas em todas as situaes,
Pode valer a pena indicar m ais algum as incom preenses frequentes da
tica utilitarista, ataquelas que so to bvias egrosseiras que pode parecer
im possvel que um a pessoa sincera einteligente nelas incona. Afinal, aspes-
soas, m esm o as intelectualm ente bem dotadas, m uitas vezes preocupam -se
to pouco em com preender as im plicaes de um a qualquer opinio contra a
qual tenham um preconceito, e os hom ens em geral esto to pouco cons-
cientes de que esta ignorncia voluntria um defeito, que as
incom preenses m ais vulgares acerca das doutrinas ticas surgem constante-
m ente nos escritos ponderados de pessoas que tm as m aiores pretenses
tanto a um princpio superior com o filosofia. No raro ouvirm os injuriar
adoul1ina da utilidade por ser um a doutrina sem Deus. Caso seja necessrio
contrm iar um a suposio to fraca, podem os dizer que aquesto depende da
ideia que form m os do carcter m oral da D ivindade, Se for verdadeira a
crena de que D eus deseja, acim a de todas as coisas, a felicidade das suas
criaturas, e que foi este o propsito da sua criao, a utilidade, alm de no
ser um a doul1ina alheia aD eus, m ais profundam ente religiosa do que qual-
quer outra, Se se quer dizer que o utilitarism o no reconhece a vontade
revelada de D eus enquanto lei suprem a da m oral, respondo que um utilita-
rista que acredita na perfeita bondade e sabedoria de D eus acredita
necessariam ente que tudo aquilo que D eus considerou apropriado revelm '
sobre o assunto da m oral tem de satisfazer as exigncias da utilidade num
grau suprem o, Mas, alm dos utilitaristas, outr ostm sido da opinio de que
arevelao crist serviu e apropriada para anim ar o corao e am ente dos
seres hum anos com um esprito que, em vez de lhes dizer aquilo que est
celto, a no ser de um a m aneira m uito geral, deve perm itir-lhes descobri-lo
por si prprios e inclin-los afaz-lo quando o descobrem ; alm disso, pen-
sam que precisam os de um a doutrina tica cuidadosam ente desenvolvida
pm 'aintelpretar avontade de D eus, suprfluo discutir aqui se esta opinio
ou no conecta, pois toda a ajuda que areligio, seja ela natural ou reve-
lada, possa proporcionar investigao tica est to aberta ao m oralista
utilitm lsta com o aqualquer outro. Ele pode us-la com o prova divina dapro-
ficuidade ou perniciosidade dequalquer curso deaco com om esm o direito
que oul1'ospodem us-la para indicm ' aexistncia de um a lei transcendental
sem qualquer conexo com aproficuidade ou afelicidade.
Alm disso, designando-a por convenincia e aproveitando o uso
populm ' do term o pm 'aa contrastar com princpio, m uitas vezes condena-
-se sum ariam ente a utilidade enquanto doutrina im oral. Porm , o conve-
62
1 1 .o que o utilitarismo
niente, no sentido em que seope ao celto, geralm ente significa aquilo que
conveniente pm 'ao interesse particulm ' do prprio agente, com o quando um
m inistro sacrifica os interesses do seu pas para se m anter no seu lugar.
Quando significa algo m elhor do que isto, significa aquilo que conveniente
para um o,?jecto im ediato, um propsito tem porrio, m as que viola um a
regra cuja observncia conveniente num grau m uito m ais elevado, O con-
veniente, neste sentido, em vez de ser am esm a coisa que o til, um a form a
do pernicioso, Assim , pm 'a o propsito de fugir a um em bm 'ao m om ent-
neo, ou de conseguir um objecto im ediatam ente til para ns prprios ou
para os outr'Os,m uitas vezes seria conveniente dizer um a m entira, Mas, visto
que cultivm ' em ns prprios um sentim ento delicado a respeito da veraci-
dade um a das coisas m ais teis que a nossa conduta pode servir, e o
enfraquecim ento desse sentim ento um a das m ais perniciosas, e visto que
qualquer desvio da verdade, m esm o que no seja intencional, contribui
m uito para debilitar aconfiana nas afum aes hum anas (que no s consti-
tui a principal base de todo o actual bem -estm ' social, com o, alm disso, a
sua insuficincia faz m ais do que qualquer outra coisa nom evel pm 'am anter
atrasada a civilizao, a virtude e tudo aquilo de que depende a felicidade
hum ana m aior escala), sentim os que aviolao deum a regra que tem um a
convenincia to tr'anscendente para um a vantagem im ediata no conve-
niente, e que aquele que, em funo de algo que conveniente para si
prprio ou para oul1'oindivduo, faz o que est ao seu alcance paI'aprivm ' os
seres hum anos do bem einfligir-lhes o m al que est em questo na m aior ou
m enor confiana que podem depositar napalavra de cada um , desem penha o
papel de um dos seus piores inim igos, No entanto, todos os m oralistas reco-
nhecem que m esm o esta regra, sagrada com o , adm ite a possibilidade de
excepes, t verificando-se a principal quando ocultm ' um facto (por exem -
plo, ocultar inform ao de um m alfeitor ou m s notcias de um a pessoa
m uito doente) iriasalvar um a pessoa (especialm ente um a pessoa que no ns
prprios) de um m al m aior e im erecido, e quando s possvel realizaI' a
ocultao negando averdade, Mas, pm 'aque aexcepo no possa estender-
-se alm do necessrio, epossa ter um efeito to pequeno quanto possvel no
enfraquecim ento da confiana na veracidade, deve ser reconhecida e, sepos-
svel, os seus lim ites devem ser definidos; e se o princpio da utilidade for
bom paI'a algum a coisa, tem de ser bom pm 'aponderm ' estas utilidades em
conflito eassinalm ' aregio naqual um a ou outra prevalece.
Os defensores da utilidade tam bm so frequentem ente cham ados a res-
ponder a objeces com o esta - que, antes da aco, no h tem po para
calculaI' e pesaI' os efeitos de qualquer linha de conduta na felicidade geral.
Isto exactam ente com o se algum dissesse que im possvel guiaI' a nossa
63
5
10
15
20
25
30
35
24
1 1 .o que o ulililarismo
15
20
10
25
5
60
50
45
55
65
CFT,UTIL,5
soas tm m esm o de deixar de dizer coisas sem sentido sobre este assunto,
coisas essas que nunca diriam , e s quais nunca dariam ouvidos, a prop-
sito de outros assuntos de interesse prtico. Ningum defende que, com o
os m arinheiros no tm tem po par'a calcular o Alm anaque Nutico, a arte
da navegao no se baseia na astronom ia. Sendo criaturas racionais, eles
vo para o m ar com os clculos j feitos, e todas as criaturas racionais vo
para o m ar da vida com as suas m entes j preparadas para as questes
com uns acerca do que est certo e errado, assim com o para m uitas das
questes, de longe m ais difceis, acerca do que ser sbio ou tolo. E de
presum ir que, enquanto a capacidade de previso for um a qualidade
hum ana, elas continuar'o a proceder assim . Seja qual for o princpio que
adoptem os com o princpio fundam ental da m oralidade, precisam os de
princpios subordinados atravs dos quais o possam os aplicar; a im possi-
bilidade de passm m os sem eles, sendo com um a todos os sistem as, no
pode proporcionar qualquer argum ento contra um em particular. Mas
argum entar seriam ente com o se no pudssem os ter quaisquer desses
princpios secundrios, e com o se a hum anidade tivesse perm anecido at
agora, e v perm anecer sem pre, sem retirar quaisquer concluses gerais
da experincia da vida hum ana, , penso, atingir um nvel de absurdidade
jam ais atingido na controvrsia filosfica.
Os restantes argum entos correntes contra o utilitarism o consistem ,
sobretudo, em confront-lo com as fraquezas com uns da natureza hum ana e
com as dificuldades gerais que perturbam as pessoas conscienciosas quando
elas definem o seu percurso de vida. D izem -nos que um utilitarista estm '
inclinado a fazer do seu prpdo caso particular' um a excepo s regras
m orais, e que, quando estiver sob tentao, ver um a utilidade m aior na
infraco de um a regra do que na sua observncia. Mas ser a utilidade o
nico credo capaz de nos fom ecer pretextos pm " aagir m al e m eios para ilu-
dir a nossa prpda conscincia? Estes so fornecidos em abundncia por
todas as doutlinas que reconhecem o facto m oral da existncia de conside-
raes em conflito - e todas as doutdnas nas quais as pessoas ss tm
acreditado reconhecem este facto. No um defeito de qualquer credo, m as
da natureza com plicada dos assuntos hum anos, que as regras de conduta
no possam ser concebidas de m odo a no precisar" em de excepes, e que
dificilm ente se possa estabelecer com segurana que qualquer espcie de
aco sem pre obdgatda ou sem pre condenvel. No h qualquer credo
tico que no m odere adgidez das suas leis concedendo um a celta latitude,
que fica sob a responsabilidade m oral do agente, para a acom odao das
peculiaridades das circunstncias; e, sob qualquer credo, esta abertura leva
o agente ailudir-se asi prpdo e conduz casustica desonesta. No existe
Ulililarismo
64
conduta pelo cristianism o, j que, sem pre que tenha de sefazer algum a coisa,
no h tem po para ler todo o Antigo e o Novo Testam ento. A resposta
objeco que tem havido m uito tem po, nom eadam ente todo o passado da
espcie hum ana. Ao longo de todo esse tem po, a hum anidade tem vindo a
descobrir as tendncias das aces atravs da experincia, dependendo dessa
experincia toda aprudncia, bem com o toda am oralidade da vida. As pes-
soas falam com o seo com eo deste curso deexperincia tivesse sido posto de
parte at aqui, ecom o se, no m om ento em que um hom em sesente tentado a
introm eter-se na propriedade ou navida de outro, tivesse de com ear aconsi-
derar pela prim eira vez se o assassnio ou o roubo so prejudiciais par'a a
felicidade hum ana. Penso que, m esm o nesse caso, ele no considerar'ia a
questo m uito enigm tica, m as, seja com o for, a questo hoje chegar'-lhe-ia
resolvida sm os. realm ente estranho supor que, seos seres hum anos tives-
sem concordado quanto aconsiderar autilidade com o o teste da m oralidade,
pelm aneceriam sem qualquer acordo arespeito daquilo que til eno tom a-
riam quaisquer m edidas par'a que as suas noes sobre o assunto fossem
ensinadas aos jovens e inculcadas pela lei e pela opinio. No h qualquer
dificuldade em provar' que qualquer padro tico funciona m al sesupuserm os
que aestupidez universal est conjugada com ele; contudo, luz de qualquer
hiptese que fique aqum pressuposto, nesta poca os seres hum anos tm de
j ter adquirido crenas positivas acerca dos efeitos que algum as aces tm
na sua felicidade, e as crenas que surgiram desta form a so as regras da
m oralidade tanto para a m ultido com o para o filsofo, at que este consiga
encontrar' algo m elhor. Que m esm o hoje os filsofos podem facilm ente fazer
isso em m uitos assuntos, que o cdigo tico aceite no tem qualquer autori-
dade divina, e que a hum anidade ainda tem m uito que aprender sobre os
efeitos das aces na felicidade geral, eu adm ito, ou m elhor, defendo seria-
m ente. Os corolrios do princpio da utilidade, tal com o os preceitos de
qualquer arte prtica, adm item um m elhoram ento indefinido, e, num estado
progressivo da m ente hum ana, o seu m elhoram ento decorre continuam ente.
Contudo, considerar que as regras m orais no sepodem provar' um a coisa;
outra coisa passar inteiram ente por cim a das generalizaes intelm diast e
fazer um esforo para testar' directam ente cada aco individual atravs do
prim eiro princpio. estranho pensar' que o reconhecim ento de um prim eiro
princpio inconsistente com aadm isso deprincpios secundrios. InfOlm ar
um viajante sobre o lugar' do seu destino ltim o no proibir o uso depontos
de referncia e de sinais pelo cam inho. A proposio de que afelicidade o
fim eo objectivo dam oralidade no significa que no sepossa construir qual-
quer estrada para atingir esse objectivo, ou que aspessoas que seguem par'al
no devam ser aconselhadas a seguir um a direco em vez de outra. As pes-
5
25
20
10
35
15
30
40
Utititarsmo
qualquer sistem a m oral no qual no sm jam casos inequvocos deobrigaes
em conflito. Estes casos constituem as dificuldades reais, os pontos intrinca-
dos tanto da teoria tica com o da orientao conscienciosa da conduta
pessoal. So superados na prtica, com m aior ou m enor sucesso, de acordo
25 com o intelecto e a virtude do indivduo, m as dificilm ente se pode alegar
que um a pessoa m enos qualificada para lidar com eles por possuir um
padro ltim o ao qual os direitos e deveres em conflito possam ser refeli-
dos. Se a utilidade a fonte ltim a das obrigaes m orais, pode ser
invocada para escolher um deles quando as suas exigncias so incom pat-
30 veis. Em bora a aplicao do padro possa ser difcil, m elhor t-lo do que
no ter qualquer padro: noutros sistem as, nos quais todas as leis m orais
aparentam um a autoridade independente, no h qualquer rbitro com um
que esteja autorizado a interferir entre elas, as suas pretenses a ter prece-
dncia sobre as outras repousam em pouco m ais do que sofism as, e, a no
35 ser que estejam determ inadas, com o geralm ente acontece, pela influncia
no reconhecida de consideraes de utilidade, do carta branca aos desejos
e parcialidades pessoais. D evem os recordar que s foroso recorrer apri-
m eiros princpios nos casos de conflito entre princpios secundrios. Em
todos os casos de obrigao m oral h plincpios secundrios envolvidos, e,
40 se s houver um deles, raram ente pode existir qualquer dvida genuna
quanto sua identidade na m ente de um a pessoa que reconhea o prprio
princpio.
66
-~------
D a sano ltim a do princpio da
utilidade
Pergunta-se frequentem ente, e apropriado faz-lo, apropsito de qual- 1
quer suposto padro m oral - qual a sua sano?t Quais so os m otivos
para lhe obedecer? Ou, m ais especificam ente, qual afonte da sua obrigato-
riedade? D e onde deriva a sua fora obrigante? Um a parte necesstia da
filosofia m oral consiste em dar a resposta a esta questo, a qual, em bora 5
assum a frequentem ente a form a de um a objeco m oralidade utilitarista
(com o se lhe pudesse ser aplicada de form a especial), se pe, na verdade, a
respeito de todos os padres. D e facto, a questo pe-se sem pre que um a
pessoa cham ada aadoptar um padro ou arefelir am oralidade aum a base
na qual no se acostum ou a fundam ent-la. Afinal, a m oralidade com um , /O
aquela que aeducao eaopinio consagraram , anica que seapresenta
m ente com o sentim ento de ser obligatria em si mesma, equando sepede a
um a pessoa para acreditar que esta m oralidade deriva a sua obligatoriedade
de um princpio geral ao qual o costum e no conferiu o m esm o halo, a afir-
m ao constitui para ela um paradoxo; os supostos corolrios parecem ter 15
um a fora obrigante m aior do que o teorem a original; asuperstrutura parece
sustentar-se m elhor quando representada sem o seu fundam ento do que
quando representada com ele. Essa pessoa diz asi prplia: sinto que estou
obrigada a no roubar ou assassinar, a no trair ou enganar, m as por que
razo estarei obrigada aprom over afelicidade geral? Seam inha prpria feli- 20
cidade reside noutra coisa, porque no poderei preferir essa outra coisa?
67
Utilitarismo
2 Se o ponto de vista sobre a natureza do sentido m oral adoptado pela
filosofia utilitarista for correcto, esta dificuldade m anter-se- at que as
influncias que form am o carcter m oral sustentem o princpio do
m esm o m odo que sustentam algum as das suas consequncias - at que,
5 atravs do m elhoram ento da educao, o sentim ento de unidade com os
nossos sem elhantes fique (o que no se pode negar que Cristo pretendia)
to profundam ente enraizado no nosso carcter e, para a nossa prpria
conscincia, to com pletam ente integrado na nossa natureza, com o o
horror ao crim e num jovem decentem ente educado segundo os padres
10 norm ais. Por agora, no entanto, adificuldade no tem qualquer aplicao
peculiar doutrina da utilidade, sendo antes inerente a qualquer tentativa
de analisar a m oralidade e de areduzir aprincpios - se o princpio no
estiver j investido de tanta santidade nas m entes dos hom ens com o qual-
quer um a das suas aplicaes, parecer sem pre retirar-lhes parte da sua
15 santidade.
3 O princpio da utilidade tem , ou no h qualquer razo para que no
possa ter, todas as sanes que pertencem a qualquer outro sistem a m oral.
Essas sanes so externas ou internas. D as sanes externas no necess-
rio falar dem oradam ente. So elas a esperana de receber benefcios e o
receio da reprovao dos nossos sem elhantes ou do Soberano do Universo,
apar da sim patia ou afeio que possam os ter por eles, ou do am or etem or
aEle que nos inclina aobedecer Sua vontade independentem ente de con-
sequncias egostas. evidente que no h qualquer razo para que todos
estes m otivos para aobservncia no estejam to com pleta epoderosam ente
10 ligados m oralidade utilitarista com o a qualquer outra. Na verdade, isto
no pode deixar de acontecer com os m otivos que se referem aos nossos
sem elhantes em proporo ao nvel da inteligncia geral, pois, independen-
tem ente de existir outro fundam ento da obrigao m oral alm da felicidade
geral, os hom ens desejam afelicidade e, por m uito im pelfeita que seja asua
15 prtica, desejam e recom endam que os outros procedam para consigo da
m aneira que julgam ser m ais favorvel prom oo da sua felicidade.
Quanto ao m otivo religioso, se os hom ens acreditam , com o m uitos dizem
acreditar, na bondade de D eus, aqueles que pensam que acontribuio para
afelicidade geral aessncia (ou m esm o s o critrio) do bem , tm neces-
20 sariam ente de acreditar que tam bm isso que D eus aprova. D este m odo,
toda a fora das recom pensas e dos castigos externos, sejam fsicos ou
m orais, procedam de D eus ou dos nossos sem elhantes, bem com o todas as
capacidades da natureza hum ana para a devoo desinteressada a Ele ou a
eles, podem ser usadas para inculcar am oralidade utilitarista na m edida em
68
1 1 1 . Da sano ltima do princfpio da utilidade
que essa m oralidade for reconhecida, e, quanto m ais poderosam ente isto se 25
verificar, m ais os instm m entos da educao e da cultura geral serviro esse
propsito.
Nada m ais sedir sobre as sanes externas. A sano interna do dever, 4
seja qual ~or o nosso padro do dever, um a e a m esm a - um sentim ento
na nossa prpria m ente, um a dor, m ais ou m enos intensa, concom itante da
violao do dever, a qual, em naturezas m orais devidam ente cultivadas, faz
com que, nos casos m ais graves, a violao se apresente com o um a im pos-
sibilidade. Este sentim ento, quando desinteressado e se liga pura ideia
do dever, e no a um a das suas form as particulares ou a quaisquer circuns-
tncias m eram ente acessrias, constitui aessncia daconscincia, ainda que
neste com plexo fenm eno tal com o efectivam ente existe esse sim ples facto
esteja, de um m odo geral, totalm ente encoberto por associaes colaterais la
derivadas da sim patia, t do am or e m ais ainda do m edo, de todas as form as
de sentim ento religioso, de recordaes da infncia e de toda a vida ante-
rior, da auto-estim a, do desejo da estim a dos outros e, ocasionalm ente, at
do auto-rebaixam ento. Percebo que esta extrem a com plicao aorigem da
espcie de m isticidade que, em virtude de um a tendncia da m ente hum ana 15
de que h m uitos outros exem plos, tendem os aatribuir ideia de obrigao
m oral e que leva as pessoas a acreditar que essa ideia no pode ligar-se a
quaisquer outros objectos alm daqueles que, devido aum a suposta lei m is-
tetiosa, o provocam na nossa experincia presente. A sua fora obrigante
consiste, no entanto, naexistncia de um a m assa de sentim entos que tem de 20
ser rom pida para sefazer aquilo que viola o nosso padro do certo, eque, se
ainda assim violarm os esse padro, provavelm ente regressar na form a de
rem orso. Seja qual for a nossa teoria sobre a natureza ou origem da cons-
cincia, isto que aconstitui essencialm ente.
D este m odo, sendo a sano ltim a de toda am oralidade (excluindo os 5
m otivos externos) um sentim ento subjectivo que existe na nossa prpria
m ente, nada vejo de em baraoso na questo Qual a sano desse padro
especfico? para aqueles cujo padro autilidade. Podem os responder: A
m esm a que a de todos os outros padres m orais: os sentim entos conscien- 5
ciosos da hum anidade. No h dvida de que esta sano no tem
qualquer eficincia obrigante naqueles que no possuem os sentim entos a
que apela, m as essas pessoas no obedecero m ais a outro princpio m oral
do que ao utilitarista. Nelas nenhum gnero de m oralidade exerce influn-
cia, excepto m ediante sanes externas. No entanto, esses sentim entos 10
existem e so um facto da natureza hum ana, estando a sua realidade, assim
com o o grande poder que podem exercer naqueles em que tm sido devida-
69
15
6
10
15
20
25
30
7
Utilitarismo
m ente cultivados, dem onstrada pela experincia. Nunca foi apresentada
qualquer razo para se pensar que no possam ser cultivados com um a
intensidade to grande em conexo com o utilitarism o com o o poderiam ser
em conexo com qualquer outra regra m oral.
Estou consciente de que h um a disposio para acreditar que um a pes-
soa que v na obrigao m oral um facto transcendental, um a realidade
objectiva que pertence provncia das coisas em si,t ser-lhe- provavel-
m ente m ais obediente do que um a pessoa que acredita que essa obrigao
inteiram ente subjectiva, residindo apenas na m ente hum ana. Mas, seja qual
for a opinio que um a pessoa tenha sobre este tpico de ontologia, a fora
que realm ente aim pele o seu prprio sentim ento subjectivo ecOlTesponde
exactam ente intensidade desse sentim ento. Ningum tem um a crena
m ais forte na realidade objectiva do dever do que nade D eus; ainda assim , a
crena em D eus, excluindo aexpectativa de um a verdadeira recom pensa ou
castigo, opera na conduta apenas atravs do sentim ento religioso subjectivo
e em proporo a este. A sano, na m edida em que desinteressada, est
sem pre na prpria m ente. Por isso, a ideia dos m oralistas transcendentais
tem de ser a seguinte: esta sano no existir na m ente a no ser que se
acredite que tem a sua raiz fora da m ente; se um a pessoa capaz de dizer a
si prpria Isto que m e est arestringir, eque secham a m inha conscincia,
s um sentim ento na m inha prpria m ente, ento pode retirar a conclu-
so de que, quando o sentim ento cessa, cessa tam bm a obrigao, e, se
considerar o sentim ento inconveniente, pode m enosprez-lo e esforar-se
por se livrar dele. Mas estar este perigo confinado m oralidade utilita-
rista? Ser que acrena deque aobligao m oral reside fora da m ente torna
o sentim ento dessa obrigao dem asiado forte para que possam os livrar-nos
dele? Aquilo que sepassa to diferente que todos os m oralistas adm item e
lam entam a facilidade com que, na generalidade das m entes, a conscincia
pode ser silenciada ou suprim ida. A questo Precisarei de obedecer
m inha conscincia? -lhes colocada to frequentem ente por pessoas que
nunca ouviram falar do princpio da utilidade com o por defensores desse
princpio. Aqueles cujos sentim entos conscienciosos so fracos ao ponto de
se perm itirem colocar esta questo, no respondero afirm ativam ente por
acreditarem na teoria transcendental, m as devido s sanes externas.
Para o presente propsito, no necesstio decidir se o sentim ento do
dever inato ou adquirido. Presum indo que inato, aquesto de saber aque
objectos ele se liga naturalm ente perm anece em aberto, pois os defensores
filosficos dessa teoria concordam agora que tem os apercepo intuitiva no
de detalhes, m as de princpios da m oralidade. Se houver aqui algo de inato,
70
li! . Da sano ltima do principio da utilidade
no vejo qualquer razo para o sentim ento inato no ser o da considerao
pelos prazeres edores dos outros. Sehouver algum princpio m oral intuitiva-
m ente obligatrio, eu diria que tem de ser esse. Nesse caso, atica intuitiva
coinciditia com a utilitarista e no haveria m ais qualquer disputa entre elas.
Mesm o na~presentes circunstncias, os m oralistas da intuio, em bora acre-
ditem que existem outras obrigaes m orais intuitivas, j acreditam que essa
um a delas, pois defendem unanim em ente que um a grande poro da m ora-
lidade diz respeito devida considerao pelos interesses dos nossos
sem elhantes. Logo, seacrena na origem transcendental da obtigao m oral
d algum a eficincia adicional sano interna, parece-m e que o plincpio
utilitarista j beneficia dela.
Por outro lado, se, com o acredito, os sentim entos m orais no so inatos,
m as adquiridos, no deixam de ser m enos naturais por essa razo. Para o
hom em natural falar, raciocinar, construir cidades, cultivar o solo, ainda
que estas faculdades sejam adquiridas. Os sentim entos m orais no fazem
realm ente parte da nossa natureza, no sentido de estarem presentes em
todos ns num grau perceptvel, m as isto, infelizm ente, um facto adm itido
por aqueles que acreditam do m odo m ais veem ente na sua origem transcen-
dental. sem elhana das outras capacidades adquiridas acim a indicadas, a
faculdade m oral, em bora no faa parte da nossa natureza, um seu desen-
volvim ento natural; tal com o elas, capaz de brotar espontaneam ente num
grau reduzido e, sefor cultivada, pode atingir um elevado nvel de desenvol-
vim ento. Infelizm ente, tam bm pode ser cultivada em quase todas as
direces por m eio de um uso suficiente das sanes externas eda fora das
prim eiras im presses, de tal m odo que dificilm ente existir algo, por m uito
absurdo ou pernicioso que seja, que essas influncias no possam fazer
actuar na m ente hum ana com toda a autoridade da conscincia. D uvidar
que, recorrendo aos m esm os m eios, se poderia confetir a m esm a fora ao
princpio da utilidade, ainda que este no tivesse qualquer fundam ento na
natureza hum ana, seria ignorar toda aexperincia.
Contudo, quando a cultura intelectual avana, as associaes m orais
que so um a criao totalm ente artificial rendem -se pouco apouco fora
dissolvente da anlise. E se o sentim ento do dever, quando associado
utilidade, se m ostrasse igualm ente arbitrrio, se no houvesse um a parte
im portante da nossa natureza, um a poderosa classe de sentim entos, com a
qual essa associao se harm onizasse, fazendo-nos consider-la congenial
e inclinando-nos no s a fom ent-la nos outros (para isso tem os abun-
dantes m otivos interessados), m as tam bm aestim -la em ns prprios, se
no houvesse, em sum a, um suporte afectivo natural para a m oralidade
utilitarista, ento tam bm esta associao, m esm o depois de ter sido
im plantada atravs da educao, poderia ser afastada pela anlise.
71
10
15
8
10
15
9
5
10
Utilitarismo
10 Porm , este poderoso suporte afectivo natural existe, esereleque, assim
que a felicidade geral seja reconhecida com o o padro tico, constituir a
fora da m oralidade utilitm ista. Este fundam ento firm e consiste nos senti-
m entos sociais da hum anidade, no desejo de estm ' unido aos sem elhantes,
5 que j um princpio poderoso da natureza hum ana, sendo, felizm ente, um
dos que tendem atornal'-se m ais fortes m esm o sem um a expressa inculcao
influenciada pelos avanos dacivilizao. O estado social ao m esm o tem po
to natural, to necesstio e to habitual para o hom em que, excepto em
algum as circunstncias invulgal'es ou por um esforo de abstraco volunt-
10 ria, ele seconcebe sem pre asi prprio enquanto m em bro deum corpo, eesta
associao refora-se cada vez m ais m edida que ahum anidade seafasta do
estado daindependncia selvagem . D este m odo, qualquer condio essencial
pm 'aum estado social torna-se cada vez m ais um a pm te insepm 'vel da con-
cepo que toda agente tem da situao em que nasceu eque o destino de
15 um ser hum ano, Ora, as relaes sociais entre os seres hum anos, excepto a
relao entre senhor e escravo, so m anifestam ente im possveis caso no
assentem no pressuposto de que os interesses de todos devem ser consulta-
dos. A sociedade de iguais s pode existir sob a noo de que os interesses
de todos devem ser considerados da m esm a m aneira. Com o em todos os
20 estados da civilizao qualquer pessoa, excepto um m onal'ca absoluto, tem
iguais, qualquer um est obrigado a viver nestes term os com outrem , e em
todas as pocas avana-se um pouco pm 'aum estado em que ser im possvel
viver perm anentem ente noutros term os sejacom quem for. D esta m aneira, as
pessoas crescem sem conseguirem conceber apossibilidade deum estado de
25 desconsiderao total pelos interesses das outras pessoas. Esto sob aneces-
sidade de seconceberem asi prptias com o algum que ao m enos seabstm
de todas as injrias m ais graves e (ainda que seja apenas para sua prptia
proteco) vive num estado de constante protesto contra elas. Tam bm esto
fam iliatizadas com o facto de cooperarem com os outros e de proporem a si
30 prprias um interesse colectivo, e no individual, com o objectivo (pelo
m enos passageiro) das suas aces. Enquanto cooperam , os seus frns identi-
ficam -se com os fins dos outros; tm pelo m enos o sentim ento tem porrio de
que os interesses dos outros so os seus prprios interesses. Todo o fortaleci-
m ento dos laos sociais etodo o crescim ento saudvel da sociedade, alm de
35 dar acada indivduo um interesse pessoal m ais fOlteem atender naprtica ao
bem -estm ' dos outros, leva-o aidentificm ' progressivam ente os seus sentimen-
tos com o bem dos outros, ou pelo m enos a ter um grau ainda m aior de
considerao prtica por esse bem . Com o que por instinto, o hom em acaba
por se tornm ' consciente de si prptio com o um ser que, obviamente, tem os
40 outros em considerao. O bem dos outros torna-se para ele um a coisa que,
72
1 1 1 .Da sano ltima do princpio da utilidade
natural e necessm iam ente, tem de ser levada em conta tal com o qualquer
condio fsica da nossa existncia. Ora, um a pessoa que tenha este senti-
m ento num qualquer grau de desenvolvim ento ser im pelida pelos m ais
fortes m otivos, relativos tanto ao interesse com o sim patia, adem onstr-lo e
a encoraj-lo nos outros com todo o seu poder. E, m esm o que cm 'ea com -
pletam ente desse sentim ento, estar to profundam ente interessada com o
qualquer outra pessoa em que os outros o possuam . Consequentem ente, os
m ais nfim os germ es do sentim ento so preparados e alim entados pelo con-
tgio da sim patia e pelas influncias da educao, e um a teia com pleta de
associaes corroborantes tecida em seu torno pela aco poderosa das
sanes externas. m edida que acivilizao avana, este m odo de nos con-
ceberm os a ns prprios e vida hum ana torna-se cada vez m ais natural.
Qualquer passo no sentido do apetfeioam ento poltico contribui para isso,
rem ovendo as fontes de oposio de interesses ereduzindo as desigualdades
nos privilgios legais dos indivduos ou das classes, que fazem existir gran-
des pores da hum anidade cuja felicidade ainda no levada em conta na
prtica. Num estado progressivo da m ente hum ana, crescem constantem ente
as influncias que tendem a gerar em cada indivduo um sentim ento de uni-
dade com todos os outros, sentim ento esse que, quando petfeito, leva o
indivduo a nunca conceber ou desejar qualquer condio benfica para si
prprio se os outros no estiverem includos nos seus benefcios. Se agora
supuserm os que se ensinava este sentim ento de unidade com o um a religio,
eque toda afora da educao, das instituies eda opinio servia, com o j
aconteceu no caso da religio, para fazer cada pessoa crescer, desde a sua
infncia, com pletam ente rodeada pela profisso e prtica desse sentim ento,
penso que ningum capaz de com preender esta concepo sentir qualquer
dvida quanto suficincia da sano ltim a pm 'a a m oralidade da felici-
dade. A qualquer estudante de tica que tenha dificuldade em
com preend-la, recom endo, com o m eio para facilitar a com preenso, a
segunda das duas obras principais do Sr. Com te, t Systeme de Politique
Positive. Mantenho as m ais fortes objeces ao sistem a poltico e m oral
apresentado nesse tratado, m as penso que este m ostrou sem m argem pm 'a
dvidas a possibilidade de pr ao servio da hum anidade, m esm o sem o
auxlio da crena num a Providncia, o poder psicolgico e a eficcia social
de um a religio, fazendo esse sentim ento de unidade tom m ' conta da vida
hum ana e dar form a a todos os pensam entos, em oes e aces de tal
m aneira que o m aior dom nio jam ais exercido por qualquer religio pudesse
ser apenas um a am ostra e antecipao, havendo o perigo no de este ser
insuficiente, m as de ser excessivo ao ponto de intetfetir indevidam ente na
liberdade eindividualidade hum anas.
73
45
50
55
60
65
70
75
80
Utlilarismo
11 Tam bm no necessrio que o sentim ento que constitui a fora obri-
gante da m oralidade utilitarista, naqueles que a reconhecem , aguarde as
influncias sociais que fariam grande parte da hum anidade sentir asua obri-
gatoriedade. No estado com parativam ente prim itivo do desenvolvim ento
5 hum ano em que agora vivem os, as pessoas no conseguem sentir essa total
sim patia por todos os outros, que tornaria im possvel qualquer discordncia
real na orientao geral da sua conduta, m as j acontece que um a pessoa
cujo sentim ento social esteja pelo m enos um pouco desenvolvido no con-
siga pensar no resto dos seus sem elhantes com o rivais que lutam consigo
10 pelos m eios da felicidade, com o rivais cuja derrota tenha dedesejar de m odo
apoder alcanar o seu objectivo. A concepo profundam ente enraizada que,
m esm o hoje, qualquer indivduo tem de si enquanto ser social, tende afazer
com que um a das suas necessidades naturais seja aexistncia de um a harm o-
niaentre os seus sentim entos eobjectivos eos dos seus sem elhantes. Mesm o
15 que as diferenas de opinio e de cultura m ental tornem im possvel a um
indivduo partilhar m uitos dos verdadeiros sentim entos dos seus sem elhantes
- talvez fazendo-o denunciar econtestar esses sentim entos -, ainda assim
ele precisa de estar consciente de que o seu verdadeiro objectivo no est em
conflito com o deles, de que no est a opor-se quilo que eles realm ente
20 desejam , nom eadam ente o seu prprio bem , m as que est, pelo contrrio, a
prom ov-lo. Na m aior parte dos indivduos, este sentim ento tem um a fora
m uito inferior dos seus sentim entos egostas e m uitas vezes no existe de
todo, m as naqueles que o tm possui todas as caractersticas de um senti-
m ento natural. Apresenta-se s suas m entes no com o um a superstio da
25 educao ou com o um a lei im posta despoticam ente pelo poder da sociedade,
m as com o um atributo que lhes faz falta. Esta convico asano ltim a da
m oralidade dam aior felicidade. ela que faz qualquer m ente com sentim en-
tos bem desenvolvidos trabalhar com , e no contra, os m otivos exteriores
para se preocupar com os outros, produzidos por aquilo a que cham ei san-
30 es externas; e, quando essas sanes no existem ou agem num a direco
oposta, essa convico constitui em si m esm a um a poderosa fora obrigante
interna proporcional sensibilidade e m aturidade do carcter, pois ningum ,
excluindo aqueles cuja m ente um vazio m oral, poderia suportar viver sob o
plano de no ter qualquer considerao pelos outros, excepto na m edida em
35 que o seu prprio interesse privado aisso obrigasse.
74
D o tipo deprova que oprincpio
dautilidade adm ite
J se observou que as questes de fins ltim os no adm item um a prova 1
na acepo com um do term o. Ser insusceptvel de prova por raciocnio
com um a todos os prim eiros princpios: s prim eiras prem issas do nosso
conhecim ento, bem com o s da nossa conduta. Mas as prim eiras, sendo
questes de facto, podem ser objecto de um recurso directo s faculdades 5
quejulgam os factos, nom eadam ente os nossos sentidos eanossa conscin-
cia interna. Poder-se- recorrer s m esm as faculdades em questes de fins
prticos? Ou por m eio deque outra faculdade os conhecerem os?
As questes sobre fins so, por outras palavras, questes sobre que coi- 2
sas so desejveis. A doutrina utilitarista ade que afelicidade desejvel,
e anica coisa desejvel, com o um fim ; todas as outras coisas so desej-
veis apenas enquanto m eios para esse fim . O que sedever exigir doutrina
- que condies ser preciso que a doutrina satisfaa para que a sua 5
pretenso de ser aceite sejabem sucedida?
A nica prova que se pode apresentar para m ostrar que um objecto 3
visvel o facto de as pessoas efectivam ente o verem . A nica prova de que
um som audvel o facto de as pessoas o ouvirem , e as coisas passam -se
do m esm o m odo com as outras fontes da nossa experincia. Sim ilarm ente,
entendo que anica evidnciat que sepode produzir para m ostrar que um a
coisa desejvel o facto de as pessoas efectivam ente a desejarem . Se o
fim que a doutrina utilitarista prope a si prpria no fosse, na teoria e na
75
Utilitarismo
prtica, reconhecido com o um fim , nada poderia algum a vez convencer
qualquer pessoa de que o era. No se pode apresentar qualquer razo para
10 m ostrar que afelicidade geral desejvel, excepto ade que cada pessoa, na
m edida em que acredita que esta alcanvel, deseja a sua prpria felici-
dade. Isto, no entanto, sendo um facto, d-nos no s toda a prova que o
caso adm ite, m as toda aprova que possvel exigir, para m ostrar que afeli-
cidade um bem : que a felicidade de cada pessoa um bem para essa
15 pessoa e, logo, a felicidade geral um bem para o agregado de todas as pes-
soas. A felicidade estabeleceu o seu ttulo com o um dos fins da conduta e,
consequentem ente, com o um dos critrios dam oralidade.
4 Contudo, apenas com isto no seprovou que ela o nico clitrio. Para o
fazer, parece necessrio m ostrar, segundo am esm a regra, no s que as pes-
soas desejam a felicidade, m as tam bm que nunca desejam qualquer outra
coisa. Ora, notrio que as pessoas desejam coisas que, na linguagem
5 com um , so decididam ente distintas da felicidade. Por exem plo, no dese-
jam realm ente m enos a virtude e a ausncia de vcio do que o prazer e a
ausncia de dor. O desejo da virtude no to universal, m as um facto to
autntico com o o desejo dafelicidade. Por isso, os oponentes do padro utili-
tarista julgam que tm o direito de inferir que h outros fins da aco
10 hum ana alm da felicidade eque afelicidade no o padro da aprovao e
reprovao.
5 Mas ser que adoutrina utilitarista nega que as pessoas desejem avirtude
ou defende que avirtude no algo adesejar? Muito pelo contrrio. D efende
no s que a virtude deve ser desejada, m as tam bm que deve ser desejada
desinteressadam ente, por si m esm a. Seja qual for a opinio dos m oralistas
5 utilitaristas a respeito das condies originais pelas quais a virtude se torna
virtude, e por m uito que eles acreditem (com o de facto acreditam ) que as
aces e disposies so virtuosas apenas porque prom ovem outro fim que
no a virtude, ainda assim , tendo adm itido isto e determ inado, a partir de
consideraes desta natureza, o que virtuoso, no s colocam a virtude
10 entre os m elhores m eios para o fim ltim o, com o reconhecem o facto psico-
lgico da possibilidade de esta ser, para o indivduo, um bem em si que se
possui sem procurar qualquer fim que o ultrapasse. D efendem ainda que a
m ente no est num a boa condio, no est num a condio conform vel
utilidade, no est na condio m ais favorvel felicidade geral, a no ser
15 que am e avirtude desta m aneira - com o um a coisa desejvel em si m esm a,
m esm o que, no caso individual, no produza as outras consequncias desej-
veis que tende a produzir e pelas quais considerada virtude. Esta opinio
no representa o m enor afastam ento do plincpio da felicidade. Os ingre-
76
IV. 00 tipo de prova que o princfpio da utilidade admite
dientes da felicidade so m uito diversificados, e cada um deles desejvel
no apenas com o algo que contribui para um agregado, m as considerado em 20
si m esm o. O princpio dautilidade no significa que qualquer prazer (com o a
m sica, por exem plo) ou qualquer ausncia dedor (com o asade, por exem -
plo) devam ser vistos com o um m eio para um a coisa colectiva cham ada
felicidade e desejados nessa perspectiva - so desejados e desejveis em si
epor si m esm os. Alm deserem m eios, so parte do fim . A virtude, segundo 25
adoutr'inautilitarista, no natural eoriginariam ente parte do fim , m as pode
tornar-se parte do fim e, naqueles que a am am desinteressadam ente, tornou-
-se tal coisa e desejada e estim ada no com o um m eio para a felicidade,
m as com o parte dasuafelicidade.
Para ilustrar m elhor esta ideia, podem os recordar que a virtude no a 6
nica coisa que originalm ente um m eio, eque, seno fosse um m eio para
outra coisa, seria eperm aneceria indiferente, m as que, atravs da associao
com aquilo para o qual um m eio, acaba por ser desejada por si m esm a, e
isso, por sua vez, com a m aior intensidade. Que direm os, por exem plo, do
am or ao dinheiro? Originalm ente, nada h de m ais desejvel no dinheiro do
que num m onte de seixos brilhantes. O seu valor consiste apenas nas coisas
que pode com prar, no desejo de ter outras coisas que no o dinheiro, para as
quais este um m eio de gratificao. Ainda assim , alm de o am or ao
dinheiro ser um a das foras m ais intensas que m ovem a vida hum ana, o 10
dinheiro , em m uitos casos, desejado em si e por si m esm o. O desejo de
possu-lo frequentem ente m ais forte do que o desejo de us-lo, e continua
a aum entar quando desaparecem todos os desejos que apontam para fins
que o ultrapassam e so atingidos por seu interm dio. D este m odo, pode-se
dizer que, na verdade, o dinheiro no desejado em funo de um fim , m as 15
enquanto parte do fim . Tendo com eado por ser um m eio para afelicidade,
ele prprio tornou-se um ingrediente principal da concepo de felicidade
do indivduo. Pode dizer-se o m esm o sobre a m aioria dos grandes objecti-
vos da vida hum ana - o poder, por exem plo, ou afam a -, ainda que cada
um destes esteja ligado a um a certa quantidade de prazer im ediato, o qual, 20
pelo m enos, parece ser algo que lhes naturalm ente inerente, o que no se
pode dizer do dinheiro. Mesm o assim , no entanto, a fortssim a atraco
natural exercida tanto pelo poder com o pela fam a reside na ajuda im ensa
que estes proporcionam para satisfazer os nossos outros desejos. E aforte
associao assim gerada entre eles etodos os nossos objectos de desejo que 25
confere ao desejo directo de fam a ou de poder a intensidade que este
assum e frequentem ente, de tal m odo que em algum as pessoas ultrapassa na
77
30
35
40
45
7
5
10
15
8
5
Utilitarismo
sua fora todos os outros desejos. Nestes casos os m eios no se tornaram
apenas parte do fim : tornaram -se um a parte m ais im portante do que qual-
quer um a das coisas para as quais so m eios. Aquilo que chegou a ser
desejado com o instrum ento para atingir a felicidade acabou por se tornar
desejado por si m esm o. Ao ser desejado por si m esm o , no entanto, dese-
jado enquanto parte da felicidade. A pessoa torna-se feliz, ou pensa que se
tornaria feliz, com a sua sim ples posse, etorna-se infeliz por no conseguir
obt-lo. O desejo da suaposse no diferente do desejo de felicidade, veri-
ficando-se o m esm o com o am or m sica ou com o desejo de sade. Estes
esto includos na felicidade. So alguns dos elem entos que constituem o
desejo de felicidade. A felicidade no um a ideia abstracta, m as um todo
concreto, e estas so algum as das suas partes. E o padro utilitarista san-
ciona e aprova esta situao. A vida seria um a coisa pobre, m uito m al
fornecida de fontes de felicidade, seno houvesse esta proviso da natureza
pela qual objectos inicialm ente indiferentes, m as que conduzem ou esto
associados de outro m odo satisfao dos nossos desejos prim itivos, tor-
nam -se em si m esm os fontes de prazer m ais valiosas do que os prazeres
prim itivos devido sua perm anncia, ao espao da existncia hum ana que
so capazes de abranger eatsua intensidade.
Segundo aconcepo utilitarista, a virtude um bem deste gnero. No
houve um desejo original de virtude, ou um m otivo para ela, independente
da sua capacidade para conduzir ao prazer e, em especial, proteco con-
tra ador. Contudo, atravs da associao assim form ada, a virtude pode ser
vista com o um bem em si m esm a e desejada enquanto tal com um a intensi-
dade to grande com o qualquer outro bem . E isto com um a diferena
relativam ente ao am or ao dinheiro, ao poder ou fam a: enquanto que todas
essas coisas podem tornar o indivduo nocivo para os outros m em bros da
sociedade a que pertence, o que acontece m uitas vezes, nada o torna m ais
benfico para os outros do que cultivar o am or desinteressado virtude.
Consequentem ente, o padro utilitarista, ao m esm o tem po que tolera e
aprova esses outros desejos adquiridos at ao ponto alm do qual eles
seriam m ais prejudiciais do que benficos para afelicidade geral, prescreve
e exige que se cultive o am or virtude com a m aior fora possvel, j que
ela im portante, acim a de todas as coisas, para afelicidade geral.
Resulta das consideraes precedentes que, na verdade, nada desejado
excepto a felicidade. Tudo aquilo que no desejado com o um m eio para
um fim que o ultrapassa, e em ltim a anlise para a felicidade, desejado
enquanto parte da felicidade - e no desejado por si m esm o enquanto
isso no acontecer. Aqueles que desejam a virtude por si m esm a, desejam -
78
IV. Do tipo de prova que o princfpio da utilidade admite
-na porque ter conscincia dela um prazer, porque a conscincia de estar
sem ela um a dor ou por am bas as razes. Com o, na verdade, o prazer e a
dor quase nunca existem separadam ente, estando quase sem pre juntos, a
m esm a pessoa sente prazer na m edida em que alcanou a virtude e dor por
no a ter alc\nado m ais. Se um a destas coisas no lhe desse qualquer pra-
zer, e a outra qualquer dor, ela no am aria ou desejaria a virtude, ou
desej-Ia-ia apenas para os outros benefcios que poderia produzir para si
prpria ou para as pessoas com as quais seim porta.
Tem os agora, ento, um a resposta para o problem a de saber que gnero
de prova adm ite o princpio da utilidade. Se a opinio que acabei de apre-
sentar for psicologicam ente verdadeira, se a natureza hum ana estiver
constituda de m aneira a desejar s aquilo que um a parte da felicidade ou
um m eio para a felicidade, no podem os ter e no exigim os qualquer outra
prova de que estas so as nicas coisas desejveis. Se isto for verdade, a
felicidade o nico fim da aco hum ana, e a sua prom oo o teste para
julgar toda aconduta hum ana. D aqui segue-se necessariam ente que ela tem
de ser o critrio dam oralidade, pois um a parte est includa no todo.
E agora, para decidir serealm ente assim , seos seres hum anos no dese-
jam nada por si m esm o, excepto aquilo que para eles um prazer ou aquilo
cuja ausncia um a dor, chegam os evidentem ente a um a questo de facto e
expelincia que, com o todas asquestes sem elhantes, estdependente daevi-
dncia. Esta questo pode ser resolvida apenas atravs da experiente
conscincia e observao de si prplio, assistida pela observao dos outros.
Acredito que estas fontes de evidncia, consultadas im parcialm ente, iro
declarar que desejar um a coisa econsider-la aprazvel, ter-lhe averso econ-
sider-la dolorosa, so fenm enos com pletam ente inseparveis, ou m elhor,
duas partes do m esm o fenm eno. Para falar com rigor, so dois m odos dife-
rentes de nom ear o m esm o facto psicolgico: conceber um objecto com o
desejvel (independentem ente das suas consequncias) e conceb-lo com o
aprazvel so um a e a m esm a coisa; e no desejar um a coisa na m edida em
que aideia dessa coisa aprazvel um a im possibilidade fsica e m etafsica.
Isto parece-m e to bvio que, espero, dificilm ente ser posto em causa.
No se objectar que, em ltim a anlise, o desejo pode dirigir-se a um a
coisa que no o prazer e aiseno de dor, m as poder-se- alegar que avon-
tade diferente do desejo, que um a pessoa de virtude com provada, ou
qualquer outra pessoa com propsitos determ inados, persegue os seus pro-
psitos sem pensar no prazer que tem ao contem pl-los ou que espera
retirar da sua realizao, persistindo na sua prossecuo, ainda que esses
prazeres estejam m uito dim inudos (devido a m udanas no seu carcter ou
79
10
9
10
10
11
IV. Do tipo de prova que o princfpia da utilidade admite
81
CFT-UTIL-6
a dor no segundo caso, que se pode incitar a vontade a ser virtuosa, aqual,
depois de fortaleci da, age sem ter em considerao o prazer ou a dor. A
vontade filha do desejo, e abandona o dom nio do seu progenitor s para
passar aser dom inada pelo hbito. Aquilo que resulta do hbito no fornece 50
qualquer garantia de ser intrinsecam ente bom , e, seno sedesse o caso de a
influncia das associaes aprazveis edolorosas que induzem avirtude no
ser suficiente, at ter adquirido o apoio do hbito, para garantir aconstncia
infalvel da aco, no haveria qualquer razo para desejar que o propsito
da virtude setornasse independente do prazer eda dor. Tanto nos sentim en- 55
tos com o na conduta, o hbito a nica coisa que confere certeza. E
porque para os outros im portante poderem confiar absolutam ente nos nos-
sos sentim entos e na nossa conduta, e porque para ns im portante
poderm os confiar em ns prprios, que a vontade de fazer aquilo que est
certo deve ser cultivada com esta independncia habitual. Por outras pala- 60
vras, este estado da vontade um m eio para um bem , no intrinsecam ente
um bem , e no contradiz a doutrina de que nada um bem para os seres
hum anos, excepto na m edida em que aprazvel em si m esm o ou um m eio
para alcanar oprazer ou evitar ador.
Se esta doutrina verdadeira, o princpio da utilidade est provado. A 12
questo de saber se ou no verdadeira tem de ficar agora considerao
do leitor atento.
ao enfraquecim ento das suas sensibilidades passivas) ou sejam ultrapassa-
dos pelas dores que a perseguio dos propsitos lhe pode trazer. No s
10 adm ito Iigorosam ente tudo isto, com o j o declarei noutro lugar to positiva
e veem entem ente com o algum o pode fazer. A vontade, o fenm eno
activo, um a coisa diferente do desejo, o estado de sensibilidade passiva, e,
em bora a prim eira resulte do segundo, a seu tem po adquire vida prpria e
separa-se do seu progenitor. Chegam os m esm o ao ponto de, no caso de um
15 propsito habitual, em vez de quererm os um a coisa por a desejarm os, m ui-
tas vezes desejarm o-la apenas por a quererm os.t Isto, no entanto, no
m ais do que um exem plo desse facto fam iliar que o poder do hbito, eno
se confina de m odo algum ao caso das aces virtuosas. H m uitas coisas
indiferentes que os hom ens, depois de terem com eado a fazer por algum
20 m otivo, continuam a fazer por hbito. Por vezes, fazem o-las inconsciente-
m ente e a conscincia surge apenas depois da aco. Noutras ocasies,
fazem o-las com um a volio consciente, m as com um a volio que se tor-
nou habitual e opera pela fora do hbito (o que se ope, talvez,
preferncia deliberada), com o acontece frequentem ente com aqueles que
25 contraram hbitos ou vcios de perniciosa indulgncia. Em terceiro e
ltim o lugar, surge asituao em que, no caso individual, o acto voluntrio
habitual, em vez de contradizer ainteno geral que prevalece noutras oca-
sies, realiza-a, o que acontece no caso da pessoa de virtude com provada e
de todos aqueles que perseguem deliberada e consistentem ente qualquer
30 fim determ inado. Assim entendida, adistino entre vontade edesejo um
facto psicolgico autntico e m uitssim o im portante, m as este facto con-
siste apenas nisto: a vontade, com o todas as outras partes da nossa
constituio, est sujeita ao hbito, epodem os querer por hbito aquilo que
j no desejam os por si m esm o ou que desejam os s porque o querem os.
35 No m enos certo que a vontade , no incio, inteiram ente produzida
pelo desejo, incluindo-se nesse term o tanto a influncia repulsiva da dor
com o a influncia atractiva do desejo. D eixem os de pensar na pessoa que
tem a vontade com provada de agir bem e tom em os em considerao
aquela pessoa na qual essa vontade virtuosa ainda dbil, susceptvel de
40 ceder tentao e no totalm ente digna de confiana. Por que m eios
poder ser fortaleci da? Com o poder a vontade de ser virtuoso, quando
no existe com fora suficiente, ser im plantada ou despertada? S fazendo
apessoa desejar a virtude - fazendo-a conceber a virtude a um a luz apra-
zvel ou a sua ausncia a um a luz dolorosa. associando o agir bem
45 ao prazer ou o agir m al dor, ou extraindo, estim ulando e conduzindo
expeIincia da pessoa o prazer naturalm ente envolvido no prim eiro caso ou
80
Ulilitarsmo
D a conexo entrejustia eutilidade
Ao longo de toda ahistria do pensam ento, um dos obstculos m ais for- 1
tes recepo da doutrina segundo a qual a utilidade ou felicidade o
critrio do certo e do enado tem partido da ideia dejustia. Para a m aioria
dos pensadores, o sentim ento poderoso e a percepo aparentem ente clara
que essa palavra invoca com um a rapidez e certeza sem elhantes s de um 5
instinto pareceram apontar para um a qualidade inerente s coisas e m ostrar
que ojusto tem deexistir nanatureza com o algo de absoluto, genericam ente
distinto de qualquer variedade do conveniente e, teoricam ente, oposto a
este, ainda que, na prtica (com o secostum a reconhecer), eles nunca sejam
independentes alongo prazo. 10
Neste caso, com o no caso dos outros sentim entos m orais, no h qual- 2
quer conexo necessria entre a questo da sua origem e a da sua fora
obrigante. t O facto de um sentim ento nos ser conferido pela natureza no
legitim a necessariam ente todas as suas incitaes. O sentim ento de justia
pode ser um instinto peculiar, m as ainda assim pode precisar, com o os nos- 5
sos outros instintos, de ser controlado e esclarecido por um a razo superior.
Se, tal com o tem os instintos anim ais que nos incitam aagir decerta m aneira,
tem os tam bm instintos intelectuais que nos levam ajulgar decerta m aneira,
no necessrio que os segundos sejam m ais infalveis na sua esfera do que
os prim eiros na sua. Pode m uito bem acontecer que, tal com o os prim eiros 10
83
Utilitarismo
sugerem ocasionalm ente aces enadas, tam bm os segundos sugiram por
vezes juzos errados. No entanto, em bora um a coisa seja acreditar que tem os
sentim entos naturais de justia e outra seja reconhec-los com o critrio
ltim o de conduta, estas duas opinies esto, de facto, estreitam ente ligadas
15 entre si. Os seres hum anos esto sem pre predispostos a acreditar que qual-
quer sentim ento subjectivo que no consigam os explicar de outra m aneira,
um a revelao de algum a realidade objectiva. O nosso presente objectivo
determ inar se arealidade qual cOlTespondeo sentim ento dejustia precisa
de um a revelao especial, seajustia ou injustia deum a aco um a coisa
20 intrinsecam ente peculiar, distinta de todas as suas outras qualidades, ou se
apenas um a com binao de algum as dessas qualidades, apresentada sob um
aspecto peculiar. Para opropsito desta investigao, proveitoso considerar
se o prprio sentim ento dejustia e injustia, com o as nossas sensaes de
cor e gosto, sui generis, ou se, pelo contrrio, um sentim ento derivado,
25 form ado pela com binao de outros sentim entos. E isto o que m ais im porta
exam inar, pois as pessoas, em geral, esto suficientem ente dispostas a adm i-
tir que, objectivam ente, as injunes dajustia coincidem com um a parte do
cam po da convenincia geral, m as, na m edida em que o sentim ento m ental
subjectivo dajustia diferente daquele que habitualm ente est ligado sim -
30 pIes convenincia e (excepto em casos extrem os deste ltim o) m uito m ais
im perativo nas suas exigncias, elas tm dificuldade em ver najustia apenas
um a espcie ou um ram o particular da utilidade geral, e pensam que a sua
fora obrigante superior requer um a Oligem totalm ente diferente.
3 Para esclarecer esta questo, necessrio tentar determ inar a caracters-
tica distintiva dajustia ou da injustia, ou seja, detenninar aqualidade, se
que ela existe, atribuda em com um atodos os m odos de conduta denom ina-
dos injustos (pois ajustia, com o m uitos outros atributos m orais, define-se
5 m elhor pelo seu oposto), qualidade essa que os distingue dos m odos de con-
duta que so reprovados sem que lhes seja aplicado esse epteto reprobatrio
especfico. Se, em tudo aquilo que os hom ens esto acostum ados acaracteli-
zar com o justo ou injusto, estiver sem pre presente um certo attibuto ou um a
certa coleco de atributos, podem os investigar seesse atlibuto pm iicular ou
10 essa com binao pm iiculm ' de atributos seriam capazes de germ ' um senti-
m ento com esse cm 'cter e intensidade peculiares em vtude das leis gerais
danossa constituio em ocional, ou se, em vez disso, o sentim ento inexpli-
cvel e tem de ser visto com o um a proviso especial da natureza. Se
descoblirm os que aprim eira hiptese verdade'a, terem os, ao resolver esta
15 questo, resolvido tam bm o problem a principal; se a segunda for verda-
deira, terem os deprocurm ' outro m odo deo investigm '.
84
V. Da conexo entre j ustia e utilidade
Para encontrar os atributos com uns a diversos objectos, necessrio 4
com ear por exam inar os prprios objectos em concreto. Por isso, consi-
derem os sucessivam ente os vrios m odos de aco, bem com o as
estruturas sociais hum anas, que a opinio universal ou am plam ente difun-
dida classifica com o justos ou injustos. Aquelas coisas que, luz do 5
conhecim ento geral, excitam os sentim entos associados a esses nom es
tm um carcter m uito diversificado. Vou indic-las rapidam ente sem
estudar qualquer estrutura particular.
Em prim eiro lugar, na m aior parte dos casos considera-se injusto pri- 5
vaI' algum da sua liberdade pessoal, da sua propriedade ou de qualquer
outra coisa que lhe pertena por lei. Tem os aqui, portanto, um exem plo da
aplicao dos term os <<justoe injusto num sentido perfeitam ente defi-
nido. Neste sentido, justo respeitar, e injusto violar, os direitos legais de
qualquer um . Contudo, este juzo adm ite diversas excepes, excepes
essas que surgem das outras form as sob as quais as noes de justia e
injustia se apresentam . Por exem plo, a pessoa que sofre a privao pode
ter (com o se costum a dizer) perdido os direitos dos quais est privada
um caso que retom arem os aqui. 10
Alm disso, em segundo lugar, os d'eitos legais dos quais um a pessoa 6
est privada podem ser direitos que no deveriam ter-lhe pertencido. Por
outras palavras, a lei que lhe confere esses direitos pode ser um a m lei.
Quando isso se velifica, ou quando (o que o m esm o pm 'aos nossos prop-
sitos) se supe que se verifica, as opinies diferem a respeito da justia ou 5
injustia de ainfringir, t Alguns defendem que um cidado individual nunca
deve desobedecer aum a lei, por m uito m que seja, eque, serevelar algum a
oposio lei, deve faz-lo apenas pm 'a tentar que um a autoridade com pe-
tente a altere. Aqueles que defendem esta opinio (que condena m uitos dos
benfeitores m ais ilustres da hum anidade e que protegeria frequentem ente 10
instituies perniciosas das nicas m m as que, no estado de coisas existente
na sua poca, tinham algum a hiptese de as derrotar), fazem -no por um a
questo deconvenincia, alegando sobretudo que, para o interesse com um da
hum anidade, im portante m anter inviolado o sentim ento de subm isso lei.
Outras pessoas, por sua vez, defendem a opinio d'ectm nente contrria, ou 15
seja, ade que sepode desobedecer Tepreensivelm ente aqualquer lei consi-
derada m , m esm o que no seja considerada injusta, m as apenas
inconveniente, enquanto outros confinm 'im n a autorizao para desobedecer
ao caso das leis injustas, No entanto, alguns dizem que todas as leis inconve-
nientes so injustas, pois qualquer lei im pe um a restrio liberdade 20
natural dos seres hum anos, restlio essa que um a injustia caso no esteja
legitim ada pela prossecuo do bem da hum anidade. Entre as diversas opi-
85
Utilitarismo
nies, parece que se adm ite universalm ente que podem existir leis injustas
e, consequentem ente, que alei no o critrio ltim o dajustia, j que pode
25 dar aum a pessoa um benefcio, ou im por aoutra um m al, que ajustia con-
dena. Quando se pensa, no entanto, que um a lei injusta, parece sem pre
que o do m esm o m odo que um a infraco da lei injusta, nom eadam ente,
em virtude de infringir um direito de algum , o qual, com o neste caso no
pode ser um direito legal, recebe um nom e diferente, sendo conhecido por
30 direito m oral. D este m odo, podem os dizer que um segundo caso de injus-
tia consiste em tirar ou negar aum a pessoa aquilo aque ela tem um direito
moral.
7 Em terceiro lugar, considera-se universalm ente que justo que cada
pessoa obtenha aquilo que merece (seja isso bom ou m au), e injusto que
obtenha um bem ou sofra um m al que no m erece. , talvez, desta
m aneira que a generalidade dos hom ens concebe a ideia de justia da
form a m ais clara eenftica. D ado que essa ideia envolve anoo de m ere-
cim ento, surge a questo de saber o que constitui o m erecim ento. Em
term os gerais, entende-se que um a pessoa m erece o bem se faz aquilo que
est certo, o m al sefaz aquilo que est errado, e, num sentido m ais espec-
fico, diz-se que um a pessoa m erece o bem daqueles a quem faz ou fez
10 bem e o m al daqueles a quem faz ou fez m al. O preceito de responder ao
m al com o bem nunca foi visto com o um caso de realizao da justia,
m as com o um caso em que as exigncias dajustia so postas de parte em
obedincia aoutras consideraes.
8 Em quarto lugar, evidentem ente injusto faltar palavra, ou seja,
violar um com prom isso, explcito ou tcito, ou frustrar as expectativas
suscitadas pela nossa prpria conduta, pelo m enos se suscitm os essas
expectativas consciente e voluntariam ente. Tal com o as outras obrigaes
5 de justia j m encionadas, esta no deve ser vista com o absoluta, m as
com o ultrapassvel por um a obrigao dejustia m ais forte que pese nou-
tro sentido, ou por se considerar que a conduta da pessoa afectada nos
livra da nossa obrigao para com ela e constitui um a perda do benefcio
que foi levada aesperar.
9 Em quinto lugar, adm ite-se universalm ente que inconsistente com a
justia ser parcial, isto , m ostrar predileco ou preferncia por um a pes-
soa em detrim ento de outra em questes nas quais a predileco e a
preferncia no se aplicam apropriadam ente. A im parcialidade, no entanto,
5 parece ser vista no com o um dever em si m esm o, m as com o um instru-
m ento para outro dever, pois adm ite-se que a predileco e a preferncia
nem sem pre so censurveis e, na verdade, os casos em que so condenadas
constituem m ais a excepo do que aregra. Se um a pessoa no prestasse
86
V. Da conexo entre j ustia e utilidade
sua fam lia ou aos seus am igos m elhores servios do que aos estranhos
quando poderia faz-lo sem violar qualquer outro dever, tenderia m ais a ser 10
censurada do que a ser aplaudida. E ningum pensa que injusto preferir
um a pessoa aoutra enquanto am iga, conhecida ou com panheira. Quando h
direitos em questo, bvio que aim parcialidade obrigatria, m as isso faz
parte da obrigao m ais geral de dar a cada um aquilo a que tem direito.
Um tlibunal, por exem plo, tem de ser im parcial, pois est obrigado aconce- 15
der um objecto disputado, sem atender a qualquer outra considerao,
parte que lhe tem direito. Existem outros casos em que a im parcialidade
significa ser influenciado unicam ente pelo m erecim ento, com o acontece
com aqueles que, exercendo a funo dejuzes, preceptores ou pais, adm i-
nistram a recom pensa e o castigo. Existem ainda outros casos em que 20
significa ser influenciado unicam ente pela considerao pelo interesse
pblico, com o quando se faz um a seleco entre vIios candidatos para um
posto pblico. Resum indo, pode-se dizer que, enquanto obrigao de jus-
tia, a im parcialidade significa ser influenciado exclusivam ente pelas
consideraes que suposto deverem influenciar o caso particular em ques- 25
to, bem com o resistir solicitao de quaisquer m otivos que induzam um a
conduta diferente daquela que essas consideraes ditariam .
A ideia de igualdade est estreitam ente aliada de im parcialidade. 10
Surge m uitas vezes com o um com ponente tanto da concepo de justia
com o da sua prtica, e, aos olhos de m uitas pessoas, constitui a sua essn-
cia. Mas aqui, ainda m ais do que em qualquer outro caso, anoo dejustia
valia de pessoa para pessoa, conform ando-se sem pre nas suas vadaes 5
sua noo de utilidade. Cada pessoa defende que aigualdade a exigncia
dajustia, excepto nos casos em que pensa que aconvenincia exige adesi-
gualdade. A justia de dar igual proteco aos direitos de todos defendida
por aqueles que apoiam a m ais ultrajante desigualdade nos prprios direi-
tos. Mesm o nos pases em que h escravatura adm ite-se, teOlicam ente, que 10
os direitos do escravo, tal com o existem , devem ser to sagrados com o os
do senhor, e que um tribunal que no os proteja com igual rigor carece de
justia, isto ao m esm o tem po que no se consideram injustas - pois no se
consideram inconvenientes instituies que quase no atribuem ao
escravo direitos a proteger. Aqueles que pensam que a utilidade exige dis- 15
tines de estatuto no consideram injusto que as riquezas e os privilgios
sociais sejam distribudos desigualm ente, m as aqueles que consideram esta
desigualdade inconveniente tam bm aconsideram injusta. Quem pensa que
o governo necessrio no v qualquer injustia na desigualdade que
resulta de se terem dado ao m agistrado poderes que no foram concedidos 20
s outras pessoas. Mesm o entre aqueles que defendem doutrinas igualit-
87
Utilitarismo
rias, so tantas as questes dejustia quantas as diferenas de opinio sobre
a convenincia. Alguns com unistas consideram injusto que o produto do
trabalho da com unidade seja partilhado de acordo com qualquer outro prin-
25 cpio que no o da estrita igualdade, outros pensam que justo que aqueles
que tm as m aiores necessidades sejam os que recebam m ais, enquanto
outros defendem que quem trabalha m ais, produz m ais ou presta servios
m ais valiosos com unidade pode reivindicar com justia um a m aior poro
da diviso do produto. E pode-se recorrer plausivelm ente ao sentido dajus-
30 tia natural para apoim ' qualquer um a destas opinies.
11 Entre tantas aplicaes diferentes do term o <<justia- que, contudo,
no considerado am bguo -, um pouco difcil encontrm ' o vnculo m en-
tal que as m antm unidas, do qual depende crucialm ente o sentim ento
m oral que est ligado a esse term o. Talvez possam os conseguir algum a
5 ajuda da histria da palavra, tal com o revelada pela sua etim ologia, pm a
sair desta dificuldade.
12 Na m aior pm te das lnguas, ou m esm o em todas elas, a etim ologia da
palavra que conesponde a<<justoaponta pm 'aum a origem ligada lei posi-
tiva ou quilo que, na m aior parte dos casos, foi afOlm aprim itiva da lei _
o costum e autoritdo. Justum um a form a dejussum, aquilo que foi orde-
5 nado. Jus tem a m esm a origem . ~{xatov vem de c){XTJ , cujo significado
principal, pelo m enos nas pocas histricas da Grcia, era petio jurdica.
Inicialm ente, na verdade, significava apenas o m odo ou maneira de fazer as
coisas, m as depressa acabou por significar a m aneira prescrita de fazer as
coisas, aquilo que as autoridades reconhecidas (patriarcais, judiciais ou
10 polticas) obrigm 'iam a fazer. Recht, de onde veio right e righteous, sin-
nim o de lei. Na verdade, o significado inicial de recht no apontava para lei,
m as pm 'arectido fsica, do m esm o m odo que wIVng e os seus equivalentes
latinos significavam torcido ou tortuoso. A pm tir daqui defende-se, no que
inicialm ente certo significava lei, m as que, pelo contrrio, lei signifi-
15 cava certo. Mas, seja com o for, o facto de o significado de recht e droit se
ter restringido a lei positiva, ainda que m uito do que no exigido por lei
seja igualm ente necessrio para a correco ou rectido m oral, revela tanto
o carcter original das ideias m orais com o se a derivao tivesse sido a
inversa. Os tribunais dejustia e a adm inistrao dajustia so os tribunais
20 e aadm inistrao da lei. Lajustice, em francs, o term o estabelecido pm 'a
aadm inistrao judicial. Penso que no sepode duvidm ' de que aide mere,
o elem ento prim itivo, na form ao da noo dejustia foi aconform idade
lei. At ao nascim ento do cdstianism o, ela constitua toda a ideia dejustia
entre os hebreus, com o seria deesperm ' no caso deum povo cujas leis tenta-
25 vam abranger todos os assuntos em que precisam os de preceitos, e que
88
V. Da conexo entre j ustia e utilidade
acreditava que esses leis eram um a em anao directa do Ser Suprem o. Mas
outras naes, em particular os gregos e os rom anos, que sabiam que as
suas leis inicialm ente tinham sido, e continuavam a ser, feitas por hom ens,
no tinham m edo de adm itir que esses hom ens podiam fazer m s leis.
Podiam faf:er com alei as m esm as coisas, e pelos m esm os m otivos, que, se
fossem feitas por indivduos sem asano da lei, seriam consideradas injus-
tas. Assim , o sentim ento de injustia acabou por ficar ligado, no a todas as
violaes da lei, m as apenas, por um lado, s violaes das leis que deve-
riam existir, incluindo aquelas que deviam existir m as no existiam , e, por
outro lado, s prprias leis consideradas contrrias quilo que devia ser a
lei. Assim , m esm o quando as leis em vigor deixaram de ser aceites com o
padro dejustia, aideia de lei edas suas injunes continuou apredom inar
nanoo dejustia.
verdade que os seres hum anos consideram que aideia dejustia e das
suas obrigaes aplicvel am uitas coisas que no so, nem desejvel que
sejam , reguladas pela lei. Ningum deseja que as leis intelfll'am em todos os
detalhes dasuavida privada. Ainda assim , todos adm item queem toda acon-
duta quotidiana um a pessoa pode revelar-se, e de facto revela-se, justa ou
injusta. No entanto, m esm o aqui subsiste, ainda que de um a form a m odifi-
cada, aideia deinfringir aquilo que deve ser alei. D m '-nos-iasem pre prazer, e
estaria de acordo com os nossos sentim entos relativos quilo que devido,
que os actos que consideram os injustos fossem punidos, em bora nem sem pre
considerem os conveniente que os tribunais se encarreguem disso.
Prescindim os dessa gratificao devido a inconvenincias acidentais.
Gostm 'am os de ver aconduta justa ser im posta e ainjustia ser repdm ida at
nos m ais nfim os detalhes, seno recessem os, com razo, confiar ao m agis-
trado tanto poder sobre os indivduos. Quando pensam os queum a pessoa est
obdgada pelajustia afazer um a coisa, dizem os norm alm ente que ela deveda
ser com pelida afaz-la. Ficaram os satisfeitos ao ver aobligao ser im posta
por quem tivesse poder pm 'ao fazer. Se vem os que a sua im posio pela lei
seria inconveniente, lam entam os a im possibilidade, consideram os um m al a
im punidade injustia, etentam os cOl1igi-Iofazendo um a forte expresso da
nossa prpria reprovao e da reprovao pblica atingir o ofensor. D este
m odo, a ideia de constrangim ento legal ainda a ideia que gera a noo de
justia, em bora sofi'a diversas transform aes at que essa noo, tal com o
existe num estado avanado dasociedade, setornecom pleta.
Penso que aquilo que vim os at aqui constitui, dentro dos seus lim ites,
um a descrio verdadeira da origem e do crescim ento progressivo da ideia
de justia. Mas tem os de observm ' que, por agora, a descrio nada inclui
que distinga essa obdgao da obrigao m oral em geral, pois a verdade
89
30
35
13
! O
15
20
14
5
10
15
20
25
30
15
5
Utilitarismo
que aideia de sano penal, que aessncia da lei, faz parte no s da con-
cepo de injustia, m as tam bm da concepo geral daquilo que errado.
No consideram os um a coisa errada caso no julguem os que um a pessoa
deve ser punida de um a m aneira ou de outra por a ter feito - se no pela
lei, pela opinio dos seus sem elhantes; se no pela opinio, pelas repreen-
ses da sua prpria conscincia. t Este parece ser o verdadeiro ponto
decisivo da distino entre am oralidade easim ples convenincia. Em qual-
quer um a das suas form as, a noo de dever inclui a ideia de que um a
pessoa pode ser legitim am ente obrigada a cum pri-lo. O dever algo que
pode ser exigido de um a pessoa do m esm o m odo que seexige o pagam ento
de um a dvida - se no pensam os que lhe pode ser exigido, no dizem os
que o seu dever. Razes prudenciais, ou o interesse de outras pessoas,
podem m ilitar contra a efectiva exigncia do seu cum prim ento, m as per-
feitam ente claro que a pessoa no estaria autorizada a protestar caso isso
no acontecesse. H outras coisas que, pelo contrrio, em bora desejem os
que as pessoas as faam (gostam os delas ou adm iram o-las por as fazerem , e
talvez no gostem os delas ou as desprezem os por as no fazerem ), adm iti-
m os que no esto obrigadas a faz-las. Esses no so casos de obrigao
m oral. No culpam os as pessoas por no fazerem essas coisas, isto , no
pensam os que elas so objectos apropriados de castigo. O m odo com o che-
gm os a estas ideias de m erecer e no m erecer castigo ficar claro, talvez,
no que se segue, m as penso no que h dvida que esta distino est na
base das noes do certo edo errado, isto , que consideram os um a conduta
eITadaquando pensam os que um a pessoa deve ser castigada por ela, e que
usam os outro term o negativo ou depreciativo caso no pensem os isso; e
dizem os que seda certo fazer tal e tal coisa, se desejam os que apessoa em
questo seja com pelida afaz-la, m as dizem os apenas que isso seria desej-
velou louvvel, se desejam os que essa pessoa seja s persuadida ou
incentivada aagir dessa m aneira.*
Assim , sendo esta a diferena caracterstica que dem arca, no ajustia,
m as a m oralidade em geral, das provncias do conveniente e do valioso, h
ainda que procurar a caracterstica que distingue ajustia dos outros ram os
da m oralidade. Ora, sabe-se que os autores de tica dividem os deveres
m orais em duas classes denotadas por expresses infelizes: os deveres de
obrigao perfeita e os deveres de obrigao im pelfeita. Os ltim os so
aqueles em que, em bora o acto seja obrigatrio, as ocasies especficas para
* Esta ideia reforada e ilustrada pelo Professor Balnt num captulo admrvel (intitulado
"The Ethcal Emotons, ar the Moral Sense) do segundo dos dois tratados que compem o
seu elaborado eprofundo estudo sobre amente.
90
v. Da conexo entre j ustia e utilidade
o realizar ficam ao nosso crittio. Isto acontece, por exem plo, no caso da
caridade ou da beneficncia, que estam os efectivam ente obrigados apraticar,
m as no em relao a qualquer pessoa definida, nem em qualquer instante
detenninado. Na linguagem m ais precisa dos juristas filosficos, os deveres
de obriglopelfeita so aqueles deveres em virtude dos quais um direito
cOITelativoreside em algum a pessoa ou pessoas; os deveres de obrigao
im pelfeita so aquelas obrigaes m orais que no do origem a qualquer
direito. Penso que seconstatar que esta distino coincide exactam ente com
a que existe entre ajustia e as outras obrigaes da m oralidade. No nosso
levantam ento das vrias acepes com uns de <gustia, o term o geralm ente
parecia envolver aideia de direito pessoal - um a exigncia por parte de um
ou m ais indivduos, sem elhante quela que se origina quando a lei confere
um direito de propriedade ou outro direito legal. Independentem ente de a
injustia consistir em privar um a pessoa de um a propriedade, em faltar-lhe
palavra, em trat-la pior do que m erece ou em trat-la pior do que outras pes-
soas que no m erecem m ais, em cada caso a suposio im plica duas coisas
- que um m al foi praticado e que um a determ inada pessoa sofreu o m al.
Tam bm se pode praticar um a injustia tratando um a pessoa m elhor do que
outras, m as nesse caso o m al ser sofrido pelos que com petem com ela, que
tam bm so pessoas concretas. Parece-m e que este aspecto do caso - um
direito de um a pessoa correlativo obIigao m oral - constitui adiferena
especfica que distingue ajustia da generosidade ou dabeneficncia. A jus-
tia im plica algo que, alm de ser certo fazer e errado no fazer, um a pessoa
individual pode exigir de ns enquanto seu direito m oral. Ningum tem um
direito m oral nossa generosidade ou nossa beneficncia, pois no esta-
m os m oralm ente obrigados a praticar essas virtudes em relao a qualquer
indivduo. E, no que diz respeito tanto a esta afirm ao com o a qualquer
definio correcta, constatar-se- que os exem plos que parecem estar em
conflito com ela so aqueles que m ais a confirm am , pois se um m oralista
tenta m ostrar, com o j aconteceu, que os seres hum anos em geral, m as no
qualquer indivduo em particular, tm direito a todo o bem que possam os
fazer por eles, com esta tese inclui im ediatam ente agenerosidade e abenefi-
cncia na categoria da justia. obrigado a dizer que os nossos m aiores
esforos so devidos aos nossos sem elhantes, assim ilando-os assim a um a
dvida, ou que nada de inferior a esses esforos pode ser um a compensao
suficiente por aquilo que a sociedade faz por ns, classificando-os assim
com o um caso de gratido - am bas as hipteses correspondem a casos
reconhecidos dejustia. Sem pre que h um direito em questo, o caso diz
respeito, no virtude da beneficncia, m as justia, e quem no colocar a
distino entrejustia em oralidade onde agora a colocm os, descobrir que
91
10
15
20
25
30
35
40
45
Utiltarismo
no est a distingui-las de m aneira nenhum a, m as a reduzir toda a m orali-
dade justia.
16 D ado que j procurm os determ inar os elem entos distintivos que parti-
cipam na com posio da ideia dejustia, estam os prontos para com ear a
investigar se o sentim ento que acom panha essa ideia lhe est ligado por
um a dispensao especial da natureza, ou se se pode ter desenvolvido,
5 atravs de quaisquer leis conhecidas, a partir da prpria ideia e, em parti-
cular, sepode ter tido origem em consideraes de convenincia geral.
17 J ulgo que o prprio sentim ento no surge de nada que, habitual ou
correctam ente, seja visto com o um a ideia de convenincia, m as que,
em bora o sentim ento no sm ja assim , o m esm o no se verifica com aquilo
que ele tem de m oral.
18 Vim os que os dois ingredientes essenciais no sentim ento dejustia so
o desejo de castigar um a pessoa que causou danos e o conhecim ento ou
convico de que h algum ou alguns indivduos que sofreram danos.
19 Ora, parece-m e que o desejo de castigar um a pessoa que causou danos
a um indivduo um desenvolvim ento espontneo de dois sentim entos,
am bos naturais no grau m ais elevado, que so ou se assem elham a instin-
tos: o im pulso de autodefesa eo sentim ento de sim patia.
20 natural levar am al erepelir ou retaliar qualquer dano infligido (ou ten-
tativa de o infligir) a ns prprios ou queles com quem sim patizam os. No
necesstio discutir aqui a origem deste sentim ento. Independentem ente de
ser um instinto ouum resultado dainteligncia, sabem os que com um atoda
5 a natureza anim al, pois todo o anim al tenta m agoar aqueles que o m agoaram
a si ou aos seus filhos, assim com o aqueles que pensa estarem prestes afaz-
-lo. A este respeito, os seres hum anos diferem dos outros anim ais apenas em
dois aspectos. Em ptim eiro lugar, por serem capazes de sim patizar no s
com os seus descendentes (ou, com o alguns dos anim ais m ais nobres, com
10 algum anim al superior que gentil para com eles), m as com todos os seres
hum anos e at com todos os seres sencientes. Em segundo lugar, por terem
um a inteligncia m ais desenvolvida, aqual confere um alcance m ais am plo a
todos os seus sentim entos, estejam eles ligados ao interesse prptio ou sim -
patia. Em virtude da sua inteligncia superior, e m esm o ignorando o alcance
15 superior da sua sim patia, um ser hum ano capaz de reconhecer um a com u-
nho de interesses entre si e a sociedade de que faz pm ie, de tal m odo que
qualquer conduta que am eace a segurana da sociedade em geral am eaa a
suaprpria segurana edesperta o seuinstinto (sefor um instinto) deautode-
fesa. A m esm a superioridade na inteligncia, conjugada com o poder de
20 sim patizm ' com os seres hum anos em geral, perm ite-lhe ligm '-seideia colec-
tiva da sua uibo, do seu pas ou da hum anidade, de tal m aneira que qualquer
92
V. Da conexo entre j ustia e utilidade
acto prejudicial para esse colectivo excita o seu instinto de sim patia eincita-o
resistncia.
D este m odo, julgo que o sentim ento dejustia, no que diz respeito ao 21
seu elem ento que consiste no desejo de castigar, o sentim ento natural de
retaliao ou vingana, tornado aplicvel pelo intelecto e pela sim patia
quelas injrias, isto , queles danos, que nos ofendem por interm dio ou
em unio com a sociedade no seu todo. Em si m esm o, este sentim ento 5
nada tem de m oral; o que ele tem de m oral a sua exclusiva subordinao
s sim patias sociais, que consiste em servi-Ias e em obedecer ao seu cha-
m am ento. Isto acontece porque o sentim ento natural tende a fazer-nos
ressentir-nos indiscrim inadam ente com qualquer coisa feita pelos outros
que nos seja desagradvel; m as, quando m oralizado pelo sentim ento 10
social, age apenas em direces conform veis ao bem geral: as pessoas
justas ressentem -se com os danos causados sociedade, m esm o quando
elas prprias no sofrem qualquer dano, e no se ressentem quando
sofrem um dano, por m uito doloroso que seja, caso a represso desse
gnero de dano no seja tam bm do interesse da sociedade. 15
No constitui um a objeco a esta doutrina dizer que, quando nos senti- 22
m os feridos no nosso sentim ento de justia, no estam os a pensar na
sociedade no seu todo ou em qualquer interesse colectivo, m as apenas no
caso individual. Em bora seja contrrio ao recom endvel, no h dvida que
suficientem ente com um sentirm os ressentim ento apenas por teim os soflido 5
dor, m as isso no acontece com um a pessoa cujo ressentim ento realm ente
um sentim ento m oral, isto , com algum que determ ina seum acto ou no
censurvel antes deseperm itir ficar ressentido com o m esm o - essa pessoa,
em bora possa no dizer expressam ente a si prpria que est a zelar pelo la
interesse da sociedade, sente certam ente que est a defender um a regra que
existe tanto para benefcio dos outros com o para seu prprio benefcio.
Se ela no estiver a senti-lo - se estiver a considerar o acto apenas na
m edida em que este a afecta individualm ente -, ento no consciente-
m ente justa, no est apreocupm '-se com ajustia das suas aces. Mesm o 15
os m oralistas que no so utilitaristas adm item isto, Quando Kant prope
(com o j observm os), enquanto princpio fundam ental dam oral, alei Age
de m odo aque atuaregra de conduta possa ser adoptada com o lei por todos
os seres racionais, reconhece virtualm ente que o interesse colectivo da
hum anidade ou, pelo m enos, o interesse indiscrim inado da hum anidade, 20
tem de estar na m ente do agente quando este determ ina conscienciosalllente
am oralidade do acto. Caso conu'rio, Kant estm 'iausm ' palavras vazias, pois
nem sequer sepode defender plausivelm ente que m esm o um a regra de abso-
luto egosm o no poderia ser adoptada por todos os seres racionais, isto ,
93
25
23
5
10
24
5
10
15
20
Utilitarismo
que a natureza das coisas coloca um obstculo insupervel sua adopo.
Para dar algum significado ao princpio de Kant, o sentido aatlibuir-lhe tem
de ser o de que devem os m oldar a nossa conduta segundo um a regra que
todos os seres racionais possam adoptar com beneficio para o seu interesse
colectivo.
Recapitulando, a ideia dejustia supe duas coisas: um a regra de con-
duta eum sentim ento que sancione aregra. Tem os de supor que aprim eira
com um atoda ahum anidade eque tem em vista o seu bem . O outro (o senti-
m ento) o desejo deque aqueles que infringiram aregra sofram um castigo.
Est aqui presente, alm disso, aideia de um a pessoa definida que sofre com
ainfraco, um a pessoa cujos direitos (para usar aexpresso apropIiada) so
violados por ela. E o sentim ento dejustia parece-m e ser o desejo anim al de
repelir ou retaliar um dano ou prejuzo infligido a ns prprios ou queles
com quem sim patizam os, am pliado de m odo a incluir todas as pessoas atra-
vs da capacidade hum ana para a sim patia alargada e da concepo hum ana
do interesse prprio esclarecido. D o prim eiro elem ento, o sentim ento deriva
asuapeculiar vivacidade eaenergia com que seafirm a; dos restantes, deriva
asuam oralidade.
Tenho tratado sem pre aideia de um direito residir na pessoa injuriada, e
ser violado pela injria, no com o um elem ento separado na com posio da
ideia e do sentim ento, m as com o um a das form as sob a qual os outros dois
elem entos seapresentam . Estes elem entos so, por um lado, um dano provo-
cado aum a ou vrias pessoas determ inadas, e, por outro lado, um a exigncia
de castigo. Um exam e nossa prpria m ente m ostrar, penso eu, que estas
duas coisas incluem tudo o que querem os dizer quando falam os da violao
de um direito. Quando dizem os que um a pessoa tem direito a um a coisa,
querem os dizer que ela tem um a pretenso vlida proteco da sociedade
no que diz respeito posse dessa coisa, sejapela fora da lei ou pela fora da
educao eda opinio. Se por algum a razo essa pessoa tiver o que conside-
ram os um a pretenso suficiente a que a sociedade lhe garanta um a coisa,
dizem os que ela tem direito a essa coisa. Se desejam os provar que um a
coisa no lhepertence por direito, entendem os que o conseguim os fazer logo
que se adm itir que a sociedade no deve tom ar m edidas para lhe assegurar
essa coisa, devendo deixar o assunto entregue ao acaso ou aos seus prprios
esforos. D este m odo, diz-se que um a pessoa tem direito quilo que pode
ganhar num a com petio profissional equitativa, pois a sociedade no deve
perm itir que outra pessoa a im pea de tentar ganhar dessa m aneira tanto
quanto puder. Mas um a pessoa no tem direito a trezentas libras por ano,
em bora possa de facto ganh-las, pois a sociedade no cham ada a provi-
denciar-lhe essa som a. No entanto, se possui aces no valor de dez m il
94
v. Da conexo entre j ustia e utilidade
libras a trs por cento ao ano, tem direito a trezentas libras por ano, pois a
sociedade adquiriu aobrigao de lhefornecer esse rendim ento.
D este m odo, ter um direito , julgo eu, ter algo cujaposse deve ser defen-
dida pela sociedade. Se o crtico ainda assim perguntar por que deve a
sociedade lefender-m e, no posso dar-lhe outra razo que no ada utilidade
geral. Se a expresso no parece com unicar um sentim ento suficiente da
fora da obrigao, nem dar conta da energia peculiar do sentim ento, por-
que na com posio do sentim ento entra no s um elem ento racional, m as
tam bm um elem ento anim al: a sede de retaliao. E esta sede deriva a sua
intensidade, bem com o a sua justificao m oral, da espcie de utilidade
extraordinariam ente im portante e im pressionante que est em questo. O
interesse aqui envolvido a segurana, aos olhos de todos o m ais vital de
todos os interesses. Quase todos os outros bens terrenos so indispensveis
para um a pessoa, m as no para outra, ede m uitos deles, senecessrio, pode-
m os prescindir alegrem ente ou substitu-los por outras coisas, m as nenhum
ser hum ano pode viver sem segurana; dela dependem os para toda a nossa
im unidade ao m al e para fruir, alm do m om ento presente, todo o valor de
todo equalquer bem , pois, sepudssem os ser privados de qualquer coisa no
m om ento seguinte por quem fosse m om entaneam ente m ais forte, s a grati-
ficao instantnea poderia ter algum valor para ns. Ora, esta necessidade, a
m ais indispensvel aseguir nutrio fsica, no pode ser satisfeita ano ser
que am aquinaria para asatisfazer seja m antida ininterruptam ente em funcio-
nam ento. Assim , a ideia de que podem os exigir aos nossos sem elhantes que
nos ~udem a assegurar o prprio fundam ento da nossa existncia rene em
seu torno sentim entos to m ais intensos do que aqueles que esto em causa
nos casos m ais com uns de utilidade que a diferena de grau (com o acontece
frequentem ente na psicologia) torna-se um a verdadeira diferena de gnero.
A exigncia assum e esse carcter absoluto, essa aparente infinidade e inco-
m ensurabilidade com todas as outras consideraes, que constitui adistino
entre o sentim ento do certo edo errado eo sentim ento daconvenincia ou da
inconvenincia com uns. Os sentim entos em causa so to poderosos, eespe-
ram os com tanta confiana encontrar sentim entos correspondentes nos
outros (pois tem os todos o m esm o interesse), que o dever fazer algum a coisa
torna-se no ter de afazer, e areconhecida indispensabilidade d lugar aurna
necessidade m oral, anloga fsica e m uitas vezes no inferior aesta na sua
fora obrigante.
Se a anlise precedente, ou algo que se lhe assem elhe, no for a pers-
pectiva correcta da noo de justia, se a justia for totalm ente
independente da utilidade e constituir um padro per se que a m ente pode
reconhecer por sim ples introspeco, ser difcil com preender por que
95
25
5
10
15
20
25
30
35
26
Utilitarismo
5 razo esse orculo interno to am bguo, e por que razo tantas coisas
parecem justas ou injustas consoante alu.z.aque ~svem os. _ .
27 D izem -nos constantem ente que a utilIdade e um padrao m certo que
cada pessoa diferente interpreta de m aneira .difel~en~e,e ~ue ,s h seg~-
rana nas injunes im utveis, indelveis e m falIve~s. ~aJ usti~a, qu~sao
auto-evidentes e independentes das flutuaes de opm lao. ASSlffi,sena de
supor que em questes de justia no pudesse haver qu~lqu~r controvr-
sia, e que, se tom ssem os ajustia com o regra, a sua aplIcaao a qualql~er
caso deixar-nos-ia com to poucas dvidas com o um a dem onstraao
m atem tica. Isto est to longe da verdade que h tantas diferenas de
opinio, e discusses to acesas, sobre aquilo .que justo :om o. sO?I~e
10 aquilo que til para a sociedade. Alm de as diferentes naoes e m dlvl-
duos terem noes diferentes de justia, na m ente de um e do m esm o
indivduo ajustia no um nico princpio, regra ou m xim a, m as m ui-
tos diferentes. Estes nem sem pre coincidem nas suas injunes e, ao
escolher entre eles, o indivduo orienta-se por outro padro ou pelas suas
15 prprias predileces pessoais. .
28 H quem diga, por exem plo, que injusto castigar algum ~ara servir de
exem plo aos outros eque o castigo s justo quando tem em VIstao bem de
quem o sofre. Outros defendem precisam ente o contrm io, m :gum entando qu~
castigar pm 'aseu prprio bem pessoas que tm j um entendim ento m aduro,e
5 desptico e injusto, pois, se aquilo que est em quest~? apenas o seu P,ro-
prio bem , ningum tem o direito de controlm ' o seu J UlZ~a esse r~spelt~.
Essas pessoas podem , no entanto, ser c.astigadas de,f~rm a J ust~.pm a 1~~~edI~'
que os outros sofram um m al, sendo ISSOo exerclclo .do l~glt1m Od~~lto a
autodefesa. O Sr. Owent afirm a, por sua vez, que castigar e sem pre m J usto,
10 pois o clim inoso no constlUiu o seu prplio cm cter; a sua ~d~cao, bem
com o as circunstncias que o rodearam , fizeram dele um cnm m oso, e ele
no responsvel por elas. Todas estas opinies so ex~rem am ente p~aus-
veis, e, enquanto o assunto for discutido com o ~m a slm ?l~s ~uesta~de
justia e se ignorm 'em os princpios que esto subjacentes ,aJ ustia e sao a
15 fonte da sua autoridade, sou incapaz de ver com o posslVel refutm estes
m 'gum entadores, pois, na verdade, qualquer um dos trs sebaseia em reg~'as
de justia reconhecidam ente verdadeir~s. ?prim eiro a~el~ reconhecida
injustia que consiste em escolher um m dlvlduo e sacnfica-Io, seI? o seu
consentim ento, pm 'a benefcio das outras pessoas. O segundo baseIa-se ?O
20 facto reconhecido de a autodefesa ser justa, bem com o no facto, tam bem
reconhecido, de ser injusto form ' um a pessoa a conform m '-se s ideias que
os outros tm sobre aquilo que constitui o seu bem . O defensor do ponto de
vista de Owen invoca oprincpio am plam ente aceite segundo o qual injusto
96
v. Da conexo entre j ustia e utilidade
castigar um a pessoa pelo que ela no pde evitar fazer. Cada um bem suce-
dido enquanto no com pelido ater em conta quaisquer outras m xim as de
justia alm daquela que seleccionou; m as, logo que as diversas m xim as
so confrontadas, cada disputador pm 'ece ter exactam ente tanto a dizer a seu
favor com o os outros. Nenhum deles pode defender a sua noo dejustia
sem tropear noutra igualm ente plausvel. Tem os aqui dificuldades. Estas
tm sido sem pre reconhecidas einventm 'am -se m uitas estratgias que as con-
tornam em vez de as superarem . Pm 'a evitar a ltim a das dificuldades, os
hom ens, julgando que s podeliam justificar o castigo de um hom em cuja
vontade estivesse num estado inteiram ente odioso caso se supusesse que ele
ficou nesse estado sem ainfluncia de circunstncias anteriores, im aginaram
aquilo aque cham am livre m 'btrio. Pm 'afugir s outras dificuldades, um ins-
tlUm ento favorito tem sido a fico de um contrato, pelo qual, num a poca
desconhecida, todos os m em bros da sociedade se com prom eteram a obede-
cer s leis, e consentiram ser castigados no caso de lhes desobedecerem ,
conferindo assim aos seus legisladores o direito (que supostam ente no
teriam sem o contrato) de os castigm ', fosse para seu prprio bem ou pm 'ao
bem da sociedade. Pensou-se que esta feliz ideia faria desaparecer todas as
dificuldades e legitim m ia a aplicao de castigos graas a outra m xim a da
justia am plam ente aceite - volenti non fit injuria, isto , no injusto
aquilo que se faz com o consentim ento da pessoa que supostam ente vai
sofrer o dano. Quase nem preciso de observm ' que, m esm o que o consenti-
m ento no fosse um a sim ples fico, ainda assim esta m xim a no telia um a
autoridade superior daquelas que pretende substituir. Este , pelo contrm 'io,
um exem plo instlUtivo do m odo vago e inegulm ' pelo qual se desenvolvem
os supostos princpios dajustia. Este princpio, em particulm ', com eou evi-
dentem ente a ser usado com o auxlio pm 'aas lUdes exigncias dos tlibunais,
quepor vezes so obligados aficm ' satisfeitos com pressupostos m uito incer-
tos, pois qualquer tentativa da sua parte de exigir m ais rigor dada oligem
frequentem ente a m aiores m ales. No entanto, nem m esm o os tribunais so
capazes de aderir consistentem ente m xim a, pois perm item que os com -
prom issos voluntm 'ios sejam quebrados por causa daocorrncia defraudes e,
por vezes, por causa desim ples erros ou deinform aes falsas.
Alm disso, adm itida a legitim idade de infligir castigos, surgem m uitas
concepes dejustia rivais quando se discute a severidade apropriada dos
castigos para as ofensas. Neste assunto, nenhum a regra se im pe com tanta
fora ao sentim ento dejustia prim itivo eespontneo com o alex talionis _
olho por olho, dente por dente. Em bora de um m odo geral este princpio da
lei judaica e m uulm ana tenha sido abandonado na Europa enquanto
CFT-UTIL-7
97
25
30
35
40
45
50
55
29
5
Utiltarismo
m xim a prtica, suspeito que am aior parte das pessoas anseia secretam ente
por ele; e quando, por acaso, a retribuio atinge o ofensor precisam ente
dessa m aneira, o sentim ento geral de satisfao evidenciado m ostra com o
natural o sentim ento para o qual esta form a de pagar na m esm a m oeda
10 aceitvel. Para m uitos, o teste da justia na inflico da pena reside na
proporcionalidade do castigo ofensa. Isto signif1ca que o castigo deve
corresponder com exactido culpa m oral do crim inoso (seja qual for o
padro usado para m edir a culpa m oral). Segundo esta perspectiva, consi-
derar a severidade do castigo necessria para dissuadir a ofensa
15 irrelevante para a questo da justia. Para outros, pelo contrrio, isso
tudo o que im porta. Estes defendem que, pelo m enos no que diz respeito
aos seres hum anos, no justo infligir num sem elhante, sejam quais
forem as suas ofensas, qualquer quantidade de sofrim ento que ultrapasse
o m nim o suficiente para o im pedir de repetir, e im pedir os outros de im i-
20 tal', asua m conduta.
30 Considerem os agora um exem plo extrado de um assunto j referido.
Num a associao industrial cooperativa, serjusto que o talento e apercia
dem direito a um a rem unerao superior? Os que respondem negativa-
m ente defendem que aqueles que fazem o m elhor que podem m erecem ser
pagos da m esm a m aneira, e que seria injusto coloc-los num a posio de
inferioridade por algo de que no tm culpa. Sustentam que, graas adm i-
rao que suscitam , influncia pessoal que produzem e s fontes internas
de satisfao que as acom panham , as aptides superiores j do m ais vanta-
gens do que as suficientes, no sendo preciso acrescentar aessas vantagens
10 um a poro superior dos bens m ateriais. D efendem ainda que a justia
obriga a sociedade a com pensar os m enos favorecidos pela sua im erecida
desigualdade de vantagens, e no a agravar essa desigualdade. A favor da
perspectiva contrria, alega-se que a sociedade recebe m ais do trabalhador
m ais eficiente, e que, com o os seus servios so m ais teis, a sociedade
15 deve-lhe um a m aior com pensao. Afirm a-se que, na verdade, o seu traba-
lho obter um a poro m aior do resultado conjunto, e que negar-lhe essa
pretenso um a espcie de roubo. D efende-se ainda que, se esse trabalha-
dor receber tanto com o os outros, s ser justo exigir-lhe que produza o
m esm o que eles, dedicando assim , em conform idade com a sua eficincia
20 superior, m enos tem po e esforo ao trabalho. Quem escolher entre estes
apelos a princpios de justia rivais? Neste caso a justia tem dois lados,
sendo im possvel harm oniz-los, e os dois disputadores escolheram lados
opostos - um olha para aquilo que justo que o indivduo receba; o outro,
para aquilo que justo que a com unidade lhe d. Cada um , do seu respec-
98
V. Da conexo entre j ustia e utilidade
tivo ponto de vista, irrefutvel, equalquer opo por um deles, baseada na 25
justia, tem de ser petfeitam ente arbitrria. S autilidade social pode deci-
dir aprioridade.
Na discusso da distribuio dos encargos fiscais, faz-se referncia, um a 31
vez m ais, a m uitos padres de justia irreconciliveis. Segundo um a opi-
nio, deve-se pagar ao Estado em proporo num rica aos m eios
pecunirios. Outros pensam que a justia exige aquilo a que cham am
im postos graduais, ou seja, a cobrana de um a percentagem m aior que- 5
les que tm m ais dinheiro. D a perspectiva da justia natural, pode-se
apresentar um argum ento forte para no ter em conta os recursos financei-
ros, ecobrar am esm a som a absoluta (sem pre que sepossa cobr-la) atodas
aspessoas, sem elhana do que acontece com os m em bros deum a sociedade
ou de um clube, que pagam todos a.m esm a som a pelos m esm os privilgios, 10
independentem ente de disporem ou no dos m esm os recursos. D ado que
(poder-se-ia alegar) a proteco da lei e do governo oferecida a todos, e
exigida igualm ente por todos, no h qualquer injustia em fazer com que
todos acom prem ao m esm o preo. Reconhece-se que justo, e no injusto,
que um negociante cobre a todos os clientes o m esm o preo pelos m esm os 15
artigos em vez decobrar preos diferentes de acordo com os m eios de paga-
m ento dos clientes. Aplicada cobrana de im postos, esta doutrina no
encontra defensores, pois est em grande conflito com os sentim entos de
hum anidade e as noes de convenincia social dos seres hum anos. No
entanto, o princpio dejustia que invoca to verdadeiro eobrigante com o 20
aqueles a que podem os recorrer para a derrubar. Por isso, esta doutrina
exerce um a influncia tcita num a linha de defesa utilizada para outros
m odos de determ inar a cobrana de im postos. Para justificar o facto de o
Estado tirar m ais aos ricos do que aos pobres, as pessoas sentem -se obriga-
das a defender que o Estado faz m ais pelos prim eiros do que pelos 25
segundos; m as, na realidade, isso no verdade, pois, na ausncia de leis e
de governos, os ricos estariam em m uito m elhores condies do que os
pobres para sedefenderem a si prprios, e, na verdade, provavelm ente con-
seguiriam transform ar os pobres em escravos. H tam bm quem se subm eta
m esm a concepo dejustia a ponto de defender que todos devem pagar 30
um im posto igual pela proteco da sua pessoa (pois esta tem o m esm o
valor para cada um ), e um im posto varivel pela proteco da sua proprie-
dade, que varia de pessoa para pessoa. A isto outros respondem que a
totalidade daquilo que um hom em possui to valiosa para si prprio com o
a totalidade daquilo que qualquer outro hom em possui o para esse 35
hom em . O utilitarism o anica m aneira de sair destas confuses.
99
32
5
10
15
33
5
10
15
20
Ulililarismo
Ser, ento, a diferena entre o justo e o conveniente um a distino
m eram ente im aginria? Ser que a hum anidade tem estado sob um a ilu-
so ao pensar que ajustia um a coisa m ais sagrada do que aprecauo,
e que a segunda deve ser tom ada em considerao apenas depois de a pri-
m eira ter sido satisfeita? D e m aneira algum a. A exposio que oferecem os
sobre a natureza e a origem do sentim ento reconhece um a distino real, e
nenhum dos que, na sua m oralidade, professam o desprezo m ais sublim e
pelas consequncias das aces atribui m ais im pOlincia distino do que
eu. Em bora conteste as pretenses de qualquer teoria que apresente um
padro dejustia im aginrio que no sebaseie na utilidade, reconheo que a
justia baseada na utilidade a parte principal, a palie incom paravelm ente
m ais sagrada e obrigante, de toda a m oralidade. A justia um nom e pal'a
celias classes deregras m orais que dizem respeito directam ente aos aspectos
essenciais do bem -estar hum ano, e que, portanto, tm um a obrigatoriedade
m ais absoluta do que quaisquer outras regras pal'a conduzir a vida. Alm
disso, a noo que, com o descobrim os, constitui a essncia da ideia dejus-
tia (a de um indivduo possuir um direito) im plica e com prova esta
obdgatoriedade m ais forte.
As regras m orais que probem os seres hum anos de se m altratarem
(entre as quais nunca nos devem os esquecer de incluir a intederncia inde-
vida na liberdade de cada um ) so m ais vitais pal'a o bem -estal' hum ano do
que quaisquer m xim as, por m uito im portantes que sejam , que s indicam a
m elhor m aneira de organizar algum depaltam ento dos assuntos hum anos.
Estas regras tm tam bm a peculiaridade de ser o elem ento principal na
determ inao da totalidade dos sentim entos sociais dos seres hum anos, S a
sua observncia preserva apaz entre os seres hum anos - se aobedincia a
elas no fosse aregra, e adesobedincia aexcepo, todos vedam em todos
um provvel inim igo contra o qual seria preciso estar perpetuam ente aler-
tado. E, o que dificilm ente ser m enos im portante, no h preceitos que os
seres hum anos estejam m ais forte e directam ente interessados em difundir,
Ao troCal'em sim plesm ente inform aes ou exortaes prudenciais, podem
nada ganhal' ou pensar que nada ganham , Tm um interesse inquestionvel
em inculcar o dever da beneficncia positiva, m as este interesse tem m uito
m enos im portncia: um a pessoa pode no precisar dos benefcios dos
outros, m as precisa sem pre que os outros no a m altratem . D este m odo, as
regras m orais que protegem o indivduo de danos provocados por outros,
seja directam ente ou pela privao da sua liberdade de perseguir o seu pr-
prio bem , so sim ultaneam ente aquelas que ele m ais estim a e aquelas que
ele est m ais interessado em divulgal' einculcal' pela palavra epela aco,
100
v. Da conexo enlre j ustia e utilidade
atravs da observncia dessas regras m orais que se testa e decide a aptido
de um a pessoa para conviver cordialm ente com outros seres hum anos,
pois disso depende o facto de ela ser ou no um estorvo para aqueles com
quem contacta. Ora, so prim ariam ente essas regras que com pem as
obdgaes de justia. Os casos m ais flagrantes de injustia, aqueles que
do o tom sensao de repugnncia que caracteriza o sentim ento, so
actos de agresso indevida ou de exerccio indevido do poder sobre
algum ; logo a seguir, vm os actos que consistem em privar indevida-
m ente algum daquilo que lhe devido. Em am bos os casos, inflige-se
um dano positivo a um a pessoa, seja atravs de sofrim ento directo ou da
privao de um bem com o qual, por um m otivo razovel de natureza
social ou fsica, ela contava,
Os m esm os m otivos poderosos que im pem a observncia dessas regras
m orais essenciais, exigem que aqueles que as violal'am sejam castigados, E
m edida que os im pulsos da autodefesa, da defesa dos outros e da vingana
vo sendo convocados contra essas pessoas, a retribuio - o m al em res-
posta ao m al - fica estreitam ente ligada ao sentim ento de justia e
includa universalm ente na sua ideia. O bem em resposta ao bem tam bm
um a das injunes da justia; esta, em bora tenha um a evidente utilidade
social e seja acom panhada por um sentim ento hum ano natural, no tem
prim eira vista essa conexo bvia com o dano ou ainjria que, existindo nos
casos m ais elem ental'es dejustia e injustia, constitui a fonte da caracters-
tica intensidade do sentim ento. Mas a conexo, em bora seja m enos bvia,
no m enos real. Aquele que aceita benefcios, e se recusa a retribu-los
quando preciso, inflige um dano real, frustrando um a das expectativas m ais
naturais e razoveis, e, pelo m enos tacitam ente, tem de ter encorajado essa
expectativa, pois se o no tivesse feito ral'am ente receberia benefcios. Entre
os m ales e ofensas hum anos, a im portncia da frustrao de expectativas
revela-se no facto de esta constituir o pior aspecto de dois actos extrem a-
m ente im orais - trair um am igo e quebral' um a prom essa. Entre os danos
que os seres hum anos podem suportar, poucos so m aiores, e nenhum fere
m ais, do que aqueles que ocorrem quando aquilo em que confiavam habi-
tualm ente e com inteira segurana lhes falha na hora da necessidade. E
poucas ofensas so m aiores do que esta sim ples privao de um bem ;
nenhum a excita m ais ressentim ento, seja na pessoa que sofre ou num espec-
tador sim patizante. D este m odo, o princpio de dar a cada um aquilo que
m erece, isto , o bem em troca do bem e o m al em troca do m al, alm de
estal' includo na ideia dejustia tal com o a definim os, um objecto apro-
pdado pal'aesse intenso sentim ento que, na avaliao hum ana, coloca ojusto
acim a do sim plesm ente conveniente.
101
25
30
34
10
15
20
25
35
5
10
36
5
10
15
20
25
Utilitarismo
A m aior parte das m xim as dajustia correntes no m undo, s quais se
recorre habitualm ente nas relaes hum anas, so sim ples instrum entos para
tornar efectivos os princpios dajustia de que falm os agora. A m xim a de
que um a pessoa responsvel apenas pelo que fez ou poderia ter evitado
voluntm iam ente, am xim a de que injusto condenm ' um a pessoa sem antes
a ouvir e a m xim a de que o castigo deve ser proporcional ofensa foram
concebidas, com o outras m xim as do gnero, pal'a im pedir que o princpio
justo do m al em resposta ao m al seja cOlTom pidoatravs dainflico do m al
sem essa justificao. A m aior pm te destas m xim as com uns entraram em
uso atravs da prtica dos ttibunais. Esta prtica conduziu, naturalm ente, ao
m ais com pleto reconhecim ento e elaborao que se poderia esperar das
regras necessrias para os tribunais desem penharem a sua dupla funo:
infligir os castigos m erecidos e dar a cada pessoa aquilo a que ela tem
direito.
A prim eira das virtudes judiciais, a im parcialidade, um a obrigao
de justia em parte pela razo atrs indicada, ou seja, por ser um a condi-
o necessria para o cum prim ento das outras obrigaes de justia. Mas
esta no a nica fonte do elevado estatuto que, enquanto obrigaes
hum anas, possuem essas m xim as de igualdade e im parcialidade, que
tanto a opinio populm ' com o a m ais esclarecida incluem entre os precei-
tos da justia. Segundo um ponto de vista, estas podem ser vistas com o
corolrios dos princpios j estabelecidos. Se tem os o dever de dar a cada
um aquilo que m erece, respondendo ao bem com o bem e reprim indo o
m al com o m al, segue-se necessariam ente que, quando nenhum dever
m ais forte o probe, devem os tratar igualm ente bem todos aqueles que
m erecem o m esm o de ns, e que a sociedade deve tratar igualm ente bem
todos os que m erecem o m esm o dela, isto , todos os que m erecem o
m esm o em term os absolutos. Este o superior padro abstracto dajustia
social e distributiva, para o qual devem convergir no m aior grau possvel
todas as instituies e os esforos de todos os cidados virtuosos. Mas
este grande dever m oral tem um fundam ento ainda m ais profundo, pois
um a em anao directa do prim eiro princpio da m oral - no um m ero
corolrio lgico de doutrinas secundrias ou derivadas; est im plicado no
prprio significado da utilidade ou do Princpio da Maior Felicidade. Este
princpio ser um sim ples conjunto de palavras sem significado racional
caso a felicidade de um a pessoa, sendo igual de qualquer outra no seu
grau (eestando devidam ente considerado o seu gnero), no conte exacta-
m ente o m esm o que a desta. Reunidas estas condies, a expresso de
Bentham que todos contem com o um eningum com o m ais do que um
102
V. Da conexo entre j ustia e utilidade
pode ser apresentada com o um com entrio explicativo do princpio da uti-
lidade. * D a perspectiva do m oralista ou do legislador, o igual direito de
todos felicidade im plica um igual direito a todos os m eios para a felici-
dade, excepto na m edida em que as inevitveis condies da vida hum ana,
bem com o o interesse geral (do qual faz parte o interesse de todo o indiv- 30
duo), im pem lim ites a essa m xim a - e esses lim ites devem estar
rigorosam ente definidos. Com o todas as outras m xim as da justia, tam -
bm esta no aplicada ou considerada aplicvel universalm ente; pelo
contrtio, com o j observei, est sujeita s ideias de convenincia social
que todas as pessoas tm . No entanto, sem pre que considerada aplicvel, 35
vista com o um a injuno da justia. Entende-se que todas as pessoas
tm direito a um tratam ento igual, excepto quando um a convenincia
o Sr. Herbert Spencert (em Social Statics) considera que esta implicao, no primeiro
principio do esquema utilitarista, da perfeita imparcialidade entre pessoas refuta as preten-
ses da utilidade a consistir num guia suficiente para fazer aquilo que est certo, pois (diz ele)
oprincipio da utilidade pressupe oprincipio anterior de que todos tm o mesmo direito feli-
cidade. Podemos descrev-lo mais correctamente como a suposio de que pores iguais
de felicidade so igualmente desejveis, independentemente de serem fruldas pela mesma
pessoa ou por pessoas diferentes. Isto, no entanto, no um pressuposto, no uma pre-
missa necessria para apoiar o principio da utilidade - isto o prprio principio. Afinal, o que
seria oprincipio da utilidade se no dissesse que felicidade" e desejvel" so termos sin-
nimos? Se algum principio anterior est implicado, s pode ser este, que nos diz que as
verdades da aritmtica so to aplicveis avaliao da felicidade como a quaisquer outras
quantidades mensurveis.
[Numa comunicao privada sobre a nota precedente, o Sr. Herbert Spencer recusa ser
considerado um adversrio do utilitarismo edeclara que considera a felicidade ofim ltimo da
moralidade, mas entende que esse fim apenas parcialmente alcanvel atravs de generali-
zaes emplricas baseadas nos resultados observveis da conduta, e que s
completamente alcanvel se deduzirmos, apartir das leis da vida e das condies da exis-
tncia, que tipos de aco tendem necessariamente a produzir a felicidade e que tipos de
aco tendem a produzir a infelicidade. Excluindo a palavra necessariamente", nada tenho a
dizer contra esta doutrina, e(omitindo essa palavra) no conheo qualquer defensor moderno
do utilitarismo que seja de uma opinio diferente. Bentham. a quem o Sr. Spencer se refere em
particular em Social Statics, seguramente o autor que menos pode ser acusado de no estar
disposto a deduzir o efeito das aces na felicidade a partir das leis da natureza humana e
das condies universais da vida humana. A objeco que lhe costuma ser colocada a de
confiar exclusivamente nessas dedues e deciinar totalmente as generalizaes baseadas
em experincias especificas s quais, segundo o Sr. Spencer, os utilitaristas geralmente se
confinam. A minha opinio (e, suponho. tambm a do Sr. Spencer) a de que na tica, tal
como em todos os outros ramos do estudo cientlfico, a consilincia dos resultados destes dois
processos, que se verifica quando cada um corrobora ecomprova ooutro, necessria para
conferir a qualquer proposio geral a espcie e o grau de evidncia que constituem uma
prova cientlfica.
103
Utilitarismo
social reconhecida exige o inverso. Por isso, todas as desigualdades
sociais que deixaram de ser consideradas convenientes assum em o carc-
30 ter, no de sim ples inconvenincias, m as de injustias, e parecem to
tirnicas que as pessoas tendem a ficar surpreendidas por elas terem sido
toleradas algum a vez, esquecendo-se de que elas prprias talvez tolerem
outras desigualdades sob um a noo de convenincia igualm ente errada e
que a sua correco faria parecer aquilo que aprovam to m onstruoso
35 com o aquilo que, por fim , aprenderam a condenar. Toda a histria do
progresso social tem consistido num a srie de transies pelas quais cada
costum e ou instituio, depois de ter sido considerado um a necessidade
prim ria da existncia social, adquiriu o estatuto de um a injustia etirania
universalm ente estigm atizada. Isto ocorreu com as distines entre
40 escravos e hom ens livres, nobres e servos, patrcios e plebeus, e o m esm o
ocorrer, e em parte j ocorre, com as aristocracias da cor, da raa e
do sexo.
37 Partindo do que dissem os, podem os concluir que ajustia um nom e
para certas exigncias m orais que, consideradas colectivam ente, ocupam
um lugar m ais elevado na escala da utilidade (e, por isso, tm um a obriga-
toriedade m ais forte) do que quaisquer outras, ainda que possam ocorrer
5 casos particulares em que outro dever social to im portante que passa
por cim a das m xim as gerais dajustia. Assim , para salvar um a vida pode
no s ser adm issvel, m as constituir m esm o um dever, roubar ou tirar
fora a com ida ou os m edicam entos necessrios, ou raptar e forar a tra-
balhar o nico m dico qualificado. Nesses casos, com o no cham am os
10 justia quilo que no um a virtude, dizem os geralm ente, no que ajus-
tia tem de dar lugar aoutro princpio m oral, m as que, devido aesse outro
princpio, aquilo que justo nos casos com uns no justo neste caso par-
ticular. Atravs desta til acom odao da linguagem , m antem os a
irrevogabilidade dajustia e poupam o-nos necessidade de sustentar que
15 podem existir injustias louvveis.
38 J ulgo que as consideraes j aduzidas resolvem a nica verdadeira
dificuldade da teoria utilitarista da m oral. Foi sem pre evidente que todos
os casos dejustia so tam bm casos de convenincia: a diferena reside
no sentim ento peculiar que est ligado aos prim eiros, m as no aos segun-
5 dos. Se este sentim ento caracterstico foi suficientem ente explicado, se
no h a m enor necessidade de supor qualquer peculiaridade quanto
sua origem , se este apenas o sentim ento natural de ressentim ento que
foi m oralizado por o terem feito coincidir com as exigncias do bem
social, e se este sentim ento no s existe, m as deve existir, em todas as
104
v. Da conexo entre j ustia e utilidade
classes de casos aos quais a ideia dejustia corresponde, ento essa ideia
j no se apresenta com o um obstculo insupervel para a tica utilita-
rista. A justia perm anece o nom e apropriado para certas utilidades
sociais que, enquanto classe, so m uitssim o m ais im portantes e, por
isso, m ais absolutas e im periosas do que quaisquer outras (em bora pos-
sam no o ser em casos particulares). Por essa razo, devem ser, e so-no
naturalm ente, vigiadas por um sentim ento diferente no s em grau, m as
tam bm em gnero, distinto do sentim ento m ais brando que est ligado
sim ples ideia de prom over o prazer ou convenincia hum anos em virtude
da natureza m ais definida dos seus m andam entos e da m aior severidade
das suas sanes.
105
10
15
20
Anexos
Notas
Bibliografia
ndice analtico
107
Notas
Captulo 1
1.1. summum bonum] O mximo bem; aquilo que um fim em si
mesmo.
1 .1 . a teoria do utilitarismo] Esta interpretao do Protgoras
muito questionvel. O hedonismo que Scrates defende neste di-
logo de Plato (c. 429-347 a. C.) tem um carcter egosta, ou sej a,
no est associado a uma teoria da obrigao consequencialista.
Alm disso, h razes para pensar que essa defesa do hedonismo
irnica.
1 .2. do fim que servem] Esta passagem exprime o pressuposto
teleolgico (ver Seco 6 da Introduo). Este um dos pressupos-
tos que tornam inteligvel a prova apresentada no Captulo 4.
1 .3. nos informa acerca daquilo que est certo e errado] Francis
Hutcheson (1694-1746) o principal defensor da teoria segundo a
qual h um sentido moral. Apresentou esta teoria na obra
Investigao sobre as Origens das nossas Ideias de Beleza e de
Virtude (1729). Curiosamente, Hutcheson foi tambm umdos percurso-
res do utilitarismo, tendo sido acusado de ensinar a doutrina falsa e
109
Utilitarismo
perigosa de que o padro do bem moral a promoo da felicidade
dos outros.
1 .3. escola intuitiva da tica] William Whewell (1794-1866), autor dos
Elementos da Moralidade (1845), um dos intuicionistas que Mill mais
criticou. (Hoj e Whewell conhecido, sobretudo, pelas suas contribui-
es originais para a filosofia da cincia.) Mill j ulgava que os
intuicionistas eram um obstculo ao progresso moral, pois sacraliza-
vam a moral idade do seu tempo, considerando-a intuitivamente
correcta e, consequentemente, imune crtica. No sculo XX, os exem-
plos mais influentes de intuicionismo moral encontram-se nas obras do
utilitarista G. E. Moore (1903) e do deontologista David Ross (1930).
1 .3. lei fundamental na raiz de toda a moral] Alguns filsofos, como
Ross (1930), no admitem a necessidade de um princpio tico fun-
damental: propem simplesmente diversos princpios morais sem
uma ordem determinada. Quando estes entram em conflito, no
podemos decidir que princpio deve prevalecer apelando a um prin-
cpio superior.
1 .4. Kant] Mill refere-se Fundamentao da Metafsica dos
Costumes (1785).
1 .4. escolheria suj eitar-se a elas] questionvel que a crtica de Mill
sej a j usta. Recorde-se, por exemplo, a mxima de fazer promessas
com a inteno de as no cumprir (ver Seco 4 da Introduo). Um
defensor da perspectiva de Kant insistiria plausivelmente na impossibi-
lidade de todos os agentes agirem segundo esta mxima, pois isso
implicaria o fim da prpria prtica de fazer promessas. Porm, Mill
pode ter razo quando afirma que a exigncia kantiana de universali-
zao no suficiente para condenar muitas formas de conduta
manifestamente imorais. A mxima Mata as crianas deficientes, por
exemplo, parece ser universalizvel.
Captulo 2
2.1 Epicuro] Epicuro (342-270 a. C.) foi hedonista e, tal como Mill,
defendeu a superioridade dos prazeres mentais. Porm, enganador
110
Notas
apresent-lo como um partidrio da teoria da utilidade, pois
Epicuro no defendia a promoo imparcial da felicidade.
2.1 . (nota) Annals of lhe Parish, do Sr. Galt] Romance publicado em
Edil1lburgo em 1821.
2.1 . (nota) maneira especfica de o aplicar] Esta passagem apoia a
interpretao ecumnica do Ut/tarismo proposta por J acobson
(2003). (Ver final da Seco 4 da Introduo.)
2.4. vantagens circunstanciais] De acordo com esta perspectiva o
prazer da embriaguez, por exemplo, no intrinsecamente superior
ao prazer de apreciar msica. A superioridade deste ltimo prazer
em relao ao primeiro resulta unicamente de factores extrnsecos:
enquanto que a embriaguez acaba por se revelar destrutiva e dolo-
rosa, o prazer esttico de apreciar msica pode tornar-se cada vez
mais intenso e refinado.
2.5. obrigao moral para o preferir] Podemos dizer que o prazer
da contemplao esttica, por exemplo, superior ao da embria-
guez, mas a sua superioridade no resulta de condenarmos
moralmente a embriaguez.
2.1 0. criaturas sencientes] Tal como Bentham, Mill pensa que os
interesses de todos os animais com a capacidade de sofrer tm
importncia moral. Para uma discusso utilitarista do estatuto moral
dos animais, vale a pena ler os captulos 3 e 5 de Singer (1993).
2.1 1 . Carlyle] Thomas Carlyle (1795-1851) foi um escritor e crtico
social muito influenciado pelo romantismo alemo. Gostava de se
exprimir de forma obscura e no apreciou que Mill no se tivesse tor-
nado seu discpulo. Durante uma visita casa de Mill, um criado
usou acidentalmente o manuscrito de uma das suas obras para atear
o lume.
2.1 2. Novalis] Pseudnimo de Friedrich von Hardenberg (1722-1801),
umdos primeiros romnticos alemes.
1 1 1
Notas
113
2.19. (nota) Reverendo J. L1 ewellyn Davies] Davies (1826-1916) foi
umtilogocom ideias polticas liberais.
da felicidade geral. (Vej a-se a Seco 4 da Introduo, na qual se
apresenta a distino entre nveis do pensamento moral.)
CFFUTIL8
2.20. um carcter virtuoso] Mill sugere aqui uma identificao dos
bons traos de carcter (ou virtudes) com aquelas disposies men-
tais que tendem a resultar na promoo do bem. Por exemplo, a
honestidade boa porque de um modo geral conduz a actos que
favorecem a felicidade geral. Uma alternativa importante a esta viso
consequencialista do carcter moral a tica das virtudes, uma pers-
pectiva cuj o representante clssico Aristteles (384-322 a. C.). Quem
defende esta perspectiva pensa que a tica deve ser entendida pri-
mariamente no como uma tentativa de encontrar princpios para
2.19. se abster de a realizar] Nesta passagem Mill parece advogar
uma espcie de utilitarismo das regras.
2.19. so excepcionais] Mesmo que isto fosse verdade na poca de
Mill, hoj e as coisas so diferentes. Graas existncia de organizaes
internacionais eficazes de combate pobreza, muitas pessoas esto
emcondies de multiplicar a felicidade (ou melhor, mitigar a misria) a
uma escala abrangente. O Captulo 8 de Singer (1993) uma discus-
so utilitarista muito influente da obrigao tica de aj udar quemvive na
pobreza absoluta.
2.19. se constitui o bem do mundo] Para Mill, a felicidade geral no
mais do que o resultado da soma da felicidade de todos os seres sen-
cientes. Este umdos pressupostos da prova de Mill (ver Seco 6
da Introduo).
2.19. (nota) depende inteiramente da inteno] Segundo Mill, a
inteno de um acto consiste na previso das suas consequncias.
Se queremos saber qual a inteno de um agente ao proceder de
certa maneira, temos de identificar as consequncias que ele j ulga
que decorrero do seu acto. Esta passagem sugere, ento, que Mill
se inclina para um utilitarismo subj ectivo (ver Seco 4 da
Introduo).
Utilitarismo
2.15. o asceta em cima da sua coluna] Mill alude aqui a So Simeo
Estilita (390-459), que viveu em cima de colunas durante cerca de
quarenta anos. Vej a-se o interessante artigo da Catholc
Encyclopedia: URL: <http://www.newadvent.org/cathen/13795a.htm>.
2.13. a no ser consigo mesmas] Mill presume que as pessoas so
capazes de agir de forma altrusta e de se importar genuinamente
com os outros. Porm, alguns filsofos defendem a teoria do egosmo
psicolgico, segundo a qual apenas o interesse pessoal nos move. O
Captulo 5 de Rachels (2002) uma boa introduo a esta discusso.
2.12. dos activos sobre os passivos] Os prazeres de nadar ou
escrever so activos; o prazer de tomar um banho quente de imerso
passivo, pois no envolve qualquer actividade fsica ou intelectual
significativa.
2.1 7. transcendentalista] Mill refere-se aos intuicionistas. Estes acre-
ditam que podemos conhecer as verdades morais de uma maneira
que transcende a experincia ou a observao.
2.18. espectador benevolente e desinteressado] A ideia de caracteri-
zar o ponto de vista moral emtermos de umespectador benevolente e
imparcial foi avanada por Adam Smith (1723-1790) em Uma Teoriados
Sentimentos Morais (1759). De acordo com a teoria associada a esta
ideia, os veredictos desse espectador imaginrio constituem o padro
da moralidade. No que diz respeito s suas consequncias prticas,
esta teoria pode ser equivalente ao utilitarismo. Porm, o utilitarista no
defende que aquilo que torna uma aco moralmente certa ou errada
a aprovao ou reprovao desse espectador.
2.18. regra de ouro] Mill faz uma interpretao muito forte da regra
de ouro, pois em algumas verses esta no exige uma imparciali-
dade total. O Captulo 8 de Gensler (1998) uma discusso muito
rigorosa e acessvel desta regra.
2.19. confundir a regra da aco com o seu motivo] Embora o
Princpio da Utilidade sej a o critrio fundamental da moralidade, isto
no significa que devamos agir tendo sempre em vista a promoo
112
Utilitarismo
avaliar aces, mas como uma forma de compreender o que ser
um agente virtuoso. O Captulo 13 de Rachels (2002) dedicado
tica das virtudes.
2.23. possibilidade de excepes] Nem todos os filsofos admitem
esta possibilidade. Alguns deontologistas, conhecidos por absolu-
tistas, acreditam que h certos tipos de actos (mentir ou torturar, por
exemplo) que nunca podem ser realizados, sej am quais forem as
consequncias de no os realizarmos. Kant defendeu este gnero de
perspectiva. O Captulo 9 de Rachels (2002) discute o absolutismo
moral.
2.24. generalizaes intermdias] Toda esta passagem revela uma
forte inclinao para um utilitarismo dos actos que reconhece vrios
nveis de pensamento. (Ver Seco 4 da Introduo.)
Captulo 3
3.1 . a sua sano?] Uma sano uma fonte de prazer e dor que
motiva as pessoas para agir. (Ver Seco 5 da Introduo.)
3.4. derivadas da simpatia] A simpatia algo que se assemelha
empatia. Consiste na identificao com as dores e os prazeres dos
outros. Uma pessoa completamente destituda de simpatia, como os
psicopatas, fica indiferente at ao sofrimento intenso dos que lhe so
mais prximos. O conceito de simpatia desempenha umpapel impor-
tante na filosofia moral de Oavid Hume. Vej a-se o Tratado da
Natureza Humana (1739-40), Livro 3, Parte 3, Seco I.
3.6. coisas em si] Expresso kantiana que denota as coisas tal
como so independentemente do modo como se relacionam con-
nosco. A provncia das coisas em si corresponde assim
realidade completamente obj ectiva.
3.1 0. Comte] Auguste Comte (1798-1857). Filsofo e socilogo fran-
cs que manteve uma confiana entusistica na cincia e que
desdenhava as religies tradicionais e as investigaes mais especu-
lativas da filosofia.
114
Notas
Captulo 4
4.3. a nica evidncia] Nesta passagem, bem como noutras ocor-
rncias do termo, no se entende por evidncia a propriedade de
ser evi,dente ou bvio. Aqui a evidncia consiste nos dados empri-
cos disponveis que apoiam uma certa teoria ou hiptese.
4.1 1 . desej armo-Ia apenas por a querermos] Por exemplo, uma
pessoa pode desej ar trabalhar arduamente (desej ar o prazer do tra-
balho intenso) porque se habituou a faz-lo.
Captulo 5
5.2. da sua origem e a da sua fora obrigante] Mill aponta aqui a
falcia gentica. Esta falcia consiste no erro de inferir algo sobre a
natureza de uma coisa a partir de premissas que dizem respeito s
suas origens. Porm, este tipo de inferncia nem sempre falacioso.
5.6. j ustia ou inj ustia de a infringir] Neste pargrafo, Mill defende
implicitamente a desobedincia civil. O Captulo 6 de Rawls (1971) e
o Captulo 11 de Singer (1993) contm excelentes discusses deste
assunto.
5.1 4. da sua prpria conscincia] Pode parecer que nesta afirma-
o Mill est a propor um padro moral diferente do utilitarismo, mas
no esse o caso. Aqui o propsito de Mill o de esclarecer o que
significa errado. Porm, o princpio da utilidade no visa i~dicar o
significado de certo ou errado. O utilitarismo uma teona moral
substantiva: diz-nos o que efectivamente devemos fazer, e no o que
querem dizer os termos que usamos para exprimir as nossas ideias
morais. A tese metatica (ver Seco 2 de Introduo) de Mill acerca
do significado de errado perfeitamente compatvel com a sua
tese normativa acerca daquilo que errado fazer. Esta ltima diz-nos
que no promover a felicidade geral errado. Ora, se errado signi-
fica aquilo que deve ser punido pela lei, pela opinio ou pela
conscincia, podemos traduzi-Ia obtendo o seguinte resultado: no
promover a felicidade geral algo que deve ser punido pela lei, pela
opinio ou pela conscincia.
115
Utilitarismo
5.1 4. (nota) Professor Sain] Alexander Bain (1818-1903), umdiscpulo
de Mill. A referncia diz respeito ao Captulo 15 de As Emoes e a
Vontade (1859).
5.28. Owen] O socialista utpico britnico Robert Owen (1771-1858).
Conduziu vrias experincias sociais que fracassaram completa-
mente.
5.36. (nota) Spencer] O filsofo evolucionista ingls Herbert Spencer
(1820-1903). A obra indicada por Mill prope um Iibertarismo poltico
radical.
116
Bibliografia
1. J. S. Mill
Estas so as principais obras e ensaios de Mill que m antm um a cone-
xo forte com o Utilitarismo:
- Rem arks on Bentham 's Philosophy (1833);
- Bentham (1838);
-A System of Logic (1843);
W hewell's Moral Philosophy (1852);
- On Liberty (1859);
- An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy (1865);
- The Subjection ofWomen (1869);
-Autobiography (1873).
Todas estas obras e ensaios esto includos em J ohn Robson (org.),
Collected Works of John Stuart Mill, University ofToronto Press, 1961-1991.
2. Outros autores
ARISTTELES (c. 330 a. C.). The Nicomachean Ethics, Oxford
University Press, Oxford, 1998.
BAIN, ALEXAND ER (1859). The Emotions and the Will, R. A.
Kessinger Publishing, 2004.
117
Utilitarsmo
BENTHAM, J EREMY (1789). An lntroduction of the Principies of
Morais and Legislation, Clarendon Press, Oxford, 1996.
BERGER, F. R. (1979). dohn Stuart Mill on J ustice and Fairnness in
Lyons, org. (1997), pp. 45-65.
BROW N, D . G. (1973). W hat is Mill's Principie of Utility? in
Lyons, org. (1997), pp. 9-24.
BROW N, D . G. (1974). Mill's Act-Utilitarianism in Lyons, org.
(1997), pp. 25-28.
CAMPBELL, RICHMOND (2003). Moral Epistem ology in E.
Zalta (org.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, URL:
<http://plato .stanford. edu/entries/m oral-epistem ology>.
COMTE, AUGUSTE (1851-54). Systeme de Politique Positive, Vrin,
2002.
CRISP, ROGER (1997). Mill on Utilitarianism, Routledge, Londres e
Nova Iorque.
CRISP, ROGER (1999). Teachers in an Age of Transition: Peter
Singer and J . S. Mil! in J am ieson, org. (1999), Singer and His Critics,
Blackwell, Oxford, pp. 85-102.
D ANCY, J ONATHAN (2003). Particularism o Moral in Trlei, 2,
URL: <www.trolei.net/tr02_dancy.htm >
GENSLER, HARRY (1998). Ethics, Routledge, Londres e Nova
Iorque.
GRIFFIN, J AMES (1986). Well-Being: lts Meaning, Measurement
and Moral lmportance, Clarendon Press, Oxford.
HARE, R. M. (1981). Moral Thinking, Clarendon Press, 1981.
HARSANYI, J . (1977). Morality and the Theory of Rational
Behaviour in Sen e W illiam s orgs. (1982) Utilitarianism and Beyond,
Cam bridge University Press, Cam bridge, pp. 39-62.
HUME, D AVID (1739-40). Tratado da Natureza Humana, Fundao
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2001.
HUTCHESON, FRANCIS (1729). lnquby into the Origins of our Ideas
of Beauty and Virtue, in Two Treatises, R. A. Kessinger Publishing, 2003.
118
Bibliografia
J ACOBSON, D ANIEL (2003). 1. S. Mil! and the D iversity of
Utilitarianism in Philosophers' lmprint, 3, URL: <www.philosophersim -
print.org/003002>
KANT, IMMANUEL (1785). A Fundamentao da Metafsica dos
Costlmes, Edies 70, Lisboa, 1991.
LYONS, D AVID (1977). Hum an Rights and the General W elfare in
Lyons, org. (1997), pp. 29-44.
LYONS, D AVID (org.) (1997). Mill's Utilitarianism: Critica I Essays,
Rowm an &Littlefield, Lanham .
MOORE, G. E. (1903). Principia Ethica, Cam bridge University Press,
Cam bridge, 1993.
NOZICK, ROBERT (1971). Anarchy, State and Utopia, Blackwell,
Oxford,2003.
PARFIT, D EREK (1984). Reasons and Persons, Clarendon Press,
Oxford.
PLATO (c. 390 a. C.). Protagoras, Garnier-Flam m arion, Paris, 1967.
RACHELS, J AMES (2002). Elementos de Filosofia Moral, Gradiva,
Lisboa, 2004.
RAW LS, J OHN (1971). Uma Teoria da Justia, Presena, Lisboa, 1993.
RESNIK, MICHAEL (1987). Choices: An lntroduction to Decision
Themy, University ofMinnesota Press, Minneapolis.
ROSS, D AVID (1930). The Right and the Good, Clarendon Press,
Oxford, 2002.
SAYRE-MCCORD , GEOFFREY (2001). Mill's Proof of the
Principie of Utility: A More than Half-Hearted D efense, Social
Philosophy & Policy, Vol. 18, N.o 2, pp. 330-360. (URL:
<www.unc.edu/-gsm unc/Mill/MilLProof.pdf
SID GW ICK, HENRY (1907). The Methods of Ethics, Hackett,
Indianapolis, 1981.
SINGER, PETER (1993). tica Prtica, Gradiva, Lisboa, 2000.
SMART, 1. 1. C. e W ILLIAMS, BERNARD (1973). Utilitarianism:
For and Against, Cam bridge University Press, Cam bridge.
119
Utiltarsmo
SMITH, AD AM (1759). A Theory of the Moral Sentiments,
Cam bridge University Press, Cam bridge, 2002.
SPENCER, HERBERT (1851). Social Statics, Thoem m es Press, 1999.
URMSON, J . O. (1953). The Interpretation of the Moral Philosophy
of J . S. Mil! in Lyons, org. (1997), pp. 1-8.
W EST, HENRY R. (1982). MilI's " Proof' of the PrincipIe of Utility
in Lyons, org. (1997), pp. 85-98.
W HEW ELL, W . (1845). Elements of Morality Including Polity, 2.
vols., R. A. Kessinger Publishing, 2003.
W ILSON, FRED (2003). Iohn Stuart Mill in Zalta (org.), Stanford
Encyclopedia of Philosophy, URL: <http://plato.stanford.edu/entries/m ill>.
120
ndice analtico
anim ais no-hum anos 10, 50, 92, 111
Aristteles 113
associacionism o 12, 28
Bain, A. 90, 116
bem -estar ver felicidade
Bentham , J . 10-11,14-17,43,47,59, 102-103,111
Carlyle, T. 53, 111
castigo 31, 70, 87, 90, 94, 96-98, 102
Com te, A. 73,114
com unism o 121
conscincia (m oral) 26, 30, 65, 69-71, 90, 115
consequencialism o 18-20, 24, 109, 113
convenincia 30,62-63,83-85,87-90,92,95,99-101,103-105
Crisp, R. 7,15, 17,24,27-28,37-38,118
cristianism o 64, 88
D avies, J . 59, 113
deduo 13-14
deontologia 19-21, 110, 114
121
Utilitarismo
Deus 15, 62, 68, 70
dinheiro 77-78, 99
direitos 19,30-31,38,60,66,85-87,91,94-95, 100, 102-103
distino entre pessoas, objeco da 36-38
educao (moral) 26, 58, 67-69, 71, 73-74
egosmo 28, 51, 55, 93, 112
empirismo 12
Entsagell 53
espectador imparcial 58, 112
tica das virtudes 113
tica normativa 13-14
falcia gentica 115
felicidade 9-10, 14-29,43-44,48-49,51-58,60,62-64,67-68, 72-79,83,
102-103,110-111, 113, 115
Galt, J. 48, 111
generalismo 13, 37
Gensler, H. 112
Griffin, J. 17, 37
hbito 80-81
Hare, R. M. 23-24, 32-34, 37-38
Harsanyi, J. 34-36, 38
hedonismo 14-18, 109
Hume, D. 114
Hutcheson, F. 109
122
Indice anaHtico
igualdade 9, 23, 30-31, 87-88, 102
imparcialidade 9,19,26-27,29,35-36,58,86-87,102-103,111-112
imperativo categrico 20-21
impostos 31, 57, 99
induo 13
indutivismo 13, 42-43
integridade, objeco da 36, 38
inteno 59,80,110,113
intuicionismo 13,26,42-43,70-71,110,112
Jacobson, D. 25, 26, 37, 111
Jesus Cristo 58
juzes competentes 16, 52
justia 29-32, 38, 58, 83-105, 115
Kant, I. 19-21, 37, 44, 93-94, 110, 114
lex taliollis 97
liberalismo 12
merecimento 86-87
metatica 13, 32-33, 115
Mill, J. 10-11
Mill, J. S. 9-32,37-38,110-113,115-116
Moore, G. E. 15,27,110
Novalis, R. 54, 111
Nozick 18
123
Utilitarismo
obrigaes perfeitas e imperfeitas 30, 90-91
Owen, R. 96, 116
Parfit, D. 17, 37
particularismo 13, 37
Plato 11, 41, 109
pobreza 10, 56, 113
prazeres superiores e inferiores 15-19,48-52,110
prescritivismo 52-53
princpio da liberdade 12
Princpio da Maior Felicidade ver princpio da utilidade
princpio da utilidade 9-10,14,21-25,29,31,43,48-49,53,63-64,68,
70-72,79,81,102-103,112,115
princpios secundrios 23-24, 64-66
progresso 41, 56, 104, 110
Protgoras 41, 109
Rawls, J. 35-38, 115
regra de ouro 58, 112
religio 10, 62, 73
Ross, D. 110
sanes (morais) 26, 67-70, 73-74, 114
satisfao de preferncias 15
segurana 49, 92, 95
sentido moral 13, 42, 68, 109
simpatia 31, 60, 68-69, 73-74, 92-94, 114
124
Singer, P. 34,36-38,111,113,115,118
Smith, A. 112
Scrates 41, 51, 109
Spencer, H. 103, 116
Taylor, H. 11
universalizabilidade 32
Urmson, J. O. 20-22, 37
utilidade esperada 35
utilitarismo 9-10,19,48,102-103
das regras 20-24, 113
de preferncias 15, 18, 33-34
de vrios nveis 23-24,37,113-114
dos actos 20-22, 33, 114
ideal 15
maximizante/sub-maximizante 25
objectivo/subjectivo 24, 113
prova do 14,27-29, 38, 44, 75-81
sanes do 26-27, 67-74
total/mdio 24, 36
virtude 15,28,57,60-61,63,76-81,113
vontade/desejo 80-81
Whewell, W. 11 O
WilIiams, B. 36-38
Wordsworth, W. 11
lndice analltico
125
Você também pode gostar
- Aristóteles - Política - (Trad. António Campelo Amaral) - BilíngueDocumento332 páginasAristóteles - Política - (Trad. António Campelo Amaral) - BilíngueSergio de SouzaAinda não há avaliações
- 1º ANO - Opressão e AlienaçãoDocumento9 páginas1º ANO - Opressão e Alienaçãojozy guimaraesAinda não há avaliações
- Direito e Democracia Entre Facticidade e ValidadeDocumento12 páginasDireito e Democracia Entre Facticidade e Validadere-francaAinda não há avaliações
- O Hedonismo Qualitativo de J. S. MillDocumento138 páginasO Hedonismo Qualitativo de J. S. MillYohannes Kathriel100% (2)
- Ética e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyNo EverandÉtica e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyAinda não há avaliações
- Borges, Arnaldo - Origens Da Filosofia Do DireitoDocumento56 páginasBorges, Arnaldo - Origens Da Filosofia Do DireitoEduardo AraújoAinda não há avaliações
- JOÃO PAISANA, Fenomenologia e Hermenêutica, A Relação EntreDocumento4 páginasJOÃO PAISANA, Fenomenologia e Hermenêutica, A Relação EntreAdelioAinda não há avaliações
- O Pensamento Político de John RawlsDocumento99 páginasO Pensamento Político de John RawlsMonique FerlimAinda não há avaliações
- Filosofia Política (Jonathan Wolff)Documento301 páginasFilosofia Política (Jonathan Wolff)HR100% (1)
- Ricoeur Paul Etica e MoralDocumento21 páginasRicoeur Paul Etica e MoralIsabella GazeAinda não há avaliações
- As Razões Da Tolerância - Norberto BobbioDocumento6 páginasAs Razões Da Tolerância - Norberto BobbioAnderson CandeiaAinda não há avaliações
- SANTOS, Boaventura de S - Cap 3 - A Crítica Da Razão IndolenteDocumento24 páginasSANTOS, Boaventura de S - Cap 3 - A Crítica Da Razão IndolenteJefferson TomazAinda não há avaliações
- A Propósito Do Ethos - Maingueneau Ethos - DiscursivoDocumento22 páginasA Propósito Do Ethos - Maingueneau Ethos - DiscursivoAna Carolina Dos SantosAinda não há avaliações
- Reconstrução e emancipação: Método e política em Jürgen HabermasNo EverandReconstrução e emancipação: Método e política em Jürgen HabermasAinda não há avaliações
- Racionalismo Crítico de Karl PopperDocumento19 páginasRacionalismo Crítico de Karl Popperleitor80Ainda não há avaliações
- Resumo UtilitarismoDocumento4 páginasResumo UtilitarismoÂngela Miranda100% (1)
- Aristóteles e o Perípato2Documento20 páginasAristóteles e o Perípato2Paulo Dias AraújoAinda não há avaliações
- Utilitarismo 1Documento22 páginasUtilitarismo 1Samira DinizAinda não há avaliações
- Sócrates e A MorteDocumento20 páginasSócrates e A MorteJu Li AnaAinda não há avaliações
- 50 Filósofos ContemporâneosDocumento42 páginas50 Filósofos ContemporâneosDeimisonVitorianoAinda não há avaliações
- O Empirismo de David HumeDocumento31 páginasO Empirismo de David HumeMnAinda não há avaliações
- Resumo FregeDocumento10 páginasResumo FregeangelafossAinda não há avaliações
- SANTOS, Boaventura. O Intelectual de Retaguarda PDFDocumento29 páginasSANTOS, Boaventura. O Intelectual de Retaguarda PDFGuilherme SoaresAinda não há avaliações
- VIEIRA, Oscar Vilhena - A Gramática Dos Direitos HumanosDocumento22 páginasVIEIRA, Oscar Vilhena - A Gramática Dos Direitos HumanosAndré LealAinda não há avaliações
- Escola EcleticaDocumento333 páginasEscola EcleticaGustavo Bravo100% (1)
- Ata Audiencia de Instrucao - Responsabilidade CivilDocumento12 páginasAta Audiencia de Instrucao - Responsabilidade CivilDanielNogueiraAinda não há avaliações
- O Senso Comum Dos JuristasDocumento10 páginasO Senso Comum Dos JuristasEduardo CardosoAinda não há avaliações
- James Rachels Cap 13Documento14 páginasJames Rachels Cap 13Thiago SoaresAinda não há avaliações
- Carta Da TransdisciplinaridadeDocumento3 páginasCarta Da TransdisciplinaridadeFlávio Rodrigues100% (1)
- IHU Ideias Rosillo PDFDocumento59 páginasIHU Ideias Rosillo PDFJackson da Silva LealAinda não há avaliações
- Crítica Ao UtilitarismoDocumento18 páginasCrítica Ao UtilitarismoYago MartinsAinda não há avaliações
- Aula1 - A Origem Da Filosofia e Introdução À Filosofia Pré-SocráticaDocumento17 páginasAula1 - A Origem Da Filosofia e Introdução À Filosofia Pré-Socráticava_araujoAinda não há avaliações
- 04 - GRANDE, Elizabetta - A Contribuição Da Antropologia para o Conhecimento JurídicoDocumento47 páginas04 - GRANDE, Elizabetta - A Contribuição Da Antropologia para o Conhecimento JurídicobbanckeAinda não há avaliações
- Teoria Do Conhecimento - Johannes HessenDocumento154 páginasTeoria Do Conhecimento - Johannes HessenJairzinho RabeloAinda não há avaliações
- 13 - HABERMAS, Jürgen - A Inclusão Do OutroDocumento196 páginas13 - HABERMAS, Jürgen - A Inclusão Do OutroDkAinda não há avaliações
- A Teoria Das Virtudes de Alasdair MacintyreDocumento143 páginasA Teoria Das Virtudes de Alasdair MacintyreBruno Ribeiro NascimentoAinda não há avaliações
- Amartya Sen Como Crítico de J. RawlsDocumento12 páginasAmartya Sen Como Crítico de J. RawlsHugo Segundo100% (11)
- Direito e Estetica para Uma Critica Da Alienacao Social No Capitalismo PDFDocumento184 páginasDireito e Estetica para Uma Critica Da Alienacao Social No Capitalismo PDFEduardo CardosoAinda não há avaliações
- Repensando o Estado de Direito AmbientalDocumento274 páginasRepensando o Estado de Direito AmbientalLorena Ribeiro Flávio Gustavo100% (1)
- A Crítica de Habermas Ao Pensamento de Nietzsche e o Outro Da RazãoDocumento18 páginasA Crítica de Habermas Ao Pensamento de Nietzsche e o Outro Da RazãoCarlos MachadoAinda não há avaliações
- Problemas Filosóficos - O Problema de GettierDocumento3 páginasProblemas Filosóficos - O Problema de GettierMarcus TorresAinda não há avaliações
- Honneth-O Direito Da Liberdade-DAS RECHT DER FREIHEIT, DE AXEL HONNETH - ResenhaDocumento5 páginasHonneth-O Direito Da Liberdade-DAS RECHT DER FREIHEIT, DE AXEL HONNETH - Resenhacrisalves9821Ainda não há avaliações
- Tércio Sampaio Ferraz JR. - Sigilo de Dados - O Direito À Intimidade e A Função Fiscalizadora Do Estado PDFDocumento21 páginasTércio Sampaio Ferraz JR. - Sigilo de Dados - O Direito À Intimidade e A Função Fiscalizadora Do Estado PDFmarcellovpAinda não há avaliações
- O Diálogo Górgias, de PlatãoDocumento15 páginasO Diálogo Górgias, de PlatãoVitor Vieira VasconcelosAinda não há avaliações
- Introdução A Platão. São Paulo, Paulus. Tradução Do Original: Ferrari, F. (2018) - Introduzione A Platone. Milano, Il Mulino.Documento12 páginasIntrodução A Platão. São Paulo, Paulus. Tradução Do Original: Ferrari, F. (2018) - Introduzione A Platone. Milano, Il Mulino.Andre da PazAinda não há avaliações
- Teoria Da Ação ComunicativaDocumento13 páginasTeoria Da Ação Comunicativamarciopbasilio50% (4)
- Habermas e A Dialética Da RazãoDocumento6 páginasHabermas e A Dialética Da RazãoMelissa Elias Viana100% (1)
- Curso Ronaldo Re ...Documento6 páginasCurso Ronaldo Re ...b3578910Ainda não há avaliações
- Emmanuel Carneiro Leão - A Fernomenologia de Husserl e HeideggerDocumento13 páginasEmmanuel Carneiro Leão - A Fernomenologia de Husserl e HeideggerpalbaAinda não há avaliações
- Responsabilidade Moral e LiberdadeDocumento18 páginasResponsabilidade Moral e LiberdadeGabrielaAinda não há avaliações
- Filosofias Gregas e Orientais. A Radicalidade Das Origens e o Desafio Do Diálogo Atual by Andityas S. de M.C. Matos (Org.)Documento158 páginasFilosofias Gregas e Orientais. A Radicalidade Das Origens e o Desafio Do Diálogo Atual by Andityas S. de M.C. Matos (Org.)Marcio Mota100% (1)
- O Argumento Ontológico de DescartesDocumento5 páginasO Argumento Ontológico de DescartesErik CarantinoAinda não há avaliações
- ALQUIE Ferdinand A Filosofia de DescartesDocumento137 páginasALQUIE Ferdinand A Filosofia de DescartesNathalia LuchesiAinda não há avaliações
- A Vitória da Vida sobre a Política: a relação entre Necessidade, Trabalho e Totalitarismo no pensamento de Hannah ArendtNo EverandA Vitória da Vida sobre a Política: a relação entre Necessidade, Trabalho e Totalitarismo no pensamento de Hannah ArendtAinda não há avaliações
- Consciência E Subjetividade Em Jean-paul SartreNo EverandConsciência E Subjetividade Em Jean-paul SartreAinda não há avaliações
- Tolices sobre Pernas de Pau: um comentário à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789No EverandTolices sobre Pernas de Pau: um comentário à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789Ainda não há avaliações