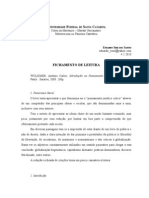Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Maciel Campos Souza Polos-Agroflorestais Sober2010
Maciel Campos Souza Polos-Agroflorestais Sober2010
Enviado por
rcgmaciel10 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações17 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações17 páginasMaciel Campos Souza Polos-Agroflorestais Sober2010
Maciel Campos Souza Polos-Agroflorestais Sober2010
Enviado por
rcgmaciel1Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 17
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
1
DIAGNSTICO SOCIOECONMICO DA PRODUO FAMILIAR RURAL NOS
PLOS AGROFLORESTAIS DO ACRE
rcgmaciel@bol.com.br
APRESENTACAO ORAL-Agricultura Familiar e Ruralidade
RAIMUNDO CLAUDIO GOMES MACIEL; KEYZE PRITIH COSTA CAMPOS;
ELYSON FERREIRA DE SOUZA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), RIO BRANCO - AC - BRASIL.
DIAGNSTICO SOCIOECONMICO DA PRODUO FAMILIAR
RURAL NOS PLOS AGROFLORESTAIS DO ACRE
SOCIOECONOMIC ANALYSIS OF PRODUCTION IN RURAL
FAMILY OF AGROFORESTRY POLES OF ACRE
Grupo de Pesquisa: Agricultura Familiar e Ruralidade
Resumo
O processo de ocupao econmica na Amaznia na dcada de 70 impactou de forma
negativa tanto o meio ambiente quanto as populaes tradicionais da regio amaznica. No
Acre, a implantao de uma poltica desenvolvimentista que tinha como foco o
desenvolvimento da agropecuria gerou a expulso de muitas famlias de seringueiros por
parte dos fazendeiros que se instalaram na regio. Essa migrao campo-cidade ocasionou
um inchao populacional e, conseqentemente, a formao de bairros carentes dos servios
essenciais populao. Diante disso, os Plos Agroflorestais surgem no Acre, desde 1993,
como alternativa de desenvolvimento para a regio, especialmente em relao s
tradicionais formas de assentamento do INCRA, com o intuito de assentar famlias de ex-
seringueiros e ex-agricultores residentes nas periferias que estivessem dispostos a voltar a
produzir no meio rural, bem como recuperar, concomitantemente, antigas reas de
pastagens degradadas. O objetivo do presente trabalho analisar os resultados
socioeconmicos das unidades produtivas em algumas regionais acreanas, buscando
indicar possveis correes de percurso. Para tanto, utiliza-se da metodologia desenvolvida
pelo Projeto ASPF, desenvolvido pelo Departamento de Economia da UFAC, a partir de
indicadores de resultados econmicos, bem como de indicadores de desenvolvimento
familiar rural, adequados a este tipo de produo. Os resultados apontam um
enfraquecimento da produo para autoconsumo, base da reproduo das famlias, em
detrimento de uma maior dependncia da aquisio de bens e servios no mercado,
demandando maior eficincia e diversificao produtiva, notadamente relacionados aos
produtos de origem agroflorestal.
Palavras-chaves: Plos Agroflorestais, Desenvolvimento Sustentvel, Produo
Familiar Rural, Amaznia.
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
2
Abstract
The process of economic occupation in the Amazon in the 70s impacted negatively the
environment as people traditional of Amazon region. In Acre, the implementation of a
policy developmentalist who was focused on the development of agriculture led to the
expulsion of many families of rubber tappers by farmers who settled in the region. This
rural-urban migration caused a swelling population and, consequently, the formation of
poor neighborhoods of essential services to the population. Therefore, the Agroforestry
poles arise in Acre since 1993 as an alternative development for the region, especially in
relation to traditional forms of INCRA settlement, in order to build families former rubber
tappers and farmers living in neighborhoods that were willing to re-produce in rural areas,
as well as retrieve, concomitantly, old degraded pasture areas. The aims of this work is to
analyze the results socioeconomic of units productive in some regional Acre, pointing out
possible corrections route. To do so, it uses the methodology developed in ASPF project,
developed by the Department of Economics, UFAC, based on indicators of economic
outcomes and indicators family rural development, appropriate to this kind of production.
The results indicate a weakening of production for own consumption, based reproduction
of families at the expense of greater dependence procurement of goods and services in the
market, demanding greater efficiency and diversification of production, especially related
to products originating agroforestry.
Key Words: Agroforestry Poles, Sustainable Development, Rural Family Production,
Amazon Region.
1. INTRODUO
Devido falncia do sistema extrativista, no incio da dcada de 1970, uma nova
poltica de desenvolvimento econmico, denominada de desenvolvimentismo, foi
implantada na regio amaznica, em particular no Acre, com grandes incentivos para o
desenvolvimento da agropecuria. Com a implantao desta poltica, muitas famlias foram
pressionadas pelos grandes fazendeiros, que se instalaram na regio, a sarem de suas
propriedades, num processo de expulso para as cidades, acarretando imensos conflitos
pela posse da terra.
O resultado desta migrao campo-cidade foi o inchao populacional ocorrido em
Rio Branco, em que o nmero de habitantes salta de menos de 50.000 na dcada de 70 para
cerca de 200.000 na dcada de 90. Outro grande problema que ocorreu em virtude desse
processo relaciona-se a falta de estruturas das cidades para receber tamanho contingente
populacional. Assim sendo, esse crescimento irracional e desordenado ocasionou a
formao de muitos bairros carentes de servios essenciais (por exemplo, gua e
esgotamento sanitrio) e com problemas comuns maioria das cidades brasileiras, como o
desemprego.
Os impactos socioeconmicos, bem como os ambientais em particular os
desmatamentos , foram bastante significativos ao longo das ltimas dcadas, exigindo por
parte do poder pblico polticas proativas e adequadas regio, capazes de conciliar a
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
3
resoluo de problemas ambientais, econmicos e sociais, fundamental para conter o
xodo rural.
Diante desta situao, surge em 1993, em Rio Branco, Acre, a proposta de criao
dos Plos Agroflorestais, que visava assentar as famlias de ex-seringueiros e ex-
agricultores, que moravam nas periferias das cidades, em reas irregulares ou de risco, bem
como desempregados, que estivessem dispostos a voltar a produzir no meio rural, em reas
desapropriadas nas proximidades das vias de circulao com fcil trafegabilidade (rodovias
federais e estaduais).
1
Vale notar, que a partir do ano 2000, os Plos Agroflorestais foram
implantados em vrias regies do Estado do Acre.
Destarte, pode-se perguntar: esse novo modo de reforma agrria implantado em Rio
Branco apresenta-se como uma forma vivel de desenvolvimento rural sustentvel?
Trabalha-se com a hiptese de que tanto o aspecto socioeconmico quanto o ambiental
foram beneficiados com a introduo desta poltica de assentamento. No tocante ao aspecto
socioeconmico percebe-se alguma melhoria nas condies de vida das famlias
assentadas. Estas famlias, que antes residiam na rea perifrica da cidade, voltaram a
habitar o meio rural e s atividades produtivas a que estavam acostumadas, com
perspectiva de gerao de renda. Com relao ao aspecto ambiental, pode-se dizer que este
tambm foi beneficiado, pois as reas em que foram implantados os Plos Agroflorestais
eram antigas pastagens em estado de degradao. Porm, com a insero dos consrcios,
previstos nos sistemas agroflorestais, as referidas reas estavam sendo recuperadas e
utilizadas em diversos tipos de cultivos produtivos.
O presente trabalho faz parte do Projeto de pesquisa intitulado Anlise
socioeconmica de sistemas de produo familiar rural no estado do Acre, denominado
ASPF, desenvolvido pelo departamento de Economia da Universidade Federal do Acre
(UFAC), que tem como objetivo geral realizar a anlise socioeconmica dos sistemas de
produo familiar rural, formular alternativas de desenvolvimento sustentvel e difundir os
resultados.
Assim, apresenta-se no presente estudo um diagnstico dos Plos Agroflorestais do
Estado do Acre, alm de discusses sobre alternativas sustentveis, que servir como
referncia aos gestores pblicos e para a prpria comunidade no sentido de caminhar para
um efetivo desenvolvimento sustentvel.
Destarte, na prxima seo ser apresentada de forma sucinta uma reviso
bibliogrfica sobre a produo familiar rural e o desenvolvimento rural sustentvel. Na
seqncia, ser apresentada a metodologia utilizada no estudo, caracterizando-se o objeto e
indicadores de avaliao socioeconmica. Na quarta seo, so apresentados os resultados
e discusses acerca dos resultados encontrados. Por fim, faz-se algumas consideraes
finais.
2. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTVEL, AGRICULTURA
FAMILIAR E PLOS AGROFLORESTAIS
1
Uma nova forma de assentamento diferente dos tradicionais implementados pelo INCRA na regio de
estudo.
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
4
Sabe-se que no Brasil a questo agrria sempre rendeu muitas discusses, passando
por diversos assuntos que vo desde o processo de modernizao da agricultura brasileira
at ao que hoje chamado de desenvolvimento rural sustentvel.
O processo de modernizao da agricultura brasileira culminou na obteno de
vrios resultados negativos, como por exemplo, a excluso social e a degradao ambiental
no meio rural brasileiro. (Santos, 2001)
A introduo de novas tcnicas produtivas no meio rural acabou substituindo
parte da mo-de-obra humana por mquinas e tecnologias mais produtivas, privilegiando o
grande capital em detrimento dos pequenos produtores familiares.
Sendo assim, muitos trabalhadores assalariados, antes ocupados na atividade
agrcola, viram-se obrigados a encontrar alternativas para sobreviverem. Muitos foram para
as cidades, ocasionando um inchao populacional nos centros urbanos as cidades na
maioria das vezes no tinham estrutura para receber tal populao de forma que todos
pudessem usufruir de uma boa qualidade de vida. Outros continuaram no campo
trabalhando de forma temporria.
A esse respeito, Graziano Neto (1982, p. 91) sintetiza:
No Brasil, a modernizao da agricultura baseia-se na introduo de
capital na forma de mquinas pesadas, que desocupam trabalhadores no
campo. Como o preo do capital tende a ser elevado, a poltica agrcola
mantm artificialmente barato o capital, atravs do crdito rural
subsidiado, possibilitando essa modernizao. (...) os grandes
proprietrios so privilegiados, seja porque detm mais recursos e tm
maior acesso ao crdito, seja porque a escala em que devem operar as
mquinas grande, no se ajustando s pequenas propriedades.
Esse processo, denominado de modernizao conservadora, claramente exclua do
debate relativo ao desenvolvimento da agricultura brasileira os ingredientes fundamentais
da questo agrria: estrutura fundiria e relaes sociais no campo.
2
Mais ainda,
desconsiderava o papel primordial da produo familiar rural no processo de
desenvolvimento da sociedade, em particular na Amaznia.
Segundo Guanziroli et al. (2001) o desenvolvimento rural nos pases capitalistas
desenvolvidos ocorreu justamente por intermdio do processo de modernizao agrcola
em resposta s necessidades dos produtores em elevar o rendimento da terra e a
produtividade do trabalho. Entretanto, esse processo sucedeu uma efetiva reforma agrria,
com um papel estratgico desempenhado pela agricultura familiar na garantia de uma
transio socialmente equilibrada do meio rural ao ambiente urbano e industrial.
Segundo Lima e Wilkinson (2002) cerca de 85% das propriedades rurais no Brasil
pertencem a grupos familiares, o que demonstra forte peso desse setor no meio rural, sendo
o principal responsvel pela produo de alimentos no pas. Ademais, conforme Rego,
Costa Filho e Braga (2003) o maior percentual de produo, emprego e renda na Amaznia
proveniente justamente da pequena produo familiar rural do que da grande propriedade
agrcola.
2
Ver Delgado (2001)
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
5
Por outro lado, a questo ambiental outro tema bastante discutido na atualidade. A
adoo de tcnicas produtivas inadequadas na agricultura bastante comum no Brasil, pois
h um pensamento de que assim como se pode copiar a cultura e os hbitos de pases
desenvolvidos pode-se fazer isso tambm na atividade agrcola. De acordo com Graziano
Neto (1982) este um pensamento equivocado, visto que as condies naturais (solos,
variao pluviomtrica, temperatura etc.) so bem diversas entre um pas e outro:
(...) querer reproduzir um modelo de agricultura utilizado na Europa perto
da linha do Equador demais. E, infelizmente, o que est se fazendo. O
processo de expanso da agricultura na Amaznia condenvel sob todos
os aspectos, mas principalmente pelo fato de no dispormos de uma
tecnologia adequada para explorar tal regio (Graziano Neto, 1982, p.
93).
As conseqncias dessa perspectiva, fartamente explorada pelos governos militares
e suas polticas desenvolvimentistas
3
, ps-1964, geraram a necessidade de novos
enfoques, mais respeitosos com o meio ambiente, socialmente desejveis, politicamente
aceitveis e viveis sob o ponto de vista econmico (COSTABEBER e CAPORAL, 2003,
p. 158).
Essa discusso leva definio daquilo que se convencionou chamar de
desenvolvimento sustentvel e foi apresentado no famoso Relatrio Brundtland, sugerindo
que o desenvolvimento sustentvel aquele que satisfaz as necessidades da gerao
presente sem comprometer a capacidade das geraes futuras para satisfazer suas prprias
necessidades (CMMAD, 1988, p. 9).
Seguindo esse conceito, uma definio que em muito se aproxima do enfoque dado
a este estudo a de Assis (2006, p. 81):
O desenvolvimento sustentvel tem como eixo central a melhoria da
qualidade de vida humana dentro dos limites da capacidade de suporte
dos ecossistemas e, na sua consecuo, as pessoas, ao mesmo tempo que
so beneficirios, so instrumentos do processo, sendo seu envolvimento
fundamental para o alcance do sucesso desejado. Isto se verifica
especialmente no que se refere questo ambiental, na medida em que as
populaes mais pobres, ao mesmo tempo que so as mais atingidas pela
degradao ambiental, em razo do desprovimento de recursos e da falta
de informao, so tambm agentes da degradao.
Segundo Batista (2004, p. 40-41), a proposta de desenvolvimento utilizada no
perodo do ps-guerra trouxe pelo menos duas conseqncias nocivas para as sociedades:
a disseminao dos ideais da sociedade de consumo pelo mundo e a propagao da
poltica de uso indiscriminado dos recursos naturais.
Desde sua concepo at o perodo fordista
4
, os parmetros tradicionais de
desenvolvimento traduziam a classificao dos pases e povos quanto sua capacidade
3
Ver Mahar (1978 e 1989) e Magalhes (1990) sobre polticas desenvolvimentistas para a Amaznia
4 Para uma discusso aprofundada sobre desenvolvimento fordista, ver Buarque (2002).
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
6
e/ou possibilidade de crescimento e, opondo-se ao subdesenvolvimento, no consideravam
a possibilidade de esgotamento dos recursos naturais.
Entretanto, na Amaznia e em particular no Acre, o reflexo socioeconmico destas
propostas de desenvolvimento regional se traduziu na expulso das famlias pelos grandes
fazendeiros partir da dcada de 1970, gerando a necessidade de uma poltica de reforma
agrria que suprisse a demanda por terra, ao mesmo tempo em que a mo-de-obra familiar
disponvel fosse aproveitada, de forma que essas famlias pudessem voltar s prticas
produtivas a que estavam acostumadas. (MACIEL, 2003; BATISTA, 2004; SOUZA, 2008)
Algumas iniciativas de conteno da migrao campo-cidade foram feitas e
algumas modalidades de assentamentos tradicionais foram tentadas para a regio.
Entretanto, os estudos de Souza (2008), revelaram que as modalidades de assentamentos
tradicionais propostos pelo INCRA no surtiram os efeitos desejados, sobretudo, na
gerao de renda e no acesso aos direitos sociais bsicos como sade, educao, transporte
etc.
Por outro lado, conforme Guanziroli et al. (2001), a reforma agrria conduzida
pelos governos militares fracassaram especialmente no apaziguamento das tenses sociais
justamente pela conduo do processo de modernizao conservadora. Contudo, no
processo de redemocratizao do pas, nos anos 1980, abrem-se novas perspectivas de
reforma agrria, inclusive em reas consideradas produtivas, porm encerradas pela
constituio de 1988, que restringe as desapropriaes de terras quelas improdutivas,
conduzindo o processo para uma reforma agrria como se fosse uma extenso do perodo
anterior acomodando as foras opositoras a esse tipo de poltica.
No obstante, ainda segundo os referidos autores:
A reforma agrria continua sendo um instrumento legtimo para dar
acesso aos trabalhadores a um bem essencial de produo, que a terra, e
com base nesta permitir o acesso a outros meios necessrios, desde a
infra-estrutura bsica at os requerimentos mais essenciais para uma
condio digna de vida, ou seja, as condies para as famlias assentadas
exercerem sua cidadania. Representa uma poltica importante de gerao
de empregos no meio rural. (p. 189)
Assim, avanando a partir dos tradicionais assentamentos, novas modalidades de
assentamento tornaram-se extremamente necessrias e, desse modo, surgiram os Plos
Agroflorestais, com o qual se propunha s famlias assentadas a responsabilidade pela
preservao ambiental e por sua caminhada rumo a auto-suficincia econmica, ambiental
e social.
Conforme Souza (2008), no estado do Acre, as primeiras experincias com os Plos
Agroflorestais foram iniciadas pelo poder pblico municipal da capital do Estado, como
uma poltica de fixao do homem no campo, a partir de 1993.
Os primeiros Plos Agroflorestais foram implantados pela Prefeitura Municipal de
Rio Branco (PMRB) com base nos pressupostos do desenvolvimento sustentvel
desenvolvidos pela Comisso Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
7
(CMMAD), em 1987, os quais visavam assentar famlias de ex-seringueiros e ex-
agricultores que viviam nas periferias das cidades, sem as devidas condies de
sobrevivncia. Estas famlias foram assentadas em reas desapropriadas prximas s
rodovias federais e estaduais.
Em linhas gerais, os estudos de Souza (2008) revelaram algumas das principais
caractersticas dos Plos Agroflorestais e das famlias assentadas, dentre as quais se
destacavam: as reas em que as famlias foram assentadas eram antigas pastagens em
estado de degradao; as atividades produtivas giravam em torno da agricultura, da criao
de pequenos animais e de culturas permanentes; predominncia da utilizao da mo-de-
obra familiar; as reas dos Plos eram prximas das reas urbanas, pois se visava dar maior
acompanhamento tcnico s famlias assentadas, alm de maior integrao ao mercado.
Neste trabalho, buscou-se avaliar o desempenho dos aspectos econmicos e sociais
em Plos Agroflorestais distribudos em algumas regionais do Acre, utilizando-se de
metodologia prpria e especfica, no sentido de se alcanar o to desejado
desenvolvimento sustentvel. Destarte, na prxima seo se apresenta os materiais e
mtodos de estudo.
3. METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado em cinco Plos Agroflorestais localizados em cinco
diferentes municpios/regionais no Estado do Acre, conforme expe a caracterizao
contida na Tabela 1.
Para fazer a avaliao socioeconmica da produo familiar rural nos Plos
Agroflorestais, trabalhou-se com uma metodologia adequada e especfica a este tipo de
produo, consolidada na ltima dcada pelo Projeto de pesquisa Anlise Econmica de
Sistemas de Produo Familiar Rural no Estado do Acre, denominado ASPF, desenvolvido
pelo Departamento de Economia da UFAC, desde 1996
5
.
5
Para maiores detalhamentos sobre o Projeto ASPF, visite o site: http://www.ufac.br/projetos/aspf/index.htm
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
8
Tabela 1 Caracterizao dos Plos Agroflorestais do Estado do Acre
Sistema de
Produo Local Municpio Amostra
Famlias
Assentadas rea (ha)
Data da
Criao
Agroflorestal
Plo Agroflorestal Dom
Moacir Bujari 06 53 329,73 2000
Plo Agroflorestal Novo
Horizonte Feij 06 23 124,13 2000
Plo Agroflorestal Elias
Moreira
Sena
Madureira 06 45 329,30 1999
Plo Agroflorestal Xapuri II Xapuri 06 34 215,03 2000
Plo Agroflorestal Santa
Luzia
Cruzeiro
do Sul 06 38 261,41 2000
Fonte: SEAPROF (2009)
Para a consecuo dos objetivos da pesquisa, buscou-se trabalhar a metodologia a
partir de indicadores e ndices socioeconmicos que, por um lado, levem em considerao
as peculiaridades da regio de estudo e, por outro, sirvam como parmetros para relacionar
as diversas regies e determinadas formas de organizao produtiva dos produtos
comercializados, comparando-as entre si e indicando as prioridades de atuao para um
efetivo desenvolvimento socioeconmico sustentvel. Portanto, segue uma descrio
sucinta da metodologia de pesquisa.
A realizao da pesquisa para o presente estudo foi excepcionalmente
6
feita
mediante levantamento de dados utilizando arqutipos
7
, onde foram os tcnicos
responsveis por cada localidade indicavam famlias representativas que expressassem
caractersticas comuns maioria das famlias para que se pudessem fazer inferncias
globais.
Em cada plo foram indicadas 06 famlias que representavam diversos nveis de
desenvolvimento (alto, mdio ou baixo) tendo como referencia os critrios relativos aos
volumes de produo, facilidade e qualidade de acesso, disponibilidade de infra-estrutura e
assistncia tcnica, alm do grau de organizao.
Tambm se utilizou como referncia para o levantamento das informaes, o
calendrio agrcola da regio, definido conjuntamente com as prprias comunidades
estudadas, que compreende o perodo de maio de um ano a abril do ano seguinte,
englobando o conjunto de atividades econmicas produtivas das famlias. Na presente
avaliao considerou-se o perodo de maio/2006 a abril/2007.
Os principais indicadores econmicos so sucintamente descritos a seguir:
1) Resultado Bruto
Renda Bruta (RB) - indicador de escala de produo
2) Resultados Lquidos
Renda Lquida (RL) - excedente apropriado
6
O Projeto ASPF normalmente faz levantamentos de campo por intermdio de amostragem.
7
Segundo Bocchi (2004, p. 4-5), o conceito de arqutipo formulado Carl Gustav Jung evidencia que o
conhecimento () dar-se-ia como um encontro, uma sntese do momento atual e as matrizes () gravadas
no crebro humano a partir das experincias de formao no s do humano, mas da vida propriamente dita.
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
9
Lucro da Explorao (LE) - possibilidade de acumulao
Margem Bruta Familiar (MBF) - valor monetrio disponvel para a
famlia
Nvel de Vida (NV) - indicador monetrio do padro de vida
3) Medidas de Relao
ndice de Eficincia Econmica (IEE) - indicador de benefcio/custo
MBF/Qh/d - ndice de remunerao da mo de obra familiar
Termo de Intercmbio (TI) - ndice de apropriao da RB pelo mercado.
4) Linha de Dependncia do Mercado
Define-se como linha de dependncia do mercado os valores medianos
gastos com bens e servios de consumo no mercado, adicionado das
compras relacionadas reposio do capital fixo (mquinas,
equipamentos, ferramentas, benfeitorias etc.) disponvel para a
manuteno dos meios de produo existentes.
5) Avaliao estratgica
8
Trabalha-se com alguns indicadores que buscam avaliar disponibilidade
e o desempenho de ativos, capacitaes e estratgias competitivas no que
se refere s origens de vantagens ou desvantagens competitivas
Indicadores: Disponibilidade de capital (prprio ou de terceiros);
assistncia tcnica; infra-estrutura; acesso a canais de distribuio;
pessoal qualificado; reputao; pioneirismo; diversificao etc.
6) ndice de Desenvolvimento Familiar Rural (IDF-R)
O IDF-R varia entre 0 e 1, o que significa que quanto mais prximo de 1,
melhores sero as condies de vida da famlia.
Representado pela frmula: IDF-R = (IV+IE+IC+IT+IR+ID+IH+IA)/8
Sendo, IV ndice de ausncia de vulnerabilidade; IE ndice de acesso
ao ensino; IC ndice de acesso ao conhecimento profissional e
tradicional; IT ndice de acesso ao trabalho; IR ndice de
disponibilidade de recurso; ID ndice de desenvolvimento infantil; IH
ndice de condies habitacionais; IA ndice de condies ambientais.
4. RESULTADOS E DISCUSSES
Os Plos pesquisados foram implantados no perodo 1999/2000. Sendo assim,
pode-se deduzir que vrias unidades produtivas familiares (UPF) j estejam estabilizadas.
No decorrer da pesquisa percebeu-se que h uma rotatividade expressiva entre os
proprietrios das unidades produtivas pesquisadas, evidenciando as dificuldades de
gerenciamento das reas. Ademais, observou-se que uma das UPFs selecionadas j tinha
sido vendida para um servidor pblico, conforme informaes dos vizinhos.
Nas entrevistas, observou-se, entre os familiares das diversas UPFs, a presena de
pessoas completamente alheias ao processo produtivo, tendo em vista desenvolver
8
Ver Maciel (2007), Aaker (1989) e Chandler e Hanks (1994).
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
10
atividades fora da UPF. H famlias que dependem exclusivamente de fontes externas de
recursos algumas delas utilizando basicamente a rea como dormitrio. Por outro lado,
alguns Plos foram implantados em reas completamente inadequadas para a produo
agroflorestal, tendo lotes que possuem mais da metade da rea sem condies de uso, como
a ocorrncia de reas constantemente inundadas.
Em algumas reas, h srios problemas sociais, principalmente o comrcio de
bebidas alcolicas e, claro, alcoolismo. Mesmo com a presena de entidades como
associaes e cooperativas, percebeu-se certo descaso com este e outros problemas de
ordem produtiva e em muitos casos at mesmo rejeio no processo participativo dos
trabalhadores envolvidos, demonstrando uma desorganizao social, o que foi
evidenciado pelos resultados da pesquisa.
No obstante, importante salientar que as impresses iniciais, em virtude da
paisagem e estruturas produtivas observadas, bem como das conversas informais com os
produtores, foram confirmadas com o diagnstico que se est apresentando. Observa-se
que efetivamente quando h demanda efetiva, como, por exemplo, o mecanismo da compra
direta, empreendido pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), h uma
resposta por parte dos produtores no necessariamente na suficincia necessria.
Do ponto de vista produtivo, percebeu-se pouca diversificao produtiva
destinada ao mercado, levando a certa especializao em alguns ramos como as hortalias,
mandioca e piscicultura. Entretanto, ainda carecendo de maior generalizao entre os
produtores, ou seja, muitas apostas produtivas ainda se restringem a determinado grupo
de produtores.
Com relao composio de renda nos Plos Agroflorestais, a agricultura e a
atividade hortcola foram as atividades mais significativas, cujos resultados obtiveram
percentuais semelhantes aos da renda bruta com 52,84% e 40,18%, respectivamente, de
acordo com Tabela 2.
Tabela 2 - Principais produtos, Plos Agroflorestais do Acre, 2006/2007
LINHA DE
EXPLORAO
SANTA LUZIA
DOM
MOACIR
PLOS DO
ESTADO
% % %
AGRICULTURA 92,54% 0,58% 52,84%
MACAXEIRA 77,23% 0,58% 8,20%
MELANCIA 6,49% - 1,03%
BATATA DOCE 4,43% - 0,47%
JERIMUM 3,89% - 0,41%
CANA - - 24,91%
BANANA - - 3,43%
ARROZ - - 0,50%
FEIJO - - 0,59%
OUTRAS 0,49% - 13,27%
CRIAES 7,46% 13,29% 6,99%
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
11
CRIAO DE
AVES/OVOS 7,46% - 1,13%
CRIAO DE PEIXES - 13,29% 4,60%
CRIAO DE PORCOS - - 1,26%
HORTALIAS - 86,14% 40,18%
PIMENTA DE CHEIRO - 1,07% 3,72%
CHEIRO VERDE - 44,19% 3,83%
COUVE - 18,70% 2,40%
PEPINO - 2,74% 1,13%
ALFACE - 4,45% 4,49%
RCULA - 6,98% 7,40%
OUTRAS - 8,00% 17,21%
TOTAL 100% 100% 100%
Conforme a Tabela 2, nota-se que o Plo Santa Luzia identificado como sendo o
de pior desempenho econmico especializou-se na agricultura, com destaque para a
produo de macaxeira e o Plo Dom Moacir melhor desempenho econmico entre as
famlias pesquisadas tem a produo concentrada na explorao da horticultura,
especialmente na produo de hortalias, destacando-se o chamado cheiro verde (produto
composto de cebolinha de palha com coentro).
Vale notar que dentre as culturas que cooperam para gerao de renda nos Plos do
Acre os produtos oriundos da agrofloresta obtiveram resultados irrisrios, o que preocupa
seriamente por contradizer o propsito inicial desse tipo de assentamento.
Alguns aspectos devem ser destacados na pauta produtiva: primeiro, a piscicultura
ainda um investimento recente, que ainda bastante incipiente e restrito a alguns grupos
de produtores. Segundo, em conversas com alguns produtores, percebeu-se certa averso
avicultura, dados os altos custos produtivos, especialmente rao.
Apesar das dificuldades encontradas em algumas reas, a dimenso econmica
apresenta resultados que colocam os Plos Agroflorestais na condio de viveis. Esta
afirmao pode ser verificada nos dados apresentados na Tabela 3, onde se detecta que as
famlias assentadas obtiveram medianamente uma renda bruta mensal 16% acima de um
salrio mnimo (SM) vigente no pas, no perodo considerado. Destacando-se como
detentor do melhor desempenho o Plo Dom Moacir, cujas famlias recebem mais de trs
vezes acima do SM e, sendo que 82% da renda bruta gerada apropriada pelas famlias, de
acordo com a Margem Bruta Familiar. Alm disso, a eficincia econmica dos Plos
Agroflorestais do Estado esto 14% acima do ponto de equilbrio, ou seja, denotando
situao de lucro e a remunerao diria da mo-de-obra familiar 50% maior que o custo
de oportunidade da regio.
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
12
Tabela 3 - Desempenho Econmico dos Plos Agroflorestais do Acre, 2006/2007
Apesar dos Plos apresentarem algumas vantagens em termos de desempenho
econmico, alguns indicadores, contidos na Tabela 3, evidenciam fatores que podem
inviabiliz-los. Ora, um fator crucial para a manuteno das famlias o autoconsumo
bens produzidos e consumidos pela prpria famlia. No entanto, de forma geral, observa-se
forte dependncia do mercado para a aquisio de bens e servios, uma vez que o
autoconsumo nas reas pesquisadas gira em torno de apenas 18% (R$ 26,00 mensais) da
mdia do autoconsumo da regio acreana. Isto representa uma maior presso para gerao
de renda para suprir a necessidade de obteno de bens no mercado.
Em decorrncia do baixo autoconsumo, o nvel de vida, em termos monetrios,
representa cerca de 95% do salrio mnimo mensal vigente no perodo. Assim a
remunerao oriunda da produo embolsada pelos produtores foi insuficiente para a
satisfao das necessidades das famlias no mercado. Por outro lado, destaca-se que o valor
gasto na aquisio dos bens e servios, alm dos custos fixos produtivos, no mercado
representado pela linha de dependncia do mercado foi 212% maior que o valor
embolsado pelas famlias dos Plos Agroflorestais, o que significa maior possibilidade de
endividamento externo e possvel perda de patrimnio, sendo corroborado pelo Termo de
Intercmbio indicando que toda a renda bruta destinada ao mercado.
Contudo, o problema da insuficincia de renda produtiva e o baixo autoconsumo em
virtude dos gastos no mercado so contornados pelas transferncias governamentais (bolsa
Indicadores
Econmicos
Unidade
Santa
Luzia
Dom
Moacir
Plos do
Estado
Renda Bruta R$/ms 199,17 1.445,40 483,08
Renda Lquida R$/ms -48,57 924,65 211,26
Renda Bruta Total R$/ms 589,58 2.310,40 1.449,99
Margem Bruta Familiar R$/ms -0,26 1.230,75 328,12
Bens de Consumo
Comprados no Mercado R$/ms 1.155,42 1.071,58 883,49
Linha de Dependncia do
Mercado R$/ms 1.223,27 1.379,63 1.025,95
Autoconsumo R$/ms 14,83 23,29 26,41
Nvel de Vida R$/ms 32,07 2.709,16 394,73
ndice de Eficincia
Econmica und. 0,42 1,7 1,14
MBF/RB und. -0,01 0,82 0,82
MBF/Qh/d R$/dia -0,41 63,64 31,8
Termo de Intercmbio und. 2,23 0,72 1,08
Obs. Resultados medianos por UPF
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
13
escola, aposentadoria etc.) e o assalariamento fora das unidades de produo, compondo a
denominada Renda Bruta Total, que, medianamente entre os Plos, suficiente para suprir
as necessidades oriundas do mercado. Claro que em alguns Plos, como o Santa Luzia, a
renda bruta total ainda insuficiente para cobrir todos os gastos no mercado, prejudicando,
dessa forma, a reproduo das famlias.
As condies de vida nos Plos Agroflorestais so apresentadas a partir do ndice de
Desenvolvimento Familiar Rural (IDF-R). Segundo a Tabela 4, a situao dos Plos do
Estado considerada boa (0,64). Vale notar que existem Plos como, por exemplo, o Elias
Moreira, que apresenta um IDF-R prximo do timo (acima de 0,80), com ndice de 0,72.
Entretanto, h nos Plos pesquisados algumas dimenses que merecem ateno. O
ndice de Acesso ao Trabalho (IT) demonstra que nos Plos h em torno de 33% da mo-
de-obra familiar desocupada, sendo que em alguns Plos chegam a ter at metade da fora
de trabalho desocupada. Isto pode levar tanto a problemas econmicos quanto a sociais.
Os ndices de acesso educao (IE) e conhecimento profissional e tradicional (IC)
esto inseridos na faixa de regular a bom, implicando maior priorizao nestas reas em
virtude do impacto na gerao de novas oportunidades produtivas e inovaes
tecnolgicas.
O ndice de disponibilidade de recursos (IR) relativo Renda Bruta Total (RBT),
cerca de R$ 1.450,00 mensais aponta que de forma mediana 70% destes so originados
fora da unidade de produo, por intermdio de transferncias governamentais (bolsa
escola, aposentadoria etc.) e assalariamento. Isto est invertendo o propsito da criao dos
Plos na gerao de emprego e renda, pois a renda produtiva ao invs de ser principal est
se constituindo secundria. (Tabelas 3 e 4)
Tabela 4 ndice de Desenvolvimento Familiar Rural (IDF-R) nos Plos Agroflorestais do
Acre, 2006/2007
Os resultados de desempenho econmico e do IDF-R dependem de alguns ativos
ou recursos que podem se traduzir em vantagem ou desvantagem competitiva. Na Tabela
5, foram elencadas pelos residentes dos Plos as principais vantagens competitivas de suas
Localidade IV IE IC IT IR ID IH IA
IDF-
R
Elias Moreira 0,6 0,54 0,83 0,78 0,5 0,98 0,54 0,75 0,72
Feij 0,66 0,5 0,56 0,83 0,39 1 0,64 0,66 0,68
Dom Moacir 0,63 0,44 0,61 0,67 0,5 0,94 0,67 0,51 0,65
Dom Joaquim 0,73 0,43 0,48 0,55 0,24 0,99 0,58 0,65 0,64
Plos do Estado 0,62 0,46 0,56 0,67 0,34 0,96 0,57 0,65 0,64
Wilson Pinheiro 0,62 0,46 0,5 0,7 0,34 0,96 0,52 0,58 0,62
Xapuri II 0,54 0,47 0,78 0,5 0,06 0,84 0,57 0,8 0,61
Santa Luzia 0,57 0,46 0,56 0,56 0,06 0,94 0,53 0,57 0,58
Obs.: ID ndice de Desenvolvimento Infantil; IT ndice de Acesso ao Trabalho; IA ndice
de Condies Ambientais; IV ndice de Ausncia de Vulnerabilidade; IH ndice de
Condies Habitacionais; IE ndice de Acesso ao Ensino; IC - ndice de Acesso ao
Conhecimento Profissional e Tradicional; IR - ndice de Disponibilidade de Recurso; IDF-R
ndice de Desenvolvimento Familiar Rural
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
14
localidades. Os principais itens de destaque foram: a localizao das reas, reputao pela
qualidade dos produtos, alm do pioneirismo. Aqui se apresenta as principais fortalezas
que devem ser potencializadas e, obviamente, relacionadas a possveis reorientaes
produtivas.
Tabela 5 Vantagens relatadas pelos moradores dos Plos Agroflorestais do Acre,
Item de vantagem Plos do Estado
Santa
Luzia Dom Moacir
Localizao 83% 83% 83%
Reputao pela qualidade 83% 83% 100%
Pioneirismo 83% 17% 83%
Acesso a canais de
distribuio de baixo custo 73% 0% 100%
Conhecimento do negcio 67% 67% 100%
Infra-estrutura (ramais, rio,
etc.) 67% 67% 67%
Acesso aos insumos 67% 50% 100%
Diversificao de produtos 67% 17% 83%
Dentre as principais desvantagens relatadas pelos produtores esto as precrias
condies de acesso a assistncia tcnica e de crdito, a falta de disponibilidade de capital
prprio para investir na produo, indicando claramente as dificuldades de gerao de
renda e incorporao de novas tecnologias, tal como se constata na Tabela 6.
Tabela 6 Desvantagens relatadas pelos moradores dos Plos Agroflorestais do Acre
Item de desvantagem
Plos
do
Estado
Santa
Luzia
Dom
Moacir
Disponibilidade de capital
(Prprio) 67% 67% 67%
Espao
fsico/equipamento/facilidade
de produo 67% 83% 50%
Assistncia tcnica 50% 83% 17%
5. CONCLUSO
Os Plos Agroflorestais surgiram em Rio Branco justamente como uma inovativa
maneira de se realizar a reforma agrria, buscando uma alternativa factvel aos diversos
assentamentos capitaneados pelo INCRA.
Um grande diferencial dessa alternativa justamente o assentamento de antigos
moradores de seringais e colnias que foram expulsos do campo e no encontravam
ocupaes nas cidades. A localizao das reas dos Plos se tornou um grande atrativo
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
15
para essas populaes, haja vista a proximidade com o mercado, facilitando, dessa forma, o
acesso a insumos e materiais, bem como o escoamento da produo.
Por outro lado, a preconizao da implementao de sistemas agroflorestais
acenava para uma inovativa atividade produtiva que, em ltima instncia, otimizava os
pequenos lotes disponibilizados. O que se buscava e ainda se busca justamente a
melhoria das condies de vida da populao rural a partir de atividades produtivas e todo
o aparato institucional em torno desse empreendimento.
Do ponto de vista produtivo, os Plos foram criados para suprir as demandas da
zona urbana em relao aos produtos hortifrutigranjeiros, alm de produtos oriundos de
sistemas agroflorestais, principalmente de frutferas. Entretanto, o que se viu ao longo do
tempo que o carter agroflorestal se transformou em consorciaes de algumas culturas
que servem, essencialmente, para subsistncia em pequena escala. Isto se deve carncia
de assistncia tcnica, alm de questes mercadolgicas, por exemplo, escala de produo,
entre outros aspectos.
Atualmente, os principais produtos que geram renda tm origem agrcola e,
principalmente, hortcola. No presente trabalho evidenciou-se que os produtos com
melhores desempenhos econmicos foram justamente as hortalias. Entretanto, a falta de
diversificao produtiva pode se transformar em percalos futuros.
Outra questo decisiva para a manuteno das famlias nos Plos Agroflorestais
a produo para o autoconsumo, visto que base do fortalecimento da produo familiar
rural frente as foras de mercado. Assim, extremamente preocupante a forte dependncia
do mercado das famlias no suprimento de suas necessidades, principalmente de itens que
podem ser produzidos internamente, como pequenos animais e gros.
Assim, no se pode negar que as condies de vida das famlias assentadas
melhorou aps o assentamento nos Plos, porm verificou-se que h ainda muito o que
fazer e, claro, (re)planejar. Mas, talvez mais importante ainda seja a prpria
conscientizao desses resultados por parte dos formuladores de poltica pblica e da
prpria populao envolvida, para que se possa alcanar resultados satisfatrios para a
consecuo de um verdadeiro e efetivo desenvolvimento sustentvel para as comunidades
residentes nos Plos Agroflorestais do Acre.
6. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ASSIS, Renato Linhares de. Desenvolvimento rural sustentvel no Brasil: perspectivas
a partir da integrao de aes pblicas e privadas com base na agroecologia. Econ.
Apl., Mar 2006, vol.10, no.1, p.75-89.
BATISTA, Gisele Elaine de Arajo. Alternativas de desenvolvimento sustentvel: o
caso da RESEX Chico Mendes e das ilhas de alta produtividade. 2004. 93p. Monografia
(Graduao em Economia) - Universidade Federal do Acre, Rio Branco.
BOCCHI, Joo I. (org.) Monografia para Economia. So Paulo: Saraiva, 2004.
BUARQUE, Srgio C. Construindo o desenvolvimento local sustentvel. Metodologia
de planejamento. Rio de Janeiro: Garamond, 2002, 177p.
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
16
CMMAD. Nosso Futuro Comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora da Fundao Getlio
Vargas, 1991. 430 p.
COSTABEBER, J. A.; CAPORAL, F. R. Possibilidades e alternativas do
desenvolvimento rural sustentvel. In: Vela, Hugo. (Org.): Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Rural Sustentvel no Mercosul. Santa Maria: Editora da
UFSM/Pallotti, 2003. p.157-194.
DELGADO, Guilherme C. Expanso e modernizao do setor agropecurio no ps-guerra:
um estudo da reflexo agrria. Estudos Avanados, So Paulo, v. 15, n. 43, p. 157-172,
set./dez. 2001.
GRAZIANO NETO, Francisco. Questo Agrria e Ecologia: Crtica da moderna
agricultura. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1982.
GUANZIROLI, Carlos et al. Agricultura Familiar e Reforma Agrria no Sculo XXI.
Rio de Janeiro: Garamond, 2001.
LIMA, Dalmo Marcelo de Albuquerque; WILKINSON, John. (Org.). Inovao nas
tradies da agricultura familiar. Braslia: CNPq/Paralelo 15, 2002.
MACIEL, Raimundo Cludio Gomes. Ilhas de alta produtividade: Inovao essencial
para a manuteno dos seringueiros nas reservas extrativistas. UNICAMP. Campinas,
2003. 98p. Dissertao (Mestrado em Desenvolvimento Econmico, Espao e Meio
Ambiente).
MAGALHES, Juraci Peres. A ocupao desordenada da Amaznia: Seus efeitos
econmicos, sociais e ecolgicos. Braslia: Completa ed., 1990. 112 p.
MAHAR, Dennis J. Desenvolvimento econmico da Amaznia: uma anlise das polticas
governamentais. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1978. 276 p. (Relatrio de pesquisa, 39)
__________. Government Policies and Deforestation in Brazils Amazon Region.
Washington: The World Bank, 1989. 56 p.
RGO, Jos Fernandes do. Estado e polticas pblicas: A reocupao econmica da
Amaznia durante o regime militar. So Luis: EDUFMA. 2002. Rio Branco/ Acre, Brasil.
420 p.
__________; COSTA FILHO, O. S.; BRAGA, R. A. da R. (Editores). Anlise econmica
dos sistemas de produo familiar rural da regio do Vale do Acre 1996/1997. Rio
Branco: UFAC/SEBRAE/The Ford Foundation, 2003. 80p.
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2009,
Sociedade Brasileira de Economia, Administrao e Sociologia Rural
17
SANTOS, Manoel Jos dos. Projeto alternativo de desenvolvimento rural
sustentvel. Estud. av., Dez 2001, vol.15, no.43, p.225-238.
SEAPROF Secretaria de Extenso Agroflorestal e Produo Familiar do Estado do Acre.
2009.
SOUZA, Elyson Ferreira de. Os Plos Agroflorestais como Poltica de Desenvolvimento
Rural Sustentvel em Rio Branco no Acre: da proposio realidade. Viosa:
DED/UFV, 2008. 180 p. (Dissertao de Mestrado Economia Domstica, DED/UFV)
Você também pode gostar
- 90 Dias Tabela Lei Seca (Júlia)Documento8 páginas90 Dias Tabela Lei Seca (Júlia)Ana Souza100% (3)
- Uma Nova Abordagem para A Regulação Econômica Soft RegulationDocumento20 páginasUma Nova Abordagem para A Regulação Econômica Soft RegulationPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Avaliação - Tutela Penal Dos Bens Jurídicos IndividuaisDocumento4 páginasAvaliação - Tutela Penal Dos Bens Jurídicos IndividuaisJosias Vieira100% (1)
- Manual 4257 EvDocumento15 páginasManual 4257 Evjmrf196650% (2)
- Fichamento de Leitura - Wolkmer - Introdução Ao Pensamento Jurídico CríticoDocumento6 páginasFichamento de Leitura - Wolkmer - Introdução Ao Pensamento Jurídico CríticoeduardosensAinda não há avaliações
- Manifesto PGR 2023Documento4 páginasManifesto PGR 2023Natália P.Ainda não há avaliações
- CP 1 - Dr3 Catarina SemedoDocumento9 páginasCP 1 - Dr3 Catarina SemedoPatricia PinheiroAinda não há avaliações
- Clientelismo No BrasilDocumento4 páginasClientelismo No BrasilgisellecarinolageAinda não há avaliações
- Anne ButtimerDocumento16 páginasAnne ButtimerigorobainaAinda não há avaliações
- Tradução Puig Nada Vem Sem Seu MundoDocumento20 páginasTradução Puig Nada Vem Sem Seu MundoGuilherme AssisAinda não há avaliações
- Constituição Federal Do Brasil 1988Documento201 páginasConstituição Federal Do Brasil 1988JãoAinda não há avaliações
- Trabalho - Julgamento em NurembergDocumento3 páginasTrabalho - Julgamento em NurembergAlexandre Catijero Pereira0% (1)
- 1659791767879material Caveirão - Sua Hora Está ChegandoDocumento26 páginas1659791767879material Caveirão - Sua Hora Está ChegandoJoão Gabriel100% (1)
- A Liberdade e A Justiça 1 - Albert CamusDocumento7 páginasA Liberdade e A Justiça 1 - Albert CamusWolfgang ZerbinoAinda não há avaliações
- Material 01 - Renato de Pretto - Direito TributárioDocumento10 páginasMaterial 01 - Renato de Pretto - Direito TributárioEduardo Rocha & Clara DantasAinda não há avaliações
- Spinoza e A Questao Da Exterioridade Uma PDFDocumento372 páginasSpinoza e A Questao Da Exterioridade Uma PDFFlavioAinda não há avaliações
- Políticas de Educação em Prisões DoDocumento16 páginasPolíticas de Educação em Prisões DoRose Mary Alves CostaAinda não há avaliações
- Tese Unicamp Jose Amancio A Arte Do Ator e o Ato Do AfasicoDocumento129 páginasTese Unicamp Jose Amancio A Arte Do Ator e o Ato Do Afasicolurdinha123Ainda não há avaliações
- Mauricio Zanoide - Sigilo No Processo Penal - Publicidade e ProporcionalidadeDocumento15 páginasMauricio Zanoide - Sigilo No Processo Penal - Publicidade e ProporcionalidadePedro Henrique RezendeAinda não há avaliações
- Fichamento "A Formação de Uma Classe Dominante - A Gentry Escravista Na América Inglesa Continental (Chesapeake & Lowcountry, C. 1640-c. 1750) " de Thiago Nascimento Krause.Documento12 páginasFichamento "A Formação de Uma Classe Dominante - A Gentry Escravista Na América Inglesa Continental (Chesapeake & Lowcountry, C. 1640-c. 1750) " de Thiago Nascimento Krause.Jellal KunAinda não há avaliações
- Questionario 3-1Documento10 páginasQuestionario 3-1Miguel AquinoAinda não há avaliações
- SARDINHA - Et - Al - LIVRO - Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais Na Contemporaneidade - Com ISBNDocumento359 páginasSARDINHA - Et - Al - LIVRO - Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais Na Contemporaneidade - Com ISBNCarina Santos de AlmeidaAinda não há avaliações
- Comissão Camponesa Relatório CompletoDocumento638 páginasComissão Camponesa Relatório CompletoElson SilvaAinda não há avaliações
- Dossie Qualificação LauraDocumento52 páginasDossie Qualificação LauraLauraMottaAinda não há avaliações
- Modelo de Contestação Trabalhista Horas ExtrasDocumento4 páginasModelo de Contestação Trabalhista Horas ExtrasRicAlvesAinda não há avaliações
- Política de SaúdeDocumento6 páginasPolítica de SaúdeVitória Elizabete PereiraAinda não há avaliações
- 2013 - Honneth - Educação e Esfera Pública Democrática - Um Capítulo Negligenciado Da Filosofia Política PDFDocumento19 páginas2013 - Honneth - Educação e Esfera Pública Democrática - Um Capítulo Negligenciado Da Filosofia Política PDFleoamphibioAinda não há avaliações
- Portaria 3.134 de 17 de Dezembro de 2013Documento5 páginasPortaria 3.134 de 17 de Dezembro de 2013Pollyanna de PaulaAinda não há avaliações
- TAC - DellDocumento4 páginasTAC - DellPedroAinda não há avaliações
- Aula #5 - O Conceito de InterculturalidadeDocumento5 páginasAula #5 - O Conceito de InterculturalidaderenataAinda não há avaliações