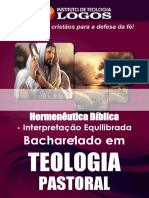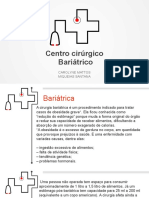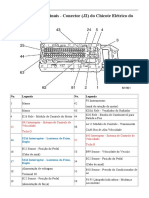Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pesquisa - Politicas de PDD
Pesquisa - Politicas de PDD
Enviado por
moises_jorge21Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pesquisa - Politicas de PDD
Pesquisa - Politicas de PDD
Enviado por
moises_jorge21Direitos autorais:
Formatos disponíveis
1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SCIO-ECONMICO
CURSO DE CINCIAS CONTBEIS
RONALDO VALDIR CORRA
A PROVISO PARA CRDITOS DE LIQUIDAO
DUVIDOSA NAS INSTITUIES FINANCEIRAS
Florianpolis
2005
2
RONALDO VALDIR CORRA
A PROVISO PARA CRDITOS DE LIQUIDAO
DUVIDOSA NAS INSTITUIES FINANCEIRAS
Monografia apresentada Universidade
Federal de Santa Catarina como um dos
pr-requisitos para a obteno do grau de
Bacharel em Cincias Contbeis.
Orientadora:
Prof. Dr. Bernadete Limongi.
Florianpolis
2005
3
RONALDO VALDIR CORRA
A PROVISO PARA CRDITOS DE LIQUIDAO
DUVIDOSA NAS INSTITUIES FINANCEIRAS
Esta monografia foi apresentada como trabalho de concluso do curso de
Cincias Contbeis da Universidade Federal de Santa Catarina, obtendo a nota
(mdia) de ............, atribuda pela banca constituda pela orientadora e membros
abaixo.
Compuseram a banca:
_________________________________________
Prof. Orientadora Dr. Bernadete Limongi
Departamento de Cincias Contbeis UFSC
_________________________________________
Prof. Dr. Elizete Dahmer Pfitcher
Departamento de Cincias Contbeis UFSC
_________________________________________
Prof. M. Eng. Eleonora Milano Falco Vieira
Departamento de Cincias Contbeis - UFSC
Florianpolis, 1 de junho de 2005.
_________________________________________
Prof. Dr. Elizete Dahmer Pfitcher
Coordenadora de Monografia - UFSC
4
AGRADECIMENTOS
A Deus, por me conceder sade e permitir o convvio com tantas pessoas
importantes para a minha formao.
minha famlia, onde sempre encontrei apoio e motivao, especialmente
minha amada esposa Fabrcia Felisbino Corra pelo carinho, apoio, compreenso e
motivao para continuar esta jornada.
orientadora deste trabalho, Prof. Dr. Bernadete Limongi, o mais profundo
dos agradecimentos, pela pacincia em ler e reler as verses preliminares, pela
motivao transmitida, pelos esforos na orientao do trabalho e principalmente por
todo o aprendizado obtido com este convvio.
Aos professores, colegas de curso e a todos mais que de uma forma ou de
outra contriburam para a concluso deste trabalho.
5
RESUMO
CORRA, Ronaldo Valdir. A proviso para crditos de liquidao duvidosa nas
instituies financeiras. 2005, 59 pginas. Monografia (Curso de Cincias Contbeis)
- Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2005.
A Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa representa, para os bancos, uma
reserva financeira para evitar que possveis perdas causem abalos sade da
empresa. Nos ltimos 15 anos o Governo Brasileiro promoveu considerveis
modificaes na regulamentao acerca da constituio desta proviso no intuito de
melhor evidenciar a real situao das instituies financeiras. O objetivo deste
trabalho consiste em promover a anlise das alteraes ocorridas desde a
publicao da Resoluo CMN/BACEN n 1.748/90, de 30 de agosto de 1990 at
sua substituio pela Resoluo CMN/BACEN n 2.682/99, de 21 de dezembro de
1999, esta ltima atualmente em vigor. Com este objetivo, so apresentados os
principais aspectos de cada norma e, aplicando os preceitos de cada resoluo em
uma carteira de crditos, traado um comparativo para demonstrar as diferentes
alteraes causadas no lucro de uma instituio financeira. Por fim, so comentados
os reflexos da evoluo da norma nas informaes prestadas aos clientes de
instituies financeiras.
Palavras-chave: Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa. Risco de
Crdito. Instituio Financeira.
6
LISTA DE SIGLAS
BACEN Banco Central do Brasil
BB Banco do Brasil
BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social
CDB Certificado de Depsito Bancrio
CFC Conselho Federal de Contabilidade
CMN Conselho Monetrio Nacional
CVM Comisso de Valores Mobilirios
PCLD Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa
RDB Recibo de Depsito Bancrio
SERASA Centralizao de Servio dos Bancos S.A.
SFN Sistema Financeiro Nacional
7
LISTA DE QUADROS E TABELAS
QUADRO 1: COMPARATIVO ENTRE AS NORMAS.......................................................40
TABELA 1: ANLISE DE NVEL DE RISCO E PCLD......................................................34
TABELA 2: VALOR PROVISIONADO NORMA ATUAL ..............................................36
TABELA 3: VALOR PROVISIONADO NORMA ANTERIOR.......................................38
8
SUMRIO
RESUMO............................................................................................................... ..5
LISTA DE SIGLAS.................................................................................................. 6
LISTA DE QUADROS E TABELAS ....................................................................... 7
1 INTRODUO................................................................................................... 10
1.1Problema..................................................................................................... 11
1.2 Objetivos ................................................................................................... 12
1.3 Justificativa ................................................................................................ 13
1.4 Metodologia ............................................................................................... 14
1.4.1 Quanto natureza............................................................................. 14
1.4.2 Quanto abordagem do problema.................................................... 14
1.4.3 Quanto aos objetivos......................................................................... 15
1.4.4 Quanto aos procedimentos tcnicos.................................................. 15
1.5 Limitaes da pesquisa.............................................................................. 15
1.6 Estrutura e organizao do trabalho .......................................................... 16
2 EMBASAMENTO TERICO.............................................................................. 17
2.1 Sistema Financeiro Nacional ..................................................................... 17
2.1.1 Conselho Monetrio Nacional (CMN) ................................................ 17
2.1.2 Banco Central (BACEN) .................................................................... 18
2.1.3 Comisso de Valores Mobilirios (CVM) ........................................... 18
2.1.4 Banco do Brasil.................................................................................. 18
2.1.5 Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social
(BNDES) .......................................................................................... 19
2.2 Risco.......................................................................................................... 19
2.2.1 Risco de mercado.............................................................................. 20
2.2.2 Risco operacional .............................................................................. 20
2.2.3 Risco de crdito................................................................................. 21
2.2.4 Risco legal ......................................................................................... 21
2.3 Crdito ....................................................................................................... 21
2.3.1 Os Cs do crdito................................................................................ 22
9
2.4 A importncia da Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa nas
instituies financeiras................................................................................ 25
3 ESTUDO DE CASO........................................................................................... 28
3.1 Apresentao da carteira objeto do estudo de caso.................................. 28
3.1.1 Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa - Legislao
anterior (Resoluo CMN/BACEN n 1.748/90, de 30 de agosto
de 1990)........................................................................................... 29
3.1.2 Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa - Legislao
atual (Resoluo CMN/BACEN n 2.682/99, de 21 de dezembro
de 1999)........................................................................................... 33
3.2 Comparativo prtico das resolues.......................................................... 36
3.3 Reflexos da Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa no
resultado de uma instituio financeira.................................................... 40
3.3.1 Fatores que provocam a diminuio do resultado ............................. 41
3.3.2 Fatores que provocam o aumento do resultado ................................ 42
3.3.3 Qual a melhor soluo....................................................................... 43
4 REFLEXES FINAIS......................................................................................... 45
5 REFERNCIAS.................................................................................................. 47
ANEXOS............................................................................................................... 49
Anexo A ........................................................................................................... 49
Anexo B ........................................................................................................... 57
10
1 INTRODUO
Em 1988, com o Acordo de Adequao de Capital da Basilia, foi fixado
internacionalmente o nvel mnimo de 8% entre o capital e o valor dos ativos de um
banco. No Brasil, o Conselho Monetrio Nacional (CMN), estabeleceu o ndice de
11% levando em conta os riscos mais elevados das instituies brasileiras em
relao ao mercado internacional.
Em decorrncia deste contexto e para diminuir o risco de quebra das
instituies financeiras, em 1990 o CMN/BACEN editou a Resoluo 1.748/90. Esta
norma tinha carter reativo, isto , a obrigatoriedade de constituio de provises
para crditos de liquidao duvidosa existia apenas sobre as operaes j vencidas.
No ano de 1997, com o intuito de uniformizar a superviso bancria, o Comit
de Basilia emitiu 25 princpios de crdito, como orientao normativa de controle de
crdito.
No Brasil, em 1998, o CMN/BACEN editou a Resoluo 2554/98 para tornar
obrigatria a implantao e implementao de sistema de controles internos nas
instituies financeiras independente do porte da instituio.
A partir de maro de 2000, com o advento da Resoluo 2.682/99 do
CMN/BACEN, as instituies financeiras se adequaram aos novos critrios de
constituio da proviso para crditos de liquidao duvidosa sobre suas operaes,
atribuindo faixas crescentes de risco para cada operao, independente da situao
de normalidade. Os nveis de riscos vo de AA at H, com as provises crescendo
de 0 a 100% do capital concedido.
11
1.1 Problema
Empresas comerciais, de servios e indstrias constituem Proviso para
Crditos de Liquidao Duvidosa baseadas principalmente nas experincias
passadas em relao aos nveis de perdas. J nas Instituies Financeiras, so
realizadas provises no somente com base em fatos j ocorridos, mas tambm
levando em considerao modelos probabilsticos para prever perdas futuras.
Devido, principalmente, ao aumento dos ndices de endividamento e da
inadimplncia, o governo vem constantemente renovando a legislao no que diz
respeito a medidas mais eficazes para se avaliar com segurana a real situao dos
tomadores de crdito. Um bom exemplo disso so as resolues constantemente
publicadas pelo Banco Central do Brasil.
justamente sobre estas mudanas que est alicerado este trabalho de
pesquisa. Ele pretende responder o seguinte questionamento:
Qual o reflexo das alteraes ocorridas nos ltimos 15 anos nas normas
de constituio de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa nas
Instituies Financeiras com relao concesso de crdito?
De acordo com o que foi comentado acima e para restringir o tema o
problema ser tratado apenas nas instituies bancrias e somente no mercado de
Pessoa Fsica.
12
1.2 Objetivos
a) Objetivo geral
Demonstrar o reflexo da evoluo das normas a respeito da Proviso para
Crditos de Liquidao Duvidosa em Instituies Financeiras na concesso de
crdito em carteiras do Mercado de Pessoas Fsicas.
b) Objetivos especficos
1) Conceituar Sistema Financeiro Nacional e suas principais instituies;
2) Conceituar risco e crdito;
3) Traar a evoluo histrica da forma como lanada a Proviso para
Crditos de Liquidao Duvidosa em Instituies Financeiras;
4) Demonstrar, com exemplos prticos, em que a nova forma de
contabilizao est influindo na concesso de crdito e analisar a viabilidade de
continuar a emprestar mantendo as provises em nveis satisfatrios e evitando
prejuzos.
13
1.3 Justificativa
Os bancos captam recursos no mercado por meio das mais diversas formas
de aplicaes (Poupana, CDB, RDB, Fundos, Aes, Ouro, etc) e fornecem ao
mercado esses valores na forma de emprstimos e financiamentos.
O dinheiro captado no mercado tem um custo, que a taxa de juros oferecida
nas aplicaes. Em contrapartida, quando o banco fornece um emprstimo, a taxa
de juros cobrada deve ser suficiente para cobrir o custo de captao e ainda garantir
uma sobra para pagar os custos de administrao dos valores e gerar lucro. Esta
sobra chamada de Spread e corresponde a boa parte das receitas dos bancos.
Devido, principalmente, grande lucratividade obtida por meio dos Spreads
para a instituio, pode-se deduzir que a correta aplicao dos recursos captados no
mercado pode determinar a sobrevivncia ou no de um estabelecimento. A
Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa destina-se a cobrir perdas futuras
nas carteiras de crditos das instituies financeiras. Ela interfere no resultado
financeiro da instituio sendo muito importante para a continuidade das atividades
pois ajuda a diminuir o risco de falncia da entidade. Alm disso, o assunto diz
respeito tambm sociedade em geral pois a concesso de crdito interfere na
evoluo econmica do Pas.
Diante do exposto, torna-se evidente a importncia de estudos sobre a
avaliao para concesso de crdito. Sem uma anlise cuidadosa e uma previso
bem elaborada sobre os valores que correm o risco de no serem recebidos, a
sade financeira de uma instituio pode ser abalada.
14
1.4 Metodologia
Este tpico trata dos procedimentos metodolgicos adotados para a
elaborao do estudo, apresentando o tipo de estudo, abordagem e as tcnicas de
coleta de dados utilizadas.
1.4.1 Quanto natureza
Quanto natureza, este trabalho uma pesquisa aplicada por ter como
objetivo gerar conhecimentos dirigidos soluo de um problema especfico. No
caso, a constituio da Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa em
Instituies Financeiras.
1.4.2 Quanto abordagem do problema
A abordagem utilizada no desenvolvimento da pesquisa predominantemente
qualitativa, uma vez que toda a pesquisa (coleta e anlise de dados) ser
cuidadosamente preparada com a anlise dos dados simultnea coleta. Para se
chegar ao resultado esperado, sero analisados o contedo dos dados e a relao
entre eles, no se usando tcnicas estatsticas.
15
1.4.3 Quanto aos objetivos
Segundo Gil (1991, p. 45), a pesquisa exploratria visa proporcionar maior
familiaridade com o problema com vistas a torn-lo explcito ou a construir hipteses.
este o objetivo deste trabalho de pesquisa, pois questiona a evoluo nas normas
para constituio da Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa, visando
evidenciar seu reflexo na concesso de crditos pelos bancos no Brasil.
1.4.4 Quanto aos procedimentos tcnicos
feito primeiramente um levantamento dos principais estudos existentes
sobre o assunto e, logo em seguida, verifica-se a evoluo das normas e so obtidas
respostas s questes atravs de um exemplo prtico. Trata-se, portanto, de um
estudo de caso com pesquisa bibliogrfica.
Gil (1991, p. 58) salienta que:
O estudo de caso caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo
de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos
amplos e detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossvel
mediante os outros tipos de delineamento considerados.
1.5 Limitaes da pesquisa
Este trabalho est fundamentado nas normas do acordo Basilia I, estando,
pois, limitado ao referido.
16
Ressalta-se ainda que o acordo Basilia II deve brevemente iniciar sua
implementao, podendo haver alteraes nas informaes medida que os trs
pilares previstos forem implementados.
O primeiro pilar refere-se ao capital mnimo requerido, sendo propostas
mudanas na metodologia de mensurao, anlise e administrao de risco de
crdito e operacional, enquanto o risco de mercado permanece inalterado.
O segundo pilar diz respeito reviso no processo de superviso. Neste
pilar, o supervisor passaria a examinar os sistemas internos de mensurao de
riscos e acompanhar se as instituies esto mantendo capital correspondente ao
nvel de risco assumido.
O terceiro e ltimo pilar, a ser implementado at o ano de 2011, a disciplina
de mercado. A proposta que, atravs de uma maior clareza e transparncia nas
informaes prestadas pelos bancos, seja mais fcil a compreenso do perfil de
risco de cada instituio pelos clientes internos e externos.
1.6 Estrutura e organizao do trabalho
O estudo est dividido em uma introduo, dois captulos e uma concluso.
Na introduo so expostos o problema, os objetivos, a justificativa e a metodologia
utilizada. O captulo 1 traz os conceitos bsicos necessrios para a compreenso da
monografia, conceitua o Sistema Financeiro Nacional e suas instituies alm de
trazer os conceitos de risco, crdito e PCLD. No segundo captulo, so apresentadas
as resolues em vigor no perodo em estudo, sendo efetuado um comparativo entre
a anterior e a atual. Na concluso so apresentados os aspectos destacados no
texto, fazendo-se as elaboraes finais.
17
2 EMBASAMENTO TERICO
2.1 Sistema Financeiro Nacional
O Sistema Financeiro Nacional (SFN) foi implementado na economia
brasileira em 1964 e formado por dois subsistemas: um normativo e outro
operativo. O subsistema normativo tem como funo controlar o subsistema
operativo e, segundo o Banco do Brasil (2002, p. 18), formado pelas seguintes
instituies:
2.1.1 Conselho Monetrio Nacional (CMN) rgo responsvel pela normatizao
do Sistema Financeiro Nacional. constitudo pelos seguintes membros: Ministro da
Fazenda (presidente), Ministro do Planejamento e Presidente do Banco Central.
Seus principais objetivos, de acordo com a lei 4595/64, so: adaptar o volume dos
meios de pagamento s reais necessidades da economia nacional, regular o valor
interno e o valor externo da moeda, zelar pela liquidez e solvncia das instituies
financeiras e coordenar as polticas monetria, creditcia, oramentria fiscal e da
dvida pblica interna e externa. As competncias privativas do Conselho Monetrio
Nacional so: autorizar a emisso de papel moeda, aprovar os oramentos
monetrios do Banco Central, fixar diretrizes e normas de poltica cambial, disciplinar
o crdito, estabelecer limites para a remunerao das operaes e servios
bancrios, determinar as taxas de recolhimento compulsrio e regular a constituio,
o funcionamento e a fiscalizao de todas as instituies financeiras que operam no
pas.
18
2.1.2 Banco Central (BACEN) - autarquia vinculada ao Ministrio da Fazenda,
conhecida como autoridade monetria junto com o CMN. Sua principal atribuio
executar as normas elaboradas pelo Conselho Monetrio Nacional. O Presidente do
Bacen indicado pelo Presidente da Repblica. Os papis desempenhados por
esse rgo so mltiplos: banco de dados (depsito compulsrio, operaes de
redesconto), gestor do Sistema Financeiro (normatiza, autoriza, fiscaliza e intervm),
agente da autoridade monetria (controla fluxos de moeda), agente financeiro do
governo (financia o Tesouro Nacional, administra a dvida pblica e recebe depsitos
da Unio).
2.1.3 Comisso de Valores Mobilirios (CVM) entidade autrquica, vinculada ao
Ministrio da Fazenda, seu objetivo principal o fortalecimento do mercado de
aes. Neste sentido, compete CVM assegurar o funcionamento eficiente e regular
das bolsas de valores e instituies auxiliares que operam nesse mercado, proteger
os titulares de valores mobilirios contra emisses irregulares e fiscalizar a emisso,
o registro, a distribuio e a negociao de ttulos emitidos pelas sociedades
annimas de capital aberto.
2.1.4 Banco do Brasil um dos principais instrumentos de execuo da poltica
creditcia e financeira do governo federal. Est tambm encarregado de executar o
servio de compensao de cheques e outros papis. Atua tambm como banco
comercial.
19
2.1.5 Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES)
empresa pblica vinculada ao Ministrio do Planejamento, responsvel pela
poltica de investimentos de longo prazo do governo federal. Seus principais
objetivos so: estimular o desenvolvimento econmico e social do pas, fortalecer o
setor empresarial nacional, promover o desenvolvimento das atividades agrcolas,
industriais e de servios e tambm o crescimento e a diversificao das exportaes.
O subsistema operativo constitudo pelas instituies pblicas e privadas
que atuam no mercado financeiro. So elas: bancos mltiplos; bancos comerciais;
caixas econmicas; bancos de investimento; bancos e companhias de
desenvolvimento; companhias de crdito, financiamento e investimento (financeiras);
companhias de crdito imobilirio e associaes de poupana e emprstimo; bolsas
de valores; sociedades corretoras; sociedades distribuidoras; agentes autnomos de
investimento; companhias de seguros; leasing; factoring e consrcio.
2.2 Risco
Segundo o Banco do Brasil (2001, p. 10), O risco permeia a atividade
humana e est presente em todos os atos de gesto de uma empresa. Tudo que
fazemos ou dizemos tem a possibilidade de gerar conseqncia diferente daquela
que imaginamos. Atravessar uma rua pode ter como resultado um acidente.
Porm, situaes que podem parecer de alto risco para algumas pessoas
podero ser consideradas de risco aceitvel para outras. So exatamente essas
diferentes perspectivas, geradas por diferentes conjuntos de informaes, que
estabelecero o nvel de risco de um evento, e que permitem a realizao de
negcios.
20
As formas de definio de risco variam muito de autor para autor,
dependendo do enfoque utilizado. Neste trabalho ser utilizada a classificao
adotada pelo Basel Committee on Banking Supervision (1997), segundo o qual os
principais riscos financeiros so: risco de mercado, risco operacional, risco de crdito
e risco legal.
2.2.1 Risco de mercado
De acordo com Ferreira Bueno (2003, p. 41), risco de mercado a
possibilidade de perdas causadas por mudanas no comportamento das taxas de
juros e cmbio, nos preos de aes e de commodities e no descasamento entre
taxas, prazos, ndices e moedas.
2.2.2 Risco operacional
Como o prprio nome sugere, os riscos operacionais tm como origem
problemas de funcionamento de sistemas de informtica, transmisso e de sistemas
internos de monitoramento das operaes. Para Vicente (2001, p. 23), Podem
ocorrer em dois nveis: em nvel tcnico, quando o sistema de informao ou as
medidas de risco so ineficientes; e em nvel organizacional, quando existirem
deficincias no monitoramento, no relato dos riscos, das regras e polticas
relacionadas.
21
2.2.3 Risco de crdito
A concesso de emprstimos faz parte das atividades de um banco. Para ser
fornecido o emprstimo, a instituio faz uma avaliao da capacidade de
pagamento dos tomadores. Como so muitas as variveis analisadas, a capacidade
de crdito do tomador pode ser subestimada. Segundo Ferreira Bueno (2003, p. 43),
risco de crdito a possibilidade de perdas resultantes da incerteza do recebimento
de um valor contratado, seja esta perda causada pela inadimplncia ou pelo custo
de recuperao dos valores aplicados. Por ser inerente principal atividade da
maioria dos bancos, o risco de crdito considerado um dos riscos mais importantes
a ser enfrentado na atividade bancria.
2.2.4 Risco legal
Ferreira Bueno (2003, p. 45) afirma que o risco legal refere-se ao risco de
perdas referentes a falhas em obedecer ou cumprir normas legais ou
regulamentares. Nele esto includos riscos de avaliaes errneas de ativos e
passivos, decorrentes de documentao inadequada ou incorreta e ainda de
problemas de adaptao s mudanas nas normas.
2.3 Crdito
A palavra crdito deriva do latim credere e significa acreditar, confiar, ou seja:
confiar que algum vai honrar seus compromissos para credor.
22
Segundo Assaf (2000, p. 99), Crdito diz respeito troca de bens presentes
por bens futuros. De um lado, uma empresa que concede crdito troca produtos por
uma promessa de pagamentos futuros. J uma empresa que obtm crdito recebe
produtos e assume o compromisso de efetuar o pagamento futuro.
Como pode ser observado, o conceito de crdito passa obrigatoriamente pela
palavra confiana. E ningum estar disposto a dar crdito a um desconhecido. Para
que se confiar nas pessoas precisa-se basicamente de duas coisas: tempo e
informao. Com os bancos no diferente, so necessrios dados para se efetuar
a anlise do cliente e chegar ao grau de risco que a instituio est disposta a
assumir com o devedor.
2.3.1 Os Cs do crdito
Segundo o Banco do Brasil (2001, p. 9), por orientao da Comisso de
Crdito da FEBRABAN, os bancos j aplicam como base primria para a concesso
de emprstimos e financiamentos os Cs do crdito. So as iniciais das palavras:
Condies, Carter, Capacidade, Capital, Conglomerado e Colateral:
a) Condies
Para o Banco do Brasil (2001, p. 9), As condies referem-se ao conjunto
dos fatores econmicos e sociais, que podem aumentar ou diminuir a vulnerabilidade
das empresas ou dos setores em que atuam os tomadores de crdito. Toda
empresa est envolvida em um sistema que sofre a influncia de diversas foras e
fatores. So exemplos as conjunturas nacional e internacional, o governo, o meio
23
ambiente, a concorrncia e at mesmo o ramo de atividade da empresa.
Normalmente as empresas tm pouca possibilidade de exercer influncia sobre
essas variveis, no entanto, as variveis podem influenciar decisivamente a
empresa, provocando impactos considerveis, tanto positivos quanto negativos.
b) Carter
O carter est relacionado inteno e determinao do tomador de crdito
de honrar ou no os compromissos assumidos. Na avaliao do carter do
proponente, podem ser utilizados dados histricos de pagamentos relativos a outras
dvidas assumidas anteriormente, alm da existncia de causas judiciais pendentes
(BANCO DO BRASIL, 2001, p.10). O carter um dos mais importantes elementos
de uma anlise de crdito; se ele for colocado em dvida, comum suspender-se
imediatamente o estudo da proposta.
c) Capacidade
De acordo com SERASA (2004), capacidade a habilidade, competncia
empresarial ou profissional do proponente, bem como o seu potencial de gesto,
produo e comercializao. No caso especifico de pessoa fsica, consiste nas
qualidades e competncias do indivduo em gerir sua vida pessoal e profissional.
24
d) Capital
A anlise de crdito do Capital diz respeito situao econmica, financeira e
patrimonial do cliente (SERASA, 2004). Quando se tratar de pessoas jurdicas, a
anlise do capital envolver diversos aspectos: anlise de ndices, anlise dinmica,
evoluo patrimonial, anlise de fluxo de caixa, etc.
e) Conglomerado
Refere-se anlise conjunta para empresas participantes do mesmo grupo
econmico. No basta conhecer a situao da empresa, necessria a anlise da
controladora, de suas controladas, interligadas e coligadas.
f) Colateral
De acordo com Ferreira Bueno (2003, p. 69), colateral diz respeito s
garantias que o proponente de crdito tem condies de oferecer para assegurar o
cumprimento da obrigao de acordo com o pactuado. Mas o item colateral
considerado apenas como um complemento anlise de crdito e no deve
influenciar a definio do risco do cliente.
25
2.4 A importncia da Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa nas
instituies financeiras.
Segundo Niyama e Gomes (2000, p. 75), A constituio de proviso para
crditos de liquidao duvidosa representa, em qualquer empresa, uma estimativa
de perda provvel dos crditos, em ateno aos Princpios Fundamentais de
Contabilidade.
De acordo com o Banco do Brasil (2001, p.4), A Proviso para crditos de
Liquidao Duvidosa destina-se a cobrir perdas futuras da carteira. realizada com
base na estimativa de crditos passveis de no recebimento.
A Proviso nada mais que uma reteno de recursos prprios visando cobrir
perdas que j so esperadas para o futuro, assegurando a estabilidade e a
continuidade das atividades da empresa. Tais afirmaes referem-se,
principalmente, aos princpios da Prudncia, Competncia e Continuidade (CFC,
750/93).
O Principio da Prudncia determina a adoo do menor valor para os
componentes do Ativo e do maior valor para os componentes do Passivo, sempre
que se apresentarem alternativas igualmente vlidas para as quantificaes das
mutaes patrimoniais.
O Princpio da Competncia deve ser observado sempre que um componente
deixa de integrar o patrimnio, com isso modificando o Patrimnio Liquido. muito
importante observar que esta modificao est relacionada ao reconhecimento das
receitas geradas e das despesas incorridas e no necessariamente a recebimentos
ou pagamentos efetivos.
26
A Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa registrada em conta
retificadora do Ativo Circulante ou Realizvel a Longo Prazo e representa, para os
bancos, uma reserva financeira para evitar que possveis perdas em ativos
operacionais causem abalos sade da empresa. Alm disso, a proviso interfere
no resultado financeiro e influencia a qualidade da carteira para o mercado.
Considerando que o principal negcio dos bancos a intermediao
financeira e que para se trabalhar num mercado to acirrado necessrio ter uma
boa reputao e credibilidade, pode-se perceber a real importncia de se quantificar
com preciso o nvel de risco a que esto expostos os ativos da instituio.
A legislao fiscal brasileira (Lei 9.430/96) admite, com restries, a
dedutibilidade das perdas havidas com crditos, desde que atendidas uma das
condies abaixo:
a) em relao aos quais tenha havido a declarao de insolvncia do
devedor, em sentena emanada do Poder Judicirio;
b) sem garantia, de valor:
- at R$ 5.000,00 por operao, vencidos h mais de 6 meses
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o
recebimento;
- de R$ 5.000,01 a R$ 30.000,00 vencidos h mais de 1 ano,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o
recebimento;
- de valor superior a R$ 30.000,00, vencidos h mais de 1 ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o
recebimento;
27
c) com garantia, independentemente do valor, vencidos h mais de 2 anos,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o
recebimento ou o arresto das garantias;
d) crditos habilitados contra devedores falidos;
e) crditos habilitados contra pessoa jurdica declarada concordatria,
relativamente parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar; caso haja uma parcela do crdito cujo
compromisso no tenha sido honrado pela empresa concordatria,
observam-se as condies previstas nas alneas b ou c precedentes.
So considerados garantidos os crditos lastreados pelas seguintes espcies
de garantias:
- hipoteca;
- penhor;
- alienao fiduciria;
- venda com reserva de domnio;
- cauo de ttulos;
- anticrese.
No ser permitida a deduo de perda no recebimento de crditos com
pessoa jurdica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como
pessoa fsica que seja acionista controlador, scio, titular ou administrador da
pessoa jurdica credora ou parente at terceiro grau dessas pessoas fsicas.
Todas essas condies no impedem que a instituio bancria estabelea a
Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa de acordo com os critrios tcnicos
j mencionados, apenas ajustando o seu lucro quando for calcular o Imposto de
Renda, em cumprimento s regras fiscais.
28
3 ESTUDO DE CASO
O principal objetivo deste captulo inserir o leitor no contexto em que se
encontram as instituies financeiras no que se refere correta constituio da
Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa
. Para isso, traada uma linha de
tempo trazendo a evoluo ocorrida a partir da resoluo CMN/BACEN n 1748, de
1990 at a Resoluo CMN/BACEN n 2682, de 1999 (esta em utilizao at os dias
atuais).
Em seguida so mostrados os reflexos desta evoluo em uma carteira real
de ativos para se chegar s concluses pretendidas.
3.1 Apresentao da carteira objeto do estudo de caso
Os bancos so empresas que sofrem mudanas com muita rapidez. A cada
dia vrias contas so abertas e outras tantas so encerradas. Nestes ltimos 15
anos, muitos dos clientes que pertenciam a uma determinada carteira de crditos j
devem ter encerrado sua conta assim como muitas contas novas devem ter sido
abertas no mesmo perodo.
Num ambiente com muitas mudanas, fica impraticvel tentar traar um
comparativo pois, alm dos valores passados no corresponderem aos atuais, os
clientes tambm so muito diferentes. Para termos uma base confivel de
comparao, vamos supor que os clientes e os valores utilizados neste comparativo
sejam os mesmos hoje e na poca passada. Assim, os valores atuais sero
aplicados norma anterior para compor a situao passada.
Doravante mencionada como PCLD.
29
Neste estudo de caso, sero utilizados os dados de uma carteira de crditos
de Pessoa Fsica do Banco do Brasil no ms de janeiro de 2005. No intuito de tornar
mais fcil a compreenso deste trabalho, inicia-se com as regras de
aprovisionamento anteriores e em seguida estuda-se a situao atual.
3.1.1 Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa - Legislao anterior
(BRASIL, 1990)
Conforme Niyama e Gomes (2000, p. 79-80), a resoluo CMN/BACEN n
1.748, de 30/08/1990, estabelecia critrios para a constituio da PCLD, que incidia
sobre operaes vencidas ou ajuizadas, variando percentualmente de acordo com a
existncia ou no de garantias e de acordo com o tempo de atraso das mesmas. A
constituio de provises era vinculada somente inadimplncia das operaes.
Segundo a mesma Resoluo, a proviso era constituda somente sobre
operaes vencidas e era registrada nas contas de crditos em liquidao ou
crditos em atraso. As principais regras para a contabilizao nas contas crditos
em liquidao e crditos em atraso eram:
a) Transferncia para Crditos em Liquidao
A transferncia para Crditos em Liquidao deveria ser efetuada pela
totalidade da operao, inclusive parcelas vincendas, abrangendo todas as
obrigaes do mesmo devedor, facultando-se a manuteno em contas de origem,
de outras operaes vincendas, desde que amparadas por garantias suficientes
para a cobertura dos respectivos saldos devedores atualizados.
30
Os prazos estabelecidos para transferncia de crditos normais para Crditos
em Liquidao eram os seguintes:
I - Transferncia imediata:
crditos titulados por empresas importadoras que, na data pactuada para
liquidao da operao de cmbio, no contassem com fundos suficientes para
acolhimento do dbito em conta corrente;
financiamentos de valores mobilirios no liquidados cujas garantias, a
juzo das instituies, fossem consideradas insuficientes para a cobertura do saldo
devedor atualizado;
outros crditos em favor dos quais tivesse sido efetivada medida judicial,
visando protesto ou outra ao semelhante, excetuando-se as operaes parcial ou
totalmente amparadas por garantias;
crditos titulados por empresas sob regime falimentar ou em liquidao
extrajudicial, com ou sem garantias;
outros crditos de difcil liquidao, que pudessem ser efetivamente
comprovados como em curso anormal pelas instituies perante o Banco Central ou
a critrio deste.
II - Transferncia aps decorridos 20 dias:
adiantamentos sobre contratos de cmbio, decorridos 20 dias do prazo
previsto para a entrega dos documentos.
31
III - Transferncia aps 30 dias:
adiantamentos sobre contratos de cmbio, decorridos 30 dias do prazo
para liquidao do contrato (na hiptese de a instituio no ter optado pela
transferncia prevista no item anterior);
saldos devedores de contas correntes de clientes, resultantes de
negociao e intermediao de ttulos e valores mobilirios no liquidados e sem
garantias, contados da data da ocorrncia.
IV - Transferncia aps 60 dias:
adiantamentos a depositantes, aps decorridos 60 dias da sua ocorrncia;
outros crditos sem garantias, aps decorridos 60 dias.
V - Transferncia aps 90 dias:
crditos decorrentes de operaes de cmbio de importao, lanadas a
dbito da conta devedores diversos Pas ou devedores por crditos liquidados
no exterior, na forma da regulamentao vigente, caso o pagamento no se
efetivasse at 90 dias contados do respectivo lanamento.
32
VI - Transferncia aps 180 dias:
outros crditos, vencidos h mais de 180 dias, com garantias que, a juzo
das instituies ou a critrio do Banco Central, fossem consideradas insuficientes
para a cobertura do saldo devedor atualizado.
VII - Transferncia aps 360 dias:
outros crditos, vencidos h mais de 360 dias, com garantias que, a juzo
das instituies, fossem consideradas suficientes para a cobertura do saldo devedor
atualizado.
b) Transferncia para Crditos em Atraso
Respeitadas as condies de transferncia para as contas de Crditos em
Liquidao, as operaes vencidas h mais de 60 dias deviam ser reclassificadas,
pelo valor atualizado, para as contas de crditos em atraso.
c) O Clculo da PCLD
Em cada balancete mensal ou semestral, a Proviso para Crditos de
Liquidao Duvidosa no poderia ser inferior ao somatrio decorrente da aplicao
dos seguintes percentuais:
33
I - 20% sobre as operaes amparadas por garantias que, a juzo das
instituies, fossem consideradas suficientes para a cobertura do saldo devedor
atualizado, registradas em Contas em Atraso;
II - 50% sobre as operaes amparadas por garantias que, a juzo das
instituies ou a critrio do Banco Central do Brasil, no fossem consideradas
suficientes para a cobertura do saldo devedor atualizado, registradas em Contas em
Atraso;
III - 100% dos crditos em contas de Crditos em Liquidao.
3.1.2 Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa Legislao atual
(BRASIL, 1999)
A resoluo CMN/BACEN n 2.682, de 21 de dezembro de 1999, veio para
substituir a resoluo CMN/BACEN n 1.748 e criou 9 nveis de risco e respectivos
percentuais a provisionar. A classificao do risco da operao fica a cargo da
instituio detentora do crdito e deve ser baseada em critrios consistentes e
verificveis, observando, no mnimo, os seguintes aspectos:
I Em relao ao devedor e seus garantidores:
a) situao econmico-financeira;
b) grau de endividamento;
c) capacidade de pagamento;
d) fluxo de caixa;
e) administrao e qualidade dos controles;
34
f) pontualidade e atraso nos pagamentos;
g) contingncias;
h) setor de atividade econmica;
i) limite de crdito.
II Em relao operao:
a) natureza e finalidade da transao;
b) caractersticas das garantias, particularmente a suficincia de liquidez;
c) valor.
Alm desses critrios, deve ser verificado, ao menos mensalmente, o nmero
de dias de atraso no pagamento dos compromissos e, no mnimo, a operao deve
ser classificada conforme a tabela:
Tabela 1: Anlise de nvel de risco e PCLD
Nvel de Risco PCLD N de Dias de Atraso
AA 0% Nenhum
A 0,5% Nenhum
B 1% 15 a 30 dias
C 3% 31 a 60 dias
D 10% 61 a 90 dias
E 30% 91 a 120 dias
F 50% 121 a 150 dias
G 70% 151 a 180 dias
H 100% Acima de 180 dias
Fonte: Adaptado da resoluo CMN 2.682/99
No caso especfico das operaes com prazo superior a 36 meses, aceita a
contagem em dobro dos prazos acima.
35
A classificao das operaes de um mesmo cliente deve ser definida
considerando a que apresentar o maior grau de risco (desde que ela represente ao
menos 1% do total de operaes do cliente). Isto , se um cliente tem vrias
operaes com risco A e apenas uma com risco D, esta arrasta todas as outras para
o risco D. Essa alterao de risco provocada por outras operaes conhecida
como efeito arrasto.
A proviso deve ser constituda sobre os valores dos crditos e lanada a
dbito da conta Despesas de Provises Operacionais e a crdito da conta de
proviso para operaes de crdito. No caso de excesso ou de insuficincia, so
efetuados os reajustes necessrios a dbito ou a crdito.
As operaes classificadas com risco H devem ser transferidas para a conta
de prejuzo aps decorridos 6 meses da sua classificao nesse nvel, no sendo
admitido o registro em perodo inferior. Essas operaes devem ser mantidas nessa
conta pelo prazo mnimo de 5 anos e enquanto no esgotados todos os
procedimentos de cobrana.
Ainda segundo o CMN/BACEN, as instituies devem manter documentao
atualizada de sua poltica e procedimentos para concesso e classificao de
operaes de crdito.
36
3.2 Comparativo prtico das resolues
Este tpico trata da aplicao das resolues em exemplos prticos e, para
um melhor entendimento, inicialmente ser tratado o provisionamento conforme a
norma atual e em seguida ser feita a comparao com a norma anterior.
a) O valor provisionado segundo a Resoluo CMN/BACEN n 2.682/99
Seguindo as normas atuais, a tabela de valores provisionados a ttulo de
Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa da carteira de crditos em estudo
fica assim:
Tabela 2: Valor provisionado Norma atual
RISCO VALOR REALIZADO % PROVISO PCLD
AA 0,00 0 0
A 246.222,76 0,5 1.231,11
B NORMAL 1.403.696,02 1 14.036,96
B VENCIDO 111,30 1 1,11
C NORMAL 721.174,64 3 21.635,24
C VENCIDO 3.768,00 3 113,04
D NORMAL 64.683,00 10 6.468,30
D VENCIDO 0,00 10 0,00
E NORMAL 30.229,60 30 9.068,88
E VENCIDO 0,00 30 0,00
F NORMAL 0,00 50 0,00
F VENCIDO 0,00 50 0,00
G NORMAL 0,00 70 0,00
G VENCIDO 5.437,60 70 3.806,32
H NORMAL 0,00 100 0,00
H VENCIDO 23.436,58 100 23.436,58
TOTAL 2.498.759,50 79.797,54
Fonte: Banco do Brasil S.A. - Janeiro/2005.
37
Os dados acima representam os valores provisionados aps aplicados os
critrios de classificao do Banco do Brasil e obedecendo tambm todas as
diretrizes antes mencionadas.
Como pode ser observado, os valores provisionados no vm apenas de
operaes vencidas mas inclusive das operaes normais, dependendo da faixa de
risco ocupada. Em relao aos crditos fornecidos, os valores provisionados
representam 3,19% do total.
Dando prosseguimento ao estudo, passa-se, agora, anlise da carteira
conforme a norma anterior para ser possvel traar um comparativo e demonstrar os
efeitos das alteraes na regulamentao.
b) O valor provisionado segundo a Resoluo CMN/BACEN n 1.748/90
Neste tpico, sero apresentados os valores totais empregados em
operaes na carteira objeto do presente estudo, tratando esses valores com base
na regulamentao da poca anterior, visando chegar ao montante provisionado a
ttulo de Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa h 15 anos.
Seguindo as normas da poca, os valores eram provisionados somente
quando ultrapassados 60 dias do vencimento, isto , os crditos vencidos,
equivalentes hoje ao Risco D. Como a carteira formada por crditos oferecidos a
Pessoa Fsica e nela constam poucos emprstimos com garantia real, considera-se
100% de todos os valores vencidos com risco D ou superior para buscar, utilizando o
princpio da prudncia, chegar ao valor mais prximo do real.
38
Levando em conta os critrios estabelecidos e tomando os dados da carteira
apresentada no exemplo anterior, chegamos a um valor provisionado mnimo
conforme a seguinte tabela:
Tabela 3: Valor Provisionado Norma anterior
RISCO VALOR REALIZADO PCLD
AA 0,00 0,00
A 246.222,76 0,00
B NORMAL 1.403.696,02 0,00
B VENCIDO 111,30 0,00
C NORMAL 721.174,64 0,00
C VENCIDO 3.768,00 0,00
D NORMAL 64.683,00 0,00
D VENCIDO 0,00 0,00
E NORMAL 30.229,60 0,00
E VENCIDO 0,00 0,00
F NORMAL 0,00 0,00
F VENCIDO 0,00 0,00
G NORMAL 0,00 0,00
G VENCIDO 5.437,60 5.437,60
H NORMAL 0,00 0,00
H VENCIDO 23.436,58 23.436,58
TOTAL 2.498.759,50 28.874,18
Fonte: Adaptado de Banco do Brasil S.A. Janeiro/2005.
Ao estabelecer procedimentos para a transferncia de operaes no
liquidadas no seu vencimento para contas de crditos em atraso e em liquidao, de
acordo com prazos, a resoluo delimitava o critrio de constituio da proviso por
um nico parmetro. O prazo de inadimplncia era determinado apenas pela
existncia ou no de garantias suficientes.
39
c) Resultado da comparao
Comparando as duas formas de constituio de PCLD, nota-se que os
valores no caso da norma anterior so muito inferiores, devido, principalmente, ao
carter reativo da antiga norma. Isto leva a crer que as instituies financeiras
ficavam muito mais propensas ao risco de falncia no caso do no recebimento dos
crditos.
Segundo Parente (2000, p. 3), Guardar relao direta com o atraso dos
pagamentos acabou por no abranger a totalidade das possveis origens do risco
nas atividades de crdito. O atraso mais que um indicativo de risco elevado, ele
tambm o sintoma que antecede uma perda efetiva.
As provises geralmente eram efetuadas aps ultrapassado o prazo de 60
dias de atraso, ou seja, a partir do momento em que os crditos realmente
apresentavam srias dificuldades de retorno.
Desta forma, as demonstraes contbeis da poca no representavam a
realidade das instituies em relao ao verdadeiro risco assumido quanto ao
fornecimento de crditos.
J no que diz respeito norma atual, nota-se que os valores provisionados
so muito superiores aos da regra anterior. Em percentuais temos que o valor atual
superior 176,36% ao valor calculado pela norma anterior.
A norma brasileira no determinou rigorosamente as caractersticas que um
crdito devia ter para ser classificado entre os riscos AA ou H. Esta foi a forma
encontrada de incentivar as instituies a desenvolverem mtodos prprios de
avaliao e classificao de risco.
40
No se baseando apenas em perodos de atraso, a nova sistemtica
demonstrou ser mais pr-ativa, levando a um aumento na confiabilidade das
demonstraes contbeis e possibilidade de melhor acompanhamento da liquidez
das instituies financeiras perante o Banco Central e o pblico em geral.
Resumidamente, pode-se traar o comparativo a seguir:
Quadro 1: Comparativo entre as normas
Resoluo 1.748/90 Resoluo 2.682/99
Classificao das Operaes
Operaes Vincendas
Operaes Vencidas
Crditos em liquidao
Nove nveis de risco ( de AA a H )
Fatores influentes na classificao de operaes
Nmero de dias de atraso
Garantias
Caractersticas devedor/garantidor,
Garantias
Caractersticas da operao
Provisionamento
Operaes Normais (sem
provisionamento)
Proviso conforme dias de atraso e
garantias
A partir da contratao, em funo da
classificao do risco da operao
Fonte: Banco do Brasil S.A.
3.3 Reflexos da Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa no resultado
de uma instituio financeira
Verificou-se, pois, que a Resoluo CMN/BACEN 2.682/99 instituiu uma
sistemtica quanto PCLD que a torna mais realista. Porm, se os dados forem
analisados com maior ateno, pode ser descoberto tanto um lado positivo quanto
um lado negativo no aumento da PCLD. Se por um lado as instituies financeiras
Este item uma anlise do autor, baseada em sua experincia profissional e na rotina bancaria.
41
esto mais seguras no caso de no recebimento dos crditos fornecidos, por outro
lado existe uma interferncia no lucro motivada pelos valores provisionados.
Ao serem provisionados tendo em contrapartida contas de despesa, os
valores contabilizados como PCLD interferem diretamente no resultado da
instituio, causando uma diminuio no resultado da empresa naquele perodo.
Posteriormente, havendo reverso, o resultado ser maior e o lucro tambm.
3.3.1 Fatores que provocam a diminuio do resultado
a) tomada de emprstimo por parte do cliente: a proviso constituda no ato de
formalizar a operao de crdito, em percentuais do valor total pactuado, conforme a
anlise do risco da mesma e do cliente;
b) vencimento do limite de crdito: os crditos rotativos (cheque especial, carto
de crdito, etc) tm previsto em seus contratos o vencimento normal, e antecipado
em caso de descumprimento de clusulas contratuais. Quando vencidos, os limites
de crditos assumem nvel de risco maior e aumentam a PCLD;
c) atraso de operaes: a classificao das operaes determina o aumento do
risco conforme o maior nmero de dias de atraso, causando um consecutivo
incremento na PCLD;
d) ocorrncia de adiantamento a depositantes: adiantamento a depositantes a
ocorrncia de saldo devedor em conta corrente sem limite de crdito contratado.
Quando ocorre, aumenta o nvel de risco da operao e de todas as demais
operaes do cliente.
42
Todas as ocorrncias citadas acima podem aumentar o risco de outras
operaes do mesmo cliente e com isso arrastar todas elas para um nvel pior. O
acrscimo na PCLD promove uma diminuio do resultado da instituio.
3.3.2 Fatores que provocam o aumento do resultado
a) pagamento parcial ou total da operao: quando ocorrem os pagamentos
parciais ou totais dos saldos da operao, proporcionalmente so revertidos os
valores provisionados, influenciando positivamente o resultado;
b) regularizao de limite de crdito vencido: quando regularizado o limite de
crdito, ocorre o inverso do impacto do vencimento. Alm da reverso dos valores
provisionados, a operao retorna ao nvel de risco original, reduzindo os valores de
PCLD;
c) regularizao de operao em atraso: reverte os valores provisionados e a
operao retorna ao nvel de risco original, influenciando positivamente o resultado;
d) regularizao de adiantamento a depositante: causa a reverso dos valores
provisionados e a operao retorna ao nvel de risco original, diminuindo os valores
da PCLD.
No caso de alguma operao das descritas acima tiver arrastado outra para
seu nvel de risco, quando da regularizao ocorre o inverso: todas as operaes
voltam ao nvel de risco original. O nvel de risco de todas as operaes do cliente
sempre ser o pior dos riscos de todas as suas operaes.
43
3.3.3 Qual a melhor soluo?
Se fosse possvel olhar apenas o lado do cliente tomador de crditos, seria
muito fcil achar uma soluo para agrad-lo: bastaria baixar as taxas de juros e
diminuir a burocracia na obteno dos emprstimos.
Como os bancos no mercado globalizado so instituies muito visadas pelos
investidores, o grande desafio manter um padro de provisionamentos no to
grande que diminua muito suas possibilidades de obter lucro e nem to pequena que
no garanta a solidez da empresa. Isto j no uma coisa muito fcil de se
conseguir. O investidor, principalmente o acionista, quer aplicar seu capital numa
empresa segura, mas que tambm seja lucrativa. E como se v, segurana e
lucratividade seguem caminhos opostos.
Desde antes da contratao das operaes, so diversas as situaes que
devem ser avaliadas pelos administradores no gerenciamento da PCLD. A
habilidade em determinar os nveis de risco que a instituio aceita enfrentar que
vai definir o bom administrador. Este deve observar a carteira de crditos como um
todo e no apenas como operaes isoladas. Dentro de uma mesma carteira de
crditos podem existir operaes com um maior risco e conseqentemente maior
retorno e tambm operaes mais conservadoras, com menor lucratividade. Parece
que a chave para se obter os melhores retornos minimizando os riscos diversificar
as operaes.
O que o banco deve fazer, ento, se precaver ao mximo quanto ao risco
de no receber os valores. Isto pode ser feito atravs de uma anlise cuidadosa dos
devedores e somente emprestar a quem de fato vai pagar. Uma boa sada, muito
utilizada hoje em dia, o emprstimo em consignao em folha de pagamento. Ele
44
tem juros menores para o tomador e garantia maior para o cedente e, devido ao
risco muito remoto de no recebimento, sua classificao de risco das melhores
possveis, diminuindo assim os valores totais da PCLD.
Com as novas regras estabelecidas pela resoluo CMN/BACEN 2.682/99,
passou a ser bem mais delicado administrar uma carteira de crditos. J que a
intermediao financeira a principal forma de sobrevivncia das instituies
financeiras, o grande desafio a ser vencido pelos administradores encontrar o
equilbrio entre buscar o maior retorno possvel dos capitais emprestados e correr
um nvel de risco aceitvel.
45
4 REFLEXES FINAIS
Neste trabalho primeiramente foi levantado material para tornar possvel a
introduo do leitor no ambiente da concesso de crditos, especialmente visando
ao mercado de Pessoa Fsica.
Foi demonstrada a evoluo, nos ltimos 15 anos, da regulamentao
brasileira sobre o assunto e traado um comparativo entre as resolues
CMN/BACEN n 1.748/90 e 2.682/99.
A Resoluo 1.748/90 utilizava como critrio nico para a Proviso para
Crditos de Liquidao Duvidosa os prazos de inadimplncia, com base apenas na
existncia ou no de garantias. J a Resoluo 2.682/99, alm de criar 9 nveis de
Risco de Crdito, informa ser necessrio analisar muitos outros fatores a respeito
dos devedores e de seus coobrigados. Na prtica, esta nova sistemtica procurou
criar uma nova cultura de crdito, estabelecendo critrios mais conservadores para
manter a liquidez das instituies financeiras e fortalecer o Sistema Financeiro
Nacional.
Quando foi utilizada a base terica num exemplo prtico, vimos, na
comparao entre a norma antiga e a nova, uma elevao dos valores provisionados
de R$ 28.874,18 para R$ 79.797,54; ou seja, um incremento de 176,36%. A nova
regulamentao determinou o aprovisionamento de R$ 51.209,38 sobre operaes
em situao de normalidade, evidenciando que sobre elas tambm havia risco de
no retorno.
Isto vem deixando mais clara para os usurios de informaes contbeis,
tanto internos quanto externos, a real situao das instituies financeiras. A
diferena entre os valores do pargrafo anterior, segundo a norma antiga, podia ser
46
utilizada pela instituio na distribuio de lucros e talvez, no futuro, tais valores no
retornassem devido inadimplncia, descapitalizando ou expondo ao risco de
falncia a instituio.
Alm de esclarecer os clientes, a maior clareza e transparncia das
demonstraes contbeis tambm permite um melhor acompanhamento e
fiscalizao pelo Banco Central do Brasil, rgo responsvel pelas organizaes
financeiras.
Por fim, acredita-se que esta nova cultura trazida pela Resoluo
CMN/BACEN n 2.682/99, sendo muito mais rigorosa, deva levar todo o mercado
financeiro a um futuro de maior solidez e segurana, fatores que com certeza
contribuiro para o desenvolvimento do pas.
47
5 REFERNCIAS
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. So Paulo: Atlas, 2000.
BANCO DO BRASIL. Diretoria de Crdito do. Curso Bsico de Finanas. Braslia,
2002.
_________________. Diretoria de Crdito do. Qualidade de Crdito Crdito e
Risco. Braslia, 2001.
_________________. Diretoria de Crdito do. Qualidade do Crdito Conduo e
Gerenciamento do Crdito. Braslia, 2001.
BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS-BIS. Core Principles for Effective
Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervision. Basel,1997.
BRASIL. Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964. Dispe sobre a formao do
sistema financeiro nacional.
______. Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996. Dispe sobre a tributao de pessoa
jurdica.
______. Banco Central. Resoluo n 1.748, de 30 de agosto de 1990. Banco
Central do Brasil. Braslia. DF. Disponvel em: <http:www.bcb.gov.br>. Acesso em:
14 mar. 2005.
______. Banco Central. Resoluo n 2.554, de 24 de setembro de 1998. Banco
Central do Brasil. Braslia. DF. Disponvel em: <http:www.bcb.gov.br>. Acesso em:
14 mar. 2005.
______. Banco Central. Resoluo n 2.682, de 21 de dezembro de 1999. Banco
Central do Brasil. Braslia. DF. Disponvel em: <http:www.bcb.gov.br>. Acesso em:
14 mar. 2005.
48
______.Conselho Federal de Contabilidade/CFC. Resoluo n 750, de 29 de
dezembro de 1993. Dispe sobre os princpios fundamentais de contabilidade.
Braslia. DF. Disponvel em: <http:www.cfc.org.Br>. Acesso em 14 mar. 2005.
FERREIRA BUENO, Valmor de Ftima. Avaliao de Risco na Concesso de
Crdito Bancrio para Micros e Pequenas Empresas. Dissertao (Mestrado em
Engenharia de Produo) Curso de Ps-Graduao em Engenharia de Produo,
UFSC, Florianpolis, 2003.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3.ed. So Paulo: Atlas,
1991.
NIYAMA, Jorge Katsumi; GOMES, Amaro Oliveira. Contabilidade de instituies
financeiras. So Paulo: Atlas, 2000.
PARENTE, Guilherme Gonzalez Cronemberger. As Novas Normas de Classificao
de Crdito e o Disclosure das Provises. Braslia, 2000. Disponvel em:
<http:www.bcb.gov.br>. Acesso em: 14 mar. 2005.
SERASA. Centralizao de Servio do Bancos S.A. Disponvel em:
<http:www.serasa.com.br>. Acesso em: 14 mar. 2005.
SILVA, Dairo Lacerda da. Adequao da Proviso para Crditos de Liquidao
Duvidosa.Dissertao (Mestrado em Gesto Econmica de Negcios) Programa
de Ps-Graduao em Economia, UNB, Braslia,2003.
VICENTE, Ernesto Fernando Rodrigues. A Estimativa do Risco na Constituio da
PDD. Dissertao (Mestrado em Contabilidade) Curso de Ps-Graduao em
Contabilidade, USP, So Paulo, 2001.
49
ANEXOS
Anexo A
RESOLUO 1748
Altera e consolida critrios para inscrio de
valores nas contas e crditos em liquidao e
proviso para crditos de liquidao duvidosa.
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da lei n.4.595, de
31.12.64, torna publico que o CONSELHO MONETARIO NACIONAL, em sesso
realizada em 29.08.90, com base nas disposies do art.4., incisos VI e XI e XII, da
citada lei,
RESOLVEU:
Art. 1. Determinar que os Bancos Mltiplos, Bancos Comerciais, Bancos de
Desenvolvimento, Bancos de Investimentos, Sociedades de Credito, Financiamento
e Investimento, Sociedades de Arrendamento Mercantil, Sociedades Corretoras e
Sociedades Distribuidoras de Ttulos e Valores Mobilirios, Sociedades de Credito
Imobilirio, Caixas Econmicas, Associaes de poupana e emprstimos e
cooperativas de credito transfiram para as contas de crditos em liquidao os
seguintes crditos considerados de difcil liquidao:
I - Adiantamentos a depositantes, aps decorridos 60 (sessenta) dias da data
da ocorrncia;
II - Adiantamentos sobre contratos de Cambio, aps decorridos 20 (vinte) dias
do prazo previsto para entrega de documentos ou aps decorridos 30 (trinta) dias do
prazo previsto para liquidao do contrato de Cambio respectivo;
III - Decorrentes de operaes de Cambio de importao, liquidadas a debito
das contas DEVEDORES DIVERSOS - PAIS ou DEVEDORES POR CREDITOS
LIQUIDADOS NO EXTERIOR, na forma da regulamentao vigente, caso o
pagamento no se efetive ate 90 (noventa) dias contados do respectivo lanamento;
IV - Titulados por Empresas Importadoras que, na data pactuada para a
liquidao da operao de Cambio,no contem com fundos suficiente para o
acolhimento do debito em conta corrente, quando no utilizada a sistemtica referida
no item anterior;
50
V - Saldos devedores de contas correntes de clientes, resultantes de
negociao e intermediao de ttulos e valores mobilirios, no liquidados no prazo
de 30 ( trinta) dias da ocorrncia, sem garantias;
VI - Financiamento de valores mobilirios, no liquidados no prazo de 30
(trinta) dias do vencimento, cujas garantias, a juzo das instituies, sejam
consideradas insuficientes a cobertura do saldo devedor atualizado;
VII - Titulados por empresas sob regime falimentar ou em liquidao
extrajudicial, com ou sem garantias;
VIII - Outros crditos, observando-se as seguintes condies:
A- Vencidos, h mais de 60 (sessenta) dias, sem garantias;
B- Vencidos, h mais de 180 ( cento e oitenta ) dias, com garantias que, a
juzo das instituies ou a critrio do Banco Central do Brasil, sejam
consideradas insuficientes a cobertura do saldo devedor atualizado;
C- Vencidos, h mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, com garantias que,
a juzo das instituies, sejam consideradas suficientes a cobertura do
saldo devedor atualizado;
D- Em favor dos quais tenha sido fetivada medida judicial, visando protesto
ou outra semelhante, excetuando-se as operaes parcial ou total mente
amparadas por garantias, as quais observaro o contido nas alneas B e
C anteriores;
IX - Outros crditos de difcil liquidao, que possam ser efetivamente
comprovados pelas instituies perante o Banco Central do Brasil ou a critrio deste.
Art. 2. Os crditos referidos nas alneas B e C item VIII do artigo anterior
podero, a critrio das instituies ou Banco Central do Brasil, ser transferidos para
as Contas de crditos e liquidao, antes dos prazos ali estabelecidos, desde que
vencidos h mais de 60 (sessenta) dias.
Pargrafo nico.O Banco central do Brasil poder solicitar das instituies, se
for o caso, para as operaes transferidas na forma deste artigo, justificativas que
comprovem a condio de crditos de difcil liquidao.
Art. 3. A transferncia para as contas de crditos em liquidao devera ser
feita pela totalidade da operao, inclusive parcelas vincendas, abrangendo todas as
obrigaes do mesmo devedor, facultando - se a manuteno, em contas de origem,
de outras operaes vincendas, amparadas por garantias suficiente a cobertura dos
respectivos saldos devedores atualizados.
Art. 4. As instituies ficam obrigadas a tomar medidas judiciais visando
penhora, protesto ou outra semelhante para as operaes ou parcelas vencidas, de
51
responsabilidade do setor privado, no prazo Maximo de 180 (cento e oitenta) dias
dos respectivos vencimentos, independentemente de contarem ou no com
garantias, a exceo de:
I - Adiantamentos a depositantes e adiantamentos sobre contratos de
cambio, bem como crditos decorrentes das operaes indicadas nos itens III e IV
do art. 1. Desta resoluo, cujo prazo Maximo ser de 30 (trinta) dias, a contar da
data da inscrio em contas de crditos em liquidao;
II - Crditos cujos saldos devedores atualizados no ultrapassem o montante
correspondente a 2.000 (dois mil) bnus do Tesouro Nacional.
Art. 5. Respeitadas as condies de transferncia para as contas de credito
em liquidao, as operaes e / ou parcelas vencidas h mais de 60 (sessenta) dias
devero reclassificadas, pelo valor atualizado, para titulo contbil adequado,
representativo de crditos em atraso, pela totalidade da operao, segregando-se as
de responsabilidade do setor privado e do setor publico.
Pargrafo nico. A transferncia de operaes para contas de crditos em
atraso ou crditos em liquidao devera ser efetuada no transcorrer do semestre, to
logo os crditos renam condies para tal e no apenas por ocasio dos balanos
semestrais.
Art. 6. A partir de 02.01.91, a apropriao dos encargos sobre operaes
registradas em contas em atraso observara as seguintes condies:
I - Durante o perodo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da
transferncia, o registro dos encargos em contas de rendas efetivas, inclusive no
operaes prefixadas com rendas ainda no apropriadas integralmente, ficara
limitada ao mesmo ndice utilizado no perodo para correo monetria patrimonial,
lanando-se o diferencial, se houver, em contas de rendas a apropriar;
II - Aps o termino daquele perodo, o registro dos encargos far-se- em
contrapartida com contas de rendas a apropriar, inclusive quando registradas em
contas de crditos em liquidao;
III - As rendas a apropriar, prevista nos itens I e II anteriores, somente
podero ser reconhecidas como receita efetiva quando do seu recebimento.
Art. 7. Tratando-se de crditos decorrentes de financiamento habitacionais ou
de agencias de desenvolvimento, com prazo superior a 36 (trinta e seis) meses,
admite-se a reclassificao, para crditos em atraso, apenas das parcelas vencidas.
Pargrafo nico. Consideram-se repasses de agencias de desenvolvimento
as operaes realizadas na qualidade de agente financeiro repassador de recursos
de instituies e rgos oficiais e fundos financeiros e de desenvolvimento, com
destinao especifica.
52
Art. 8. As instituies que, a partir de 02.01.91, renovarem operaes de
credito de difcil ou duvidosa liquidao, por composio de divida, com a
incorporao dos respectivos encargos, devero:
I - Registrar, em rendas a apropriar, os encargos incorporados no ato da
renovao ou renegociao e os que forem registrados na forma do art.6. Desta
resoluo, que somente podero ser reconhecidos como rendas efetivas por ocasio
dos respectivos recebimentos;
II-A partir da celebrao do contrato de composio de divida, as rendas
devero ser apropriadas em receitas efetivas, observada a periodicidade mensal;
Pargrafo 1. Relativamente aos crditos baixados como prejuzo, as
instituies devero registrar o principal atualizado, desde a data da baixa, em
contas de receita efetiva, e os respectivos encargos, objeto da composio de
divida, em rendas a apropriar, que sero reconhecidos como receita efetiva, quando
dos respectivos recebimentos;
Pargrafo 2. A partir da celebrao do contrato mencionado no pargrafo
anterior, as rendas devero ser apropriadas em receitas efetivas, observada a
periodicidade mensal.
Art. 9. Em cada balancete mensal ou balano semestral, a proviso para
crditos de liquidao duvidosa no poder ser inferior ao somatrio decorrente da
aplicao dos percentuais a seguir mencionados, incidentes sobre o valor dos
crditos atualizados seguindo as normas contbeis em vigor, sem prejuzo da
responsabilidade dos administradores das instituies pela constituio de proviso
em montantes suficientes para fazer face a perdas provveis na realizao dos
crditos:
I - 20% (vinte por cento) sobre as operaes aparadas por garantias que, a
juzo das instituies, sejam consideradas suficientes cobertura do saldo devedor
atualizado, registradas em contas em atraso;
II - 50% (cinqenta por cento) sobre as operaes amparadas por garantias
que, a juzo das instituies ou a critrio do Banco Central do Brasil, no sejam
consideradas suficientes cobertura do saldo devedor atualizado, registradas em
contas em atraso;
III - 100% (cem por cento) dos crditos inscritos em contas de crditos em
liquidao.
Pargrafo nico. Os crditos a serem computados na base de calculo da
proviso para crditos de liquidao duvidosa so os inscritos nos subgrupos,
desdobramentos de subgrupos, ttulos e subttulos integrantes do plano contbil
das instituies do Sistema Financeiro Nacional-COSIF, constantes do quadro anexo
a esta resoluo, considerados pelo seu valor presente.
Art. 10. A diferena entre o montante da proviso, apurado segundo as
disposies desta resoluo, e o obtido na forma do art. 9 da resoluo n. 1.675, de
53
21.12.89, devera ser eliminada, podendo, opcionalmente, ser observados os
seguintes percentuais mnimos e cumulativos, cabendo a instituio manter a
disposio Banco Central as respectivas planilhas de calculo e controle:
I - 4% (quatro por cento) em cada um dos balancetes de 30.11.90;
II - 10% (dez por cento) no balano de 31.12.90;
III - 6% (seis por cento) em cada um dos balancetes de 31.01.91 a 30.11.91;
IV - 12% (doze por cento) no balano de 31.12.91.
Pargrafo nico. As instituies que se utilizarem da faculdade prevista neste
artigo devero inserir nota explicativa nas demonstraes financeiras pbicas,
esclarecendo os critrios adotados para constituio da proviso, inclusive fazendo
referencia as diferenas a serem eliminadas.
Art. 11. Observadas as condies abaixo, podero ser debitados a proviso
os crditos:
I - Vencidos, que no tenham condies de recebimento, aps decorridos, no
mnimo, 180 (cento e oitenta) dias da data de transferncia para as contas de
crditos em liquidao; ou
II - Ajuizados, aps esgotados os meios usuais e normais de cobrana
judicial; ou
III - Cujos saldos devedores atualizados no ultrapassem o montante
correspondente a 2.000 (dois mil) bnus do tesouro nacional, aps decorridos 180
(cento e oitenta) dias dos respectivos vencimentos.
Art. 12. Entendem-se como cobertas por garantias as operaes amparadas
por:
I Cauo de duplicatas vincendas e aceitas, assim consideradas, tambm,
aquelas remetidas aos sacados e que no tenha sido objeto de contestao, ou de
qualquer outro direito de crditos resultantes de vendas de mercadorias ou de
prestao de servios, desde que tais ttulos no sejam de emisso ou aceite de
empresas ligadas ao financiado;
II Cauo de ttulos de emisso, aceite ou coobrigao de instituies
financeiras no ligadas ao credor e que no se encontrem em regime especial (lei n.
6.024, de 13.03.74), bem como de ttulos admitidos no sistema especial de
liquidao e custdia SELIC;
III Cauo de aes negociadas em bolsas de valores e de debntures
registradas na comisso de valores imobilirios, estas de emisso de empresas no
ligadas, direta ou indiretamente, ao credor/devedor, sendo que as nominativas
devero estar registradas no livro de aes nominativas e as escriturais na
respectiva entidade depositante/custodiante;
54
IV Cauo de documentos representativos de depsito de mercadorias de
fcil venda no mercado e no perecveis (warrant), com juntada do respectivo
conhecimento de depsito em laudo descritivo resultante de fiscalizao realizada a
menos de 90 (noventa) dias;
V Fiana bancria, nacional ou estrangeira, desde que prestada por
instituio devidamente habilitada, que no seja ligada ao devedor;
VI Hipoteca de imvel, respeitado qualquer direito de referncia de outros
credores;
VII Penhor industrial e mercantil, regularmente constitudo, com observncia
de todas as formalidades legais aplicveis, cujos bens penhorados estejam
perfeitamente identificados e caracterizados, inclusive cobertos por seguro;
VIII Alienao fiduciria, revestida de todas as formalidades legais previstas
no art. 66 da lei n. 4.728, de 11.07.65, alterado pelo art. 1 do decreto-lei n. 911 de
01.10.69;
IX Cauo ou cesso de direitos creditrios referentes ao fundo de
participao dos estados e do distrito federal e fundo de participao dos municpios,
desde que conste, do instrumento contratual, expressa interveniencia do Banco do
Brasil S.A., que receber confirmao irrevogvel para reter e repassar ao credor as
cotas partes correspondentes daqueles fundos;
X Cauo, autorizada por lei de ICMS a ser recolhido, desde que conste, do
instrumento contratual, expressa interveniencia do agente financeiro estadual
respectivo para reter e repassar ao credor as cotas partes correspondentes daqueles
tributos;
XI Aplice de seguro de crdito de exportao, em nome da entidade
beneficiria, satisfeitas as condies previstas naquele documento;
XII Bens arrendados, decorrentes de contratos de arrendamento mercantil;
XIII Aval de terceiros que, comprovadamente, disponham de bens que
possam ser objeto de arresto ou penhora em valor suficiente a cobertura do saldo
devedor atualizado.
Pargrafo 1: Na hiptese de garantia representada por hipoteca, ser exigido
que:
A A propriedade do respectivo imvel seja certificada por escritura definitiva,
inscrita no cartrio de registro de imveis;
B O imvel conte com laudo de avaliao elaborado por perito ou empresa, cujo
nome tenha sido aprovado formalmente em reunio da diretoria ou do conselho de
administrao, no se admitindo a simples correo monetria de valor apurado em
avaliao anterior, se promovida h mais de 360 (trezentos e sessenta) dias;
55
C No caso de o laudo ter sido firmado por empresa ligada ou setor especializado
da prpria instituio credora obedecidas as condicionantes do pargrafo 2. do art.
8. da lei n. 6.404, de 15.12.76 esta fique responsvel pela sua fidedignidade, para
todos os efeitos legais, inclusive com vistas ao disposto no art. 44, item I e pargrafo
1., da lei n. 4.595, de 31.12.64;
D Seja feita inscrio da hipoteca no cartrio de registro de imveis; e
E Quando se tratar de benfeitorias, estas devem ser cobertas por seguro, com
clusula em favor da instituio credora, exceto quando os imveis estejam
localizados em rea rural.
Pargrafo 2: A anlise da instituio, para efeito da classificao das
garantias, dever ser feita periodicamente, em prazos no superiores a 360
(trezentos e sessenta) dias, atravs de laudo, que poder ser elaborado por setor
especializado da prpria instituio, admitindo-se, nos intervalos, ajuste por correo
monetria.
Pargrafo 3: No caso de operaes relativas a financiamentos habitacionais,
garantidas por hipotecas de imveis, cobertas por seguro de crdito, ficar a critrio
das instituies a periodicidade adequada a elaborao do laudo de avaliao, em
prazos no superiores a 720 (setecentos e vinte) dias.
Art. 13. As instituies mantero registros analticos com informaes
completas sobre os crditos de liquidao duvidosa, inclusive com todos os
elementos que permitam a adequada avaliao do valor provvel de realizao, os
quais ficaro disposio do Banco Central do Brasil e do auditor independente.
Art. 14. O Banco Central do Brasil poder baixar normas complementares
necessrias ao cumprimento desta resoluo, podendo inclusive determinar:
I Providncias saneadoras a serem adotadas pelas instituies, com vistas
a assegurar a sua liquidez e adequada estrutura patrimonial;
II Alterao dos prazos de transferncia e dos percentuais para constituio
de proviso para crditos de liquidao duvidosa;
III Tipos de informaes e notas explicativas a serem contemplados nas
demonstraes financeiras;
IV Procedimentos e controles a serem adotados pelas instituies;
V Outros tipos de garantias admitidos do art.12 desta resoluo;
VI Tipos de crditos que serviro de base constituio da proviso para
crditos de liquidao duvidosa.
Art. 15. O descumprimento das normas consubstanciadas na presente
resoluo ser considerado falta grave, sujeitando as instituies e seus
56
administradores s penalidades previstas na legislao em vigor, em especial as do
art. 44. da lei n. 4.595, de 31.12.64.
Art. 16. Esta resoluo entra em vigor em 03.09.90, ressalvado o contido nos
arts. 6. e 8., quando sero revogadas a resoluo n. 1.675, de 21.12.89, e a circular
n. 1.559, de 22.12.89.
Braslia (DF), 30 de agosto de 1990.
Ibrahim Eris
Presidente
57
Anexo B
RESOLUCAO 2.682
Dispe sobre critrios de classificao
das operaes de credito e regras para
constituio de proviso para crditos
de liquidao duvidosa.
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei n. 4.595, de
31 de dezembro de 1964, torna publico que o CONSELHO MONETARIO
NACIONAL, em sesso realizada em 21 de dezembro de 1999, com base no art.
4., incisos XI e XII, da citada Lei,
R E S O L V E U:
Art. 1. Determinar que as instituies financeiras e demais instituies
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem classificar as operaes
de credito, em ordem crescente de risco, os seguintes nveis:
I - nvel AA;
II - nvel A;
III - nvel B;
IV - nvel C;
V - nvel D;
VI - nvel E;
VII - nvel F;
VIII - nvel G;
IX - nvel H.
Art. 2. A classificao da operao no nvel de risco correspondente e de
responsabilidade da instituio detentora do credito e deve ser efetuada com base
em critrios consistentes e verificveis, amparada por informaes internas e
externas, contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos:
58
I - em relao ao devedor e seus garantidores:
a) situao econmico-financeira;
b) grau de endividamento;
c) capacidade de gerao de resultados;
d) fluxo de caixa;
e) administrao e qualidade de controles;
f) pontualidade e atrasos nos pagamentos;
g) contingncias;
h) setor de atividade econmica;
i) limite de credito;
II - em relao a operao:
a) natureza e finalidade da transao;
b) caractersticas das garantias, particularmente quanto a suficincia e
liquidez;
c) valor.
Pargrafo nico. A classificao das operaes de credito de titularidade de
pessoas fsicas deve levar em conta, tambm, as situaes de renda e de patrimnio
bem como outras informaes cadastrais do devedor.
Art. 3. A classificao das operaes de credito de um mesmo
cliente ou grupo econmico deve ser definida considerando aquela que
apresentar maior risco, admitindo-se excepcionalmente classificao
diversa para determinada operao, observado o disposto no art. 2.,
inciso II.
Art. 4. A classificao da operao nos nveis de risco de
que trata o art. 1. deve ser revista, no mnimo:
I - mensalmente, por ocasio dos balancetes e balanos, em
funo de atraso verificado no pagamento de parcela de principal ou
de encargos, devendo ser observado o que segue:
a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nvel B, no mnimo;
b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nvel C, no mnimo;
59
c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nvel D, no mnimo;
d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nvel E, no mnimo;
e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nvel F, no mnimo;
f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nvel G, no mnimo;
g) atraso superior a 180 dias: risco nvel H;
II - com base nos critrios estabelecidos nos arts. 2. e 3.:
a) a cada seis meses, para operaes de um mesmo cliente ou grupo
econmico cujo montante seja superior a 5% (cinco por cento) do patrimnio liquido
ajustado;
b) uma vez a cada doze meses, em todas as situaes, exceto
na hiptese prevista no art. 5.
Pargrafo 1. As operaes de adiantamento sobre contratos de
cambio, as de financiamento a importao e aquelas com prazos inferi-
ores a um ms, que apresentem atrasos superiores h trinta dias, bem
como o adiantamento a depositante a partir de trinta dias de sua
ocorrncia, devem ser classificados, no mnimo, como de risco nvel
G.
Pargrafo 2. Para as operaes com prazo a decorrer superior
a 36 meses admite-se a contagem em dobro dos prazos previstos no in-
ciso.
Pargrafo 3. O no atendimento ao disposto neste artigo im-
plica a reclassificao das operaes do devedor para o risco nvel
H, independentemente de outras medidas de natureza administrativa.
Art. 5. As operaes de credito contratadas com cliente cuja
responsabilidade total seja de valor inferior a R! 50.000,00 (cin-
quenta mil reais) podem ter sua classificao revista de forma auto-
mtica unicamente em funo dos atrasos consignados no art. 4., inci-
so I, desta Resoluo, observado que deve ser mantida a classificao
original quando a reviso corresponder a nvel de menor risco.
Pargrafo 1. O Banco Central do Brasil poder alterar o va-
lor de que trata este artigo.
60
Pargrafo 2. O disposto neste artigo aplica-se as operaes
contratadas ate 29 de fevereiro de 2000, observados o valor referido
no caput e a classificao, no mnimo, como de risco nvel A.
Art. 6. A proviso para fazer face aos crditos de liquida-
co duvidosa deve ser constituda mensalmente, no podendo ser infe-
rior ao somatrio decorrente da aplicao dos percentuais a seguir
mencionados, sem prejuzo da responsabilidade dos administradores das
instituies pela constituio de proviso em montantes suficientes
para fazer face a perdas provveis na realizao dos crditos:
I - 0,5% (meio por cento) sobre o valor das operaes clas-
sificadas como de risco nvel A;
II - 1% (um por cento) sobre o valor das operaes classifi-
cadas como de risco nvel B;
III - 3% (trs por cento) sobre o valor das operaes clas-
sificadas como de risco nvel C;
IV - 10% (dez por cento) sobre o valor das operaes classi-
ficados como de risco nvel D;
V - 30% (trinta por cento) sobre o valor das operaes clas-
sificados como de risco nvel E;
VI - 50% (cinqenta por cento) sobre o valor das operaes
classificados como de risco nvel F;
VII - 70% (setenta por cento) sobre o valor das operaes classificadas
como de risco nvel G;
VIII - 100% (cem por cento) sobre o valor das operaes
classificadas como de risco nvel H.
Art. 7. A operao classificada como de risco nvel H deve
ser transferida para conta de compensao, com o correspondente debi-
to em proviso, apos decorridos seis meses da sua classificao nesse
nvel de risco, no sendo admitido o registro em perodo inferior.
Pargrafo nico. A operao classificada na forma do dispos-
to no caput deste artigo deve permanecer registrada em conta de com-
pensao pelo prazo mnimo de cinco anos e enquanto no esgotados to-
dos os procedimentos para cobrana.
Art. 8. A operao objeto de renegociao deve ser mantida,
no mnimo, no mesmo nvel de risco em que estiver classificada, ob-
61
servado que aquela registrada como prejuzo deve ser classificada
como de risco nvel H.
Pargrafo 1. Admite-se a reclassificao para categoria de
menor risco quando houver amortizao significativa da operao ou
quando fatos novos relevantes justificarem a mudana do nvel de ris-
co.
Pargrafo 2. O ganho eventualmente auferido por ocasio da
renegociao deve ser apropriado ao resultado quando do seu efetivo
recebimento.
Pargrafo 3. Considera-se renegociao a composio de divi-
da, a prorrogao, a novao, a concesso de nova operao para li-
quidao parcial ou integral de operao anterior ou qualquer outro
tipo de acordo que implique na alterao nos prazos de vencimento ou
nas condies de pagamento originalmente pactuadas.
Art. 9. E vedado o reconhecimento no resultado do perodo de
receitas e encargos de qualquer natureza relativos a operaes de
credito que apresentem atraso igual ou superior a sessenta dias, no
pagamento de parcela de principal ou encargos.
Art. 10. As instituies devem manter adequadamente documen-
tadas sua poltica e procedimentos para concesso e classificao de
operaes de credito, os quais devem ficar a disposio do Banco Cen-
tral do Brasil e do auditor independente.
Pargrafo nico. A documentao de que trata o caput deste
artigo deve evidenciar, pelo menos, o tipo e os nveis de risco que
se dispe a administrar, os requerimentos mnimos exigidos para a
concesso de emprstimos e o processo de autorizao.
Art. 11. Devem ser divulgadas em nota explicativa as demons-
traes financeiras informaes detalhadas sobre a composio da car-
teira de operaes de credito, observado, no mnimo:
I - distribuio das operaes, segregadas por tipo de cli-
ente e atividade econmica;
II - distribuio por faixa de vencimento;
III - montantes de operaes renegociadas, lanados contra
prejuzo e de operaes recuperadas, no exerccio.
Art. 12. O auditor independente deve elaborar relatrio cir-
cunstanciado de reviso dos critrios adotados pela instituio quan-
to a classificao nos nveis de risco e de avaliao do provisiona-
mento registrado nas demonstraes financeiras.
Art.
13. O Banco Central do Brasil poder baixar normas com-
62
plementares necessrias ao cumprimento do disposto nesta Resoluo,
bem como determinar:
I - reclassificao de operaes com base nos critrios es-
tabelecidos nesta Resoluo, nos nveis de risco de que trata o art.1.;
II - provisionamento adicional, em funo da responsabili-
dade do devedor junto ao Sistema Financeiro Nacional;
III - providencias saneadoras a serem adotadas pelas insti-
tuies, com vistas a assegurar a sua liquidez e adequada estrutura
patrimonial, inclusive na forma de alocao de capital para operaes
de classificao considerada inadequada;
IV - alterao dos critrios de classificao de crditos,
de contabilizao e de constituio de proviso;
V - teor das informaes e notas explicativas constantes das
demonstraes financeiras;
VI - procedimentos e controles a serem adotados pelas ins-
tituies.
Art. 14. O disposto nesta Resoluo se aplica tambm as ope-
raes de arrendamento mercantil e a outras operaes com caracteris-
ticas de concesso de credito.
Art. 15. As disposies desta Resoluo no contemplam os
aspectos fiscais, sendo de inteira responsabilidade da instituio a
observncia das normas pertinentes.
Art. 16. Esta Resoluo entra em vigor na data da sua pu-
blicao, produzindo efeitos a partir de 1. de marco de 2000, quando
ficaro revogadas as Resolues n.s 1.748, de 30 de agosto de 1990, e
1.999, de 30 de junho de 1993, os arts. 3. e 5. da Circular n. 1.872,
de 27 de dezembro de 1990, a alnea "b" do inciso II do art. 4. da
Circular n. 2.782, de 12 de novembro de 1997, e o Comunicado n.
2.559, de 17 de outubro de 1991.
Braslia, 21 de dezembro de 1999.
Arminio Fraga Neto
Presidente
Você também pode gostar
- Atividades Sobre o Livro Viagem Ao Centro Da TerraDocumento4 páginasAtividades Sobre o Livro Viagem Ao Centro Da TerraDiane Régis100% (2)
- LOGOS - 02 - Hermeneutica - Biblica PDFDocumento38 páginasLOGOS - 02 - Hermeneutica - Biblica PDFSebastiao Chagas100% (2)
- Prova 2 de Gest de Projetos e ProcessosDocumento8 páginasProva 2 de Gest de Projetos e ProcessosedsonAinda não há avaliações
- MQ Da Coloração de PapanicolaouDocumento5 páginasMQ Da Coloração de PapanicolaouAnne CarolineAinda não há avaliações
- Tabelas Verdade ApontDocumento2 páginasTabelas Verdade ApontIris CostaAinda não há avaliações
- AlimentosDocumento9 páginasAlimentosKennedy Fonseca RodriguesAinda não há avaliações
- Como Estruturar Uma Carta ComercialDocumento2 páginasComo Estruturar Uma Carta Comercialdafina4275Ainda não há avaliações
- Planilha Cursistas - Resultado Parcial - MOdulo I - Sala 01 G16Documento4 páginasPlanilha Cursistas - Resultado Parcial - MOdulo I - Sala 01 G16Anonymous 1nE8IBPFLsAinda não há avaliações
- Município de Itapeva: Professor de Educação Básica II CiênciasDocumento12 páginasMunicípio de Itapeva: Professor de Educação Básica II CiênciasAndréia KethellyAinda não há avaliações
- A Química Da Cor Da Cerveja 3Documento8 páginasA Química Da Cor Da Cerveja 3Angélica OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila EspectrofotometriaDocumento21 páginasApostila EspectrofotometriaVenancio Rabissone MissomaliAinda não há avaliações
- Simulador Ganho Primeiro Pedido BR FinalDocumento2 páginasSimulador Ganho Primeiro Pedido BR FinalJuninho PaivaAinda não há avaliações
- Conceitos de Facilitação Neuromuscular ProprioceptivaDocumento9 páginasConceitos de Facilitação Neuromuscular Proprioceptivandondo nzomambu simaoAinda não há avaliações
- 12 ResenhaDocumento5 páginas12 ResenhaRegimário Costa MouraAinda não há avaliações
- NFS-e - Emissor NacionalDocumento5 páginasNFS-e - Emissor Nacionalfilipe macieiraAinda não há avaliações
- Desenho 1 ExercíciosDocumento79 páginasDesenho 1 ExercíciosVagner Rodrigues Dos SantosAinda não há avaliações
- Resenha Critica Saude Do TrabalhadorDocumento3 páginasResenha Critica Saude Do TrabalhadorJúniorBarbosaAinda não há avaliações
- Dctimarinst 30 17 PDFDocumento5 páginasDctimarinst 30 17 PDFRafael CaveariAinda não há avaliações
- 00 Aviso de Convocação para A Seleção Ao Serviço Militar Temporário EIPOT NR 01 SSMR 11, de 10 MAI 22-1Documento40 páginas00 Aviso de Convocação para A Seleção Ao Serviço Militar Temporário EIPOT NR 01 SSMR 11, de 10 MAI 22-1Marcos vieira da silvaAinda não há avaliações
- Fevo-07-00265 en PTDocumento12 páginasFevo-07-00265 en PTAMANDA RAMOSAinda não há avaliações
- Bariatrica Carol e Miqueias-PowerPoint-TemplateDocumento23 páginasBariatrica Carol e Miqueias-PowerPoint-TemplateKarolyn NunesAinda não há avaliações
- TCC - Retenção de Pagamento Por Irregularidade FiscalDocumento10 páginasTCC - Retenção de Pagamento Por Irregularidade Fiscalanne katarineAinda não há avaliações
- Edital de Abertura 52021 - PropepUFALDocumento10 páginasEdital de Abertura 52021 - PropepUFALVitória FirmianoAinda não há avaliações
- Bcmii - Investe Na Tua CarreiraDocumento53 páginasBcmii - Investe Na Tua CarreiraWelca YussimiraAinda não há avaliações
- 01 - Slides Animais NocivosDocumento26 páginas01 - Slides Animais NocivosPriscila MoraisAinda não há avaliações
- Designação de Terminais J2 ECU e CCDocumento2 páginasDesignação de Terminais J2 ECU e CCJuan M. LopezAinda não há avaliações
- Manual Tecnico Jsav 25 PDFDocumento8 páginasManual Tecnico Jsav 25 PDFDário RosárioAinda não há avaliações
- Caderno de Questoes AocpDocumento46 páginasCaderno de Questoes AocpWillian NonatoAinda não há avaliações
- Manual Do Aluno FlorestalDocumento13 páginasManual Do Aluno FlorestalHenrique Saint ClairAinda não há avaliações
- Riscos Ocupacionais e Prevenção de Covid-19 em Trabalhadores de SaúdeDocumento11 páginasRiscos Ocupacionais e Prevenção de Covid-19 em Trabalhadores de Saúdejorge luiz da silva alvesAinda não há avaliações