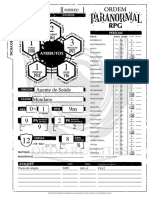Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Por Uma Geografia Do Sagrado PDF
Por Uma Geografia Do Sagrado PDF
Enviado por
Helen Barcellos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações15 páginasTítulo original
6706152-Por-Uma-Geografia-Do-Sagrado.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
17 visualizações15 páginasPor Uma Geografia Do Sagrado PDF
Por Uma Geografia Do Sagrado PDF
Enviado por
Helen BarcellosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 15
POR UMA GEOGRAFIA DO SAGRADO.
GIL FILHO, Sylvio Fausto
1
RESUMO
O presente ensaio discute as limitaes da Geografia da Religio tradicional
e prope um redimensionamento de seu objeto de pesquisa. Apresenta o
sagrado como cerne da experincia religiosa. Prope uma Geografia
baseada na espacialidade do sagrado a partir de um ponto de vista
relacional.
ABSTRACT
The present essay discusses the limitations of the traditional Geography of
Religion and proposes a redimension of its research object. It presents the
sacred as the core of the religious experience. Its proposes a Geography
based on the spatiality of the sacred starting from a relational point of view.
INTRODUO
A abordagem geogrfica da religio tem como caracterstica marcante o
condicionamento da anlise do sagrado aos parmetros da anlise espacial. Esta tendncia,
demonstra uma certa resistncia dos gegrafos da religio de irem alm da anlise funcional
do fenmeno religioso. Tal insegurana reside no fato de que o fenmeno religioso, como
tal, est alm de suas implicaes espaciais imediatas. Contudo, ao restringirmos o fenmeno
religioso a uma rede de distncias possveis, o colocamos nos ditames do espao geomtrico
e o cristalizamos em relaes puramente locacionais.
1
Professor Adjunto do Departamento de Geografia UFPR - Curitiba, PR
Mestre em Geografia UNESP - Rio Claro, SP.
Doutor em Histria UFPR - Curitiba, PR
2
Todavia, a apreenso conceitual de uma geografia da religio emerge de
historiadores da Igreja e no de gegrafos Neste sentido, a geografia da religio seria uma
anlise e descrio do fenmeno religioso em termos da cincia geogrfica. (Barret 1982).
Esta perspectiva possui certa ambigidade por ser muito genrica permitindo todo e qualquer
tipo de estudo. Sendo assim, gegrafos como Isaac (1965) e Stump (1986) (apud Park 1994)
distinguiram duas abordagens possveis:
(i) Uma geografia religiosa, focada na influncia da religio na
percepo do homem sobre o mundo e a humanidade, que
essencialmente concerne ao mbito teolgico e cosmolgico.
(ii) Uma geografia das religies que remete aos efeitos e relaes da
religio com a sociedade, meio-ambiente e cultura. Sob este ponto de
vista a religio estritamente uma instituio humana. Sendo assim,
o que se evidencia so as suas relaes com os vrios elementos
humanos e fsicos.
A segunda abordagem tende, atualmente, a ser hegemnica. Justamente neste
cenrio que construmos a crtica. Ao reduzir a religio somente a uma instituio humana
cumprimos o papel de qualifica-la per se sob dois pressupostos: como sistema simblico ou
como ideologia.
(i) Na primeira hiptese, a religio projeo simblica e condio que
permite de forma dissimulada a coerncia das relaes sociais. Como
definiu Geertz (1989), um sistema simblico que atua para
estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposies e
motivaes nos homens atravs da formulao de conceitos de uma
ordem de existncia geral e vestindo essas concepes com tal aura
de fatualidade que as disposies e motivaes parecem
singularmente realistas (pp 104-105).
(ii) Na segunda hiptese a religio uma projeo distorcida da realidade
que cumpre a funo de manuteno da coerncia social sob o ponto
de vista daqueles grupos que exercem o poder. Neste sentido s
existe prtica atravs de e sob uma ideologia e s h ideologia pelo
sujeito e para o sujeito (Althusser 1992). Neste sentido a ideologia
religiosa destinada aos indivduos e os transforma em sujeitos.
3
Sendo assim o discurso religioso os interpela como sujeitos concretos
e os coloca diante da escolha entre aceitar ou no este comando.
Todavia quem profere o comando um Sujeito nico e
Transcendente, ou seja, a Divindade. Na abordagem althusseriana, a
religio ao transformar os indivduos em sujeitos concretos diante de
um Sujeito absoluto se faz ideologia pois reproduz uma infinidade de
sujeitos submetidos a esta relao. Tal relao permite o
reconhecimento dos prprios indivduos enquanto sujeitos, do Sujeito
Absoluto e a perpetuao deste reconhecimento mtuo. No entanto,
esta concepo aplica-se mais s religies cuja estrutura de f parte
da existncia de um Deus pessoal. A exemplo das religies
monotestas semticas.
Reconhecer a religio apenas como sistema simblico ou como ideologia
subestima-la no seu aspecto mais legtimo e essencial: a sua sacralidade. Concordamos que
nas circunstncias mais abrangentes de anlise para as cincias humanas Religio a
experincia do Sagrado (Otto 1992). Como comenta Wach (1990) este conceito concede
uma objetividade experincia religiosa que contrapem-se a teorias psicolgicas de carter
mais subjetivo e individual abrindo-se para a dimenso social do sagrado.
O SAGRADO ENQUANTO CATEGORIA
O sagrado, para Otto (1992), uma categoria de interpretao e avaliao a priori,
e como tal, somente podemos remet-la ao contexto religioso. A teoria do sagrado de Otto
nos permite resguardar um atributo essencial para o fenmeno religioso ao mesmo tempo
que o torna operacional. Nesta abordagem, o sagrado reserva aspectos dito racionais, ou seja,
passveis de uma apreenso conceitual atravs de seus predicados, e aspectos no racionais,
que escapam primeira apreenso, sendo estes exclusivamente captados enquanto
sentimento religioso. O no racional o que foge ao pensamento conceitual por ser de
caracterstica explicitamente sinttica e s assimilado enquanto atributo. Neste patamar
reflexivo est o mago da oposio entre o racionalismo e a religio.
4
A caracterstica prpria do pensamento tradicional diante do fenmeno religioso
de reconhecer aquilo que, por um momento, no obedece s leis da natureza. Esta
interveno no andamento natural das coisas feita pelo Transcendente, que o autor destas
leis, apresenta-se como uma tese apriorstica. Ou seja, resta saber se a prpria ortodoxia no
foi responsvel em velar o elemento no racional da religio ao enfatizar em demasia o
estudo de aspectos doutrinrios e rituais e menosprezar os aspectos mais espirituais e
essenciais da experincia religiosa. Otto concorda com esta assertiva. O contexto cultural
religioso do seu trabalho justifica esta premissa. Tornando a idia de Deus como racional, a
ortodoxia aponta para estudos da experincia religiosa enquanto representao humana, e
como tal toma a religio em seu aspecto racional.
Para Otto (1992) ...a religio no se esgota nos seus enunciados racionais e
esclarecer a relao entre os seus elementos, de tal modo que claramente ganha conscincia
de si prpria. (p.12) Esta motivao nos envolve especialmente com a categoria do sagrado,
o que garante de forma peculiar uma anlise abrangente do fenmeno religioso.
O exame da experincia do sagrado nos remete a um atributo imanente do
sentimento religioso. Atravs do sentimento religioso qualificamos e reconhecemos o
sagrado em sua exteriorizao.
Entretanto, se o sagrado nico enquanto categoria, paradoxalmente ele plural
em sua realidade fenomnica. O sagrado per se exclusivamente explicado em sua prpria
escala, ou seja, a escala religiosa. Todavia, no plano fenomnico ele se apresenta em uma
diversidade de relaes que nos possibilita estuda-lo escala das cincias humanas.
Podemos conceber quatro instncias analticas possveis do sagrado:
(i) A primeira refere-se a sua materialidade fenomnica a qual apreendida
atravs dos nossos instrumentos preceptivos imediatos. Refere-se a
exterioridade do sagrado e sua concretude.
(ii) A segunda a apreenso conceitual atravs da razo pela qual concebemos
o sagrado pelos seus predicados e reconhecemos a sua lgica simblica.
Sendo assim, o entendemos enquanto sistema simblico e projeo cultural.
Trata-se de uma possibilidade muito presente na anlise filosfica e
antropolgica.
5
(iii) A terceira possibilidade nos remete tradio e natureza arquetpica do
sagrado enquanto fenmeno. Neste sentido o reconhecemos atravs das
Escrituras Sagradas, das Tradies Orais Sagradas e dos Mitos. Sendo este
o enfoque teolgico e dos especialistas da religio.
(iv) A quarta possibilidade de reconhecimento do sagrado nos remete ao
sentimento religioso, seu carter transcendente e no racional. uma
dimenso de inspirao muito presente na experincia religiosa. a
experincia do sagrado per se. Esta dimenso, que escapa a razo
conceitual em sua essncia, reconhecida atravs de seus efeitos. Trata-se
daquilo que qualifica uma sintonia entre o sentimento religioso e o
fenmeno sagrado.
A ESPACIALIDADE DO SAGRADO
Na lembrana de Merleau-Ponty (1993)
... o espao no um meio contextual (real e lgico) sobre o qual as coisas
esto colocadas, mas sim o meio pelo qual possvel a disposio das
coisas. No lugar de pensarmos, o espao, como uma espcie de ter onde
todas as coisas estariam imersas devemos conceb-lo como o poder
universal de suas conexes (p. 258).
Nesta perspectiva o espao de carter relacional e sob este aspecto de natureza
dinmica.
Guardadas as devidas propores o qualitativo de sagrado na tipologia de
determinados espaos nos coloca diante de uma questo importante, a saber: o espao
sagrado uma categoria analtica autnoma particular ou parte de um sistema
classificatrio do exame espacial e como tal universal enquanto categoria analtica?
O par antpoda particular e universal no uma razo de escala mas sim uma razo
de natureza. Quando discutimos sobre o sagrado apontamos a sua natureza singular e ao
mesmo tempo plural. Singular na medida em que especfica e nica em sua gnese, no
entanto plural e diversa em sua experincia.
6
Eliade (1995) refere-se ao espao sagrado como poderoso e significativo e como
tal estruturado e consistente em contrapartida, o espao no sagrado amorfo e vazio. No
que tange ao homem religioso o espao pleno de rupturas qualitativas. Mais precisamente,
na experincia do sagrado que o homem descobre a realidade do mundo dos significados e
a ambigidade de todo o resto.
Para o autor, a experincia religiosa do espao se apresenta como primordial e,
deste modo, o marco referencial da prpria origem do mundo. Quando o sagrado
manifesta-se ele expressa o absoluto em meio completa relatividade da extenso que o
envolve.
Na mesma discusso, a dualidade sagrado e profano perfaz o entendimento da
realidade. Se no conseguimos afirmar o que o sagrado em sua plenitude ns podemos
caracterizar o que no . Quando a reflexo parte da negao do que seja o sagrado passamos
a reconhecer o no-sagrado.
Nesta teorizao, no reservamos uma autonomia ao profano, pois confirmando a
plena significao do sagrado o profano seria apenas transio (do latim profanu onde pro
o que antecede e fanu o lugar consagrado), e o no-sagrado inteligvel porque existe o
sagrado. O mundo pode ser regionalizado em trs instncias: sagrado, no-sagrado e o
profano como transio.
Os fenmenos podem ser percebidos pela sua materialidade atravs dos sentidos,
entretanto, quando concebemos uma realidade a esta, conferimos uma existncia puramente
intelectual. A realidade intelectual no sensvel per se. Sendo assim, os qualitativos e
adjetivos de um fenmeno fazem parte deste mbito, o mundo dos atributos e da nomeao.
Do mesmo modo, as realidades do mundo da existncia no so intrinsecamente no-
sagradas. Em muitas culturas religiosas a realidade sensvel inerentemente sagrada, na
medida em que faz parte do mundo da natureza. Por exemplo na cultura religiosa
zoroastriana, desde do V sculo a.C. at sua expresso tardia na Prsia e ndia, os elementos
da natureza, a terra, a gua e o fogo so inerentemente sagrados. Nas culturas religiosas
africanas, como a cultura Iorub, os elementos da natureza possuem uma sacralidade
indissocivel.
7
Contudo na cultura judaico-crist houve uma ruptura. Nesta perspectiva,
condicionou-se a sacralidade a uma ao externa de consagrao do mundo. A realidade do
mundo a priori de natureza profana. Este ato de poder na consagrao do mundo reveste-se
de uma urea institucional reservada ao clero. Somente o clero teria a uno reconhecida
para estabelecer e reconhecer o sagrado. Sendo assim, um monoplio institucional do
sagrado se estabelece pois a no-sacralidade imanente do mundo na tradio judaico-crist
transforma-se em um capital simblico indisponvel para o leigo.
Retornando a nossa tese da no autonomia do no-sagrado e do profano, enquanto
categoria da Geografia do Sagrado, aludimos que o sagrado seria a realidade primeira da
anlise. A esta realidade atribumos a plena autonomia submetendo o no-sagrado e o
profano a uma existncia apenas na relao. Por conseguinte, o no-sagrado e o profano s
existem em relao ao sagrado e sem esta referncia esto condenados a no existncia.
Outrossim, se classificamos o espao sagrado como centro do sistema mundo,
como na abordagem de Eliade, conferimos ao mesmo a noo de ponto fixo lugar de
mediao entre a terra e o cu. Neste contexto fornecemos ao espao um atributo de rigidez,
como algo j dado, j posto, palco da trama humana inclusive em sua dimenso religiosa.
Todavia, se o espao relacional, ele parte indissocivel do processo de sacralizao do
mundo e no apenas seu receptculo. O espao no a cristalizao do fenmeno, mas parte
das possibilidades relacionais do mesmo. Assim, construmos imagens do espao e
atribumos a elas as representaes de nossa existncia.
Lembrando a anlise de Bachelard (1989) do poema de Henri Michaux:
o espao, mas voc no o pode conceber, esse horrvel interior-exterior que
o verdadeiro espao.
Algumas (sombras), retesando-se pela ltima vez, fazem um esforo
desesperado para estarem em sua nica unidade.
(...) destruda pelo castigo, ela no era mais que um rudo, mas enorme.
Um mundo imenso ainda a ouvia, mas ela j no existia, transformada
apenas e unicamente num rudo, que ia rolar sculos ainda, mas fadada a
extinguir-se completamente, como se nunca tivesse existido.(p.220)
8
O grito o rumor de quem perdeu sua espacialidade, no desespero da disperso do
ser do que resta apenas uma faina que ecoa no espao e no tempo. O espao do interior se
dissolve e o espao do exterior deixa de ser o vazio. A reflexo fenomenolgica de
Bachelard (1989) expressa a imagem e sua efemeridade.
O que se evidencia aqui que o aspecto metafsico nasce no prprio nvel
da imagem, no nvel de uma imagem que perturba as noes de uma
espacialidade comumente considerada capaz de reduzir as perturbaes e de
devolver o esprito sua posio de indiferena diante de um espao que
no tem dramas a localizar (pp.221-222)
No dualismo interior/exterior esta o dilema da imagem do espao. Onde termina o
ntimo e interno e aflora a amplitude do externo. O poeta citado justaps a claustrofobia e a
agorafobia. A agonia das incertezas do ntimo e a opresso ampliatiforme do espao.
A nossa inteno de resgatar a reflexo da Potica do Espao lig-la ao
qualitativo sagrado que impregna de significados as imagens do espao. Projeta uma ordem
simblica do mundo e possibilita o contraponto entre angstia e serenidade do interior e
entre a opresso e a liberdade do exterior. A dinmica do espao sagrado reitera a
transcendncia prpria da experincia religiosa. O espao sagrado a imagem da experincia
religiosa cotidiana assim como sua prpria referncia.
Na inteno de demonstrar a dinmica relacional do espao sagrado nos
lembramos da obra de Domenicos Theotokopoulos (1541-1614) apelidado de "El Greco,
especialmente o afresco conhecido como O Enterro do Conde de Orgaz de 1586, que est
na Igreja de So Tom em Toledo, Espanha. Nesta obra, El Greco demonstra o seu
misticismo da contra-reforma de raiz neoplatnica, trata-se de uma expresso de dinmica
religiosa permeada de representaes devidamente articuladas horizontalmente (a imanncia
do sagrado) no mundo fenomnico porm impregnados de significados prprios do mundo
transcendente demonstrando sua articulao vertical (a transcendncia do sagrado). (figura
01)
9
FIGURA 01
O ENTERRO DO CONDE DE ORGAZ
FONTE: Mark Harden's Artchive 2000
O que observamos no afresco um dinmica relacional que pode ser analisada na
seguinte decomposio:
(i) No plano inferior reconhecemos o corpo do Conde de Orgaz sendo
colocado em sua tumba. O primeiro plano do corpo que expressa a
efemeridade da matria que agora esta sem vida. Representa, em
nossa perspectiva, a primeira relao prpria da espacialidade. A
dimenso do corpo que na condio de morte transforma as relaes
do cotidiano. Representa uma nova rede de relaes no justificveis
quando em vida e o colocando no patamar das relaes religiosas. A
morte representa a base radical da espacialidade do sagrado. Ela nos
demonstra a plena conscincia do transitrio, do material, do
contingente. A concretude da morte do homem edifica as relaes de
transcendncia prprias da religio. Um aspecto determinante da
representao social da religio a superao da morte sendo suas
expresses presentes na espacialidade do sagrado.
(ii) O segundo plano representado no afresco demonstra a ao
institucional da religio atravs dos sacerdotes dentro de uma
hierarquia visvel. Lembrando Bourdieu (1998), os sacerdotes
representam aqueles que so consagrados ao ofcio religioso,
detentores do capital simblico que legitima a ao. Enquanto um
ampara o corpo do Conde outro pede pela sua alma. O sacerdote
assume o papel para o qual foi consagrado, ou seja, a intermediao
entre a terra e o cu..
(iii) O terceiro plano refere-se queles que observam a ao dos sacerdotes
e expressam o pesar pelo morto. Diante dos leigos que fazem parte
como observadores da trama a investidura do sacerdcio que
legitima a ao. Nesta situao, o corpo sacerdotal exerce o poder
final da teia de relaes, pois aos olhos dos leigos eles podem garantir
ao falecido a sua transcendncia. A relao dos amigos e familiares do
Conde com o contexto da ao sacerdotal reitera a supremacia
simblica da instituio Igreja. De outro modo uma relao mais
banal se apresenta, que a espacialidade social que o contexto do
enterro estabelece.
12
Toda uma representao do cotidiano se realiza, no entanto a despeito
destas relaes no-sagradas do entorno estabelecem-se relaes
prprias de transcendncia, portanto sagradas. Neste ponto aparece o
quarto plano.
(iv) O quarto plano a parte superior do afresco que representa a certeza
da transcendncia prpria do esprito da f despertada pelo sentimento
religioso. Assim o artista expressa a representao do cu com todos
os componentes do imaginrio cristo. Neste plano o sagrado
representado a partir da tradio religiosa a qual toda a trama se
desenvolve. Toda esta rede de relaes permitem identificar uma
espacialidade especfica prpria da experincia do sagrado.
O afresco expressa uma teia de relaes especficas que simbolicamente permeiam
a experincia do sagrado mais propriamente na cultura ocidental. Entretanto, as categorias da
trama podem ser consideradas universais.
DIMENSES DA GEOGRAFIA DO SAGRADO
A Geografia do Sagrado no a considerao pura e simples das espacialidades
dos objetos e fenmenos sagrados e por conseguinte de seu aspecto funcional e locacional;
mas sim, sua matiz relacional. A Geografia do Sagrado est muito mais afeta rede de
relaes em torno da experincia do sagrado do que propriamente s molduras perenes de
um espao sagrado coisificado.
13
A partir destas premissas propomos as seguintes dimenses de anlise:
(i) A dimenso do homem em sua natureza individual, como primeira dimenso da
prtica espacial, correspondente phisis social realizada no mbito religioso.
Nesta dimenso, a expresso dos atores sociais no momento da trama so as
respostas diretas de uma dinmica espacial e temporal. A coincidncia da trama
dos atores sociais com a expresso da religio em determinada temporalidade
um dado histrico, porm sempre em transio. A prtica e o discurso que se
configuram e o contexto em que eles aparecem s inteligvel dentro dos limites
da experincia institucional da religio.
(ii) A dimenso social ou da organizao apresenta-se nesta rede de relaes na
medida em que a integrao entre o discurso e o contexto assume um plano de
correlaes anlogas. A mediao dos consagrados a proferirem o discurso
representa, nesta dimenso, os responsveis pela comparao autorizada, pela
classificao competente e pela construo da imagem de mundo pela qual se
pretende dizer alguma coisa. Nesta dimenso se observa um sistema de relaes
que pe em relevo as divises, as classes, as subordinaes e o julgamento
diferenciado.
(iii) A terceira dimenso o da instituio propriamente dita, a qual se realiza como
ator da prpria histria por excelncia, submete as pluralidades da dimenso
anterior e expressa-se na fluidez vertical do poder hierrquico. O espao de
representao constitudo ao nvel das relaes sociais e de organizao diverso
e plural em sua gnese. subvertido pelas relaes de poder e dos atores que a
exercem. A instituio o reino do controle do grupo, do indivduo e do dizer.
Constitui assim uma territorialidade onde o agente principal a prpria
instituio religiosa. A ao institucional configura a apropriao do sagrado
tanto nos limites das relaes sociais como nas fronteiras objetivas de sua
espacialidade.
14
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
01.ABDUL-BAH. Some Answered Questions, Wilmette Illinois: Bah Publishing
Trust, 1978.
02.ALTHUSSER, L. Aparelhos Ideolgicos de Estado, Rio de Janeiro: Graal, 1985.
03. BACHELARD, G. A Potica do Espao, So Paulo: Martins Fontes, 1998.
04. BARRET, D.B. (ed.) World Christian Encyclopedia; a Comparative Study of
Churches and Religions in the Modern World, AD 1900-2000. Nairobi: Oxford
University Press, 1982.
05.BETTANINI, T. Espao e Cincias Humanas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
06. BIRCK, B. O. O Sagrado em Rudolf Otto, Porto Alegre RS: EDIPUCRS, 1993
07. BOURDIEU, P. A Economia das Trocas Simblicas, So Paulo: Perspectiva, 1998.
08. ______. A Economia das Trocas Lingsticas, So Paulo: EDUSP, 1996.
09. BREUIL, P. Zoroastro Religio e Filosofia, So Paulo: IBRASA, 1987
10. DURKHEIM, E. As Formas Elementares da Vida Religiosa, So Paulo: Martins
Fontes, 1996.
11. ELIADE, M. O Sagrado e o Profano. So Paulo: Martins Fontes, 1995.
12. FOUCAULT, M. A Arqueologia do Saber, Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1997.
13._____. O Nascimento da Clnica, Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1998
14._____. As Palavras e as Coisas, So Paulo: Martins Fontes, 1995
15. GEERTZ, C. A Interpretao das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.
16. LYOTARD, J. F., A Fenomenologia, Lisboa: Ed. 70, 1986.
17. McLEAN, J.(org) Revisioning the Sacred, Los Angeles: Kalimt Press, 1997
18. MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologa de la Perceptin, Barcelona: Planeta-
Agostini, 1993.
19. MOURREAU, J.J. A Prsia dos Grandes Reis e de Zoroastro, Rio de Janeiro: FERNI,
1977.
15
20. OTTO, R. O Sagrado, Lisboa: Edies 70, 1992.
21. PARK, C.C. Sacred Worlds; An Introduction to Geography and Religion. New
York: Routledge, 1994
22. REALE, G. & ANTISERI. Histria da Filosofia vol. III So Paulo: Paulinas, 1991.
23. VERGER, P. Orixs: Deuses Iorubs na frica e no Novo Mundo. 2a. ed. So Paulo:
Corrupio & Crculo do Livro, 1985
24. WACH, J. Sociologia da Religio. So Paulo: Paulinas, 1990
Você também pode gostar
- LOPES, Silvina Rodrigues Lit Defesadoatrito - CompletoDocumento75 páginasLOPES, Silvina Rodrigues Lit Defesadoatrito - CompletoVeronica Dellacroce50% (2)
- Mecanico de RefrigeraçãoDocumento3 páginasMecanico de RefrigeraçãoPeterson Silva100% (1)
- 411 - Identidade Cultural e Identidade Nacional No Brasil - Maria Isaura Pereira de QueirozDocumento14 páginas411 - Identidade Cultural e Identidade Nacional No Brasil - Maria Isaura Pereira de QueirozRosalete LimaAinda não há avaliações
- Estudo Aprofundado Da Doutrina Espírita - Ensinos e Parábolas de Jesus - Parte 1 - Livro II (FEB)Documento321 páginasEstudo Aprofundado Da Doutrina Espírita - Ensinos e Parábolas de Jesus - Parte 1 - Livro II (FEB)Rosalete Lima100% (2)
- Ciclo Introdutório de Estudo Da Doutrina Espírita (CIEDE)Documento98 páginasCiclo Introdutório de Estudo Da Doutrina Espírita (CIEDE)Rosalete LimaAinda não há avaliações
- Manual de Apoio para As Atividades Do Serviço de Assistência de Promoção Social Espírita (FEB)Documento55 páginasManual de Apoio para As Atividades Do Serviço de Assistência de Promoção Social Espírita (FEB)Rosalete LimaAinda não há avaliações
- Resumo de Algumas Organelas-CelularesDocumento3 páginasResumo de Algumas Organelas-CelularesAna Cláudia Do NascimentoAinda não há avaliações
- PSS 01 2023 - Edital de Abertura - Professores e Merendeiras-00d8fDocumento19 páginasPSS 01 2023 - Edital de Abertura - Professores e Merendeiras-00d8fMarceloOliveiraAinda não há avaliações
- Exame-Montador de AndaimesDocumento4 páginasExame-Montador de AndaimesDaniel MagneaAinda não há avaliações
- Planejamento de EstoquesDocumento63 páginasPlanejamento de EstoquesNuno CruzAinda não há avaliações
- Aula 1 - Teoria Geral Do DireitoDocumento41 páginasAula 1 - Teoria Geral Do DireitoscarlatAinda não há avaliações
- Transbordo Antoniosi Ata 10500Documento2 páginasTransbordo Antoniosi Ata 10500rodolfo rodriges'Ainda não há avaliações
- EMA100 Aula Engrenagens Sem FimDocumento38 páginasEMA100 Aula Engrenagens Sem FimTúlioBorelAinda não há avaliações
- Mapa de Empatia 1Documento3 páginasMapa de Empatia 1Bernardo BrumAinda não há avaliações
- Religiao em Timor-LesteDocumento40 páginasReligiao em Timor-LesteDaniel De LuccaAinda não há avaliações
- Docdownloader Com PDF NBR 13281 Argamassa para Assentamento e RevestimentoDocumento11 páginasDocdownloader Com PDF NBR 13281 Argamassa para Assentamento e RevestimentoPrestação de ContasAinda não há avaliações
- Ex 2022-10-10Documento191 páginasEx 2022-10-10AquiasAinda não há avaliações
- Recursos Terapêuticos Na Estética FacialDocumento63 páginasRecursos Terapêuticos Na Estética Facialluana barbosaAinda não há avaliações
- Livro Arca Do Gosto - Minas GeraisDocumento1.022 páginasLivro Arca Do Gosto - Minas GeraisHélio FrancoAinda não há avaliações
- COE Formas de Tratamento-AutoestudoDocumento19 páginasCOE Formas de Tratamento-AutoestudoHelton sitoeAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Fundamentos de EconomiaDocumento4 páginasPlano de Ensino - Fundamentos de EconomiaHugoAinda não há avaliações
- Mapas Mentais Na Tecnologia Da 3734Documento33 páginasMapas Mentais Na Tecnologia Da 3734Gilson PereiraAinda não há avaliações
- Subindo Portas de 10 Giga No F1ADocumento3 páginasSubindo Portas de 10 Giga No F1AjosimariapuAinda não há avaliações
- Regulamento de Pessoal - EbserhDocumento20 páginasRegulamento de Pessoal - EbserhFernando FernandesAinda não há avaliações
- Magia ExtremaDocumento22 páginasMagia ExtremaItalo CezarAinda não há avaliações
- 68 e Os AndarilhosDocumento24 páginas68 e Os AndarilhosClaudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- Dicionário Temático Desenvolvimento e Questão SocialDocumento52 páginasDicionário Temático Desenvolvimento e Questão SocialMárcia Esteves De Calazans67% (3)
- Manual - GRH - Módulo Folha Pagamento - Versao1 - AtualizaçãoDocumento18 páginasManual - GRH - Módulo Folha Pagamento - Versao1 - AtualizaçãomejaconeAinda não há avaliações
- Curso 142592 Aula 01 v1 PDFDocumento49 páginasCurso 142592 Aula 01 v1 PDFSarinny CamargosAinda não há avaliações
- Revisaoglobal 8 AnoDocumento16 páginasRevisaoglobal 8 AnoKris EduardoAinda não há avaliações
- Escola de Hackers Nivel 2B Redes II PDFDocumento185 páginasEscola de Hackers Nivel 2B Redes II PDFalddannenAinda não há avaliações
- Jack VieiraDocumento2 páginasJack VieiramidredAinda não há avaliações
- CNC-OMBR-MAT-18-0122-EDBR - Conexão de Micro e Minigeração Distribuída Ao Sistema ElétricoDocumento42 páginasCNC-OMBR-MAT-18-0122-EDBR - Conexão de Micro e Minigeração Distribuída Ao Sistema ElétricoJaime_LinharesAinda não há avaliações