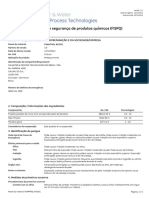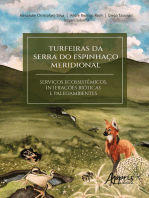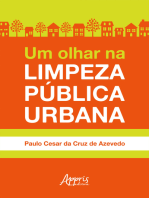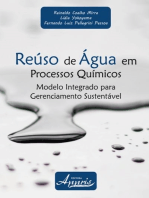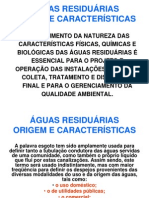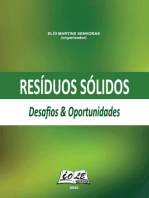Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Prosab5 Tema 1
Prosab5 Tema 1
Enviado por
Fernando AguiarDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Prosab5 Tema 1
Prosab5 Tema 1
Enviado por
Fernando AguiarDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ministrio da
Cincia e Tecnologia
FINANCIADORES
APOIO
1
GUA
Remoo de microrganismos emergentes e
microcontaminantes orgnicos no tratamento
de gua para consumo humano
Coordenador Valter Lcio de Pdua
g
u
a
1
COORDENADORES
Valter Lcio de Pdua DESA/UFMG
(Coordenador da rede)
Escola de Engenharia da UFMG
Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental
Av. Contorno, 842, 7 andar Centro
CEP 30110-060 Belo Horizonte, MG
Tel. (31) 3409-1883
e-mail: valter@desa.ufmg.br
Rafael Kopschitz Xavier Bastos
Departamento de Engenharia Civil da UFV
Av. Peter Henry Rolfs, s/n Campus Universitrio
CEP 36570-000 Viosa, MG
Tel. (31) 3899-2740 e-mail: dec@ufv.br
Antnio D. Benetti
Instituto de Pesquisas Hidrulicas da UFRGS
Av. Bento Gonalves 9.500 Caixa Postal 15.029
CEP 91501-970 Porto Alegre, RS
Tel. (51) 3308-6686 e-mail: iph2000@iph.ufrgs.br
Cristina Celia Silveira Brando
Programa de Ps-graduao em Tecnologia
Ambiental e Recursos Hdricos da UnB
Campus Universitrio Darcy Ribeiro
CEP 70.910-900 Braslia, DF
Tel. (61) 3307-2304 e-mail: ptarh@unb.br
Jos Carlos Mierzwa
Escola Politcnica da USP
Departamento de Engenharia Hidrulica e Sanitria
Av. Prof. Almeida Prado, 83 Travessa 02
Prdio da Eng. Civil CEP 05508-900 So Paulo, SP
Tel. (11) 3091-5329 e-mail: cirra@usp.br
Cristina Filomena Pereira Rosa Paschoalato
Laboratrio de Recursos Hdricos da Unaerp
Av. Costabile Romano, 2.201 Ribeirnia
CEP 14096-900 Ribeiro Preto, SP
Tel. (16) 3603-6718 e-mail: cpaschoa@unaerp.br
Maurcio Luiz Sens
Departamento de Engenharia Sanitria
e Ambiental da UFSC
Caixa Postal 476
CEP 88040-970 Trindade, Florianpolis, SC
Tel. (48) 3721-9000 e-mail: mls@ens.ufsc.br
Edson Pereira Tangerino
Departamento de Engenharia Civil da Unesp
Avenida Brasil Centro, 56
CEP 15385-000 Ilha Solteira, SP
Tel. (18) 3743-1000 e-mail: adm@feis.unesp.br
Edumar Ramos Cabral Coelho
Departamento de Engenharia Ambiental da UFES
Campus Universitrio, Goiabeiras
CEP 29075-910 Vitria, ES
Tel. (027) 4009-2678 e-mail: dea@ct.ufes.br
COLABORADORES
Beatriz Suzana Ovruski de Ceballos UFCG
Luiz Antonio Daniel EESC/USP
9 788570 221650
ISBN 978-85-7022-165-0
Instituies Participantes
EPUSP, FEIS/UNESP, UFES, UFMG, UFSC, UFV, UNAERP,
UNB, IPH/UFRGS
Rede Cooperativa de Pesquisas
Desenvolvimento e otimizao
de tecnologias de tratamento de guas
para abastecimento pblico, que
estejam poludas com microrganismos,
toxinas e microcontaminantes
Esta publicao um dos produtos da Rede de Pesquisas sobre o tema
Desenvolvimento e otimizao de tecnologias de tratamento de guas
para abastecimento pblico, que estejam poludas com microrganismos,
toxinas e microcontaminantes do Programa de Pesquisas em Saneamento
Bsico PROSAB - Edital 05, coordenada pelo Prof. Valter Lcio de Paula
do Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental da Escola de Enge-
nharia da Universidade Federal de Minas Gerais.
O PROSAB visa ao desenvolvimento e aperfeioamento de tecnologias nas
reas de guas de abastecimento, guas residurias (esgoto), resduos sli-
dos (lixo e biosslidos), manejo de guas pluviais urbanas, uso racional de
gua e energia, que sejam de fcil aplicabilidade, baixo custo de implanta-
o, operao e manuteno, bem como visem recuperao ambiental dos
corpos dgua e melhoria das condies de vida da populao, especial-
mente as menos favorecidas e que mais necessitam de aes nessas reas.
At o nal de 2008 foram lanados cinco editais do PROSAB, nanciados
pela FINEP, pelo CNPq e pela CAIXA, contando com diferentes fontes de re-
cursos, como BID, Tesouro Nacional, Fundo Nacional de Recursos Hdricos
(CT-HIDRO) e recursos prprios da Caixa. A gesto nanceira compartilhada
do PROSAB viabiliza a atuao integrada e eciente de seus rgos nancia-
dores que analisam as solicitaes de nanciamento em conjunto e tornam
disponveis recursos simultaneamente para as diferentes aes do programa
(pesquisas, bolsas e divulgao), evitando a sobreposio de verbas e tor-
nando mais eciente a aplicao dos recursos de cada agncia.
Tecnicamente, o PROSAB gerido por um grupo coordenador interinstitu-
cional, constitudo por representantes da FINEP, do CNPq, da CAIXA, das
universidades, da associao de classe e das companhias de saneamento.
Suas principais funes so: denir os temas prioritrios a cada edital;
Apresentao
analisar as propostas, emitindo parecer para orientar a deciso da FINEP e
do CNPq; indicar consultores ad hoc para avaliao dos projetos; e acom-
panhar e avaliar permanentemente o programa.
O Programa funciona no formato de redes cooperativas de pesquisa for-
madas a partir de temas prioritrios lanados a cada Chamada Pblica. As
redes integram os pesquisadores das diversas instituies, homogeneizam
a informao entre seus integrantes e possibilitam a capacitao perma-
nente de instituies emergentes. No mbito de cada rede, os projetos das
diversas instituies tem interfaces e enquadram-se em uma proposta glo-
bal de estudos, garantindo a gerao de resultados de pesquisa efetivos e
prontamente aplicveis no cenrio nacional. A atuao em rede permite,
ainda, a padronizao de metodologias de anlises, a constante difuso e
circulao de informaes entre as instituies, o estmulo ao desenvolvi-
mento de parcerias e a maximizao dos resultados.
As redes de pesquisas so acompanhadas e permanentemente avaliadas por
consultores, pelas agncias nanciadoras e pelo Grupo Coordenador, atravs
de reunies peridicas, visitas tcnicas e o Seminrio de Avaliao Final.
Os resultados obtidos pelo PROSAB esto disponveis atravs de manuais,
livros, artigos publicados em revistas especializadas e trabalhos apresenta-
dos em encontros tcnicos, teses de doutorado e dissertaes de mestrado
publicadas. Alm disso, vrias unidades de saneamento foram construdas
nestes ltimos anos por todo o pas e, em maior ou menor grau, utilizaram
informaes geradas pelos projetos de pesquisa do PROSAB.
A divulgao do PROSAB tem sido feita atravs de artigos em revistas da
rea, da participao em mesas-redondas, de trabalhos selecionados para
apresentao em eventos, bem como pela publicao de porta-flios e fol-
ders e a elaborao de maquetes eletrnicas contendo informaes sobre
os projetos de cada edital. Todo esse material est disponvel para consulta
e cpia no portal do Programa (www.nep.gov.br/prosab/index.html).
Jurandyr Povinelli EESC
Ccero O. de Andrade Neto UFRN
Deza Lara Pinto CNPq
Marcos Helano Montenegro MCidades
Sandra Helena Bondarovsky CAIXA
Jeanine Claper CAIXA
Luis Carlos Cassis CAIXA
Anna Virgnia Machado ABES
Ana Maria Barbosa Silva FINEP
Clia Maria Poppe de Figueiredo FINEP
Grupo Coordenador do PROSAB:
O edital 5 do PROSAB foi nanciado pela FINEP, CNPq e CAIXA com as seguintes fontes de
recursos: Fundo Setorial de Recursos Hdricos e Recursos Ordinrios do Tesouro Nacional do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientco e Tecnolgico e Caixa Econmica Federal.
perodo do Edital 5
Copyright
2009 ABES RJ
1 Edio tiragem: 1000 exemplares
Coordenador
Valter Lcio de Pdua
Reviso
Zeppelini Editorial
Impresso
J. Sholna
Remoo de microorgansmos emergentes e microcontaminantes
orgnicos no tratamento de gua para consumo humano/Valter
Lcio de Pdua (coordenador). Rio de Janeiro: ABES, 2009
392p.: il
Projeto PROSAB
ISBN: 978-85-7022-165-0
1. Tratamento de gua 2. Cianobactrias 3. Protozorios 4.
Microcontaminantes orgnicos I. Pdua, Valter Lcio de
Remoo de microrganismos emergentes e
microcontaminantes orgnicos no tratamento
de gua para consumo humano
Belo Horizonte, MG 2009
Valter Lcio de Pdua
coordenador
Editora ABES
Coordenadores de Projeto
Antnio Domingues Benetti IPH/UFRGS
Cristina Filmena Pereira Rosa Paschoalato UNAERP
Cristina Clia Silveira Brando UNB
Edson Pereira Tangerino FEIS/UNESP
Edumar Ramos Cabral Coelho UFES
Jos Carlos Mierzwa EPUSP
Mauricio Luiz Sens UFSC
Rafael Kopschitz Xavier Bastos UFV
Valter Lcio de Pdua UFMG
Consultores
Beatriz Susana Ovruski de Ceballos UEPB
Luiz Antnio Daniel EESC/USP
Autores
ngela Di Bernardo Dantas
Antnio Domingues Benetti
Beatriz Susana Ovruski de Ceballos
Cristina Clia Silveira Brando
Cristina Filomna Pereira Rosa Paschoalato
Daniel Adolpho Cerqueira
Denise Conceio de Gois Santos Michelan
Edson Pereira Tangerino
Edumar Ramos Cabral Coelho
Jair Casagrande
Jos Carlos Mierzwa
Luciana Rodrigues Valadares Veras
Luiz Antonio Daniel
Luiz Di Bernardo
Luiz Fernando Cybis
Maristela Silva Martinez
Maurcio Luiz Sens
Paula Dias Bevilacqua
Rafael Kopschitz Xavier Bastos
Ramon Lucas Dalsasso
Renata Iza Mondardo
Sandra Maria Feliciano de Oliveira e Azevedo
Srgio Francisco de Aquino
Srgio Joo de Luca
Valter Lcio de Pdua (Coordenador da Rede)
Equipes dos projetos de pesquisa
UFMG/UFOP
Coordenador
Valter Lcio de Pdua
Equipe
Eduardo von Sperling
Lo Heller
Marcelo Libnio
Srgio Francisco de Aquino
Robson Jos Cssia Franco Afonso
lbano Cndido Santos
lisson Bragana Silva
Ana Maria M. Batista
Cludia Geralda de Souza Maia
Cristiane da Silva Melo
Danusa Campos Teixeira
Davi Silva Moreira
Daniel Adolpho Cerqueira
Eliane Prado C. C. Santos
Erick de Castro Bernardes Barbosa
Fabiana de Cerqueira Martins
Fbio Jos Bianchetti
Jacson Lauffe
Larisssa Vilaa
Leonardo Augusto dos Santos
Lucinda Oliveira da Silva
Luiza Clemente Cardoso
EP/USP
Coordenador
Jos Carlos Mierzwa
Equipe
Luciana Rodrigues Valadares Veras
Maurcio Costa Cabral da Silva
Karine Raquel Landenberger
Gabriele Malta Corra
Raphael Rodrigues
Davi Costa Marques
Daniel Cursino da Cruz
UFES
Coordenadora
Edumar Ramos Cabral Coelho
Equipe
Jair Casagrande
Sabrina Firme Rosalm
Mrcia Cristina Martins Cardoso
Marcus Covre
Lorena Frasson Loureiro
Deivyson Roris
Fernando Toscano Furlan
Cristal Coser
Lucas Tiago Rodrigues
UFRGS
Coordenador
Antnio Domingues Benetti
Equipe
Luiz Fernando Cybis
Srgio Joo de Luca
Amanda M. D. Loureno de Lima
Daiane Marques Lino
Eduardo Ribas Nowaczyk
Josemar Luiz Stefens
Michely Zat
Paola Barbosa Sirone
Simone Soares Oliveira
Viviane Berwanger Juliano
UFSC
Coordenador
Maurcio Luis Sens
Equipe
Ramon Lucas Dalsasso
Roselane Laudares Silva
Renata Iza Mondardo
Denise C. de Gois Santos Michelan
Fernanda Souza Lenzi
Alex Vieira Benedet
Marcus Bruno Domingues Soares
Ceclia Barberena de Vinatea
Bianca Coelho Machado
Jefferson Rosano de Alencar
UFV
Coordenador
Rafael Kopschitz Xavier Bastos
Equipe
Paula Dias Bevilacqua
Ann Honor Mounteer
Rosane Maria de Aguiar Euclydes
Anderson de Assis Morais
Adriana B. Sales de Magalhes
Rosane Cristina de Andrade
Gustavo Jos Rodrigues Lopes
Adieliton Galvo de Freitas
Lus Eduardo do Nascimento
Demtrius Brito Viana
Emanoela Guimares de Castro
Flvia Aziz dos Santos
Joo Francisco de Paula Pimenta
Higor Suzuki Lima
Allana Abreu Cavalcanti
Renan Paulo Rocha
Alberto Abrantes Esteves Ferreira
Raissa Vitareli Assuno Dias
Luiza Silva Betim
Renata Teixeira de Almeida Minhoni
Paulo Ricardo Correa Caixeta
UNAERP
Coordenadora
Cristina F. Pereira Rosa Paschoalato
Equipe
Luiz Di Bernardo
ngela Di Bernardo Dantas
Maristela Silva Martinez
Ana Vera de Toledo Piza
Idivaldo Divino Alves Rosa
Renata Rueda Ballejo
Ricardo de Jesus
Ribeiro Faleiros
Aline Villera Silveira
Dauany Tupinamb de Moraes
Renan de Almeida Guerra
Thais de Souza Melo
Danilo Barato de Moraes
Jacob Fernando Ferreira
Rodrigo Latanze
Paulo Voltan
Marcio Resende Trimailovas
UnB/UFRJ
Coordenadora
Cristina Clia Silveira Brando
Equipe
Sandra Maria de F. de O. e Azevedo
Valria Magalhes
Ana Cludia Pimentel de Oliveira
Carolina Arantes
Yovanka Peres
Eliane Lopes Borges
M. Elisangela Venncio dos Santos
Helena Buys
Joo Victor da Cruz P. Arajo
Marcus Suassuna
M. Augusta Roberto Braga Monteiro
Amanda Ermel
Jaqueline Francischetti
Raquel Taira
Rafael Amncio
Rosely Tango Rios
UNESP
Coordenador
Edson Pereira Tangerino
Equipe
Tsunao Matsumoto
Marcelo Botini Tavares
Carlos Henrique Rossi
Prisicila Araripe
Andressa Rodrigues Fuzaro
Juliana Alencar da Silva Pereira
Josiela Zanini
Renato Alex Boian Komo
Michel Viana
Gustavo H. Arajo dos Santos
Shaine Antoniassi Del Rio
Fernando Yogi Bolsista
Sumrio
1 Tratamento de gua para Consumo Humano: Panorama Mundial
e Aes do Prosab - Edital 5, Tema 1
Histrico do tratamento de gua 1.1
Evoluo tecnolgica do tratamento de gua 1.2
para consumo humano
Normas e critrios de qualidade da gua 1.3
para consumo humano
Aes do Prosab 1.4
Referncias bibliogrcas
2 Contaminantes Orgnicos Presentes em Microquantidades em
Mananciais de gua para Abastecimento Pblico
Introduo 2.1
Panorama sobre substncias qumicas disponveis e sua presena 2.2
em mananciais de gua
Riscos associados aos contaminantes orgnicos potencialmente 2.3
presentes em mananciais de gua para abastecimento
Principais grupos de desreguladores endcrinos 2.4
Presena de contaminantes orgnicos em mananciais de gua 2.5
para abastecimento
Remoo no tratamento de gua 2.6
Controle da qualidade da gua para consumo humano 2.7
Tendncias para o futuro 2.8
Referncias bibliogrcas
3 Microrganismos Emergentes: Protozorios e Cianobactrias
Protozorios patognicos associados ao abastecimento 3.1
de gua para consumo humano
Giardia 3.2 sp. e cryptosporidium spp. importncia associada
ao abastecimento de gua para consumo humano
Cianobactrias 3.3
Consideraes nais 3.4
Referncias bibliogrcas
Bibliograa citada em apud
4 Tratamento de gua e Remoo de Protozorios
Introduo 4.1
Remoo de (oo)cistos de 4.2 giardia e de cryptosporidium
por meio do tratamento da gua.
Parmetros indicadores da remoo de cistos de 4.3 giardia
e de oocistos de cryptosporidium.
Abordagem da qualidade parasitolgica da gua em normas 4.4
e critrios de qualidade da gua para consumo humano.
Experincia do Prosab, Edital 5 Tema 1. 4.5
Consideraes nais 4.6
Referncias bibliogrcas
5 Tratamento de gua e Remoo de Cianobactrias e Cianotoxinas
Remoo de cianobactrias e cianotoxinas por meio das 5.1
tcnicas mais usuais de tratamento de gua
Experincia do Prosab, Edital 5 Tema 1 5.2
Referencias bibliogrcas
6 Remoo e Transformao de Agrotxicos
Introduo 6.1
Poluio das guas por agrotxicos 6.2
Riscos sanitrios e impactos nos sistemas 6.3
de tratamento de gua
Normas de qualidade de gua e potabilidade 6.4
Tecnologias de remoo e transformao dos agrotxicos 6.5
Contribuio do Prosab aos estudos de remoo de agrotxicos 6.6
Referencias bibliogrcas
Referncias bibliogrcas citadas em apud
7 Desreguladores Endcrinos
Introduo 7.1
Os desreguladores endcrinos e a legislao brasileira 7.2
Desreguladores endcrinos de interesse para o tratamento 7.3
de gua de abastecimento
reas potencialmente crticas no Brasil 7.4
Contribuio do Prosab no estudo da identicao e remoo 7.5
Concluses 7.6
Referncias bibliogrcas
8 Remoo de Gosto e Odor em Processos de Tratamento de gua
Introduo 8.1
Origem e tipos de gosto e odor 8.2
Efeitos na sade 8.3
Padres de potabilidade 8.4
Controle na fonte atravs da proteo de mananciais 8.5
Remoo de gosto e odor em processos de tratamento de gua 8.6
Procedimentos em situaes de crise 8.7
Contribuio do Prosab em estudos de remoo de gosto e odor 8.8
no tratamento de gua
Referncias bibliogrcas
9 Anlise de Risco Aplicada ao Abastecimento
de gua para Consumo Humano
Aspectos introdutrios e contextualizao do problema 9.1
Aspectos conceituais aplicados ao abastecimento de gua 9.2
para consumo humano
Avaliao quantitativa de risco 9.3
Consideraes sobre os resultados do Prosab edital 5, 9.4
tema 1 e a norma brasileira de qualidade da gua para
consumo humano sob a perspectiva da avaliao de risco
Referncias bibliogrcas
APNDICE Metodologias Utilizadas na Quanticao
de Microcontaminantes por Cromatograa
Mtodo para determinao de 2,4 D e seu metablito 1
2,4 DCP; glifosato e seu metablito AMPA
Mtodo para determinao de carbofurano 2
Mtodo para determinao de compostos 3
orgnicos halogenados
Mtodo para determinao de diuron e hexazinona 4
Mtodo para determinao de estradiol, 5
etinilestradiol e nonilfenol
Mtodo para determinao de 6
2-metilisoborneol e geosmina
1.1 Histrico do tratamento de gua
Os assentamentos humanos surgiram com o m do nomadismo, iniciados pela capaci-
dade em produzir alimentos e no apenas colet-los. Naquele tempo, era considerada
apenas a quantidade de gua para suprir a dessedentao, a agricultura incipiente, a
higiene e, posteriormente, a diluio de dejetos. A necessidade de satisfazer essa de-
manda foi a determinante da xao das comunidades humanas em locais prximos
aos rios ou lagos.
Durante sculos, a qualidade da gua no foi considerada fator restritivo, embora
os aspectos estticos (aparncia, sabor, odor) possam ter inuenciado na escolha da
fonte. Historicamente, gua pura era aquela limpa, clara, de bom sabor e sem odor. As
pessoas ainda no relacionavam a gua impura s doenas e no dispunham de tec-
nologia necessria para reconhecer que a esttica agradvel no garantiria a ausncia
de microrganismos danosos sade.
Nesses primrdios da civilizao, os efeitos da captao de gua e do lanamento dos
dejetos eram desprezveis, mas com o aumento da populao xada e agrupada em
assentamentos que se tornariam urbanos, acentuou-se a contaminao das guas
supercial e subterrnea.
Na ndia, um documento com pelo menos 4.000 anos, e que parece ser o primeiro em
sistematizar uma metodologia de tratamento da gua, orientava as pessoas fervura
1Tratamento de gua para
Consumo Humano: Panorama
Mundial e Aes do Prosab
Beatriz Suzana Ovruski de Ceballos, Luiz Antonio Daniel,
Rafael Kopschitz Xavier Bastos
GUAS 20
ou exposio da gua ao sol, ao uso de peas de cobre aquecidas que deveriam ser
mergulhadas na gua vrias vezes, complementado com ltrao e resfriamento pos-
terior em potes cermicos. O uso de alumnio para remover slidos suspensos parece
ter ocorrido pela primeira vez no Egito em 1.500 anos a.C. (BAKER; TARAS, 1981).
Sete sculos antes do incio da era crist foram construdos aquedutos, tneis e cis-
ternas em Jerusalm para a aduo, reserva e distribuio de gua. Aproximadamente
na mesma poca, em Atenas, o abastecimento de gua era feito por canais e tneis
(BRITO, 1943). No sculo IV a.C., nos extensos aquedutos romanos, a gua de fontes
prstinas circulava por canais ora subterrneos, ora abertos e nenhum tratamento era
aplicado antes de seu uso.
Foram necessrios sculos para o ser humano reconhecer que sua avaliao sensorial
no era suciente para julgar a qualidade da gua. At por volta de 500 anos a.C., os
tratamentos primitivos da gua se centravam em melhorar sua cor, odor e sabor.
Na Idade Mdia, os servios de saneamento no receberam grande ateno. As ci-
dades cresceram e a falta de gua e de coleta de esgoto criou situaes incmodas
e perigosas para a sade, com ocorrncia de endemias e proliferao de pestes. Os
trabalhos para melhorar a salubridade das cidades recomearam nos sculos XIV e XV
e pode-se dizer que a moderna engenharia sanitria comeou em 1815, na Inglaterra,
e desenvolveu-se aps a epidemia de clera em 1831. A primeira lei sanitria inglesa
data de 1848 (BRITO, 1943).
No sculo VIII d.C., Geber, um alquimista, destilava gua para inibir os espritos. O m-
dico persa Avicena (Ibn Sina), no sculo XI d.C., j recomendava a ltrao e a fervura
da gua.
No sculo XVII, Francis Bacon, na Inglaterra, publicou artigos com seus experimentos
sobre tratamento da gua, incluindo ltrao, fervura, destilao e coagulao. Em
1673, e durante vrios anos, Anton van Leeuwenhoek relatou suas observaes sobre
a existncia de animlculos em gua de chuva e alimentos.
Durante o sculo XVIII, o conhecimento cientco acumulado at ento possibilitou
aos cientistas maior entendimento referente origem e efeito dos contaminantes
presentes nas fontes de gua, especialmente aqueles que no eram visveis a olho nu
e que nem sempre estavam associados cor, odor ou sabor.
Ainda que sujeito a controvrsias, antes de 1900 j se associava a ocorrncia de do-
enas gua. Desde a dcada de 1840, havia referncias que as epidemias de febre
tifide e de clera em Londres estavam relacionadas com guas de m qualidade.
Estudos do mdico John Snow sobre epidemias anteriores, como a epidemia de clera
de 1854 na mesma cidade, que levou ao bito mais de 600 pessoas em menos de uma
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 21
semana, foram decisivos para nalmente demonstrar a veiculao de doenas pela
gua. O estudo culminou com a segunda publicao do livro desse autor, On the Mode
of Communication of Cholera, no qual so relatadas evidncias da relao entre a
contaminao da gua com a transmisso da doena e que considerado o primeiro
tratado de Epidemiologia.
A partir da, e com o advento da microbiologia, tendo Pasteur como pioneiro ao propor,
em 1864, a Teoria Microbiana das Doenas (MWH, 2005), teve impulso o reconhe-
cimento, em bases cientcas, sobre a associao entre qualidade da gua e sade
pblica e o desenvolvimento das tcnicas de tratamento de gua.
At o incio do sculo XX no havia padres de qualidade para a gua potvel. Nos
Estados Unidos, ainda na dcada de 1890, a United States Public Health Service (US-
PHS) props um esforo cooperativo para a padronizao dos testes bacteriolgicos,
evoluindo para a primeira edio do Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater.
Um dos tratamentos mais antigos e ecazes a fervura da gua, porm, do ponto
de vista prtico, restrita aplicao no mbito das unidades residenciais. Em 1870, e
durante alguns anos posteriores, o uso de ltros de areia e de outras tcnicas de tra-
tamento ainda visava melhorar o aspecto esttico da gua, eliminar o odor e melhorar
o sabor. O avano do conhecimento deu ento lugar ao tratamento da gua com vistas
proteo sade.
Na Tabela 1.1 procura-se apresentar, de maneira didtica e cronolgica, fatos e even-
tos que redundaram na apropriao do conhecimento sobre a associao entre quali-
dade da gua e sade e nas aes pioneiras de tratamento da gua.
GUAS 22
Tabela 1.1 > Eventos histricos que precederam e contriburam para
o desenvolvimento dos sistemas atuais de tratamento de gua para abastecimento
PERODO EVENTO
4.000 a.C.
Escritos antigos em snscrito e grego recomendavam mtodo para tratamento de
gua. No texto em snscrito Ousruta Sanghita, recomendado que a gua impura
deve ser puricada pela fervura em fogo ou aquecida ao sol, ou mergulhada na gua
uma barra de cobre aquecida, ou puricada pela ltrao em areia e pedregulho e
posteriormente resfriada.
3.000
a 1.500 a.C.
A civilizao creta Minoana desenvolveu tecnologia avanada e comparvel aos
sistemas modernos de abastecimento de gua usados na Europa e na Amrica do
Norte na segunda metade do sculo XIX. Essa tecnologia foi exportada para a regio
do mar Mediterrneo.
1.500 a.C.
Pela histria oral, os egpcios usavam o sulfato de alumnio para a remoo
de material em suspenso na gua por sedimentao. Nas tumbas de Amenophis II
e Ramss II (em perodos diferentes), h pinturas que descrevem equipamento
para tratamento de gua.
Sculo X a.C.
Hipcrates iniciou seus prprios experimentos para a puricao da gua. Ele criou a
teoria dos quatro humores ou uidos essenciais do corpo que estavam diretamente
relacionados s temperaturas das quatro estaes. De acordo com Hipcrates, para se
manter boa sade, esses quatro humores deveriam ser mantidos em equilbrio. Como
parte de sua teoria, Hipcrates reconheceu o poder curativo da gua. Aos pacientes
com febre, ele frequentemente recomendava banho com gua fria. Tal banho resta-
beleceria a temperatura e harmonia dos quatro humores. Hipcrates reconheceu que
a gua disponvel nos aquedutos gregos estava longe de ser pura. Como as geraes
anteriores sua, ele tambm acreditou que a gua clara e o gosto bom signicavam
pureza e limpeza. Hipcrates projetou um ltro para tratar a gua que ele usava em
seus pacientes. Posteriormente conhecido como peneira de Hipcrates, este ltro era
um saco de tecido atravs do qual a gua era vertida aps ser fervida. O tecido retinha
sedimentos que causavam gosto e odor gua.
Sculo III a.C.
Sistemas pblicos de abastecimento de gua foram executados em Roma,
na Grcia, Cartago e Egito.
340 a.C.
a 225 d.C.
Engenheiros romanos construram o sistema de abastecimento de gua com
vazo de 490.000 m
3
/dia para abastecimento de Roma por meio de aquedutos.
15 a.C.
Vitruvius recomendou que as cisternas fossem construdas com dois ou trs
compartimentos e que a gua fosse transferida de um compartimento para outro,
possibilitando a sedimentao do lodo e assegurando a produo de gua lmpida.
Caso no fosse usada cisterna, ele recomendou que fosse adicionado sal
para claricar a gua.
Sculo I d.C.
Praxmus props que coral triturado ou cevada macerada (em p), colocados
em um saco, fossem imersos na gua com gosto ruim para remoo de odor
devido aos sais minerais.
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 23
Cerca de 77 d.C.
Plnio armou que a polenta adicionada gua salitrosa (nitrosa) ou amarga a tornaria
potvel em duas horas e que o calcrio de Rodes e a argila da Itlia apresentavam
propriedades semelhantes. Esta a primeira citao do uso de cal e alumnio terroso
como precipitantes (coagulantes).
1673 a 1723
Primeiros registros de observaes de microrganismos com um microscpio
simples (lupa), por Anton van Leeuwenhoek, e enviados para a Sociedade Real
de Londres. Descrio de animlculos em gua de chuva, no material de seus
dentes e em gros de pimenta mergulhados em gua.
1685
Atribui-se ao mdico italiano Porzio a primeira meno ao uso de ltro
de escoamento ascendente para tratamento de gua
1703
O cientista francs La Hire apresentou Academia Francesa de Cincias
plano propondo que cada residncia dispusesse de ltro de areia e cisterna
para coleta de guas pluviais.
1706
O cientista francs Joseph Amy obteve a primeira patente do projeto de ltro de areia.
Em 1750, ltros compostos de esponja (animal marinho), carvo vegetal e l podiam
ser adquiridos para uso domstico.
1791
Patente obtida por James Peacock para a ltrao por ascenso.
Sua aplicao teria ocorrido em navios da marinha britnica.
1804
instalada em Paisley, Esccia, a primeira estao municipal de tratamento de gua
de abastecimento. A gua tratada era distribuda por carros tracionados por cavalos.
1807
Glasgow, Esccia, uma das primeiras cidades a dispor de rede
de distribuio de gua tratada.
1827
Greenock, Esccia, registra a primeira instalao municipal de ltrao ascendente
com as unidades funcionando tanto em sentido ascendente como descendente.
1829 Instalao de ltros lentos de areia em Londres, Inglaterra.
1835
Dr. Robbley Dumlinrem, em seu livro Public Health, recomendou adicionar
pequenas quantidades de cloro para desinfetar gua contaminada.
1846
Ignaz Semmelweiss, em Viena, recomendou que o cloro fosse usado para desinfetar
as mos dos mdicos entre atendimentos aos pacientes. A mortalidade dos pacientes
caiu na proporo de 18 para 1 como resultado dessa ao.
1854
O mdico John Snow demonstrou que a epidemia de clera asitica estava
relacionada gua de poo poo da Broad Street - contaminado por esgoto
com o vibrio da clera. Snow, que desconhecia a existncia das bactrias,
suspeitou que havia um agente causal que se reproduzia em grande nmero
nos indivduos doentes, eram expelidos com as fezes e transportados pela
gua de abastecimento contaminada pelas vtimas.
1854
Dr. Falipo Pacini, na Itlia, identicou o organismo que causa a clera asitica,
mas esta descoberta no foi amplamente divulgada. A descoberta desta bactria
foi atribuda a Robert Koch, em 1883.
GUAS 24
1906 O oznio utilizado pela primeira vez como desinfetante em Nice, Frana.
1908
George Johnson, da empresa de consultoria Fuller, auxiliou a instalar
a clorao contnua na cidade de Jersey, New Jersey, EUA.
1911
Johnson publicou o livro Hypochlorite Treatment of Public Water Supplies,
no qual demonstrou que, alm da ltrao, a incluso do uso de cloro no tratamento
da gua reduz signicativamente o risco de contaminao por bactrias.
1914
O U. S. Public Health Service (USPHS) usou o teste de fermentao de Smith
para quanticao de coliformes como padro de qualidade bacteriolgica
da gua de abastecimento.
1942 O USPHS adotou o primeiro padro de qualidade de gua de abastecimento.
FONTES: AWWA, 1971; BAKER, 1948; BLAKE, 1956; HAZEN, 1909; SALVATO, 1992; SMITH, 1893 APUD MWH, 2005; BAKER; TARAS, 1981;
DI BERNARDO, 2003; TORTORA ET AL., 2005
1.2 Evoluo tecnolgica do tratamento de gua
para consumo humano
O tratamento da gua envolve o emprego de diferentes operaes e processos unit-
rios para adequar a gua de diferentes mananciais aos padres de qualidade denidos
pelos rgos de sade e agncias reguladoras.
As exigncias de qualidade da gua evoluram e prosseguem, em processo contnuo,
acompanhando os avanos do conhecimento tcnico e cientco. Os padres de qua-
lidade tornam-se gradativamente mais exigentes (ver item 1.3).
Da segunda metade do sculo XIX primeira metade do sculo XX, o tratamento da
gua teve como objetivo central a claricao e a remoo de organismos patogni-
cos, em torno do que foram se desenvolvendo as tcnicas de coagulao, oculao,
decantao e desinfeco.
Porm, principalmente a partir dos anos 1960 e 1970 do sculo XX, o desenvolvimento
agrcola e industrial imps intensa produo e uso de novas substncias qumicas, dentre
as quais os agrotxicos, frmacos e hormnios sintticos, implicando necessidade de de-
senvolvimento e emprego de tcnicas de tratamento mais especcas e/ou complexas.
Assim, as tecnologias convencionais de tratamento, visando claricao e desinfec-
o da gua, foram sendo aprimoradas, incorporando novas tcnicas ou variantes, tais
como a otao, a ltrao direta, a ltrao em mltiplas etapas, alm do emprego
de novos desinfetantes (e, por conseguinte, a gerao de novos produtos secundrios
de desinfeco). Em paralelo, o desao da remoo de substncias qumicas e, mais
recentemente de microcontaminantes, imps o emprego/desenvolvimento de outras
tcnicas de tratamento como a adsoro em carvo ativado, a oxidao, a precipitao
1856
Thomas Hawksley, engenheiro civil, defendeu o uso de sistema
de distribuio de gua continuamente pressurizado como estratgia
para prevenir contaminao externa.
1864
Louis Pasteur props a teoria de que as doenas so causadas
por microrganismos (Teoria Microbiana das Doenas).
1874 a 1907
Filtros lentos de areia foram instalados em Poughkeepsie, Hudson, New Jersey
e New Milfor, Estados Unidos (EUA). Nos anos seguintes, foram instalados em St.
Johnsbury (1876), Burlington e Keokuk (1878), Lewiston e Stillwater (1880), Golden
(1882), Pawtucket (1883) e Storm Lake (1892). Em 1904, foram instalados
em Battlesville e em 1907, em Nova York. O meio ltrante era pedra, carvo,
areia ou combinaes desses meios ltrantes. A lavagem era efetuada
pela inverso do escoamento, no sentido descendente. A inecincia desse mtodo
de limpeza contribuiu com a desativao das instalaes.
1880 Karl Eberth isolou o microrganismo que causa a febre tifide (Sallmonella typhi).
1881 Robert Kock demonstrou, em laboratrio, que o cloro inativa bactrias.
1883 Carl Zeiss comercializa o primeiro microscpio para pesquisa.
1884
O professor e mdico Theodor Escherich isolou microrganismo das fezes de um paciente
com clera, o qual foi considerado ser o agente etiolgico da clera. Posteriormente,
microrganismos semelhantes (bactrias) foram encontrados no clon de indivduos
saudveis. O organismo isolado a atual bactria Escherichia coli.
1892
Uma epidemia de clera atingiu Hamburgo, Alemanha, enquanto na cidade
vizinha de Alton, que tratava a gua em ltros lentos de areia, no houve essa
epidemia. Desde aquele tempo, a importncia de ltrar gua em leitos granulares
amplamente reconhecida.
1892
O New York State Board of Health usou o mtodo de fermentao em tubos mltiplos,
desenvolvido por Theobald Smith, para a quanticao de E. coli para provar a relao
entre a contaminao fecal da gua do rio Mohawk e o surto de febre tifide.
1895
O primeiro ltro de areia construdo na Amrica do Norte por propsitos
emergenciais de reduo do nmero de mortes na populao abastecida
com gua do rio Lawrence, Massachusetts.
1897
G. W. Fuller estudou a ltrao rpida em areia (5 m
3
/m
2
.dia considerada
taxa de ltrao rpida no contexto da poca do estudo) e descobriu que
a remoo de bactrias aumentada quando a ltrao precedida de coagulao
e sedimentao ecientes.
1902
O primeiro sistema de abastecimento de gua clorada implantado em Middelkerke,
Blgica. O processo o ferrocloro, no qual hipoclorito de clcio e cloreto frrico so
misturados, resultando no efeito conjunto de coagulao e desinfeco.
1903
O processo de tratamento de gua (abrandamento com ferro e cal)
aplicado em Saint Louis, Missouri, EUA, na gua captada no rio Mississippi.
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 25
1906 O oznio utilizado pela primeira vez como desinfetante em Nice, Frana.
1908
George Johnson, da empresa de consultoria Fuller, auxiliou a instalar
a clorao contnua na cidade de Jersey, New Jersey, EUA.
1911
Johnson publicou o livro Hypochlorite Treatment of Public Water Supplies,
no qual demonstrou que, alm da ltrao, a incluso do uso de cloro no tratamento
da gua reduz signicativamente o risco de contaminao por bactrias.
1914
O U. S. Public Health Service (USPHS) usou o teste de fermentao de Smith
para quanticao de coliformes como padro de qualidade bacteriolgica
da gua de abastecimento.
1942 O USPHS adotou o primeiro padro de qualidade de gua de abastecimento.
FONTES: AWWA, 1971; BAKER, 1948; BLAKE, 1956; HAZEN, 1909; SALVATO, 1992; SMITH, 1893 APUD MWH, 2005; BAKER; TARAS, 1981;
DI BERNARDO, 2003; TORTORA ET AL., 2005
1.2 Evoluo tecnolgica do tratamento de gua
para consumo humano
O tratamento da gua envolve o emprego de diferentes operaes e processos unit-
rios para adequar a gua de diferentes mananciais aos padres de qualidade denidos
pelos rgos de sade e agncias reguladoras.
As exigncias de qualidade da gua evoluram e prosseguem, em processo contnuo,
acompanhando os avanos do conhecimento tcnico e cientco. Os padres de qua-
lidade tornam-se gradativamente mais exigentes (ver item 1.3).
Da segunda metade do sculo XIX primeira metade do sculo XX, o tratamento da
gua teve como objetivo central a claricao e a remoo de organismos patogni-
cos, em torno do que foram se desenvolvendo as tcnicas de coagulao, oculao,
decantao e desinfeco.
Porm, principalmente a partir dos anos 1960 e 1970 do sculo XX, o desenvolvimento
agrcola e industrial imps intensa produo e uso de novas substncias qumicas, dentre
as quais os agrotxicos, frmacos e hormnios sintticos, implicando necessidade de de-
senvolvimento e emprego de tcnicas de tratamento mais especcas e/ou complexas.
Assim, as tecnologias convencionais de tratamento, visando claricao e desinfec-
o da gua, foram sendo aprimoradas, incorporando novas tcnicas ou variantes, tais
como a otao, a ltrao direta, a ltrao em mltiplas etapas, alm do emprego
de novos desinfetantes (e, por conseguinte, a gerao de novos produtos secundrios
de desinfeco). Em paralelo, o desao da remoo de substncias qumicas e, mais
recentemente de microcontaminantes, imps o emprego/desenvolvimento de outras
tcnicas de tratamento como a adsoro em carvo ativado, a oxidao, a precipitao
GUAS 26
qumica e a volatilizao, e de processos de separao por membranas (microltrao,
ultraltrao, nanoltrao e osmose reversa).
Enm, tcnicas mais sosticadas para a deteco e quanticao de substncias e
organismos diversos se mantm em constante e rpida evoluo. A deteco e quanti-
cao de concentraes cada vez menores de contaminantes capazes de resultar em
efeitos crnicos sade, bem como o reconhecimento de novos patgenos de veicu-
lao hdrica, tendem a diversicar e tornar mais rigorosos os padres de potabilidade,
impondo, concomitantemente, o desao da inovao tecnolgica no tratamento da
gua para consumo humano.
1.3 Normas e critrios de qualidade da gua
para consumo humano
Como j mencionado, at ns do sculo XIX, a qualidade da gua para consumo hu-
mano era, em geral, aferida por sua aparncia fsica. A partir do sculo XX, depois da
ocorrncia de diversos surtos de doenas de veiculao hdrica e com o avano do
conhecimento cientco, tornou-se necessrio o desenvolvimento de recursos tc-
nicos, e mais tarde legais, que, de modo objetivo, traduzissem as caractersticas que
a gua deveria apresentar para ser considerada potvel. Assim, a qualidade da gua
para consumo humano passou a ser estabelecida, como o at hoje, com base em
valores mximos permitidos (VMP) para diversos contaminantes, ou indicadores da
qualidade da gua, reunidos em normas e critrios de qualidade da gua, ou padres
de potabilidade.
Nos Estados Unidos, a primeira regulamentao em nvel federal data de 1914, j
incluindo padro bacteriolgico de qualidade da gua. A primeira iniciativa de ela-
borao de diretrizes relativas potabilidade da gua promovida pela Organizao
Mundial de Sade (OMS) foi direcionada ao continente europeu, em 1956. No Brasil,
a primeira norma de qualidade da gua vlida em todo o territrio nacional foi edi-
tada em 1977. Desde as pioneiras normas dos EUA e diretrizes da OMS at os dias de
hoje, em sucessivas atualizaes, a tendncia sempre de aumento (considervel) do
nmero de parmetros regulamentados e de VMPs cada vez mais rigorosos. Por outro
lado, atualmente se reconhece a insucincia do controle laboratorial para a garantia
da segurana da qualidade da gua para consumo humano, revestindo-se de igual
importncia, ou mesmo maior, a implementao de procedimentos de avaliao e ge-
renciamento de risco, assunto abordado no captulo 9 deste livro.
As normas dos EUA e as diretrizes da OMS tm servido de referncia formulao
ou atualizao de normas de qualidade da gua para consumo humano em todo o
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 27
mundo, inclusive a legislao brasileira, e por isso merecem o destaque a seguir, em
breve contexto histrico.
1.3.1 Breve histrico das normas dos Estados Unidos
e das diretrizes da OMS
1.3.1.1 O padro de potabilidade dos EUA
A regulamentao da qualidade da gua para consumo humano nos EUA remonta ao
nal do sculo XIX e incio do sculo XX. Em 1893, o congresso dos EUA aprovou o
Interestate Quarantine Act, autorizando o USPHS a estabelecer as normas necessrias
para controlar a disseminao de doenas contagiosas. O primeiro padro de qua-
lidade de gua foi estabelecido em 1914, incluindo apenas padro microbiolgico e
direcionado exclusivamente aos sistemas que forneciam gua a veculos de transporte
interestadual. Posteriormente (1925, 1946 e 1962), outros parmetros foram includos,
sendo que o padro publicado em 1962 j contemplava 28 substncias (Figura 1.1). O
USPHS foi o rgo responsvel pela xao do padro de potabilidade Safe Drinking
Water Act (SDWA) at a dcada de 1970, quando a United States Environmental Pro-
tection Agency (USEPA) assumiu essa responsabilidade, delegada por lei federal de
1974 (USEPA, 1999).
O SDWA sofreu emendas signicativas ou regulamentaes complementares em 1986,
1992 e 1996, incorporando preocupaes crescentes com substncias qumicas, com
patgenos emergentes e com a necessidade de implementao de medidas adicionais,
tais como a proteo dos mananciais, o treinamento de operadores, o nanciamento
de melhorias nos sistemas de abastecimento e a informao ao pblico. As emendas
de 1986 requeriam a regulamentao de 83 contaminantes (Figura 1.1), o que foi pra-
ticamente contemplado em 1992 por meio das seguintes regulamentaes comple-
FONTE: USEPA (1999).
Figura 1.1
Evoluo do nmero de parmetros regulamentados na norma de qualidade da
gua para consumo humano dos EUA, 1914-1996
GUAS 28
mentares: The Total Coliform Rule (USEPA, 1989A), The Surface Water Treatment Rule
(USEPA, 1989B), vrias especicaes de chemical rules.
importante destacar que nesse bojo so explicitadas preocupaes com patgenos
(Legionella, Giardia e vrus), estabelecendo-se a obrigatoriedade de ltrao e desin-
feco em sistemas supridos por manancial supercial para o alcance de ecincia
de remoo de 99,9% de Giardia e 99,99% de vrus. A turbidez passa tambm a ser
incorporada como padro indicador da ecincia de remoo de cistos de Giardia por
meio da ltrao (USEPA, 1989B).
Em sucessivas atualizaes da Surface Water Treatment Rule (USEPA, 1998A; 2002A;
2006), o centro de ateno passa a ser o controle do protozorio Cryptosporidium.
Nesse sentido, o padro de turbidez para a gua ltrada torna-se mais rigoroso e
incorpora-se a abordagem de Avaliao Quantitativa de Risco Microbiolgico (AQRM),
assunto tratado nos captulos 4 e 9. Tambm preciso registrar que as preocupaes
crescentes com a remoo de patgenos no ignoraram a necessidade de controle da
formao de subprodutos da desinfeco, expressa na Disinfectants and Disinfection
Byproducts Rule (USEPA, 1998C).
1.3.2.1 As diretrizes da Organizao Mundial da Sade (OMS)
As primeiras iniciativas de elaborao de diretrizes relativas potabilidade da gua
promovidas pela OMS datam da dcada de 1950: Standards of Drinking-Water Quality
and Methods of Examination Applicable to European Countries e International Stan-
dards for Drinking-Water. As diretrizes internacionais propunham padres mnimos,
considerados possveis de serem alcanados por todos os pases. Porm, os padres
europeus consideravam a privilegiada posio econmica e tecnolgica dos pases
envolvidos, estabelecendo padres mais rigorosos (WHO, 1970).
Sucedendo aos International Standards (1958, 1963 e 1971), em 1983, a OMS publicou
pela primeira vez o Guidelines for Drinking Water Quality (GDWQ), com orientaes
relativas qualidade da gua para consumo humano, direcionado a todos os pases,
sem distino econmica ou tecnolgica. Em 1993 foi publicada a segunda edio dos
Guidelines for Drinking Water Quality, em trs volumes, incluindo signicativo au-
mento do nmero de parmetros qumicos a serem controlados (WHO, 1995) (Figura
1.2). Em geral, o aumento do nmero de parmetros para os quais so recomendados
valores-guia reete as j mencionadas consequncias do desenvolvimento industrial
e da agricultura e, portanto, do contnuo surgimento de novas substncias qumicas,
concomitantemente apropriao de novos mtodos de anlise da qualidade da gua
e ao avano do conhecimento cientco sobre a dinmica ambiental e toxicidade das
diversas substncias qumicas.
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 29
Na Figura 1.2, percebe-se que a terceira edio dos GDWQ (WHO, 2004) no trouxe
grandes alteraes em termos de nmero de substncias qumicas regulamentadas.
Por outro lado, a principal marca dessa edio a mudana de paradigma de con-
trole de qualidade da gua, ao ampliar a concepo sobre a potabilidade da gua,
avanando para muito alm de uma mera divulgao de limites para microrganismos e
substncias tolerados na gua de consumo humano (HELLER et al., 2005). Nesse sen-
tido, cabe destacar as seguintes contribuies da terceira edio dos GDWQ: (i) nfase
aos riscos microbiolgicos; (ii) limitao do nmero de contaminantes qumicos aos de
maior relevncia para a sade; (iii) viso sistmica da dinmica da qualidade da gua,
do manancial aos pontos de consumo; (iv) reconhecimento de que o controle labora-
torial insuciente para a garantia da segurana da qualidade da gua para consumo
humano; (v) recurso a ferramentas de avaliao e gesto de risco, como abordagem
preventiva (HELLER et al., 2005; BASTOS et al., 2007).
Os limites do controle laboratorial encontram justicativa em argumentos tais como:
(i) a amostragem para o monitoramento da qualidade da gua baseia-se em prin-
cpio estatstico/probabilstico, incorporando inevitavelmente uma margem de erro/
incerteza; (ii) a qualidade da gua pode sofrer variaes nem sempre detectadas em
tempo hbil; alm disso, todas as tcnicas analticas requerem tempo de resposta
e, portanto, mesmo com o monitoramento sistemtico, o conhecimento da qualida-
de da gua nunca o ser em tempo real; (iii) por razes nanceiras, de limitaes
tcnico-analticas e de necessidade de respostas geis, no controle microbiolgico
da qualidade da gua usualmente recorre-se ao emprego de organismos indicado-
res; entretanto, reconhecidamente no existem organismos que indiquem a presena/
ausncia da ampla variedade de patgenos possveis de serem removidos/inativados
PACH: PADRO DE ACEITAO PARA CONSUMO HUMANO; INOR: SUBSTNCIAS QUMICAS INORGNICAS QUE REPRESENTAM RISCO SADE;
ORG: SUBSTNCIAS QUMICAS ORGNICAS QUE REPRESENTAM RISCO SADE; AGR: AGROTXICOS; DPSD: DESINFETANTES E PRODUTOS
SECUNDRIOS DA DESINFECO.
FONTE: PINTO, (2006).
Figura 1.2
Evoluo do nmero de parmetros para os quais so estabelecidos valores-guia
nas trs edies dos Guidelines for Drinking Water Quality
GUAS 30
nos diversos processos de tratamento da gua; (iv) os limites de concentrao para
substncias qumicas adotados internacionalmente, muitas vezes partem de estudos
toxicolgicos ou epidemiolgicos com elevado grau de incerteza, arbitrariedade ou
no representatividade; alm disso, no h como assegurar o desejvel dinamismo
e agilidade na legislao para corrigir valores mximos permitidos ou incluir/excluir
parmetros (BASTOS et al., 2001; BASTOS et al., 2007).
Essa nova abordagem foi sistematizada pela OMS sob denominao de Planos de Se-
gurana da gua, cujos elementos bsicos esto baseados nos princpios e conceitos
de mltiplas barreiras, anlise de perigos e pontos crticos de controle (APPCC), ava-
liao e gesto de risco e gesto de qualidade (normas de certicao ISO), conforme
discutido no captulo 9.
1.3.2 Critrios de formulao do padro de potabilidade dos EUA
e das diretrizes da OMS
1.3.2.1 Padro de substncias qumicas
A USEPA adota duas categorias de padro de potabilidade: (i) National Primary Drinking
Water Regulation (NPDWR) - padres primrios (VMPs), de cumprimento obrigatrio,
estabelecidos para contaminantes especcos que podem causar efeitos adversos
sade e que, reconhecida ou potencialmente, podem estar presentes na gua (USEPA,
2001); (ii) National Secondary Drinking Water Regulation (NSDWR) recomendaes
relativas a substncias que podem provocar efeitos de natureza esttica e/ou organo-
lptica (USEPA, 2002B).
A segunda edio dos GDWQ da OMS apresentava o seguinte agrupamento de par-
metros a serem controlados: (i) padro microbiolgico; (ii) substncias qumicas que
representam risco sade humana (inorgnicas, orgnicas, agrotxicos, desinfetan-
tes e subprodutos da desinfeco); (iii) constituintes radioativos na gua potvel; (iv)
substncias e parmetros na gua potvel que podem dar origem queixa de consu-
midores (WHO, 1995). Na terceira edio dos GDWQ, a categorizao para as substn-
cias qumicas estabelecida de acordo com sua fonte: (i) ocorrncia natural; (ii) fontes
industriais e guas residurias urbanas; (iii) atividades agropecurias; (iv) tratamento
da gua ou materiais do sistema de tratamento e abastecimento em contato com a
gua potvel; (v) pesticidas utilizados no controle de insetos e vetores de doenas; (vi)
lagos eutrozados (cianobactrias) (WHO, 2004).
Essencialmente, a formulao do padro de potabilidade para substncias qumicas ou
de diretrizes (no caso da OMS), segue os preceitos da metodologia de avaliao de risco
(AR), de acordo com as seguintes etapas: (i) identicao do perigo, (ii) avaliao da
exposio, (iii) avaliao da dose-resposta; (iv) caracterizao do risco (ver captulo 9).
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 31
Na etapa de identicao de perigos, a USEPA identica os contaminantes que poten-
cialmente demandam regulao, levando em considerao os seguintes aspectos: (i)
ocorrncia no ambiente; (ii) fatores de exposio e de riscos sade da populao em
geral e de grupos vulnerveis; (iii) disponibilidade de mtodos analticos de deteco;
(iv) factibilidade tcnica de atendimento eventual VMP; (v) impactos econmicos e
de sade pblica da regulamentao. Observados esses aspectos, o processo segue as
seguintes etapas (USEPA, 2000):
Identicao de problemas potenciais
Periodicamente publicada uma lista de contaminantes ( National Drinking
Water Contaminant Candidate List CCL) que: (i) ainda no constituam ob-
jeto de regulamentao, (ii) apresentem riscos potenciais sade, (iii) reco-
nhecidamente ocorram ou potencialmente possam ocorrer em sistemas de
abastecimento de gua (USEPA, 2003)
Seleo de prioridades
Dentre os contaminantes listados, so estabelecidas prioridades para: (i) regu-
lamentao, (ii) pesquisa de riscos e efeitos na sade, (iii) construo de banco
de dados sobre a ocorrncia em mananciais de abastecimento e gua tratada
Estabelecimento de padres
Para os contaminantes selecionados para regulamentao, com base no esta-
do da arte do conhecimento sobre os efeitos sade (USEPA, 2004), inicialmen-
te estabelecido um padro-meta de potabilidade (Maximum Contaminant Le-
vel Goal - MCLG), ou valor mximo desejvel (VMD), no obrigatrio e denido
como: valor limite de um contaminante na gua, correspondente ao qual, e
com certa margem de segurana, nenhum efeito adverso sade, conheci-
do ou previsvel, seria observado. No estabelecimento do VMD so levados em
considerao apenas aspectos de sade, desconsiderando-se outros, tais como
limites de deteco analticos ou de tcnicas para remoo de contaminantes.
Em relao aos aspectos de sade, so ainda considerados os riscos a grupos
vulnerveis, a exemplo de crianas, idosos e indivduos imunocomprometidos.
O VMD tambm estabelecido de acordo com a natureza dos contaminantes. Para
substncias qumicas no-carcinognicas, o VMD estabelecido com base na estima-
tiva da dose diria abaixo da qual as pessoas podem estar expostas sem que ocorram
danos sade - Ingesto Diria Tolervel (IDT) (ver captulo 9).
Para substncias qumicas carcinognicas, quando no se conhece a dose abaixo da qual
uma substncia possa ser ingerida com segurana, o VMD estabelecido como zero. Caso
contrrio, o VMD estabelecido com referncia na estimativa da IDT (USEPA, 2000).
GUAS 32
Geralmente, do VMD evolui-se para o estabelecimento de um Valor Mximo Permitido
(VMP) (Maximum Contaminant Level - MCL), de cumprimento obrigatrio. O VMP es-
tabelecido o mais prximo possvel do VMD, levando-se em considerao a viabilidade
tcnico-econmica de seu atendimento.
Quando no existirem mtodos e tcnica economicamente viveis de deteco de con-
centraes reduzidas de uma determinada substncia, alternativamente estabelecida a
tcnica de tratamento requerida, denida como: procedimentos ou performance tecnol-
gica a serem obedecidos de forma a garantir o controle de determinado contaminante.
No caso das diretrizes da OMS, o valor-guia (VG) para substncias no-carcinognicas
ou carcinognicas no-genotxicas estipulado a partir da IDT. Quando no clculo da
IDT so utilizados fatores de incerteza superiores a 10.000, no so estabelecidos VG,
pois estes careceriam de sentido; para substncias com fator de incerteza superior a
1.000, so sugeridos VG provisrios (P) (WHO, 1995; WHO, 2004).
Assume-se que os VG devem ser ao mesmo tempo prticos e aplicveis, alm de pro-
porcionar a proteo sade. Dessa forma, tambm so sugeridos VG provisrios para
substncias cujo VG calculado seja: (i) inferior a nveis de quanticao prtica, ou
(ii) inferior concentrao que pode ser obtida mediante processos consolidados de
tratamento da gua. Alm disso, so listadas as substncias para as quais no so es-
tabelecidos VG e explicitadas as razes - ocorrncia rara na gua ou em concentraes
bem abaixo dos limites txicos, escassez de evidncias epidemiolgicas ou toxicolgi-
cas, uso proibido, reduzida persistncia na gua (WHO, 2004).
Para substncias ou compostos carcinognicos, os dados experimentais (dose-respos-
ta) so extrapolados de doses elevadas (como, em geral, so utilizadas nos experimen-
tos) para doses mais baixas, por meio de modelos matemticos (em geral lineares),
com base nos quais se estabelece a dose correspondente a um nvel de risco anual de
cncer de 10
-5
a 10
-6
(um caso por ano a cada 100.000 - 1.000.000 de pessoas, expostas
ao consumo de gua durante toda a vida 70 anos; para a maioria das substncias
considera-se 10
-5
) (WHO, 2004; USEPA, 2005).
1.3.2.2 Padro microbiolgico
Tradicionalmente, a qualidade microbiolgica da gua era aferida por meio da veri-
cao da presena/ausncia de organismos indicadores de contaminao, mais es-
pecicamente as bactrias do grupo coliforme. Entretanto, essa abordagem hoje
reconhecidamente insuciente.
Na avaliao da qualidade da gua tratada, o que se busca vericar a ecincia do
tratamento, ou seja, a ausncia do organismo indicador signicaria a ausncia de pat-
genos, pela inativao e/ou remoo de ambos por meio dos processos de tratamento.
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 33
Nesse sentido, para que um organismo cumpra o papel de indicador da ecincia do
tratamento, torna-se necessrio que alm de ser mais resistente aos processos de trata-
mento que os patgenos, que o mecanismo de remoo de ambos seja similar. Em linhas
gerais, bactrias e vrus so inativados por desinfeco, enquanto (oo)cistos de proto-
zorios so, preponderantemente, removidos por processos de separao (decantao e
ltrao). Quanto resistncia aos agentes desinfetantes, tambm em linhas gerais, em
ordem crescente apresentam-se as bactrias, os vrus, os protozorios e os helmintos, es-
tes praticamente imunes. Assim sendo, rigorosamente, os coliformes s se prestam como
indicadores da desinfeco e inativao de bactrias patognicas. No que toca avaliao
da qualidade virolgica e parasitolgica da gua tratada, torna-se necessrio o emprego
de indicadores complementares no-biolgicos, a exemplo dos parmetros de controle da
desinfeco (tempo de contato x cloro residual) e da turbidez (BASTOS et al., 2001).
Guardadas as referidas ressalvas, as normas da USEPA, bem como as diretrizes da
OMS, mantm como padro microbiolgico de potabilidade a ausncia de coliformes
(no caso da OMS, Escherichia coli) na gua tratada. Entretanto, as limitaes anterior-
mente destacadas so plenamente reconhecidas.
A USEPA estabelece como VMD (MCLG) a ausncia de organismos patognicos. Porm,
no estabelece VMP (MCL) no reconhecimento das limitaes analticas da pesquisa de
patgenos em baixas concentraes em amostras de gua tratada (USEPA, 2001).
A abordagem a de Avaliao Quantitativa de Risco Microbiolgico (AQRM), centrada
no controle de qualidade da gua bruta (pesquisa de oocistos de Cryptosporidium),
acompanhado da estimativa da remoo necessria (indicada tambm por padro ri-
goroso de turbidez) e alcanvel pela combinao de tcnicas de tratamento, para
resguardo de determinado nvel de risco considerado tolervel (risco anual de aproxi-
madamente 10
-4
, ou seja, um caso de infeco por ano por cada 10.000 consumidores)
(USEPA, 2006) (ver captulos 4 e 9).
A abordagem da OMS similar, sem incorporar limite numrico explcito de turbidez
para a gua ltrada. Alm disso, a perspectiva de risco medida pelo indicador anos
de vida perdidos ajustados por incapacidade (da sigla inglesa DALYs Disability Ad-
justed Life Years), o qual permite a transformao de uma incapacidade vivenciada
(por exemplo, trs dias com diarreia ou bito devido diarreia) em anos de vida
saudveis perdidos. A OMS assume como carga de doena tolervel 1 x 10
-6
DALY, ou
seja, 1 DALY por pessoa por ano, o que corresponde a nveis de risco tolervel anual
de 10
-3
-
-4
para Cryptosporidium, Campylobcter e rotavrus. Portanto, denido o que se
queira como DALY tolervel, pode-se estimar requerimentos de remoo de patgenos
por meio do tratamento a partir do conhecimento de sua concentrao na gua bruta
(WHO, 2004) (ver captulos 4 e 9).
GUAS 34
1.3.3 Evoluo da norma brasileira de qualidade de gua
para consumo humano
Em 1977, por meio do Decreto Federal n
o
79.367, cou estabelecida competncia do
Ministrio da Sade para regulamentar matrias referentes qualidade de gua para
consumo humano no pas e, nesse mesmo ano, foi editada a primeira legislao sobre
potabilidade da gua vlida em todo o territrio nacional - a Portaria n
o
56/BSB.
Em 1990, o Ministrio da Sade procedeu reviso da Portaria n
o
56/BSB (substituda
pela Portaria 36GM/90) (BRASIL, 1990), promovendo a atualizao do padro de pota-
bilidade e dos planos de amostragem, introduzindo os conceitos de controle e de vigi-
lncia da qualidade da gua, alm de exigncias de aspectos operacionais, tais como
a manuteno de cloro residual e de presso positiva nos sistemas de distribuio
(FORMAGGIA et al., 1996). Passados dez anos, em novo processo de reviso, foi editada
a Portaria MS n
o
1469/2000 (BRASIL, 2000). Sua sucessora (Portaria MS n
o
518/2004)
(BRASIL, 2004) , essencialmente, reedio da Portaria MS n
o
1469/2000, com peque-
nas alteraes relacionadas transferncia de competncias no mbito do Ministrio
da Sade e prorrogao de prazos para o cumprimento de alguns quesitos.
As diretrizes da OMS tm sido a principal referncia e exercido grande inuncia na
peridica atualizao da legislao brasileira, observando-se, entretanto, defasagem
de cerca de sete anos desde a publicao da primeira edio dos GDWQ e da Portaria
n
o
56/BSB, bem como entre a segunda edio dos GDWQ e a Portaria MS n
o
1469/2000.
Outra referncia central tem sido as normas de EPA (FORMAGGIA et al., 1996; BASTOS
et al., 2001). A legislao brasileira registra, pois, tendncia similar de aumento de n-
mero de parmetros fsicos e qumicos regulados: 36 para 72 parmetros da Portaria
n
o
56/BSB Portaria MS n
o
1469/2004 (Figura 1.3).
A Portaria MS n 518/2004 (de fato, a Portaria MS n 1469/2000) amplamente reco-
nhecida como um avano em termos de instrumento normativo, por: (i) incorporar o que
havia de mais recente no conhecimento cientco em termos de tratamento e controle
de qualidade da gua para consumo humano; (ii) assumir carter efetivo e simultneo
de controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo humano; (iii) ampliar os
conceitos de potabilidade e de controle de qualidade da gua para alm do estabeleci-
mento do padro de potabilidade e de exigncias de controle laboratorial; (iv) incorporar
a abordagem preventiva de avaliao e gesto de risco (BASTOS et al., 2001).
Por exemplo, a Portaria MS n 518/2004 implicitamente reconhece as limitaes das
bactrias do grupo coliforme como indicador pleno da qualidade microbiolgica da
gua, assume a turbidez ps-ltrao/pr-desinfeco como componente do padro
microbiolgico de potabilidade e estabelece parmetros para o controle da desinfec-
o; volta, portanto, ateno ao controle da remoo de patgenos, como os proto-
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 35
zorios e os vrus. A atualidade da Portaria MS n 518/2004 reetida tambm na
abordagem de outra questo emergente, ao pioneiramente estabelecer/recomendar
VMPs para cianotoxinas (BASTOS et al., 2001).
Mas a grande marca da Portaria MS n 518/2004, considerando sua antecedncia
em relao terceira edio dos GDWQ, sua fundamentao conceitual e losca
avanada, tendo tido a capacidade de antecipar a abordagem preventiva da efetiva-
o de mltiplas barreiras, da promoo das boas prticas e de permanente avaliao
de riscos em todos os componentes dos sistemas de abastecimento (do manancial
distribuio para o consumo), ou seja, os princpios e conceitos inerentes aos Planos
de Segurana da gua (PSA) (BASTOS et al., 2001; HELLER et al., 2005; BASTOS et al.,
2007). Em essncia, muito dos fundamentos dos PSA podem ser encontrados em um
nico inciso do artigo 9 da Portaria MS n 518/2004 (Inciso III):
Ao(s) responsvel(is) pela operao de sistema de abastecimento de gua incumbe:
manter avaliao sistemtica do sistema de abastecimento de gua, sob a perspecti-
va dos riscos sade, com base na ocupao da bacia contribuinte ao manancial, no
histrico das caractersticas de suas guas, nas caractersticas fsicas do sistema, nas
prticas operacionais e na qualidade da gua distribuda.
Em que pesem os avanos da legislao brasileira, j se passam quase dez anos desde
sua ltima atualizao e a se manter as normas da EPA e as Diretrizes da OMS como
referncias importantes, registram-se j defasagens ou incongruncias como, por
exemplo: (i) necessidade de atualizao da lista e respectivos VMPs das substncias
INOR: SUBSTNCIAS QUMICAS INORGNICAS QUE REPRESENTAM RISCO SADE; ORG: SUBSTNCIAS QUMICAS ORGNICAS QUE REPRESEN-
TAM RISCO SADE; AGR: AGROTXICOS; DPSD: DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDRIOS DA DESINFECO; PACH: PADRO DE ACEITAO
PARA CONSUMO HUMANO.
FONTE: BASTOS (2003).
Figura 1.3
Evoluo do nmero de parmetros fsicos e qumicos
no padro de potabilidade brasileiro
GUAS 36
qumicas, em particular dos agrotxicos; (ii) padro de turbidez da gua ps-ltrao
relativamente elevado, vis--vis limites cada vez mais rigorosos na norma dos EUA;
(iii) carncia de enfoque mais bem fundamentado de avaliao quantitativa de risco
microbiolgico na abordagem da remoo de patgenos, em particular de protozo-
rios; (iv) necessidade de enfoque mais amplo sobre a questo da ocorrncia e remoo
de cianobactrias e cianotoxinas; (v) ateno a outras questes emergentes, tal como
a ocorrncia e remoo de desreguladores endcrinos.
Como ser visto ao longo dos captulos deste livro, no presente edital do Programa de
Pesquisas em Saneamento Bsico (Prosab), a rede de pesquisas se dedicou a alguns
dos tpicos acima descritos, na perspectiva de subsdio ao constante processo de atu-
alizao da norma brasileira.
1.4 Aes do Prosab
O Tema 1 gua nos editais do Prosab busca responder necessidade de aprimorar os
mtodos tradicionais e desenvolver novas tecnologias de tratamento de gua para abas-
tecimento pblico, para enfrentar os crescentes problemas causados pela eutrozao
dos mananciais e sua poluio com microcontaminantes orgnicos. Tecnologias essas
que devem satisfazer os requisitos de fcil aplicabilidade, baixo custo de implantao,
operao e manuteno para contribuir na melhoria das condies de vida da populao
brasileira, especialmente as menos favorecidas, que norteiam as aes do programa.
A atual preocupao dos especialistas e tcnicos do setor de tratamento de gua para
abastecimento tem foco nas crescentes diculdades operacionais e nos riscos potenciais
sade humana pela presena, cada vez mais frequente, de contaminantes antes des-
conhecidos ou que estavam em baixas concentraes, que precisam de tecnologias ade-
quadas que devem constituir em barreiras mltiplas ao longo do tratamento, para serem
reduzidos ou eliminados, para que a gua tratada alcance o padro de potabilidade.
Nesse contexto, o Tema 1 gua vem estudando e desenvolvendo tecnologias inova-
doras e propondo melhorias nas que esto em uso para contribuir com os sistemas de
tratamento individual e coletivo de grandes cidades e de comunidades de pequeno e
mdio portes, considerando a importncia das mltiplas barreiras de proteo desde o
manancial at o produto nal. Ao longo de seus dez anos, cresceu signicativamente
o nmero das instituies que trabalham em rede (de duas, no primeiro edital, a nove
no quinto) e incorporados outros parceiros de instituies superiores de pesquisa e de
ensino, assim como empresas prestadoras de servios em saneamento bsico.
No mbito do Edital 1, lanado em 1997, sob coordenao do professor Luiz Di Ber-
nardo EESC-USP - e com participao de mais uma instituio Universidade de
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 37
Braslia (UnB) -, foram estudados sistemas de tratamento no-convencionais como
a Filtrao em Mltiplas Etapas (FiME). O objetivo da pesquisa foi o aperfeioamento
dessa tecnologia para ampliar seu uso com guas de maior espectro de qualidade,
por ser essa tecnologia de tratamento de gua apropriada para a zona rural e para
comunidades de pequeno e mdio portes, embora limitada pela qualidade da gua
bruta (apenas de mananciais razoavelmente preservados), o que diculta seu uso no
contexto atual de poluio e eutrozao dos corpos de gua.
Foram sistematizadas informaes para a instrumentalizao, a concepo, o dimen-
sionamento, o projeto, a construo, a operao e a manuteno do processo.
O processo FiME surgiu do aperfeioamento de uma tecnologia secular, a ltrao
lenta, em combinao com uma ou mais unidades de pr-tratamento (unidades pre-
liminares de ltrao em leitos de granulometria maior ou pr-ltros dinmicos e
pr-ltros em leitos de pedregulho).
Os estudos desenvolvidos ao longo do projeto mostraram que diferentes arranjos de
pr-ltros e ltros lento de areia permitem obter reduo considervel de turbidez e
de clorola a (biomassa algal), concluindo que a FiME uma tecnologia com grande
potencial, embora com limitaes: a qualidade da gua bruta, que no pode superar
a capacidade de remoo do processo, destacando-se altos valores de turbidez, cor
verdadeira e slidos suspensos totais (SST). Coliformes fecais em densidades superio-
res a 300.000 NMP/100 mL no so bem removidos assim como slidos suspensos de
natureza coloidal. Impurezas como sais dissolvidos na gua no so eliminados.
O Edital 2 - Tema 1 foi lanado em 1999, tendo como tema mtodos alternativos
de desinfeco da gua. Resultados foram publicados em 2001, no livro intitulado
Processos de Desinfeco e Desinfetantes Alternativos na Produo de gua Potvel.
Foi coordenado pelo Prof. Luiz Antonio Daniel, da Escola de Engenharia de So Carlos
(EESC-USP) e teve a participao de cinco instituies de ensino superior: EESC-USP,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), UnB, Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Foram estudadas diferentes tcnicas da desinfeco de guas com agentes qumicos
(cloro e derivados, ferratos e cido peractico), agentes fsicos (luz ultravioleta, fo-
tocatlise heterognea e radiao solar) e, ainda, foram organizados metodologias e
procedimentos para exames bacteriolgicos.
O conjunto das pesquisas levou em considerao a heterogeneidade geogrca, econ-
mica e social do pas, nas diferentes regies que precisam de solues ou alternativas
tecnolgicas diferenciadas. Os autores alertam para problemas associados inadequa-
o dos sistemas de tratamentos, existentes h mais de 30 anos, considerando que a
GUAS 38
maioria deles foi implantada nos anos 1970, quando estava em vigncia o Plano Nacio-
nal de Saneamento Bsico (Planasa), sem maiores ampliaes e aplicao de tecnologias
mais modernas desde ento. Dessa forma, sistemas de grande, mdio e pequeno portes
funcionam com sobrecarga, enfrentando problemas operacionais diversos associados
inadequabilidade da tecnologia escolhida com as caractersticas da gua bruta.
Nesse contexto, destacam-se de modo diferenciado as necessidades das grandes me-
trpoles brasileiras onde a deteriorao da qualidade da gua dos mananciais pela
poluio antropognica demanda processos avanados de tratamento, das cidades de
pequeno e mdio portes com inexistncia de sistemas de potabilizao da gua ou de
funcionamento intermite e desinfeco pouco convel, que favorecem a contamina-
o da gua ao longo da rede de distribuio, at as situaes das comunidades rurais
dispersas onde so necessrias tecnologias simples de desinfeco e de baixo custo,
dirigidas aplicao unifamiliar.
No mbito do Edital 3 Tema 1, lanado em 2000, o projeto intitulado Filtrao Direta
Aplicada a Pequenas Comunidades, sob coordenao do Prof. Luiz Di Bernardo com
participao de cinco instituies (EESC-USP, UFC, UnB, Unicamp e Universidade Fede-
ral de Santa Catarina - UFSC), se desenvolveu e aperfeioou tecnologia de tratamento
de gua por ltrao direta, ascendente e descendente, por se tratar de metodologia
simplicada, de baixo custo de implantao, manuteno e operao para sua aplica-
o em comunidades de pequeno porte. Foram estudados: o desempenho de sistemas
de dupla ltrao em escala real e otimizao em escala piloto; inuncia das con-
dies de oculao no desempenho da ltrao direta descendente; ltrao direta
ascendente em pedregulho seguida da ltrao rpida descendente e projeto e ope-
rao de estao de tratamento de gua (ETA) compacta para potabilizao de gua
e anlise de custos; ltrao direta ascendente e descendente com pr-oculao em
meio granular e ltrao direta ascendente em pedregulho seguida da ltrao rpida
aplicada remoo de algas - otimizao de taxas de ltrao e granulometrias.
No Edital 4 - Tema 1, lanado em 2003, foi desenvolvido o projeto intitulado: Trata-
mento de guas superciais visando a remoo de microalgas, cianobactrias e mi-
crocontaminantes orgnicos potencialmente prejudiciais sade. Teve a participao
de sete instituies (EESC-USP, Escola Politcnica da USP - EPUSP, Faculdade de En-
genharia de Ilha Solteira - FEIS-UNESP, UFMG, UnB e Instituto de Pesquisas Hidruli-
cas - IPH-UFRS) em parcerias com companhias de saneamento locais. A coordenao
geral foi do Prof. Valter Lcio de Pdua, do Departamento de Engenharia Sanitria e
Ambiental da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais.
Ao longo de mais de dois anos de execuo, realizou-se um levantamento do panora-
ma geral dos desaos associados ao tratamento de gua, em particular de mananciais
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 39
eutrozados e foram abordados aspectos biolgicos e ecolgicos das cianobactrias,
o monitoramento, o manejo e o pr-tratamento da gua nos mananciais (tcnicas
de remoo de clulas de cianobactrias), o efeito da pr-oxidao, pesquisas so-
bre ltrao em margem, ltrao lenta, ltrao direta e processos de separao
por membranas. Apresentaram-se metodologias de quanticao de cianobactrias e
desenvolveram- se tcnicas de quanticao de microcontaminantes, includos des-
reguladores endcrinos e cianotoxinas. Foi elaborado um manual para o estudo de
cianobactrias planctnicas em mananciais de abastecimento pblico, com estudos de
caso. Os subprojetos incluram estudos em escala de bancada, em instalaes piloto e
em escala real. Foi avaliada a remoo de clulas de Microcystis spp. em guas de estu-
do nos processos de dupla ltrao com ltro ascendente de pedregulho, precedida ou
no de oxidao, alm do emprego de carvo ativado em p e granular. Analisaram-se
e desenvolveram-se tcnicas para atenuar problemas nas ETAs associadas s ora-
es de cianobactrias e microalgas no manancial, como a preveno da auncia
de cianobactrias usando cortinas de ar e barreiras de conteno, bem como estudo
de modelo preditivo de ocorrncia de oraes nos mananciais. Foi pesquisada a re-
moo de clulas intactas de cianobactrias no tratamento de gua por otao, por
dupla ltrao e avaliao da ecincia de remoo de microcontaminantes orgnicos
(agrotxicos) em escala real. Foram feitos estudos de Filtrao em Margem na re-
moo de cianobactrias e cianotoxinas como pr-tratamento alternativo Filtrao
Direta Ascendente e Descendente, comparando-se com pr-oxidao e ps-oxidao
com gua da lagoa do Peri (SC), onde houve orescimentos de microalgas e de cia-
nobactrias (Cylindrospermopsis raciborskii). Foram avaliadas diferentes tcnicas de
tratamento de gua, como a ltrao lenta - FiME, processos com sedimentao e com
aplicao de carvo ativado em p para a remoo de cianobactrias (Cylindrosper-
mopsis raciborskii e Microcystis aeruginosa), de suas toxinas e de pesticidas que tem
como principio ativo o paration metlico (de uso amplo no cultivo de tomate em Gois
e outros Estados). Objetivou-se contribuir com a implementao e aprimoramento de
metodologias de deteco, extrao e quanticao de saxitoxinas e cilindrospermop-
sinas dissolvidas em gua, por cromatograa lquida de alta ecincia. Foi estudado o
potencial da ultraltrao na produo de gua potvel usando guas de mananciais
impactados por aes antrpicas e problemticas para o tratamento convencional e,
especicamente, estudou-se a remoo de microcontaminantes. O desempenho do
sistema foi estudado por meio do comportamento dos parmetros tradicionais de
qualidade da gua, remoo de cianobactrias, cianotoxinas (microcistina), o horm-
nio etinilestradiol e o composto nonilfenol. Foram obtidos dados de operao tima do
sistema e efetuados estudos de custos de implantao e de operao dessa tecnologia,
considerada de ponta na realidade brasileira.
GUAS 40
No Edital 5 - Tema 1, lanado em 2005 e cujos resultados so apresentados neste livro,
ampliaram-se estudos iniciados com o Edital 4 e nos anteriores. Foi coordenado pelo
Prof. Valter Lcio de Pdua, do Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental da
Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais e teve a participao em
rede de nove universidades (IPH-UFRGS, UnB, Universidade de Ribeiro Preto - UNAERP,
FEIS-UNESP, Universidade Federal do Esprito Santo - UFES, EPUSP, UFSC, Universidade
Federal de Viscosa UFV e UFMG, sendo parceiras a Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Instituto de Biofsica Carlos
Chagas, assim como empresas prestadoras de servio em saneamento bsico).
A escolha dos temas de pesquisa foi pautada pelos resultados e produtos obtidos nos
editais anteriores, em especial do Edital 4. Incorporaram-se os conceitos de mltiplas
barreiras e avanou-se na compreenso de tecnologias aplicadas ao tratamento de
guas de corpos aquticos com crescentes impactos antropognicos.
O foco central do Edital 5 foi a busca de respostas a vrias questes na Portaria
MS n
0
518/2004 e o subsdio ao seu processo de reviso/atualizao. Os temas aborda-
dos referem-se remoo de microrganismos, incluindo protozorios e cianobactrias,
de microcontaminantes (agentes desreguladores endcrinos, agrotxicos, compostos
que causam gosto e odor na gua) e cianotoxinas (microcistina, saxitoxina e cilindros-
permopsina). Foi avaliada a capacidade de diferentes tcnicas/etapas de tratamento de
remoo de (oo)cistos de protozorios, com nfase no Cryptosporidium sp. Foi ainda
avaliado o padro de turbidez estabelecido na Portaria MS n
o
518/2004 como indicativo
da remoo de (oo)cistos de protozorios por meio da ltrao rpida e lenta. A remoo
de clulas de cianobactrias por meio de tcnicas convencionais de tratamento da gua,
em situaes de simulao de oraes, foi estudada concomitantemente ao potencial
de liberao de ciatoxinas. Os estudos de remoo de gosto e odor (2-MIB e geosmina)
avaliaram a ecincia de operaes e processos unitrios evidenciando maior ecincia
da ltrao por membrana do que a aerao por cascata. Nenhum dos oxidantes qumi-
cos testados (hipoclorito de sdio, permanganato de potssio e dicloroisocianurato de
sdio) foi ecaz; a oxidao biolgica usando bactrias isoladas de manancial com even-
tos de oraes de cianobactrias sugerem bom potencial de biodegradao de 2-MIB
e geosmina. A remoo de frmacos e agrotxicos no incorporados na Portaria MS
n
o
518/2004 tambm foi estudada, a m de subsidiar tomadas de deciso futuras.
Referncias bibliogrcas
BAKER, M.N.; TARAS, M.J. The quest for pure water: the history of the twentieth century. 2. Denver:
AWWA, 1981. Volume I, 2. ed.
BASTOS, R.K.X. Controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo humano: evoluo
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 41
da legislao brasileira. In: CONGRESSO REGIONAL DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL DA
4 REGIO DA AIDIS, CONE SUL, 4, 2003, So Paulo. Anais... Rio de Janeiro: AIDIS, 2003. CD-ROM
BASTOS, R.K.X., et al. Coliformes como indicadores da qualidade da gua: alcance e limitaes.
In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL, 27, 2000, Porto
Alegre. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2000. CD-ROM
BASTOS, R.K.X., BEZERRA, N.R., BEVILACQUA, P.D. Planos de segurana da gua: novos paradig-
mas em controle de qualidade da gua para consumo humano em ntida consonncia com a
legislao brasileira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL, 24,
2007, Belo Horizonte. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2007. CD-ROM
BASTOS, R.K.X., et al. Reviso da Portaria 36 GM/90: premissas e princpios norteadores. In: CON-
GRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL, 21, 2001, Joo Pessoa. Anais...
Rio de Janeiro: ABES, 2001. CD-ROM
BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resoluo n
o
357. Dispe sobre a classicao
dos corpos de gua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece
as condies e padres de lanamento de euentes, e d outras providncias. Dirio Ocial da
Unio, 18 mar. 2005.
______. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resoluo n
o
20. Dispe sobre a classicao
dos corpos de gua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece
as condies e padres de lanamento de euentes, e d outras providncias. Dirio Ocial da
Unio, 18 jun. 1986.
______. Ministrio da Sade. Portaria n
o
518. Estabelece os procedimentos e responsabilidades
relativos ao controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo humano e seu padro de
potabilidade, e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, 26 mar. 2004.
______. Ministrio da Sade. Portaria n
o
1469. Aprova a norma de qualidade da gua para con-
sumo humano, que dispe sobre procedimentos e responsabilidades inerentes ao controle e a
vigilncia da qualidade da gua para consumo humano, estabelece o padro de potabilidade da
gua para consumo humano e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, 22 fev. 2001.
______. Ministrio da Sade. Portaria n
o
36. Aprova normas e o padro de potabilidade da gua
para consumo humano em todo o territrio nacional. Dirio ocial da Unio, 23 jan. 1990.
BRITO, F.S.R. Abastecimento de guas: parte geral, tecnologia e estatstica. v. 3. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1943.
DI BERNARDO, L. Panorama da ltrao direta no Brasil. In: DI BERNARDO (Coord.). Tratamento
de gua para abastecimento por ltrao direta. Rio de Janeiro: PROSAB, ABES, RiMa, 2003. p.
1- 20.
FORMAGGIA, D.M.E. et al. Portaria 36 GM, de 16/01/1990. Necessidade de reviso. Engenharia
sanitria e ambiental. v. 2, p. 5-9, 1996.
HARZA, M.W. Water treatment: principles and design. 2. ed. John Wiley & Sons Inc: 2005.
HELLER, L. et al. Terceira edio dos guias da organizao mundial da sade: que impacto esperar
na Portaria 518/2004? In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL,
23, 2005, Campo Grande. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2007. CD-ROM
GUAS 42
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Guidelines for drinking-water quality. ed. Geneva: WHO,
2004. 515p, 2. ed.
______. Guidelines for drinking-water quality. . . Geneva: WHO, 1995.
______. European standards for drinking-water. . . Geneva: WHO, 1970.
Bibliograa citada em apud
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION - AWWA. Water quality and treatment: a handbook of
public water supply. American Water Works Association, Denver, EUA, 1971.
AZEVEDO NETTO, J.M. Cronologia do abastecimento de gua (at 1970). Revista DAE, v. 44, n. 137,
1984. p. 106-111.
BAKER, M.N. The quest for pure water. American Water Works Association, Nova Iorque, 1948.
BLAKE, N.M. Water for the cities. Syracuse Univesity Press, Syracuse, 1956.
HAZEN, A. Clean water and how to get it. John Wiley & Sons, Nova Iorque, 1909.
SALVATO, J.A. Engineering and sanitation. 4. ed. John Wiley & Sons, Nova Iorque, 1992.
SMITH, T.A. New method for determining quantitatively the pollution of water and feca bacte-
ria, Thirteenth Annual Report for the Year 1892, New York State Board of Health, Albany, 1893.
p. 712-722.
PINTO, V.G. Anlise comparativa de legislaes relativas qualidade da gua para consumo hu-
mano na Amrica do Sul. 2006, 186f. Dissertao (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e
Recursos Hdricos) Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Engenharia Sanit-
ria e Ambiental, Belo Horizonte, 2006.
STEVENS, M., ASHBOLT, N., CUNLIFFE, D. Recommendations to change the use of coliforms as
microbial indicators of drinking water quality. National Health and Medical Research Council,
2003.
TORTORA, G.J., FUNKE, B.R., CASE, L.C. Microbiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
TSUTIYA, M.T. Abastecimento de gua. 2. ed. Departamento de Engenharia Hidrulica e Sanitria
da Escola Politcnica da Universidade de So Paulo. So Paulo: 2005.
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY USEPA. National Primary Drinking Wa-
ter. Regulations: Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule; Final Rule. Federal Regis-
ter, Part II,40CFR, Parts 9, 141 and 142. Thursday, January 5, 2006.
______. Guidelines for carcinogen risk assessment.Washington D.C.: EPA, 2005 (EPA/630/P-03-
/001B).
______. Drinking water standards and health advisories. Washington, DC: USEPA, 2004 (USEPA-
822-R-04-005).
______. List of drinking water contaminants and maximum contaminant level.2003. Disponvel
em: <http://www.epa.gov/safewater/mcl.html>. Acesso em 25 maio 2008. (EPA 816-F-03-016).
______. National primary drinking water regulations: long term 1 enhanced surface water treat-
ment rule; nal rule. Federal Register. January 14, 2002A. 67 FR 1812. (EPA 815Z02001).
______. National secondary drinking water regulations. 2002B. Disponvel em: < http://www.
epa.gov/safewater/mcl.html. Acesso em 25 maio 2008. (EPA 816-F-02-013).
______. National primary drinking water regulations. Washington-DC: EPA, 2001. Disponvel em:
<http://www.epa.gov/safewater>. Acesso em ?.
______. Setting standards for safe drinking water. 2000. Disponvel em: <http://www.epa.gov/
safewater/standard/setting.html>. Acesso em 20 set. 2008.
______. 25 years of the safe drinking water act: history and trends. 1999. Disponvel em: <http://
www.epa.gov/safewater/sdwa/trends.html>. Acesso em 20 out. 2008.
______. National primary drinking water regulations: interim enhanced surface water treat-
ment; nal rule. Part V (40 CFR, Parts 9, 141, and 142). Federal Register, Rules and regulations, vol.
613, n. 241, Washington-DC. December 16, 1998A, p. 69479-69521.
______. National primary drinking water regulations. Stage 1 disinfectants and disinfection by-
products rule. 63 FR 69389, 1998B.
______. National interim primary drinking water regulations; total coliform rule; nal rule. Part
III. Federal Register, v. 54. 1989A. p.124-27544
______. National primary drinking water regulations: ltration, disinfection; turbidity, Giardia
lamblia, viruses, Legionella, and heterotrophic bacteria; nal rule. Part III. Federal Register, 54 FR
27486, 1989B.
TRATAMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 43
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Guidelines for drinking-water quality. ed. Geneva: WHO,
2004. 515p, 2. ed.
______. Guidelines for drinking-water quality. . . Geneva: WHO, 1995.
______. European standards for drinking-water. . . Geneva: WHO, 1970.
Bibliograa citada em apud
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION - AWWA. Water quality and treatment: a handbook of
public water supply. American Water Works Association, Denver, EUA, 1971.
AZEVEDO NETTO, J.M. Cronologia do abastecimento de gua (at 1970). Revista DAE, v. 44, n. 137,
1984. p. 106-111.
BAKER, M.N. The quest for pure water. American Water Works Association, Nova Iorque, 1948.
BLAKE, N.M. Water for the cities. Syracuse Univesity Press, Syracuse, 1956.
HAZEN, A. Clean water and how to get it. John Wiley & Sons, Nova Iorque, 1909.
SALVATO, J.A. Engineering and sanitation. 4. ed. John Wiley & Sons, Nova Iorque, 1992.
SMITH, T.A. New method for determining quantitatively the pollution of water and feca bacte-
ria, Thirteenth Annual Report for the Year 1892, New York State Board of Health, Albany, 1893.
p. 712-722.
2Contaminantes Orgnicos
Presentes em Microquantidades
em Mananciais de gua
para Abastecimento Pblico
Jos Carlos Mierzwa, Srgio Francisco de Aquino
2.1 Introduo
O avano tecnolgico ocorrido a partir da 2 Grande Guerra Mundial colocou no mer-
cado uma ampla variedade de substncias ou compostos qumicos utilizados para os
mais variados usos como, por exemplo, na formulao, ou como intermedirios, de
muitos produtos utilizados em nosso dia-a-dia, contribuindo de forma signicativa
para a melhoria da qualidade de vida do ser humano.
O desenvolvimento de medicamentos, produtos de higiene pessoal, defensivos agrcolas
e aditivos alimentares, entre outros, trouxe muitos benefcios para os seres humanos.
Contudo, um aspecto que deve ser considerado que aps o seu uso, ou mesmo nas
etapas associadas sua produo, esses acabam atingindo o meio ambiente, seja na
forma de resduos slidos, euentes lquidos, emisses gasosas e, at mesmo, durante a
sua utilizao ou pelo lanamento acidental ou indiscriminado no meio ambiente.
Muitos dos produtos e substncias qumicas utilizadas pelos seres humanos, quan-
do presentes no meio ambiente, so potencialmente prejudiciais fauna, ora e
ao prprio Homem, o que constitui um grande fator de risco. Um exemplo clssico
refere-se ao uso de compostos organoclorados que, nas dcadas de 1940 e 1950,
foram sintetizados em grandes quantidades para utilizao como inseticidas. Devido
sua estabilidade qumica e baixa solubilidade em gua, tais compostos se acumulam
em tecido adiposo levando sua bioconcentrao ao longo da cadeia trca, com co-
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 45
nhecidos problemas para os animais superiores (BAIRD, 2002). Segundo Singer (1949
apud AMARAL MENDES, 2002), o primeiro efeito evidenciado sobre a sade humana,
associado aos compostos organoclorados, foi a contagem reduzida de espermas nos
pilotos de avies pulverizadores de Diclorodifeniltricloroetano (DDT).
Outro exemplo de impacto antrpico sobre o meio ambiente associado produo
de detergentes sintticos, que contm em sua formulao polifosfato de sdio, cuja
funo complexar ons (Ex. Ca
2+
e Mg
2+
) que diminuem a formao de espuma. Os
polifosfatos, ao serem lanados no meio ambiente juntamente com o esgoto sanitrio,
so hidrolisados, liberando no meio o on fosfato (PO
4
3-
), que pode ser prontamente
assimilado pelas algas, cujo crescimento no meio aqutico geralmente limitado pela
ausncia de nitrognio e fsforo. A abundncia destes nutrientes no meio aqutico
causa um desequilbrio conhecido como eutrozao, que pode conduzir prolifera-
o excessiva de algas. Os problemas relacionados ao processo de eutrozao so
mais bem discutidos no captulo 3.
Alm da preocupao com os compostos organoclorados, nas duas ltimas dcadas
se observa um crescente interesse cientco e debates pblicos sobre os potenciais
efeitos adversos causados pela exposio a um grupo de produtos qumicos que so
capazes de alterar o funcionamento normal do sistema endcrino da fauna silvestre
e, potencialmente, dos seres humanos (DAMSTRA, 2002). Harrison, Holmes e Humfrey
(1997) relataram que muitos estudos de laboratrio indicaram que compostos qu-
micos presentes no meio ambiente podem interferir no sistema endcrino uma vez
que tm potencial de causar alteraes no equilbrio hormonal dos seres humanos,
resultando em uma srie de problemas de sade.
Estes relatos mostram a relevncia dos efeitos potenciais na sade humana em decorrn-
cia da presena de determinadas substncias qumicas no ambiente. A Tabela 2.1 apresen-
ta algumas classes de contaminantes orgnicos que podem ter acesso aos mananciais de
gua supercial e subterrnea. Alguns destes contaminantes, como os PCB, HPA, PCDD,
PCDF e pesticidas clorados so sabidamente carcinognicos, sendo alguns deles poten-
ciais mutagnicos ou teratognicos (BAIRD, 2002). Outros contaminantes, como os APEO
e seus produtos de degradao, os ftalatos e os estradiis so desreguladores endcrinos,
ou seja, so capazes de mimetizar ou antagonizar hormnios naturais, interferindo assim
no funcionamento normal do sistema endcrino de animais superiores.
Dos contaminantes orgnicos apresentados na Tabela 2.1, apenas alguns so lista-
dos na Portaria MS n 518/2004, destacando-se os pesticidas clorados, que totalizam
13 dos 22 agrotxicos listados no padro de potabilidade brasileiro. Vale ressaltar que
algumas substncias listadas na Tabela 2.1, como o caso dos PCBs, dioxinas, HPAs e
steres ftlicos, e que no compem o padro de potabilidade brasileiro, so includas
GUAS 46
no padro de potabilidade de algumas instituies de referncia como a Organizao
Mundial da Sade (OMS), Unio Europeia (EU), Agncia Ambiental Norte-Americana
(USEPA) e Conselho Nacional da Sade e Pesquisa Mdica Australiano (NHRMC).
Os alquilfenis polietoxilados e seus produtos de degradao (Ex. nonilfenol e octil-
fenol), bem como os hormnios estradiol, natural e etinilestradiol, sinttico no so
listados nos padres de potabilidade brasileiro ou das principais agncias internacio-
nais (OMS, USEPA, Unio Europeia, Health Canada, NHRMC). Contudo, tais compostos
esto listados na Tabela 2.1 devido elevada prevalncia ambiental, resultante de sua
presena nos esgotos domsticos que decorre dos seus empregos em frmacos, pro-
dutos de limpeza e higiene pessoal.
Vale ressaltar que o padro de potabilidade brasileiro refere-se a outros compostos
orgnicos (Ex. benzeno, clorofenis, clorobenzeno, cloroalcanos e cloroalcenos), no
listados na Tabela 2.1, que podem estar presentes na gua tratada devido contami-
nao de mananciais pelo descarte de euentes industriais ou devido sua formao
durante a clorao da gua.
A situao passa a ser mais preocupante quando se analisa a questo dos grandes
centros urbanos, isto porque a variedade e quantidade de produtos qumicos utilizados
diariamente so signicativas, tendo como destino nal os cursos dgua prximos,
seja atravs dos esgotos tratados nas estaes ou pelo lanamento direto. Por esta
razo, necessrio avaliar as implicaes da presena de certas substncias qumicas
no meio ambiente, principalmente nos mananciais de gua que recebem esgotos tra-
tados, ou in natura, drenagem de guas pluviais e euentes industriais e que ainda so
utilizados para abastecimento pblico.
Como contribuio do Prosab-5, Tema gua, neste captulo so apresentados e discuti-
dos os principais aspectos relacionados a alguns contaminantes orgnicos presentes em
baixas concentraes (microgramas ou nanogramas por litro) em mananciais de gua
para abastecimento pblico. Os contaminantes orgnicos que sero discutidos com mais
detalhe nesse captulo so todos classicados como desreguladores endcrinos.
O termo desregulador endcrino ser utilizado nesse texto como sinnimo de pertur-
badores endcrinos, disruptores endcrinos, interferentes endcrinos e agentes hor-
monalmente ativos, que na literatura internacional corresponde aos endocrine disrup-
ting chemicals (EDC). O Programa Internacional de Segurana Qumica (IPCS), da OMS,
adotou a seguinte denio para os desreguladores endcrinos (DAMSTRA, 2002):
uma substncia ou mistura exgena que altera funes do sistema endcrino e,
consequentemente, causa efeitos adversos na sade de um organismo intacto, seus
descendentes, ou (sub) populaes.
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 47
Tabela 2.1 > Classicao de alguns contaminantes orgnicos de interesse sanitrio
CLASSE APLICAO
FONTES DE CONTAMINAO
DA GUA
Pesticidas organoclorados
(Ex. metoxicloro, clordano,
dieldrin, DDT, DDE)
Agricultura
Drenagem de reas agrcolas;
lavagem de recipientes
Bifenilas policloradas (PCB)
Fluidos refrigerantes
em transformadores
e condensadores eltricos
Vazamentos acidentais;
lixiviados de aterros
Dioxinas e furanos
(Ex. dibenzodioxina policlorada -
PCDD e dibenzofurano
policlorado PCDF)
So subprodutos de
variados processos, como
branqueamento polpa de celulo-
se, produo de pesticidas
e incinerao de resduos
Euentes lquidos
industriais; emisses
atmosfricas industriais
Hidrocarbonetos policclicos
aromticos (HPA)
Processos de combusto
(veicular e industrial)
Deposio ou arraste
de partculas e fuligem
pela drenagem supercial
Hormnios naturais -
sintetizados por plantas
e animais(Ex. estradiol)
Agentes de crescimento;
terapia de reposio hormonal
Esgoto domstico
Hormnios sintticos
(Ex. etinilestradiol)
Usados em contraceptivos orais Esgoto domstico
Alquilfenis polietoxilados
(APEOn)
Surfactantes/emulsicantes
usados em produtos de limpeza
e higiene pessoal
Esgoto domstico;
euentes industriais
Alquilfenis
(Ex. nonilfenol e octilfenol)
So subprodutos da degradao
dos APEOs. Tambm so usados
como emulsicantes/detergentes
Esgoto domstico;
drenagem de reas agrcolas
Monmeros (Ex. bisfenol A,
cloreto de vinila)
Produo de plstico e resinas
Lixiviao ou degradao
de plsticos
steres ftlicos
(Ex. ftalato de butila, ou octila)
Agentes plasticantes usados
em alguns plsticos (Ex. PVC)
Lixiviao ou degradao
de plsticos
FONTE: BAIRD (2002).
Neste captulo ser discutido, inicialmente, o impacto dos defensivos agrcolas (agro-
txicos) dos quais alguns, como os organoclorados, tm reconhecidas propriedades de
GUAS 48
desregulao endcrina. Em seguida, o captulo abordar duas classes de compostos
(os hormnios e os alquilfenis) que tambm tem reconhecida propriedade de desre-
gulao endcrina e que fazem parte da constituio de frmacos ou de produtos de
limpeza e de higiene pessoal, comumente utilizados nos domiclios.
2.2 Panorama sobre substncias qumicas disponveis
e sua presena em mananciais de gua
Para que seja possvel vericar a relevncia da discusso sobre a presena de contami-
nantes orgnicos em mananciais de gua para abastecimento, necessrio conhecer
a realidade sobre as substncias qumicas existentes, bem como sobre o potencial das
mesmas atingirem os corpos dgua.
Um dado relevante para uma primeira avaliao a quantidade de substncias qu-
micas existentes e quantas destas substncias efetivamente tm potencial de estarem
presentes no meio ambiente. Tais informaes podem ser obtidas no Servio de Com-
pndio de Substncias Qumicas (CAS), rgo que faz o registro de todas as subs-
tncias qumicas desenvolvidas e utilizadas no mundo. Por meio de uma consulta
pgina eletrnica do CAS, vericou-se que em janeiro de 2009 existiam mais de
41,8 milhes de substncias orgnicas e inorgnicas registradas e, destas, cerca
de 26,5 milhes estavam disponveis comercialmente (CAS, 2009), ressaltando-se que
estes nmeros s tendem a aumentar.
As substncias qumicas disponveis comercialmente so utilizadas para as mais va-
riadas nalidades, inclusive como matria-prima e princpios ativos nas indstrias de
medicamentos, produtos de higiene pessoal, defensivos agrcolas, alimentos, produtos
de limpeza, dentre outras indstrias qumicas.
A Pesquisa Industrial de 2006 (IBGE, 2006), apresenta dados sobre os principais pro-
dutos fabricados e comercializados no Brasil. Nesta publicao, os produtos so agru-
pados por classes de atividades, dentre as quais se encontram:
Fabricao de fertilizantes
Fabricao de medicamentos para uso humano
Fabricao de medicamentos para uso veterinrio
Fabricao de inseticidas
Fabricao de fungicidas
Fabricao de herbicidas
Fabricao de outros defensivos agrcolas
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 49
Fabricao de sabes, sabonetes e detergentes sintticos
Fabricao de outros produtos de limpeza e polimento
Fabricao de artigos de perfumaria e cosmticos
Em termos nanceiros, a produo destas classes de atividades atingiu o valor de
aproximadamente R$ 58,7 bilhes no ano de 2006, cerca de 4,4% do valor da produ-
o de todo parque industrial brasileiro. A Figura 2.1 mostra a participao no valor de
produo de cada uma das classes de atividades destacadas.
Na pesquisa do IBGE no so apresentados os valores relacionados quantidade pro-
duzida para todas as classes de atividades e categorias de produtos por classe, mas
possvel obter os dados de produo especcos, o que pode contribuir para uma me-
lhor compreenso da situao sobre a presena de certos contaminantes qumicos no
meio ambiente. Na Tabela 2.2 so apresentados os dados de produo de fertilizantes,
defensivos agrcolas e detergentes sintticos.
Em relao presena de defensivos agrcolas em mananciais, o potencial de conta-
minao est diretamente associado forma de utilizao dessas substncias e fen-
menos de transporte envolvidos, como drenagem do escoamento supercial de gua
de irrigao e guas pluviais e percolao no solo, o que compromete a qualidade da
gua subterrnea.
Para os demais contaminantes, existem outros fatores que tm inuncia direta sobre
a sua presena nos corpos dgua, destacando-se a existncia de sistemas de coleta e
FONTE: CONSTRUDO A PARTIR DOS DADOS DISPONVEIS NA PUBLICAO DO IBGE (2006).
Figura 2.1 Participao no valor de produo de algumas classes de atividades
GUAS 50
tratamento de esgoto e tambm a ecincia de remoo para os contaminantes pre-
sentes no esgoto. Na Figura 2.2 so apresentadas as possveis rotas de transporte dos
contaminantes orgnicos aos mananciais de gua.
O destaque dado aos sistemas de coleta e tratamento de esgotos justicado pelo
fato da maioria das substncias qumicas, utilizadas no dia-a-dia, ter como destino
nal os esgotos, de maneira direta ou indireta. Sobre a ecincia de remoo nos
sistemas de tratamento, ainda no existem informaes precisas relacionadas a cada
tipo de contaminante potencialmente presente nos esgotos, seja pelos elevados custos
das anlises ou pela diculdade de selecionar os parmetros que devem ser avaliados. A
recente reviso de Koh et al. (2008) apresenta dados sobre remoo de estrognios (es-
trona, 17-estradiol, 17-etinilestradiol e estriol) em sistemas de tratamento de esgoto
e discute os principais mecanismos associados remoo de tais contaminantes.
Tabela 2.2 > Dados de produo de fertilizantes, defensivos agrcolas
e detergentes sintticos e outros produtos no Brasil, em 2006
PRODUTO QUANTIDADE VALOR DA PRODUO (R$)
Adubos ou fertilizantes de origem animal
ou vegetal, inclusive misturados
74.615.000 kg 123.491.000,00
Adubos ou fertilizantes com fsforo e potssio 1.375.571.000 kg 770.101.000,00
Adubo ou fertilizantes com NPK 16.922.761.000 kg 9.940.070.000,00
Inseticidas para uso na agricultura 79.546.000 kg 1.635.105.000,00
Inseticidas para usos domstico,
institucional e/ou industrial
30.225.427 kg 340.533.000,00
Fungicidas para uso na agricultura 82.459.000 kg 1.488.801.000,00
Herbicidas para usos domstico e industrial 84.712 kg 5.606.000,00
Herbicidas para uso na agricultura 253.874.000 kg 3.120.453.000,00
Amaciantes (suavizantes) de tecidos 397.986.000 L 616.424.000,00
Detergentes ou sabes lquidos, inclusive
produtos para lavagem de pisos e vidros
684.971.000 L 1.449.020.000,00
Preparaes tensoativas para lavagem e limpeza 353.397.689 L 379.427.000,00
Sabes em p, ocos, palhetas, grnulos ou
outras formas
1.158.061.000 kg 2.660.026.000,00
Dentifrcios, pastas e cremes dentais 199.197.693 kg 1.992.997.000,00
Xampus para cabelos 208.596.091 L 700.019.000,00
FONTE: IBGE (2006).
Informaes sobre coleta e tratamento de esgotos esto disponveis em publicaes
de alguns rgos do governo, como IBGE e Secretaria Nacional de Saneamento Am-
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 51
biental (SNSA), atravs do Sistema Nacional de Informaes sobre Saneamento, e tam-
bm em pginas eletrnicas de empresas de saneamento bsico do pas. Utilizando as
fontes mencionadas, so apresentados na Tabela 2.3 os dados gerais sobre coleta e
tratamento de esgotos no Brasil, o que dar subsdios para inferir sobre o potencial da
presena de contaminantes qumicos em mananciais, inclusive utilizados para abas-
tecimento pblico.
Os dados da Tabela 2.3 mostram que os ndices de coleta e tratamento de esgotos nas
principais regies brasileiras so muito baixos, 46,81% para coleta e 29,14% para tra-
tamento, indicando que uma quantidade signicativa de esgotos in natura lanada
no ambiente. Este um forte indicativo da presena potencial de inmeras substn-
cias nos corpos dgua receptores desses esgotos, inclusive mananciais utilizados para
abastecimento pblico.
Mesmo nos casos onde ocorre o tratamento de esgotos, para vrias substncias e
compostos qumicos observa-se uma baixa ecincia de remoo (JOSS et al., 2006;
KOH et al., 2008).
Os elementos apresentados permitem concluir que a presena de vrios contaminantes
orgnicos em mananciais utilizados para abastecimento uma condio real, seja devido
drenagem de reas agrcolas, no caso de defensivos agrcolas, ou pelo lanamento de
esgotos, no caso de medicamentos, produtos de higiene pessoal e detergentes sintticos.
Contudo, deve ser ponderado se a concentrao destes contaminantes no meio ambien-
te suciente para resultar em danos sade humana e ao prprio meio ambiente.
FONTE: ADAPTADO DE TERNES, GIGER E JOSS (2006).
Figura 2.2 Rotas de transporte dos contaminantes orgnicos para os mananciais
GUAS 52
T
a
b
e
l
a
2
.
3
>
D
a
d
o
s
s
o
b
r
e
a
t
e
n
d
i
m
e
n
t
o
n
o
a
b
a
s
t
e
c
i
m
e
n
t
o
d
e
g
u
a
e
c
o
l
e
t
a
e
t
r
a
t
a
m
e
n
t
o
d
e
e
s
g
o
t
o
s
p
o
r
r
e
g
i
o
g
e
o
g
r
c
a
d
o
p
a
s
e
m
2
0
0
4
R
E
G
I
G
U
A
E
S
G
O
T
O
P
o
p
u
l
a
o
A
t
e
n
d
i
d
a
(
h
a
b
.
)
V
o
l
u
m
e
P
r
o
d
u
z
i
d
o
(
1
0
3
m
3
/
a
n
o
)
V
o
l
u
m
e
C
o
n
s
u
m
i
d
o
(
1
0
3
m
3
/
a
n
o
)
P
e
r
d
a
T
o
t
a
l
(
%
)
P
o
p
u
l
a
o
A
t
e
n
d
i
d
a
(
h
a
b
.
)
V
o
l
u
m
e
C
o
l
e
t
a
d
o
(
1
0
3
m
3
/
a
n
o
)
/
(
%
)
a
V
o
l
u
m
e
T
r
a
t
a
d
o
(
1
0
3
m
3
/
a
n
o
)
/
(
%
)
a
N
o
r
t
e
5
.
0
5
7
.
6
4
3
4
5
9
.
0
8
7
2
1
6
.
4
0
0
5
2
,
8
6
3
3
3
.
6
6
5
1
9
.
7
3
0
9
,
1
2
8
.
5
6
4
3
,
9
6
N
o
r
d
e
s
t
e
3
2
.
9
1
3
.
7
6
9
2
.
5
6
6
.
2
0
2
1
.
2
9
1
.
4
3
1
4
9
,
6
8
8
.
0
9
7
.
8
4
6
5
1
6
.
5
1
3
4
0
,
0
0
4
6
0
.
0
2
5
3
5
,
6
2
S
u
d
e
s
t
e
5
7
.
5
8
7
.
6
0
9
6
.
7
3
5
.
5
3
1
3
.
8
1
7
.
7
3
6
4
3
,
3
2
3
9
.
9
8
4
.
2
6
0
2
.
0
8
6
.
9
6
6
5
4
,
6
7
1
.
1
0
4
.
7
8
0
2
8
,
9
4
S
u
l
2
0
.
7
0
6
.
1
9
3
1
.
7
8
1
.
9
1
0
9
7
3
.
6
0
1
4
5
,
3
6
6
.
3
1
9
.
4
4
9
3
2
2
.
7
9
9
3
3
,
1
6
2
5
4
.
9
0
8
2
6
,
1
8
C
e
n
t
r
o
-
O
e
s
t
e
8
.
7
1
3
.
1
1
5
6
5
3
.
3
2
7
4
1
0
.
9
2
3
3
7
,
1
0
3
.
8
8
0
.
3
3
6
1
9
5
.
0
0
5
4
7
,
4
6
1
2
6
.
7
3
8
3
0
,
8
4
B
r
a
s
i
l
1
2
4
.
9
7
8
.
3
2
9
1
2
.
1
9
6
.
0
5
7
6
.
7
1
0
.
0
9
1
4
4
,
9
8
5
8
.
6
1
5
.
5
5
6
3
.
1
4
1
.
0
1
3
4
6
,
8
1
1
.
9
5
5
.
0
1
5
2
9
,
1
4
A
-
P
O
R
C
E
N
T
A
G
E
M
E
M
R
E
L
A
Q
U
A
N
T
I
D
A
D
E
D
E
E
S
G
O
T
O
S
G
E
R
A
D
O
S
,
A
D
M
I
T
I
N
D
O
-
S
E
Q
U
E
T
O
D
A
A
G
U
A
C
O
N
S
U
M
I
D
A
R
E
T
O
R
N
A
C
O
M
O
E
S
G
O
T
O
.
F
O
N
T
E
:
A
D
A
P
T
A
D
O
D
E
S
N
S
A
(
2
0
0
5
)
.
2.3 Riscos associados aos contaminantes orgnicos
potencialmente presentes em mananciais de gua
para abastecimento
Um dos primeiros grupos de contaminantes a ser estudado com relao aos riscos
para a sade humana foi o dos defensivos agrcolas, sendo que, atualmente, so lista-
dos 22 desses compostos na legislao brasileira que trata dos padres de qualidade
da gua de abastecimento - Portaria 518 do Ministrio da Sade (BRASIL, 2004).
Defensivos agrcolas so substncias qumicas utilizadas no controle de espcies in-
desejveis e doenas de plantas. Englobam substncias qumicas e algumas de origem
biolgica, podendo ser classicados em funo do tipo de espcies que controlam,
da estrutura qumica das substncias ativas e dos efeitos sade e ao ambiente. De
acordo com a natureza da espcie a ser combatida, tm-se as seguintes categorias de
defensivos agrcolas:
Inseticidas (controle de insetos): organoclorados, organofosforados,
carbamatos, piretrides
Fungicidas (combate aos fungos): ditiocarbamatos, dinitrofenis
Herbicidas (combate s plantas invasoras): dinitrofenis, carbamatos
Desfoliantes (combate s folhas indesejadas): dipiridilos, dinitrofenis
Fumigantes (combate s bactrias do solo): hidrocarbonetos halogenados
Rodenticidas/Raticidas (combate aos roedores/ratos): hidroxicumarinas
Moluscocidas (combate aos nematides): carbamatos
Acaricidas (combate aos caros): organoclorados, dinitrofenis
O uso de defensivos agrcolas tem se apresentado como um grave problema em v-
rios pases. De acordo com Konradsen e colaboradores (2005), os defensivos agrcolas
ainda so fontes de preocupao em termos de sade, pois estudos recentes sugerem
que podem ocorrer at 300 mil mortes por ano em decorrncia de envenenamento
intencional somente na sia, regio do Pacco. Ressalta-se que nestes dados no so
considerados os casos de exposio ocupacional ou acidental.
Quanto sua toxicidade, os defensivos agrcolas podem ser classicados em funo da
dose letal para 50% da populao do grupo de teste (DL
50
). Essa classicao funda-
mental para o conhecimento da toxicidade de um produto, com relao ao efeito agudo.
Na Tabela 2.4 so apresentadas as classes dos defensivos agrcolas em funo da DL
50
.
Os defensivos agrcolas podem desencadear efeitos variados na sade humana, agu-
dos, subagudos ou crnicos. Os sinais e sintomas podem variar de eventos bem ntidos
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 53
2.3 Riscos associados aos contaminantes orgnicos
potencialmente presentes em mananciais de gua
para abastecimento
Um dos primeiros grupos de contaminantes a ser estudado com relao aos riscos
para a sade humana foi o dos defensivos agrcolas, sendo que, atualmente, so lista-
dos 22 desses compostos na legislao brasileira que trata dos padres de qualidade
da gua de abastecimento - Portaria 518 do Ministrio da Sade (BRASIL, 2004).
Defensivos agrcolas so substncias qumicas utilizadas no controle de espcies in-
desejveis e doenas de plantas. Englobam substncias qumicas e algumas de origem
biolgica, podendo ser classicados em funo do tipo de espcies que controlam,
da estrutura qumica das substncias ativas e dos efeitos sade e ao ambiente. De
acordo com a natureza da espcie a ser combatida, tm-se as seguintes categorias de
defensivos agrcolas:
Inseticidas (controle de insetos): organoclorados, organofosforados,
carbamatos, piretrides
Fungicidas (combate aos fungos): ditiocarbamatos, dinitrofenis
Herbicidas (combate s plantas invasoras): dinitrofenis, carbamatos
Desfoliantes (combate s folhas indesejadas): dipiridilos, dinitrofenis
Fumigantes (combate s bactrias do solo): hidrocarbonetos halogenados
Rodenticidas/Raticidas (combate aos roedores/ratos): hidroxicumarinas
Moluscocidas (combate aos nematides): carbamatos
Acaricidas (combate aos caros): organoclorados, dinitrofenis
O uso de defensivos agrcolas tem se apresentado como um grave problema em v-
rios pases. De acordo com Konradsen e colaboradores (2005), os defensivos agrcolas
ainda so fontes de preocupao em termos de sade, pois estudos recentes sugerem
que podem ocorrer at 300 mil mortes por ano em decorrncia de envenenamento
intencional somente na sia, regio do Pacco. Ressalta-se que nestes dados no so
considerados os casos de exposio ocupacional ou acidental.
Quanto sua toxicidade, os defensivos agrcolas podem ser classicados em funo da
dose letal para 50% da populao do grupo de teste (DL
50
). Essa classicao funda-
mental para o conhecimento da toxicidade de um produto, com relao ao efeito agudo.
Na Tabela 2.4 so apresentadas as classes dos defensivos agrcolas em funo da DL
50
.
Os defensivos agrcolas podem desencadear efeitos variados na sade humana, agu-
dos, subagudos ou crnicos. Os sinais e sintomas podem variar de eventos bem ntidos
GUAS 54
e objetivos, como espasmos musculares, convulses, nuseas, desmaios, vmitos e
diculdades respiratrias; subjetivos e vagos, como dor de cabea, fraqueza, mal-estar,
dor de estmago e sonolncia; a manifestaes tardias, como os de natureza carcino-
gnica, mutagnica e neurolgica.
A exposio s substncias organofosforadas tem sido associada a variados distrbios
do sistema nervoso central. Os organofosforados e os carbamatos podem atuar no
organismo humano inibindo as enzimas colinesterases (grupo de enzimas respons-
veis pela hidrlise da acetilcolina, neurotransmissor responsvel pela transmisso dos
impulsos no sistema nervoso central e perifrico), levando ao acmulo da acetilcolina
nas sinapses nervosas e a crises colinrgicas. Os organoclorados, por sua vez, tm
como grande caracterstica a capacidade de se acumularem na cadeia alimentar e
no tecido adiposo humano, dada sua grande lipossolubilidade e lenta mobilizao,
podendo levar sua biomagnicao (PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003).
Tabela 2.4 > Classicao toxicolgica de defensivos agrcolas em relao a DL
50
CLASSE DL
50
PARA RATOS (MG.KG
-1
- MASSA CORPREA)
ORAL DRMICA
Slidos
a
Lquidos
a
Slidos
a
Lquidos
a
Ia
Extremamente
perigoso
5 20 10 40
Ib Altamente perigoso 5 50 20 200 10 100 40 400
II
Moderadamente
perigoso
50 - 500 200 2.000 100 1.000 400 4.000
III Levemente perigoso > 500 > 2.000 > 1.000 > 4.000
A REFERE-SE AO ESTADO FSICO DO COMPOSTO ATIVO.
FONTE: WHO (2005).
Os avanos do processo de registro de uso e efeitos associados aos defensivos agr-
colas tm levado a substituio e/ou proibio de alguns produtos, principalmente
os organoclorados. O uso de DDT, iniciado em 1940, foi proibido nos EUA em 1972,
com base no crescente histrico de efeitos sade e ao ambiente (USEPA, 1972). De
forma semelhante, produtos como aldrin, clordano, dieldrin, endrin, heptacloro, he-
xaclorobenzeno, mirex e toxafeno, entre outros, foram proibidos ou tiveram seu uso
restringido em muitos pases (USEPA, 2006).
Embora a questo dos defensivos agrcolas ainda seja relevante, atualmente uma nova
classe de contaminantes presentes no meio ambiente tem despertado a preocupao
de prossionais e pesquisadores das reas ambiental, de tratamento de gua e sade,
a qual denominada de desreguladores, perturbadores ou disruptores endcrinos. Um
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 55
desregulador endcrino uma substncia ou mistura exgena que altera as funes
do sistema endcrino e consequentemente causa danos em um organismo sadio, em
seus descendentes ou em outros grupos de organismos vivos (DAMSTRA, 2002).
Uma abordagem bastante ampla sobre os desreguladores endcrinos, ainda no tra-
tados por esta designao, foi apresentada por Rachel Carson, com a publicao do
livro Silent Spring (CARSON, 1962). Da publicao do livro at o presente, a situao
tornou-se mais complexa em funo do grande nmero de novas substncias qumi-
cas desenvolvidas e utilizadas pelos seres humanos.
Vrias publicaes tm apresentado dados com indcios dos efeitos de determinadas
substncias qumicas sobre organismos vivos, inclusive sobre o Homem. Em 1997,
Harrison, Holmes e Humfrey chamavam a ateno sobre efeitos adversos na sade
reprodutiva e na fecundidade de animais e humanos, destacando as tendncias para
desenvolvimento de cnceres testicular no homem e de mama nas mulheres e reduo
na contagem de espermas, alm de outros problemas que tm como responsveis os
compostos qumicos, naturais e sintticos, presentes no ambiente. Os autores con-
cluem que necessrio desenvolver programas de pesquisa e monitoramento para
identicar com maior preciso as possveis substncias que podem atuar como des-
reguladores endcrinos e tambm avaliar a exposio dos seres humanos e outros
animais a essas substncias.
Uma reviso feita por Sonnenschein e Soto (1998) sobre estrgenos e andrgenos
mimetizadores e antagonistas corrobora para a hiptese de que certas substncias
qumicas afetam a sade humana e de outros organismos vivos, por atuarem no sis-
tema endcrino. No artigo, os autores relataram a feminilizao de peixes machos
nas proximidades dos pontos de lanamento de esgotos em rios da Inglaterra, sendo
a causa provvel os alquilfenis resultantes da degradao de detergentes sintticos
durante o processo de tratamento de esgotos.
Em 2002, Amaral Mendes escreveu um artigo intitulado Desreguladores endcrinos: o
principal desao mdico (The endocrine disrupters: a major medical challenge), relatan-
do que existem evidncias substanciais sobre atuao de certas substncias qumicas,
como pesticidas e outros compostos, no sistema endcrino e reprodutivo, destacando
que os efeitos podem ser atribudos capacidade das substncias em:
a) mimetizar os efeitos de hormnios endgenos;
b) antagonizar o efeito de hormnios endgenos,
c) desregular a sntese e metabolismo de hormnios endgenos;
d) desregular a sntese de receptores de hormnios.
GUAS 56
Em um artigo publicado na revista Trends in Biotechnology, Jones, Lester e Voulvou-
lis (2005) chamam a ateno para os potenciais problemas relacionados presena
de medicamentos no meio ambiente, relatando sobre o risco associado ao desen-
volvimento de patgenos resistentes a antibiticos. Os autores citam como exemplo
a identicao de bactrias presentes em biolmes, com genes resistentes a certos
antibiticos inoculados com gua potvel na Alemanha.
Em 1997, com base na resoluo WHO 50.13, o Programa Internacional sobre Segu-
rana Qumica, pertencente Organizao Mundial da Sade, Programa Ambiental das
Naes Unidas e Organizao Internacional do Trabalho (OIT), assumiu a responsabili-
dade para desenvolver uma avaliao global sobre o conhecimento cientco relativo
aos desreguladores endcrinos (DAMSTRA, 2002). O desenvolvimento da avaliao
sobre os desreguladores endcrinos foi motivado pelo grande nmero de pesquisas e
estudos, em muitos casos divergentes, relacionados ao tema.
Como concluses gerais da avaliao elaborada sob a coordenao do Programa In-
ternacional sobre Segurana Qumica, foi apontado que, embora certas substncias
qumicas possam interferir com os processos hormonais, as evidncias que a sade
humana tem sido afetada pela exposio a substncias endocrinolgicas ativas ainda
so muito fracas. Contudo, existem evidncias sucientes para concluir que efeitos
adversos mediados pelo sistema endcrino ocorreram em algumas espcies selvagens
(DAMSTRA, 2002).
Um aspecto a ser considerado sobre as evidncias de efeitos adversos dos desregula-
dores endcrinos sobre a vida selvagem o fato das pesquisas terem sido feitas em
locais onde os nveis de contaminao so elevados. Isto, por sua vez, no elimina a
possibilidade de ocorrncia de efeitos adversos onde as concentraes de desregula-
dores endcrinos so baixas, uma vez que muitas substncias podem ter a sua con-
centrao aumentada pelo processo de bioacumulao e amplicao biolgica, uma
vez que elas entram na cadeia alimentar. Evidncias da presena no meio ambiente
e de efeitos potenciais dos desreguladores endcrinos tm sido relatadas em vrios
trabalhos desenvolvidos, principalmente, em pases da Europa e nos Estados Unidos
da Amrica (EUA), ressaltando-se que nestes pases as condies de saneamento so
muito melhores das que so encontradas no Brasil.
2.4 Principais grupos de desreguladores endcrinos
Os desreguladores endcrinos so substncias exgenas, que causam disfunes en-
dcrinas em animais superiores como, por exemplo, hermafroditismo e feminilizao.
Pesquisadores de diversas instituies do mundo tm voltado suas atenes para os
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 57
efeitos destes compostos na sade humana, bem como para as tecnologias mais e-
cientes para sua remoo.
A presena de diversas substncias qumicas nas guas superciais, conhecidas por cau-
sarem disfunes endcrinas no ser humano, tem chamado a ateno de pesquisadores.
Segundo Tapiero et al. (2002), os estrognios ambientais constituem um grupo diverso
de substncias qumicas sintticas ou de compostos de plantas naturais que podem agir
como hormnios estrgenos em animais e em seres humanos. Tais compostos so en-
contrados em inseticidas (o,p - DDT, endosulfan, dieldrin, metoxicloro, toxafeno, clordano
etc.), herbicidas (alaclor, atrazina, ou nitrofenol), fungicidas, nematocidas e outros com-
postos qumicos com aplicaes diversas (bifenilas policloradas-PCBs, dioxinas, benzo(a)
pireno). Tambm so considerados compostos estrognicos alguns metais pesados como
o chumbo, mercrio e cdmio e substncias originadas da hidrlise ou degradao parcial
de surfactantes, incluindo o nonilfenol e o octilfenol; bem como produtos plasticantes
(ftalatos e bisfenol-A). A Tabela 2.5, adaptada de Raimundo (2007), resume os possveis
desreguladores endcrinos presentes de acordo com a fonte de poluio.
Abordar todas as substncias potencialmente capazes de provocar alguma interfern-
cia no sistema endcrino exigiria a elaborao de um texto muito extenso, assim como
no atenderia ao objetivo deste captulo, que colocar na pauta de discusses do
setor de abastecimento de gua os riscos de certas substncias qumicas sobre a sade
humana, quando presentes no meio ambiente, principalmente em mananciais utiliza-
dos para abastecimento pblico. Para exemplicar, a seguir sero apresentados alguns
dos desreguladores endcrinos com maior destaque na comunidade cientca.
2.4.1 Hormnios
Os hormnios so substncias qumicas produzidas por glndulas ou clulas espe-
cializadas, que inuenciam na funo de outras clulas em vrios locais do corpo. Os
hormnios endcrinos so transportados para as clulas distribudas no corpo huma-
no pelo sistema circulatrio. Esses hormnios se ligam a receptores e iniciam vrias
reaes. Os esterides constituem uma classe geral de hormnios que so secretados
pelos ovrios, pela placenta e por outros rgos. Os hormnios esterides apresentam
estrutura qumica semelhante do colesterol (GUYTON; HALL, 2005). Por serem muito
lipossolveis, os esterides atravessam facilmente a membrana celular e penetram
no sangue circulante, principalmente ligados s protenas plasmticas. Apenas 10%
destes hormnios encontram-se na forma livre. Os hormnios ligados s protenas so
biologicamente inativos at que ocorra a dissociao das protenas plasmticas.
Dos hormnios que ocorrem naturalmente, o mais potente o 17--estradiol, principal
hormnio secretado durante o perodo de atividade dos ovrios, e os seus metabli-
GUAS 58
tos, estrona e estriol (GENNARO, 1990). Em relao aos hormnios sintetizados para uso
como contraceptivos e no tratamento de reposio hormonal encontram-se o 17--
etinilestradiol e o levonorgestrel, que podem ser combinados para a obteno de melho-
res resultados. A Figura 2.3 mostra a frmula estrutural dos hormnios mencionados.
O 17--etinilestradiol, aps a sua administrao, rapidamente absorvido pelo trato
intestinal, apresentando meia vida biolgica entre 13 e 27 horas, sendo excretado
atravs da urina e das fezes (ENSP, 2002). O levonorgestrel tambm tem uma rpida
assimilao e sua meia vida biolgica varia entre 10 e 24 horas, sendo excretado prin-
cipalmente pela urina.
Tabela 2.5 > Principais fontes de desreguladores endcrinos em guas superciais
FONTES TIPOS DE FONTES DESREGULADORES ENDCRINOS PRESENTES
Euente industrial Pontual
Hormnios naturais e sintticos, alquilfenis, ftalatos,
bisfenol A, frmacos, cafena, pesticidas, bifenilas
policloradas (PCB), hidrocarbonetos policclicos aromticos
(HPA), retardantes de chama, pesticidas, dioxinas.
Esgoto domstico Pontual
Hormnios naturais e sintticos, alquilfenis, ftalatos,
bisfenol A, frmacos, cafena.
Desvio pecurio Difusa
Hormnios naturais e sintticos, antibiticos,
frmacos veterinrios.
Natural Difusa HPA, estrognios naturais e toestrognios.
FONTE: ADAPTADO DE RAIMUNDO (2007).
Os estrognios, em especial o -estradiol, so responsveis pelas caractersticas femi-
ninas, pelo controle do ciclo reprodutivo e gravidez, bem como inuenciam na pele,
nos ossos e no sistema cardiovascular e imunolgico.
Segundo Bila e Dezotti (2003), a presena de frmacos residuais na gua, como antibi-
ticos e estrognios, pode causar efeitos adversos na sade humana, e de organismos
presentes nas guas, como os peixes. Johnson e Sumpter (2001) sugerem que devam
ser priorizadas pesquisas para reduzir os nveis de deteco e aumentar a preciso
nas anlises de amostras contendo os estrognios esterides, especialmente para o
etinilestradiol.
2.4.2 Nonilfenol
Os alquilfenis polietoxilados (APEO
n
) so surfactantes no-inicos e constituem uma
das classes de surfactantes mais utilizadas na fabricao de detergentes para uso do-
mstico, nas formulaes de defensivos agrcolas e em produtos industriais. O nonilfe-
nol, oriundo principalmente da degradao parcial do APEO
n
nonilfenol polietoxilado,
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 59
Figura 2.4 Frmula estrutural do n-nonilfenol
Figura 2.5 Frmula estrutural do nonilfenol polietoxilado
Figura 2.3 Principais hormnios que podem ser encontrados no meio ambiente
GUAS 60
faz parte da classe dos alquilfenis e apresenta peso molecular igual a 220 g.mol
-1
,
solubilidade em gua igual a 5,43 mg.L
-1
a 20
o
C (AHEL; GIGER, 1993A) e coeciente
de partio octanol-gua (log K
ow
) igual a 4,48 (AHEL; GIGER, 1993B). Na Figura 2.4
apresentada a frmula estrutural do nonilfenol de cadeia linear, conhecido como
4-nonilfenol ou 4-NP, ao passo que na Figura 2.5 apresentada a frmula estrutural
do nonilfenol polietoxilado, tambm conhecido como NPEO.
De acordo com Ying, Brian e Kookana (2002), o nonilfenol lanado no meio ambiente
via euentes industriais e euentes de estaes de tratamento de esgotos (lquido e
lodo), bem como pela aplicao direta de defensivos agrcolas, tendo sido detectado
no ar, na gua, no solo, em sedimentos e na biota.
Muitos estudos tm reportado a ocorrncia de metablitos de alquilfenis no meio am-
biente. Outros estudos tambm apontam que tais metablitos so mais txicos do que
as substncias que os constituram e possuem a habilidade de agir como os hormnios
naturais, interagindo com o estrognio receptor (YING; BRIAN; KOOKANA, 2002).
Quando o nonilfenol polietoxilado atinge o meio ambiente, ele est sujeito aos pro-
cessos naturais de degradao, os quais so iniciados na rede de esgoto e prosseguem
at atingir o corpo de gua receptor, passando ou no por uma estao de tratamento
de esgotos. Como resultado do processo de degradao so produzidos vrios meta-
blitos, entre eles o 4-nonilfenol ou para-nonilfenol, conforme a sequncia de reaes
mostradas na Figura 2.6 (VERSCHMEREN, 2001).
2.4.3 Produtos farmacuticos e de higiene pessoal
Pelos dados disponveis na pgina eletrnica da Agncia Nacional de Vigilncia Sanit-
ria (Anvisa), os produtos farmacuticos utilizados no Brasil so agrupados em 49 cate-
Figura 2.6 Degradao do nonilfenol polietoxilado
gorias, com aproximadamente 200 formulaes especcas (BERMUDEZ, 2002). Nestas
categorias esto includos princpios ativos utilizados como analgsicos, antibiticos,
antiinamatrios, antiepilpticos, antineoplsicos e antidepressivos, entre outros.
A possibilidade desses produtos serem introduzidos no ambiente por diferentes rotas
bastante grande, com risco de causar efeitos adversos aos organismos expostos (DAU-
GHTON; TERNES, 1999). Estudos realizados h mais de 25 anos j conrmavam que
certos compostos farmacuticos ativos atingiam o meio ambiente atravs dos esgotos,
destacando-se a cafena, a nicotina e a aspirina (DAUGHTON, 2001).
Em um trabalho desenvolvido por Heberer (2002), avaliada a ocorrncia e remoo de
resduos farmacuticos na ambiente aqutico. Neste trabalho destacada a importncia
dos frmacos excretados pelos usurios, geralmente conjugados a molculas polares.
Nas estaes de tratamento de esgotos ou no ambiente, estas substncias sofrem vrios
tipos de reaes qumicas e isto possibilita a liberao do princpio ativo para a gua ou
a produo de metablitos mais ativos do que a molcula original (HEBERER, 2002). Um
exemplo desta condio o cido acetilsaliclico, princpio ativo amplamente utilizado
na formulao de analgsicos, que facilmente degradado por de-acetilao , o que d
origem ao cido saliclico, que muito mais ativo (HEBERER, 2002). Assim como o cido
acetilsaliclico, outros princpios ativos presentes em medicamentos ou produtos de hi-
giene pessoal podem sofrer degradao parcial, inclusive nas estaes de tratamento de
gua ou esgotos, dando origem a substncias com maior potencial de risco.
Pela ampla variedade de medicamentos e produtos de higiene pessoal disponvel na
atualidade, torna-se difcil apresentar dados especcos sobre esta categoria de con-
taminantes, ressaltando que a ampliao do seu uso requer uma ateno especial por
parte dos prossionais envolvidos direta ou indiretamente com sistemas de tratamen-
to de gua para abastecimento.
2.5 Presena de contaminantes orgnicos
em mananciais de gua para abastecimento
Por se tratar de um tema relativamente novo, os principais estudos sobre a presena
em mananciais de contaminantes orgnicos com potencial de causar perturbaes no
sistema endcrino limitam-se aos pases com maior disponibilidade de recursos. Em
alguns trabalhos disponveis so apresentados dados muito pontuais sobre o Brasil e
que a avaliao se restringiu anlise de amostras de esgoto bruto e tratado.
No trabalho desenvolvido por Ternes e colaboradores (1999), procurou-se avaliar o com-
portamento e ocorrncia de estrgenos em estaes de tratamento de esgotos na Ale-
manha, Brasil e Canad, alm da presena em rios e cursos dgua na Alemanha e no Ca-
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 61
gorias, com aproximadamente 200 formulaes especcas (BERMUDEZ, 2002). Nestas
categorias esto includos princpios ativos utilizados como analgsicos, antibiticos,
antiinamatrios, antiepilpticos, antineoplsicos e antidepressivos, entre outros.
A possibilidade desses produtos serem introduzidos no ambiente por diferentes rotas
bastante grande, com risco de causar efeitos adversos aos organismos expostos (DAU-
GHTON; TERNES, 1999). Estudos realizados h mais de 25 anos j conrmavam que
certos compostos farmacuticos ativos atingiam o meio ambiente atravs dos esgotos,
destacando-se a cafena, a nicotina e a aspirina (DAUGHTON, 2001).
Em um trabalho desenvolvido por Heberer (2002), avaliada a ocorrncia e remoo de
resduos farmacuticos na ambiente aqutico. Neste trabalho destacada a importncia
dos frmacos excretados pelos usurios, geralmente conjugados a molculas polares.
Nas estaes de tratamento de esgotos ou no ambiente, estas substncias sofrem vrios
tipos de reaes qumicas e isto possibilita a liberao do princpio ativo para a gua ou
a produo de metablitos mais ativos do que a molcula original (HEBERER, 2002). Um
exemplo desta condio o cido acetilsaliclico, princpio ativo amplamente utilizado
na formulao de analgsicos, que facilmente degradado por de-acetilao , o que d
origem ao cido saliclico, que muito mais ativo (HEBERER, 2002). Assim como o cido
acetilsaliclico, outros princpios ativos presentes em medicamentos ou produtos de hi-
giene pessoal podem sofrer degradao parcial, inclusive nas estaes de tratamento de
gua ou esgotos, dando origem a substncias com maior potencial de risco.
Pela ampla variedade de medicamentos e produtos de higiene pessoal disponvel na
atualidade, torna-se difcil apresentar dados especcos sobre esta categoria de con-
taminantes, ressaltando que a ampliao do seu uso requer uma ateno especial por
parte dos prossionais envolvidos direta ou indiretamente com sistemas de tratamen-
to de gua para abastecimento.
2.5 Presena de contaminantes orgnicos
em mananciais de gua para abastecimento
Por se tratar de um tema relativamente novo, os principais estudos sobre a presena
em mananciais de contaminantes orgnicos com potencial de causar perturbaes no
sistema endcrino limitam-se aos pases com maior disponibilidade de recursos. Em
alguns trabalhos disponveis so apresentados dados muito pontuais sobre o Brasil e
que a avaliao se restringiu anlise de amostras de esgoto bruto e tratado.
No trabalho desenvolvido por Ternes e colaboradores (1999), procurou-se avaliar o com-
portamento e ocorrncia de estrgenos em estaes de tratamento de esgotos na Ale-
manha, Brasil e Canad, alm da presena em rios e cursos dgua na Alemanha e no Ca-
GUAS 62
nad. Para o estudo, foram coletadas amostras compostas dirias do auente e euente
de uma estao de tratamento de esgotos prxima a Frankfurt, na Alemanha, e de uma
estao no Rio de Janeiro. Alm disso, foram analisadas amostras de esgoto tratado de
16 estaes na Alemanha e dez no Canad. Na Alemanha, ainda foram analisadas amos-
tras de cinco rios e outros nove cursos dgua. Os compostos analisados foram:
Estrona
17 Estradiol
Mestranol
17 Etinilestradiol
17 Estradiol 17 valerato
16 Hidroxiestrona
17 Estradiol 17 acetato
No esgoto bruto da estao de tratamento no Rio de Janeiro foram detectados os
estrognios naturais 17-estradiol e estrona, na concentrao de 21 ng.L
-1
e 40 ng.L
-1
,
alm do 17-etinilestradiol em menor concentrao. A ecincia de remoo no siste-
ma de tratamento foi de 78% para o 17-etinilestradiol, 83% para a estrona e 99,9%
para o 17-estradiol. Na estao de tratamento de esgotos da Alemanha tambm foi
constatada a presena de 17-estradiol e estrona no euente bruto, porm em menor
concentrao que na estao do Rio de Janeiro. Foi vericado, no entanto, que a re-
moo de estrona e 17-etinilestradiol foi menor (TERNES et al., 1999).
Com relao s descargas de euentes das estaes de tratamento da Alemanha e
Canad, os principais compostos que puderam ser identicados foram a estrona, o
17-estradiol, a 16-hidroxiestrona e o 17-etinilestradiol, na faixa de nanogramas
por litro. No caso das amostras de rios e cursos dgua da Alemanha, a estrona foi o
nico composto identicado, com concentraes variando entre 0,7 ng.L
-1
e 1,6 ng.L
-1
(TERNES et al., 1999).
Um estudo realizado pelo United States Geological Survey (USGS) mostrou que uma
ampla variedade de produtos qumicos da classe dos desreguladores endcrinos est
presente em baixas concentraes em corpos dgua prximos a reas de intensa ur-
banizao e criao animal (USGS, 2002). No programa desenvolvido pelo USGS, foram
coletadas amostras de 139 corpos dgua em 30 Estados americanos para a identi-
cao e quanticao de substncias qumicas da classe dos desreguladores endcri-
nos, sendo que os resultados mais representativos foram para as regies altamente
urbanizadas e com pecuria intensiva. O grco da Figura 2.7 mostra os principais
contaminantes identicados, as concentraes mdias e a frequncia de deteco.
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 63
FONTE: USGS (2002).
Figura 2.7 Principais contaminantes identicados em cursos dgua nos EUA
Frequncia de deteco (%)
C
o
n
c
e
n
t
r
a
o
t
o
t
a
l
(
m
i
c
r
o
g
r
a
m
a
s
p
o
r
l
i
t
r
o
s
)
GUAS 64
Em 2002, Ying, Kookana e Ru publicaram uma reviso sobre a ocorrncia e destino de
esterides hormonais no meio ambiente (YING; KOOKANA; RU, 2002) . Nos esgotos, foi
detectada a presena de estrona, estradiol, estriol e etinilesteradiol, nas concentraes
de 70, 64, 18 e 42 ng.L
-1
, respectivamente. Na gua supercial e subterrnea, s foi
detectada a presena de estradiol, nas concentraes de 27 ng.L
e de 6 a 66 ng.L
-1
,
respectivamente.
Boyd et al. (2003) desenvolveram um estudo para avaliar a presena de frmacos e
produtos de higiene pessoal em guas superciais e tratadas na Louisiana (EUA) e On-
trio (Canad). No estudo, foram avaliadas 11 substncias qumicas, tendo sido en-
contradas no euente da estao de tratamento da Louisiana o Naproxen (analgsico
antiinamatrio), em concentraes variando entre 81 ng.L
-1
a 106 ng.L
-1
, e o Triclosan
(desinfetante antimicrobiano), em concentraes variando entre 10 ng.L
-1
e 21 ng.L
-1
.
Com relao presena de contaminantes qumicos em guas superciais, o Naproxen
foi detectado tanto na Louisiana quanto em Ontrio, em concentraes variando entre
22 ng.L
-1
e 107 ng.L
-1
(BOYD et al., 2003).
Em Portugal (CEREJEIRA et al., 2003) e Espanha (CARABIAS-MARTINEZ et al., 2003), foi
detectada a presena de herbicidas e inseticidas em mananciais superciais, a maioria
com valores constantes e abaixo do valor mximo permitido (VMP) pela Unio Europeia.
Apesar de no representar uma tendncia, constatou-se variao sazonal de concen-
trao, com os maiores nveis registrados na primavera, justamente aps aplicao
do produto, com resduos de alguns defensivos agrcolas com valores acima do VMP
europeu. Tais resultados, ainda que pontuais, sugerem uma relao entre a estao do
ano e a ocorrncia de contaminao por herbicidas, como uma funo das atividades
agrcolas em cada poca do ano. Em estudo semelhante, feito no Brasil, Alves e Olivei-
ra (2003) apud Alves (2000) sugeriram correlaes entre indicadores ambientais, regi-
me de aplicao na regio e as concentraes encontradas na gua de So Loureno,
distrito de Nova Friburgo (RJ), cidade caracterizada por elevada produtividade agrcola
e utilizao intensiva de defensivos agrcolas.
Avaliando-se as informaes apresentadas, possvel concluir que a presena de con-
taminantes orgnicos, principalmente aqueles pertencentes classe dos desregulado-
res endcrinos, em mananciais de gua uma realidade, mesmo em pases que dis-
pem de uma infra-estrutura adequada de coleta e tratamento de esgotos. Em relao
ao potencial para a presena de estrgenos nos esgotos, uma informao bastante til
refere-se quantidade de estrognios excretados diariamente pelos seres humanos
(Tabela 2.6), mostrando a relevncia desta fonte.
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 65
Tabela 2.6 > Excreo diria, em microgramas, de estrognios pelos seres humanos
CATEGORIA 17-ESTRADIOL ESTRONA ESTRIOL 17-ETINILESTRADIOL
Homens 1,6 3,9 1,5 --
Mulheres frteis 3,5 8 4,8 --
Mulheres na menopausa 2,3 4 1 --
Mulheres grvidas 259 600 6000 --
Mulheres -- -- -- 35
FONTE: YING; KOOKANA; RU (2002).
Tabela 2.7 > Estimativa da carga de alguns estrgenos lanada no meio ambiente
pelos seres humanos
CATEGORIA QUANTIDADE CARGA ANUAL (KG)
17-estradiol Estrona Estriol 17-
etinilestradiol
Homens acima
de 12 anos
61.608.671 35,98 87,70 33,73 --
Mulheres entre
12 e 49 anos
50.437.982 64,43 147,28 88,37 225,52
a
Mulheres acima
de 49 anos
14.508.639 12,18 21,18 4,30 --
TOTAL 112,59 256,16 126,40 225,52
Concentrao nos esgotos
(ng.L
-1
)
b
16,78 38,18 18,84 33,61
A FOI CONSIDERADO QUE APENAS 35% DAS MULHERES UTILIZAM ANTICONCEPCIONAIS
B FOI UTILIZADO O VOLUME ANUAL DE GUA CONSUMIDO, CONFORME TABELA 2.3
Como no Brasil os servios de coleta e tratamento de esgotos ainda so precrios e
as atividades agrcolas so intensas, pode-se concluir que alm da presena de com-
postos orgnicos da classe dos desreguladores endcrinos nos mananciais de gua,
os nveis de concentrao podem ser signicativamente maiores daqueles observados
nos pases desenvolvidos.
Apenas para efeito de ilustrao, utilizando-se os dados da Tabela 2.4 e do censo
demogrco de 2000 (IBGE, 2000), possvel obter uma estimativa da carga anual de
alguns estrgenos, lanada no meio ambiente apenas pelos seres humanos, conforme
apresentado na Tabela 2.7.
Analisando-se os dados da Tabela 2.7, verica-se que os valores para as concentraes
de 17-estradiol e estrona esto prximos aos reportados por Ternes et al. (1999) para
o esgoto bruto auente estao de tratamento de esgotos do Rio de Janeiro.
GUAS 66
Os dados apresentados demonstram a relevncia dessa nova classe de contaminan-
tes, conhecidos como desreguladores endcrinos, destacando-se a importncia do
desenvolvimento de pesquisas especcas sobre procedimentos analticos para a sua
identicao e quanticao e sobre a capacidade das tecnologias de tratamento atu-
almente utilizadas para a sua remoo.
2.6 Remoo no tratamento de gua
Com base no conceito de mltiplas barreiras, os sistemas de tratamento de gua para
abastecimento se constituem na barreira nal para assegurar a produo de uma gua
adequada do ponto de vista de sade pblica. Por se tratar de compostos orgnicos, as
tecnologias tradicionalmente utilizadas para tratamento de gua apresentam capaci-
dade limitada para possibilitar a remoo ou destruio de desreguladores endcrinos,
e apresentam ainda o potencial de gerao de subprodutos com maior toxicidade,
principalmente nas etapas de pr-oxidao ou desinfeco (OKUN, 2003).
Com o crescente interesse pelo tema de desreguladores endcrinos, vrios estudos
sobre a ecincia de sua remoo em sistemas de tratamento de gua tm sido desen-
volvidos, mostrando que o sistema convecional apresenta limitaes, sendo necessria
a utilizao de processos alternativos ou complementares.
A Tabela 2.8 resume os dados disponveis na literatura relacionados s ecincias de
remoo de estradiol, etinilestradiol, nonilfenol, bisfenol A, dietilftalato e bis(2etilhexil)
ftalato por diferentes tcnicas de tratamento de gua.
Tabela 2.8> Ecincias de remoo de estradiol, etinilestradiol, nonilfenol, bisfenol A,
dietilftalato e bis(2etilhexil)ftalato por diferentes tecnologias de tratamento de gua
TECNOLOGIA DE ESTUDADOS REMOO REFERNCIA
Carvo ativado em p (20 mg/L
e tempo de contato de 4h)
E2 > 95% Veras et al. (2006)
Carvo ativado granular NP e DEP 90 a 100% Paune et al. 1998)
Carvo ativado em p BPA, E2 e EE2 > 99%
Yoon et al. (2003)
Fuerhacker et al. (2001)
Carvo ativado
(5 mg/L e tempo de contato de 4h)
E2, EE2
77% (EE2)
84% (E2)
Westerhoff et al. (2005)
Ultraltrao EE2, NP > 90% Mierzwa et al. (2005)
Nanoltrao NP e BPA
67 a 98% (BPA)
70 a 97% (NP)
Gallenkemper et al.
(2003)
Osmose reversa,
nanoltrao, ultraltrao
DEP e BEHP
95,1 a 99,9% (DEP)
99,6 a 99,9% (BEHP)
Bodzek et al. (2004)
Filtro biolgico com MnO
2
Vazo: 1,2 L/h
EE2 81,7% Rudder et al. (2004)
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 67
Tabela 2.8 > Continuao
Tecnologia DE Estudados Remoo Referncia
Tratamento convencional PE, BHEP, DEP
0 a 7%( PE)
53% (BHEP)
46% (DEP)
Choi et al. (2006)
Tratamento convencional E2, EE2 25% (E2, EE2)
Westerhoff et al.
(2005)
Clorao
(1 mg Cl
2
/L)
BPA, NP
58% (BPA)
5% (NP)
Choi et al. (2006)
Clorao NP, BPA > 99% (NP, BPA) Lenz et al. (2004)
Ozonizao NP, BPA > 99% (NP, BPA) Lenz et al. (2004)
Ozonizao BPA, NP
60% (BPA)
89% (NP)
Choi et al. (2006)
Ozonizao
(5 a 6 mg O
3
/L)
E2, EE2, NP
53% (E2)
71% (EE2)
21% (NP)
Wang et al. (2005)
Ozonizao (1,5 mg O
3
/L e tempo
de contato de 10 min)
E2, EE2, BPA > 97% (todos) Alum et al. (2004)
NP: NONILFENOL / E2: ESTRADIOL / EE2: ETINILESTRADIOL / BPA: BISFENOL / DEP: DIETILFTALATO / BEHP: BIS(2-ETILHEXIL)FTALATO.
Nos EUA, a preocupao com a qualidade da gua para abastecimento pblico, tanto
em relao aos organismos patognicos como com os subprodutos da desinfeco e
seus precursores, resultou em uma srie de trabalhos e regulamentaes relacionadas
s tecnologias de tratamento da gua para abastecimento pblico, sendo indicadas
como mais adequadas (USEPA, 2005; USEPA, 1999):
Uso de dixido de cloro, cloraminas e oznio
Radiao ultravioleta
Coagulao aprimorada ( enhanced coaglation)
Micro, ultra e nanoltao
Filtrao de segundo estgio
Adsoro em carvo ativado granular
Gerenciamento dos mananciais
As opes apresentadas no contemplam especicamente os desreguladores endcri-
nos, mas sim microrganismos especcos e subprodutos da desinfeco.
Como a maioria das estaes de tratamento de gua para abastecimento pblico no
Brasil baseada no sistema convencional, a potencial presena de uma ampla gama
GUAS 68
de compostos orgnicos na gua potvel no pode ser desprezada, principalmente nos
grandes centros urbanos, o que requer uma maior ateno por parte de pesquisadores
e prossionais que atuam na rea de abastecimento de gua. Salienta-se que pouco
se sabe sobre a ecincia das operaes unitrias e processos qumicos comumente
usados no tratamento convencional de gua na remoo de tais compostos.
Assim, importante que se desenvolvam pesquisas para avaliar a capacidade destas
tecnologias de tratamento para a remoo desta nova classe de contaminantes, ressal-
tando-se tambm a importncia do desenvolvimento de mtodos analticos que pos-
sibilitassem a sua deteco nos nveis que se encontram presentes no ambiente. Alm
disso, deve-se considerar que o tema sobre compostos orgnicos presentes no am-
biente em microquantidades, comumente denominados microcontaminantes, requer o
desenvolvimento de estudos epidemiolgicos, para avaliar a sua relevncia e, se neces-
srio, estabelecer padres de qualidade especcos, para a gua de abastecimento.
2.7 Controle da qualidade da gua para consumo humano
Apesar do risco potencial associado presena de contaminantes orgnicos na gua, o
seu monitoramento ainda uma prtica pouco aplicada no Brasil e em muitos outros
pases. Em relao ao controle de qualidade para gua de abastecimento pblico, deve
ser dado destaque a terceira edio das diretrizes de qualidade da gua para abaste-
cimento da OMS (WHO, 2004), a partir da qual so denidos os padres de qualidade
de gua de abastecimento na maioria dos pases, inclusive no Brasil. Cabe ressaltar
que nas diretrizes da OMS, para a classe de contaminantes qumicos, dada ateno
especial aos defensivos agrcolas e subprodutos da desinfeco, o que se justica pela
relevncia desses contaminantes para a sade humana.
Em razo das diretrizes serem baseadas em evidncias da presena de um contaminan-
te especco na gua de abastecimento e no seu potencial de resultar em efeitos ad-
versos para os seres humanos, medida que sejam obtidos dados mais consistentes so-
bre os contaminantes orgnicos presentes em microquantidades nos mananciais para
abastecimento e tambm na gua potvel, estes, seguramente, sero considerados nas
diretrizes da OMS e tambm nas normas sobre qualidade de gua de muitos pases.
Por enquanto, importante que as questes sobre a presena de contaminantes or-
gnicos em mananciais de abastecimento, capacidade dos sistemas de tratamento de
gua para sua remoo e os efeitos potenciais na sade humana, sejam investigados
com o devido rigor cientco e responsabilidade. importante que posies extremas
de pesquisadores e prossionais das companhias de abastecimento de gua, sejam
evitadas. importante que os pesquisadores no superestimem a importncia dos
compostos orgnicos presentes em microquantidades nos mananciais nem que os
responsveis pelas companhias de abastecimento de gua a minimizem.
Deve ser ressaltado, no entanto, que a preocupao com esta questo urgente, prin-
cipalmente em decorrncia dos resultados das pesquisas que tm sido divulgadas por
revistas especializadas e por entidades de pesquisa de grande credibilidade, com ind-
cios da presena em mananciais e na gua de abastecimento e dos efeitos potenciais
sobre a sade humana, de uma ampla variedade de substncias e produtos qumicos
utilizados pelos seres humanos.
2.8 Tendncias para o futuro
Mantendo-se os atuais nveis de desenvolvimento e urbanizao, a presso sobre os
recursos hdricos tender a ser mais intensa. Com os assentamentos urbanos cada vez
mais prximos dos mananciais utilizados para abastecimento pblico, os baixos ndi-
ces de coleta e tratamento de esgotos sanitrios atualmente observados e a ampliao
da oferta de novas substncias e compostos qumicos, o abastecimento de gua para
as populaes desses centros ser um desao.
Para que seja possvel enfrentar os potenciais problemas relacionados qualidade
da gua para abastecimento, o que j se verica nos dias atuais, necessrio o in-
vestimento em pesquisas para avaliao dos impactos que os compostos orgnicos
presentes em microquantidades nos mananciais apresentam sobre a sade humana
e como eles se comportam nos sistemas de tratamento. Alm disso, a colaborao
entre instituies de pesquisa e companhias de abastecimento de gua de extrema
importncia para garantir que no sejam consolidadas posies extremas em relao
a essa nova classe de contaminantes que, em ltima anlise, no atende aos interesses
da sociedade como um todo. Conforme mencionado anteriormente, no se deve supe-
restimar e muito menos negligenciar os riscos potenciais que podem estar associados
a esta ampla variedade de substncias e compostos qumicos que atingem os nossos
mananciais e, consequentemente, a gua que consumimos.
O desenvolvimento tecnolgico trouxe grandes benefcios para a humanidade, com
inovaes em vrias reas do conhecimento, inclusive para o tratamento de gua. As-
sim, os desaos atuais devem ser enfrentados com todas as ferramentas disponveis.
No caso das tecnologias de tratamento de gua, em muitas situaes as convencionais
so a opo mais adequada para possibilitar a obteno de uma gua segura para
o consumo humano, enquanto em outros casos a melhor opo so as tecnologias
avanadas. Alm da questo tecnolgica, no se pode deixar de lado o princpio bsico
do tratamento de gua, que so as medidas preventivas, devendo-se atuar na prote-
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 69
compostos orgnicos presentes em microquantidades nos mananciais nem que os
responsveis pelas companhias de abastecimento de gua a minimizem.
Deve ser ressaltado, no entanto, que a preocupao com esta questo urgente, prin-
cipalmente em decorrncia dos resultados das pesquisas que tm sido divulgadas por
revistas especializadas e por entidades de pesquisa de grande credibilidade, com ind-
cios da presena em mananciais e na gua de abastecimento e dos efeitos potenciais
sobre a sade humana, de uma ampla variedade de substncias e produtos qumicos
utilizados pelos seres humanos.
2.8 Tendncias para o futuro
Mantendo-se os atuais nveis de desenvolvimento e urbanizao, a presso sobre os
recursos hdricos tender a ser mais intensa. Com os assentamentos urbanos cada vez
mais prximos dos mananciais utilizados para abastecimento pblico, os baixos ndi-
ces de coleta e tratamento de esgotos sanitrios atualmente observados e a ampliao
da oferta de novas substncias e compostos qumicos, o abastecimento de gua para
as populaes desses centros ser um desao.
Para que seja possvel enfrentar os potenciais problemas relacionados qualidade
da gua para abastecimento, o que j se verica nos dias atuais, necessrio o in-
vestimento em pesquisas para avaliao dos impactos que os compostos orgnicos
presentes em microquantidades nos mananciais apresentam sobre a sade humana
e como eles se comportam nos sistemas de tratamento. Alm disso, a colaborao
entre instituies de pesquisa e companhias de abastecimento de gua de extrema
importncia para garantir que no sejam consolidadas posies extremas em relao
a essa nova classe de contaminantes que, em ltima anlise, no atende aos interesses
da sociedade como um todo. Conforme mencionado anteriormente, no se deve supe-
restimar e muito menos negligenciar os riscos potenciais que podem estar associados
a esta ampla variedade de substncias e compostos qumicos que atingem os nossos
mananciais e, consequentemente, a gua que consumimos.
O desenvolvimento tecnolgico trouxe grandes benefcios para a humanidade, com
inovaes em vrias reas do conhecimento, inclusive para o tratamento de gua. As-
sim, os desaos atuais devem ser enfrentados com todas as ferramentas disponveis.
No caso das tecnologias de tratamento de gua, em muitas situaes as convencionais
so a opo mais adequada para possibilitar a obteno de uma gua segura para
o consumo humano, enquanto em outros casos a melhor opo so as tecnologias
avanadas. Alm da questo tecnolgica, no se pode deixar de lado o princpio bsico
do tratamento de gua, que so as medidas preventivas, devendo-se atuar na prote-
GUAS 70
o dos manancias, o que exige aes coordenadas, poltica, econmicas e sociais.
Estar consciente dos principais problemas sobre a qualidade da gua para abastecimento
pblico e das opes disponveis para enfrent-los talvez seja o maior desao que deve
ser superado pelos prossionais e pesquisadores ligados rea de saneamento bsico.
Referncias bibliogrcas
AHEL M.; GIGER, W. Aqueous solubility of alkylphenols and alkylphenols polyetoxilates. Chemos-
phere, v. 26, n. 8, p. 1461-1470, 1993A.
______. Partitioning of alkyphenols and alkylphenols polyetoxilates between water and organic
solvents. Chemosphere, v. 26, n. 8, p. 1471-1478, 1993B.
ALUM, A. et al. Oxidation of bisphenol A, 17 beta-estradiol, and 17 alpha-ethynyl estradiol and
byproduct estrogenicity. Environmental toxicology, v. 19, n. 3, p. 257-264, 2004.
ALVES, S.R.; OLIVEIRA-SILVA, J.J. Avaliao de ambientes contaminados por agrotxicos. In: PE-
RES, F.; MOREIRA, J.C. (org.) veneno ou remdio? Agrotxicos, sade e ambiente. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 2003.
AMARAL MENDES, J.J. The endocrine disrupters: a major medical challenge. Food and Chemical
Toxicology, v. 40, p. 781-788, 2002.
BAIRD, C. Qumica Ambiental, 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.
BERMUDEZ, J.A.Z. (coord.). Fundamentos farmacolgicos-clnicos dos medicamentos de uso
corrente 2002. Escola Nacional de Sade Pblica. Ncleo de Assistncia Farmacutica. Rio de
Janeiro: ESPN, 2002.
BILA, D.M.; DEZOTTI, M. Frmacos no meio ambiente. Qumica Nova, v. 24, n. 4, p. 523-530, 2003.
BODZEK, M.; DUDZIAK, M.; LUKS-BETLEJ, K. Application of membrane techniques to water puri-
cation. Removal of phthalates. Desalination, v. 162, n. 1-3, p. 121-128, 2004.
BOYD, G.R. et al. Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in surface and treated
waters of Louisiana, USA and Ontario, Canada. The Science of Total Environment, v. 311, p. 135-
149, 2003.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n 518, de 25 de maro de 2004.
CARABIAS-MARTNEZ, R. et al. Evolution over time of the agricultural pollution of waters in an
area of Salamanca and Zamora (Spain). Water Research, v. 37, p. 928-938, 2003.
CARSON, R. Silent Spring. New York: Houghton Mifin Company, 2002.
CAS - CHEMICAL ABSTRACT SERVICE. The latest CAS Registry Number and Substance Count.
Disponvel em: <http://www.cas.org/cgi-bin/cas/regreport.pl> Acesso em 07 jan. 2009.
CEREJEIRA, M.J. et al. Pesticides in Portuguese surface and ground waters. Water Research, v. 37,
p. 1055-1063, 2003.
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 71
CHOI, K.J. et al. Removal efciencies of endocrine disrupting chemicals by coagulation/occula-
tion, ozonation, powdered/granular activated carbon adsorption, and chlorination. Korean Jour-
nal of Chemical Engineering, v. 23, n. 3, p. 399-408, 2006.
DAMSTRA, T. et al. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. Gene-
bra: WHO, 2002.
DAUGHTON, C.G. Pharmaceuticals and personal care products in the environment: Overarching
issues and overview. In: DAUGHTON, C.G.; JONES-LEPP, T. (eds.). Pharmaceuticals and Personal
Care Products in the Environment: Scientic and Regulatory Issues, Symposium Series 791. Ame-
rican Chemical Society: Washington, D.C., 2001.
DAUGHTON, C.G.; TERNES, T.A. Pharmaceuticals and personal care products in the environment:
Agents of subtle change? Environmental Perspectives, v. 107, n. 6, dez. 1999. Disponvel em:
<http://epa.gov/nerlesd1/bios/daughton/book-summary.htm> Acesso em: 13 jan. 2008.
ENSP Escola Nacional de Sade Pblica. Fundamentos farmacolgicos-clnicos dos medica-
mentos de uso corrente. Rio de Janeiro: ENSP, 2002.
FUERHACKER, M.; DURAUER, A.; JUNGBAUER, A. Adsorption isotherms of 17[beta]-estradiol on
granular activated carbon (GAC). Chemosphere, v. 44, n. 7, p. 1573-1579, 2001.
GALLENKEMPER, M.; WINTGENS, T.; MELIN, T. Nanoltration of endocrine disrupting compounds.
Water Science and Technology: Water Supply, v. 3, n. 56, p. 321327, 2003.
GENNARO, A.R. Remingtons pharmaceutical sciences. 18. ed. Easton: Mack Publishing Company,
1990.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Endocrinology and reproduction. Textbook of Medical Physiology. 11 ed.
Saunders Company, 2005.
HARRISON, P.T.C.; HOLMES, P.; HUMFREY, C.D.N. Reproductive health in human and wildlife: are
adverse trends associated with environmental chemical exposure? The Science of the Total Envi-
ronment, v. 205, p. 97-106, 1997.
HEBERER, T. Occurrence, fate, and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environ-
ment: a review of recent research data. Toxicology Letters, v. 131, p. 5-17, 2002.
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA. Pesquisa Industrial Produto. v. 25,
n. 2. Rio de Janeiro: 2006.
______. Censo demogrco 2000. Caractersticas gerais da populao Resultados da amostra.
Rio de Janeiro: 2000.
JOHNSON, A.; SUMPTER, J.P. Removal of endocrine-disrupting chemicals in activated sludge tre-
atment works. Environmental Science and Technology, v. 35, n. 24, p. 4697-4703, 2001.
JONES, O.A.; LESTER, J.N.; VOULVOULIS, N. Pharmaceuticals: a threat to drinking water? Trends in
Biotechnology. v. 23, n. 4, p. 163-167, 2005.
JOSS, A. et al. Water treatment. In: TERNES, T.A.; JOSS, A. Human pharmaceuticals, hormones and
fragrances: the challenge of micropollutants in urban water management. Cornwall, UK: IWA
Publishing, 2006.
GUAS 72
KOH, Y.K.K. et al. Treatment and removal strategies for estrogens from wastewater. Environmen-
tal Technology, v. 29, n. 3, p. 245-267, 2008.
KONRADSEN, F. et al. Missing deaths from pesticide self-poisoning at the IFCS Forum IV. Bulletin
of World Health Organization, v. 83, n. 2, 2005.
LENZ, K.; BECK, V.; FUERHACKER, M. Behaviour of bisphenol A (BPA), 4-nonylphenol (4-HP) and
4-nonylphenol ethoxylates (4-NP1EO, 4-NP2EO) in oxidative water treatment processes. Water
Science and Technology, v. 50, n. 5, p. 141-147, 2004.
MIERZWA, J.C. et al. Utilizao de processos de separao por membranas para tratamento de
mananciais degradados. In: 23 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIEN-
TAL. Campo Grande: ABES - Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental, 2005.
OKUN, D.A. Drinking water and public health protection. In: PONTIUS, F.W. Drinking water regu-
lation and health. John Wiley & Sons Inc., 2003. p. 13-14.
PAUNE, F. et al. Assessment on the removal of organic chemicals from raw and drinking water at
a Llobregat river water works plant using GAC. Water Research, v. 32, n. 11, p. 3313-3324, 1998.
PERES, F.; MOREIRA, J.C.; DUBOIS, G.S. Agrotxicos, sade e ambiente: uma introduo ao tema.
In: PERES, F.; MOREIRA, J.C. (org.). veneno ou remdio? Agrotxicos, sade e ambiente. Rio de
Janeiro: Editora Fiocruz, p. 21-41, 2003.
RAIMUNDO, C.C.M. Ocorrncia de interferentes endcrinos e produtos farmacuticos nas guas
superciais da bacia do rio Atibaia. 138 p. Dissertao (Mestrado) - Universidade Estadual de
Campinas, Campinas, 2007.
RUDDER, J. et al. Advanced water treatment with manganese oxide for the removal of 17[alpha]-
ethynylestradiol (EE2). Water Research, v. 38 n. 1, p. 184-192, 2004.
SNSA - SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Diagnstico dos servios de guas
e esgotos 2004. MCIDADES. Braslia, 2005.
SONNENSCHEIN, C.; SOTO, A.M. An updated review of environmental estrogen and androgen
mimics and antagonists. J. Steroid Biochem. Molec. Biol., v. 65, n. 1-6, p. 143-150, 1998.
TAPIERO, H., BA NGUYEN, G., TEW, K.D. Estrogens and environmental estrogens. Biomed Pharma-
cother, v. 56, p. 36-44, 2002.
TERNER, T.A.; GIGER, W.; JOSS, A. Introduction. In: TERNES, T.A.; JOSS, A. Human Pharmaceuticals,
hormones and gragrances: the chalenge of micropollutants in urban water management. Lon-
don: IWA Publishing, 2006.
TERNER, T.A. et al. Behavior and occurrence of estrogens in municipal sewage treatment plants
I. Investigations in Germany, Canada and Brazil. The Science of the Total Environment, v. 225, p.
81-90, 1999.
USEPA - United States Environmental Protection Agency. Technologies and costs document for
the nal long term 2 enhanced surface water treatment rule and nal stage 2 disinfectants and
disinfection byproducts rule. EPA 815-R-05-13. dez. 2005.
CONTAMINANTES ORGNICOS PRESENTES EM MICROQUANTIDADES 73
______. Persistent organic pollutants (POPs). Pesticides: regulating pesticides. 2004. Disponvel
em: <http://www.epa.gov/oppfead1/international/pops.htm> Acesso em: 16 jun. 2006.
______. DDT ban takes effect. USEPA press release. 31 dez. 1972. Disponvel em: <http://www.
epa.gov/history/topics/ddt/01.htm> Acesso em: 16 jun. 2006.
USGS - United States Geological Survey. Pharmaceuticals, hormones, and other organic was-
tewater contaminants in U.S. streams. USGS Fact Sheet FS-027-02. jun. 2002.
VERAS, D.F. Remoo dos perturbadores endcrinos 17-estradiol e p-nonilfenol por diferentes
tipos de carvo ativado em p (CAP) produzidos no Brasil. Avaliao em escala de bancada. Dis-
sertao (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hdricos) - Universidade de Braslia,
Braslia, 2006.
WANG, Y. et al. Occurrence of endocrine-disrupting compounds in reclaimed water from Tianjin,
China. Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 383, n. 5, p. 857-863, 2005.
WESTERHOFF, P. et al. Fate of endocrine-disruptor, pharmaceutical, and personal care product
chemicals during simulated drinking water treatment processes. Environmental Science & Tech-
nology, v. 39, n. 17, p. 6649-6663, 2005.
WHO - World Health Organization. The WHO recommended classication of pesticides by hazard
and guidelines to classication: 2004. WHO, 2005. Disponvel em: <http://www.inchem.org/do-
cuments/pds/pdsother/class.pdf> Acesso em: ?
YING, G,G.; BRIAN, W.; KOOKANA, R. Environmental fate of alkylphenols and alkylphenols etho-
xylates- a review. Environmental International, v. 28, p. 215-226, 2002.
YING, G.G.; KOOKANA, R.; RU, Y. Occurance and fate of hormone steroids in the environment.
Environmental International, v. 28. p. 545-551, 2002.
YOON, Y.M. et al. HPLC-uorescence detection and adsorption of bisphenol A, 17 beta-estradiol,
and 17 alpha-ethynyl estradiol on powdered activated carbon. Water Research, v. 37, n. 14, p.
3530-3537, 2003.
Nesse captulo trataremos de aspectos relacionados a dois importantes grupos de
organismos considerados emergentes em sistemas de abastecimento de gua para
consumo humano, os protozorios (mais especicamente Cryptosporidium e Giardia)
e as cianobactrias. Microrganismos emergentes so aqueles para os quais a ateno
e/ou preocupao de mdicos, especialistas e/ou epidemiologistas tm se voltado a
partir de perodos mais ou menos recentes. Assim, podem constituir espcies recm-
descobertadas ou organismos j conhecidos/identicados, porm que apenas agora
descobriu-se serem capazes de infectar e serem patognicos para seres humanos.
A emergncia dos organismos acima est relacionada no ao fato de serem espcies
recm-descobertas, mas ao fato de que, recentemente, em diferentes pases, tm-se
registrados surtos ou epidemias de doenas em que os mesmos foram identicados
como os agentes etiolgicos envolvidos e onde o abastecimento de gua, mesmo tra-
tada, foi incriminado como a fonte da exposio.
Ao longo do texto procuramos apresentar dados e informaes que subsidiaro o lei-
tor na compreenso da importncia desses organismos em sistemas de abastecimento
de gua. Esse conhecimento importa na medida em que orienta o aprimoramento ou
desenvolvimento de tcnicas e tecnologias de tratamento de gua com vistas remo-
o de protozorios, cianobactrias e cianotoxinas. Sobre esse ltimo aspecto, o leitor
deve consultar os captulos 4 e 5.
3Microrganismos Emergentes:
Protozorios e Cianobactrias
Paula Dias Bevilacqua,
Sandra Maria Feliciano de Oliveira e Azevedo,
Daniel Adolpho Cerqueira
3.1 Protozorios patognicos associados
ao abastecimento de gua para consumo humano
3.1.1 Introduo
Os protozorios constituem um grupo de organismos que inclui seres de vida livre e
parasitas, que se caracterizam por apresentar diferentes formas, tipos de metabolis-
mos e locais de ocorrncia. O ser humano e diferentes espcies animais constituem
os hospedeiros obrigatrios ou acidentais dos protozorios patognicos, sendo que
alguns desses podem apresentar complexos ciclos biolgicos envolvendo, inclusive,
diferentes modos e mecanismos de transmisso.
A transmisso de protozorios patognicos via gua de consumo h muito tempo
conhecida e consolidada na comunidade tcnica e cientca. Como exemplos, citam-se
a associao entre Giardia sp.
1
e gua com qualidade imprpria ao consumo humano
e, mais recentemente, Cryptosporidium spp., responsvel por parasitose de carter
emergente, tanto pela sua ampla distribuio (cosmopolita) quanto pela ocorrncia
de diversos surtos e infeces espordicas registradas em vrias partes do mundo.
Tambm se somam a essa lista Cyclospora cayetanensis e Toxoplasma gondii, com
menor incidncia, mas com alguns surtos registrados em diferentes pases (KARANIS;
KOURENTI; SMITH, 2007), inclusive no Brasil (MINISTRIO DA SADE, 2002).
Por outro lado, protozorios patognicos so alvo de preocupaes, tanto das au-
toridades de sade pblica quanto da comunidade cientca, devido transmisso
comprovada de cistos de Giardia sp. e oocistos de Cryptosporidium spp. por meio do
consumo de gua tratada e distribuda por sistemas de abastecimento (LeCHEVALLIER;
NORTON; ATHERHOLT, 1997). Esse fato alerta que populaes que consomem gua
tratada apenas pelo processo de desinfeco (clorao), ou que consomem gua de
estaes de tratamento que no realizam um controle rigoroso da ecincia do pro-
cesso de ltrao e/ou apresentam decincias operacionais, podem estar sob maior
risco de infeces por esses agentes.
A crescente preocupao com a transmisso de protozorios via abastecimento de
gua para consumo humano envolve ainda as seguintes diculdades na busca de
equacionamento do problema: (i) as limitaes dos processos convencionais de tra-
tamento de gua na remoo/inativao de cistos de Giardia e oocistos de Cryptos-
poridium; (ii) a insucincia do controle tradicional da qualidade da gua tratada
por meio do emprego de bactrias do grupo coliforme ou outros indicadores; (iii)
as limitaes analticas dos mtodos disponveis de pesquisa de protozorios em
amostras de gua; (iv) a diculdade de estimar riscos sade associados presena
de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium em guas de consumo humano,
MICRORGANISMOS EMERGENTES 75
3.1 Protozorios patognicos associados
ao abastecimento de gua para consumo humano
3.1.1 Introduo
Os protozorios constituem um grupo de organismos que inclui seres de vida livre e
parasitas, que se caracterizam por apresentar diferentes formas, tipos de metabolis-
mos e locais de ocorrncia. O ser humano e diferentes espcies animais constituem
os hospedeiros obrigatrios ou acidentais dos protozorios patognicos, sendo que
alguns desses podem apresentar complexos ciclos biolgicos envolvendo, inclusive,
diferentes modos e mecanismos de transmisso.
A transmisso de protozorios patognicos via gua de consumo h muito tempo
conhecida e consolidada na comunidade tcnica e cientca. Como exemplos, citam-se
a associao entre Giardia sp.
1
e gua com qualidade imprpria ao consumo humano
e, mais recentemente, Cryptosporidium spp., responsvel por parasitose de carter
emergente, tanto pela sua ampla distribuio (cosmopolita) quanto pela ocorrncia
de diversos surtos e infeces espordicas registradas em vrias partes do mundo.
Tambm se somam a essa lista Cyclospora cayetanensis e Toxoplasma gondii, com
menor incidncia, mas com alguns surtos registrados em diferentes pases (KARANIS;
KOURENTI; SMITH, 2007), inclusive no Brasil (MINISTRIO DA SADE, 2002).
Por outro lado, protozorios patognicos so alvo de preocupaes, tanto das au-
toridades de sade pblica quanto da comunidade cientca, devido transmisso
comprovada de cistos de Giardia sp. e oocistos de Cryptosporidium spp. por meio do
consumo de gua tratada e distribuda por sistemas de abastecimento (LeCHEVALLIER;
NORTON; ATHERHOLT, 1997). Esse fato alerta que populaes que consomem gua
tratada apenas pelo processo de desinfeco (clorao), ou que consomem gua de
estaes de tratamento que no realizam um controle rigoroso da ecincia do pro-
cesso de ltrao e/ou apresentam decincias operacionais, podem estar sob maior
risco de infeces por esses agentes.
A crescente preocupao com a transmisso de protozorios via abastecimento de
gua para consumo humano envolve ainda as seguintes diculdades na busca de
equacionamento do problema: (i) as limitaes dos processos convencionais de tra-
tamento de gua na remoo/inativao de cistos de Giardia e oocistos de Cryptos-
poridium; (ii) a insucincia do controle tradicional da qualidade da gua tratada
por meio do emprego de bactrias do grupo coliforme ou outros indicadores; (iii)
as limitaes analticas dos mtodos disponveis de pesquisa de protozorios em
amostras de gua; (iv) a diculdade de estimar riscos sade associados presena
de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium em guas de consumo humano,
GUAS 76
principalmente quando em nmeros reduzidos; (v) o conhecimento da participao
de reservatrios animais na manuteno dessas parasitoses em nosso meio, haja
vista o potencial zoontico de ambas.
3.1.2 Caractersticas dos principais protozorios
associados ao abastecimento de gua
Devido aos diferentes aspectos relacionados aos organismos patognicos e ampla
variedade existente dos mesmos, no necessrio nem possvel considerar todos os
patgenos com o objetivo de projetar e/ou operar sistemas de abastecimento garan-
tindo o fornecimento de gua segura
2
, ou mesmo em procedimentos de avaliao de
risco de sistemas de abastecimento de gua para consumo humano. Nesse sentido,
a Organizao Mundial de Sade (OMS) introduz o termo patgeno/organismo re-
ferncia, o que signica selecionar de uma lista de organismos aquele que melhor
rene informaes que possam representar o grupo como um todo. As informaes
normalmente utilizadas na seleo, com o objetivo ltimo de proteo sade p-
blica, incluem aspectos relacionados remoo/inativao no tratamento da gua
e aqueles associados a impactos sade, tanto no mbito individual como coletivo.
Usualmente, havendo informao disponvel, a escolha recai sobre o organismo mais
difcil de ser removido/inativado e que apresenta os mais importantes impactos
sade. Uma vez feita a seleo, se o sistema de abastecimento cumpre os requisitos
de forma a produzir gua com qualidade adequada considerando o patgeno refe-
rncia, signica que tambm atinge aqueles necessrios para o grupo de patgenos
como um todo (WHO, 2006A).
A introduo do termo patgeno referncia muito se deve ao reconhecimento de
que a avaliao da qualidade da gua, utilizando os indicadores microbiolgicos tra-
dicionais (coliformes e Escherichia coli), no adequada quando se quer avaliar a
presena/ausncia de protozorios em amostras de gua. Sendo assim, essa referncia
tem sido particularmente aplicada a esse grupo especco de organismos patognicos,
os protozorios. Algumas caractersticas utilizadas para hierarquizar a importncia
relativa dos organismos patognicos em sistemas de abastecimento de gua esto
relacionadas na Tabela 3.1.
Analisando a Tabela 3.1, os protozorios Cryptosporidium spp. e Giardia duodenalis
so os mais signicativos, uma vez que provocam sintomas moderados e os casos de
doena so comuns na populao; alm disso, j foram associados a epidemias/surtos
envolvendo o consumo de gua. Tambm se destacam pelo fato de persistirem por
longos perodos no ambiente e apresentarem elevada resistncia aos processos usuais
de desinfeco da gua.
MICRORGANISMOS EMERGENTES 77
T
a
b
e
l
a
3
.
1
>
P
r
i
n
c
i
p
a
i
s
p
r
o
t
o
z
o
r
i
o
s
p
a
t
o
g
n
i
c
o
s
e
c
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
r
e
l
a
c
i
o
n
a
d
a
s
s
a
d
e
e
a
o
a
b
a
s
t
e
c
i
m
e
n
t
o
d
e
g
u
a
p
a
r
a
c
o
n
s
u
m
o
h
u
m
a
n
o
.
F
O
N
T
E
W
H
O
(
2
0
0
6
a
;
2
0
0
6
b
-
a
d
a
p
t
a
d
o
)
.
P
A
T
G
E
N
O
I
M
P
A
C
T
O
A
S
S
O
C
I
A
D
O
S
A
D
E
D
i
c
u
l
d
a
d
e
d
e
c
o
n
t
r
o
l
e
S
i
n
t
o
m
a
s
I
n
c
i
d
n
c
i
a
E
p
i
d
e
m
i
a
s
/
S
u
r
t
o
s
P
e
r
s
i
s
t
n
c
i
a
R
e
s
i
s
t
n
c
i
a
(
1
)
T
a
m
a
n
h
o
(
m
)
T
r
a
n
s
m
i
s
s
o
f
e
c
a
l
o
r
a
l
E
n
t
a
m
o
e
b
a
h
i
s
t
o
l
y
t
i
c
a
A
s
s
i
n
t
o
m
t
i
c
o
s
(
2
)
a
s
e
v
e
r
o
s
C
o
m
u
m
V
r
i
a
s
/
o
s
M
o
d
e
r
a
d
a
A
l
t
a
1
0
a
1
6
(
c
i
s
t
o
)
G
i
a
r
d
i
a
d
u
o
d
e
n
a
l
i
s
A
s
s
i
n
t
o
m
t
i
c
o
s
a
m
o
d
e
r
a
d
o
s
C
o
m
u
m
V
r
i
a
s
/
o
s
M
o
d
e
r
a
d
a
A
l
t
a
9
a
1
4
(
c
i
s
t
o
)
C
r
y
p
t
o
s
p
o
r
i
d
i
u
m
s
p
p
.
M
o
d
e
r
a
d
o
s
C
o
m
u
m
V
r
i
a
s
/
o
s
L
o
n
g
a
M
u
i
t
o
a
l
t
a
4
a
6
(
o
o
c
i
s
t
o
)
T
o
x
o
p
l
a
s
m
a
g
o
n
d
i
i
M
o
d
e
r
a
d
o
s
C
o
m
u
m
P
o
u
c
a
s
/
o
s
L
o
n
g
a
M
u
i
t
o
a
l
t
a
1
0
a
1
4
(
o
o
c
i
s
t
o
)
C
y
c
l
o
s
p
o
r
a
C
a
y
e
t
a
n
e
n
s
i
s
M
o
d
e
r
a
d
o
s
R
a
r
a
P
o
u
c
a
s
/
o
s
L
o
n
g
a
A
l
t
a
7
a
1
0
(
o
o
c
i
s
t
o
)
M
i
c
r
o
s
p
o
r
d
i
o
s
M
o
d
e
r
a
d
o
s
R
a
r
a
I
n
c
e
r
t
a
s
/
o
s
L
o
n
g
a
A
l
t
a
(
?
)
1
a
4
,
5
(
c
i
s
t
o
)
B
a
l
a
n
t
i
d
i
u
m
c
o
l
i
A
s
s
i
n
t
o
m
t
i
c
o
s
a
m
o
d
e
r
a
d
o
s
(
3
)
M
o
d
e
r
a
d
a
M
u
i
t
o
p
o
u
c
a
s
/
o
s
L
o
n
g
a
(
?
)
A
l
t
a
4
5
a
7
0
(
c
i
s
t
o
)
I
s
o
s
p
o
r
a
b
e
l
l
i
M
o
d
e
r
a
d
o
s
R
a
r
a
S
e
m
r
e
g
i
s
t
r
o
s
L
o
n
g
a
(
?
)
A
l
t
a
(
?
)
1
4
a
3
2
(
c
i
s
t
o
)
B
l
a
s
t
o
c
y
s
t
i
s
h
o
m
i
n
i
s
A
s
s
i
n
t
o
m
t
i
c
o
s
a
m
o
d
e
r
a
d
o
s
C
o
m
u
m
S
e
m
r
e
g
i
s
t
r
o
s
L
o
n
g
a
(
?
)
(
?
)
6
a
4
0
(
c
i
s
t
o
)
O
u
t
r
o
s
m
e
c
a
n
i
s
m
o
s
d
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
o
(
4
)
A
c
a
n
t
h
a
m
o
e
b
a
S
e
v
e
r
o
s
o
u
m
u
i
t
o
s
e
v
e
r
o
s
M
u
i
t
o
r
a
r
a
P
o
u
c
a
s
/
o
s
P
o
d
e
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
(
5
)
B
a
i
x
a
2
5
a
4
0
(
t
r
o
f
o
z
o
t
o
s
)
1
0
a
3
0
(
c
i
s
t
o
)
N
a
e
g
l
e
r
i
a
f
o
w
l
e
r
i
M
u
i
t
o
s
e
v
e
r
o
s
M
u
i
t
o
r
a
r
a
R
a
r
a
P
o
d
e
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
(
5
)
(
6
)
B
a
i
x
a
1
0
a
1
5
(
t
r
o
f
o
z
o
t
o
s
)
7
a
1
5
(
c
i
s
t
o
)
B
a
l
a
m
u
t
h
i
a
m
a
n
d
r
i
l
l
a
r
i
s
M
u
i
t
o
s
e
v
e
r
o
s
M
u
i
t
o
r
a
r
a
S
e
m
r
e
g
i
s
t
r
o
s
P
o
d
e
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
(
5
)
?
1
5
a
6
0
(
t
r
o
f
o
z
o
t
o
s
)
1
5
(
c
i
s
t
o
)
(
1
)
R
E
S
I
S
T
N
C
I
A
D
E
S
I
N
F
E
C
O
P
O
R
C
L
O
R
O
,
N
A
S
D
O
S
A
G
E
N
S
E
T
E
M
P
O
S
D
E
C
O
N
T
A
C
T
O
S
U
S
U
A
I
S
P
A
R
A
I
N
A
T
I
V
A
O
D
E
9
9
%
D
A
S
F
O
R
M
A
S
I
N
F
E
C
T
A
N
T
E
S
(
C
I
S
T
O
S
/
O
O
C
I
S
T
O
S
)
.
(
2
)
C
E
R
C
A
D
E
8
5
-
9
5
%
D
A
S
I
N
F
E
C
E
S
H
U
M
A
N
A
S
P
O
R
E
N
T
A
M
O
E
B
A
H
I
S
T
O
L
Y
T
I
C
A
S
O
A
S
S
I
N
T
O
M
T
I
C
A
S
.
(
3
)
A
I
N
F
E
C
O
H
U
M
A
N
A
P
O
R
B
A
L
A
N
T
I
D
I
U
M
C
O
L
I
R
A
R
A
E
,
A
M
A
I
O
R
I
A
,
A
S
S
I
N
T
O
M
T
I
C
A
.
(
4
)
N
A
I
N
F
E
C
O
O
C
U
L
A
R
C
A
U
S
A
D
A
P
O
R
A
C
A
N
T
H
A
M
O
E
B
A
,
A
E
X
P
O
S
I
O
U
S
U
A
L
M
E
N
T
E
R
E
L
A
T
A
D
A
O
U
S
O
D
E
L
E
N
T
E
S
D
E
C
O
N
T
A
T
O
C
O
N
T
A
M
I
N
A
D
A
S
C
O
M
S
O
L
U
E
S
S
A
L
I
N
A
S
U
T
I
L
I
Z
A
D
A
S
P
A
R
A
L
I
M
P
E
Z
A
O
U
C
O
N
T
A
M
I
N
A
O
D
O
S
U
T
E
N
S
L
I
O
S
U
T
I
L
I
Z
A
D
O
S
P
A
R
A
A
R
M
A
Z
E
N
A
M
E
N
T
O
.
N
A
S
E
N
C
E
F
A
L
I
T
E
S
(
E
N
C
E
F
A
L
I
T
E
G
R
A
N
U
L
O
M
A
T
O
S
A
A
M
E
B
I
A
N
A
E
G
A
)
C
A
U
S
A
D
A
S
P
O
R
A
C
A
N
T
H
A
M
O
E
B
A
,
O
M
E
C
A
N
I
S
M
O
D
E
T
R
A
N
S
M
I
S
S
O
M
A
I
S
P
R
O
V
V
E
L
V
I
A
C
O
R
R
E
N
T
E
S
A
N
G
U
N
E
A
A
P
A
R
T
I
R
D
E
O
U
T
R
O
S
L
O
C
A
I
S
D
E
C
O
L
O
N
I
Z
A
O
,
C
O
M
O
P
E
L
E
O
U
P
U
L
M
E
S
.
A
T
R
A
N
S
M
I
S
S
O
D
E
N
A
E
G
L
E
R
I
A
F
O
W
L
E
R
I
(
A
G
E
N
T
E
E
T
I
O
L
G
I
C
O
D
E
M
E
N
I
N
G
O
E
N
C
E
F
A
L
I
T
E
A
M
E
B
I
A
N
A
P
R
I
M
R
I
A
)
S
E
D
P
E
L
A
P
E
N
E
T
R
A
O
D
O
P
A
R
A
S
I
T
A
P
E
L
A
M
U
C
O
S
A
N
A
S
A
L
D
E
V
I
D
O
A
O
C
O
N
T
A
T
O
C
O
M
G
U
A
C
O
N
T
A
M
I
N
A
D
A
.
B
A
L
A
M
U
T
H
I
A
M
A
N
D
R
I
L
L
A
R
I
S
T
A
M
B
A
G
E
N
T
E
E
T
I
O
L
G
I
C
O
D
E
E
N
C
E
F
A
L
I
T
E
S
(
E
G
A
)
E
O
M
E
I
O
A
M
B
I
E
N
T
E
(
S
O
L
O
)
T
E
M
S
I
D
O
S
U
G
E
R
I
D
O
C
O
M
O
A
P
R
O
V
V
E
L
F
O
N
T
E
D
E
I
N
F
E
C
O
,
N
O
S
O
C
O
N
H
E
C
I
D
O
S
C
A
S
O
S
R
E
L
A
C
I
O
N
A
D
O
S
E
X
P
O
S
I
G
U
A
.
(
5
)
A
F
O
R
M
A
V
E
G
E
T
A
T
I
V
A
D
O
M
I
C
R
O
R
G
A
N
I
S
M
O
(
T
R
O
F
O
Z
O
T
I
C
A
)
P
O
D
E
S
E
M
U
L
T
I
P
L
I
C
A
R
N
A
G
U
A
.
(
6
)
P
R
I
N
C
I
P
A
L
M
E
N
T
E
E
M
G
U
A
S
C
O
M
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A
S
M
A
I
S
E
L
E
V
A
D
A
S
,
C
O
M
O
E
M
R
E
G
I
E
S
T
R
O
P
I
C
A
I
S
.
F
O
N
T
E
:
W
H
O
(
2
0
0
6
A
;
2
0
0
6
B
A
D
A
P
T
A
D
O
)
.
GUAS 78
A informao relativa ocorrncia de surtos/epidemas particularmente importante,
uma vez que demonstra que o organismo foi capaz de atravessar diferentes barrei-
ras, alcanar a populao consumidora e produzir doena, eventualmente com gran-
de impacto, como a incidncia elevada de casos e/ou a ocorrncia de casos graves/
fatais. Karanis, Kourenti e Smith (2007), em um trabalho de reviso das epidemias/
surtos causadas por protozorios patognicos em todo o mundo, vericaram que de
325 registros, em 32% a epidemia/surto esteve associada com a gua de consumo
contaminada ou presumivelmente contaminada com Giardia duodenalis e, em 23,7%,
com Cryptosporidium spp.
Por outro lado, outros protozorios tambm vm, mais recentemente, adquirindo im-
portncia relativa, principalmente devido emergncia de epidemias/surtos relacio-
nados ao abastecimento de gua. Destacam-se o Toxoplasma gondii e o Cyclospora
cayetanensis
3
, onde, somada importncia sade, chamam ateno s caractersti-
cas que envolvem as diculdades de controle de ambos, ou seja, so protozorios que
tambm possuem elevada resistncia no ambiente e aos processos usuais de desinfec-
o da gua (Tabela 3.1). Entretanto, Cryptosporidium e Giardia ainda so apontados
como os de maior importncia e signicado.
Tambm importante mencionar alguns aspectos relacionados ao ciclo de vida desses
agentes que contribuem para que a transmisso dos protozorios Cryptosporidium
e Giardia via gua de consumo seja mais provvel. Esses organismos apresentam
potencial zoontico, ou seja, outras espcies de animais (domsticos e selvagens)
podem ser seus hospedeiros e os hospedeiros infectados (humano ou animal) nor-
malmente eliminam grandes quantidades de formas infectantes (cistos e oocistos).
Esses aspectos so signicativos, uma vez que um maior e mais diversicado nmero
de indivduos capaz de disseminar grandes quantidades dos agentes no ambiente.
Adicionalmente, so eliminados dos hospedeiros j em suas formas infectantes, no
necessitando, assim, de um perodo no ambiente para causarem novos casos de in-
feco. Nessas circunstncias, a transmisso entre indivduos tambm possvel. E,
nalmente, so protozorios monoxenos, ou seja, completam seu ciclo de vida em
apenas um hospedeiro.
Outro aspecto relevante em relao aos protozorios de transmisso fecal-oral, inclu-
dos o Cryptosporidium e a Giardia, o fato de serem eliminados, frequentemente, em
grandes quantidades nas fezes dos hospedeiros infectados, podendo, assim, ocorrer
em elevado nmero no ambiente. Por outro lado, requerem doses infectantes relativa-
mente baixas para causar novos casos de infeco/doena (Tabela 3.2).
MICRORGANISMOS EMERGENTES 79
Tabela 3.2 > Principais protozorios patognicos e algumas caractersticas epidemiolgicas
PATGENO CARACTERSTICA
Dose
infectante
(1)
Dose
excretada
Reservatrio
animal
Ciclo biolgico
monoxnico
(2)
Estgio
no meio
ambiente
(3)
Entamoeba histolytica Baixa Alta No Sim No
Giardia duodenalis Baixa Alta Sim
(4)
Sim No
Cryptosporidium spp. Baixa Alta Sim
(4)
Sim No
Toxoplasma gondii Baixa Alta Sim
(5)
No Sim
(6)
Cyclospora cayetanensis Baixa ? No Sim Sim
(7)
Microspordios Baixa ? Sim
(8)
Sim No
Balantidium coli ? ? Sim
(9)
Sim No
Isospora belli ? ? No Sim Sim
(10)
Blastocystis hominis ? ? ? Sim No
Acanthamoeba Baixa -
(11)
No Sim No
Naegleria fowleri Baixa -
(11)
No Sim No
Balamuthia mandrillaris ? -
(11)
No Sim No
NOTAS: (1) DADOS OBTIDOS DE ESTUDOS EXPERIMENTAIS COM VOLUNTRIOS HUMANOS OU ANIMAIS OU DE EVIDNCIAS EPIDEMIOLGICAS. (2)
NECESSITA DE UM NICO HOSPEDEIRO PARA COMPLETAR O CICLO BIOLGICO. (3) O ORGANISMO NECESSITA DE UM ESTGIO DE MATURAO
NO AMBIENTE PARA SE TORNAR INFECTANTE. (4) VRIAS ESPCIES ANIMAIS CONSTITUEM RESERVATRIOS DESSE PROTOZORIO. (5) OS FELDEOS
SO OS HOSPEDEIROS DEFINITIVOS (ONDE OCORRE O CICLO SEXUADO DO PARASITA, COM PRODUO DE OOCISTOS E ELIMINAO DESSES
NAS FEZES); O SER HUMANO E OUTRAS ESPCIES DE MAMFEROS E AVES SO OS HOSPEDEIROS INTERMEDIRIOS (ONDE OCORRE O CICLO
ASSEXUADO DO PARASITA, COM FORMAO DE CISTOS TECIDUAIS). (6) TEMPO MDIO PARA OS OOCISTOS ESPORULAREM: 1 A 5 DIAS. (7) TEMPO
MDIO PARA OS OOCISTOS ESPORULAREM: 15 DIAS (7 A 12 DIAS). (8) ALGUNS ANIMAIS, ESPECIALMENTE SUNOS, PODEM FUNCIONAR COMO
HOSPEDEIROS DE ESPCIES DE MICROSPORDEOS QUE INFECTAM SERES HUMANOS. (9) O SER HUMANO O PRINCIPAL HOSPEDEIRO, PORM
OS SUNOS SO RESERVATRIOS, CONTRIBUINDO PARA A OCORRNCIA E MANUTENO DE CISTOS NO AMBIENTE. (10) TEMPO MDIO PARA OS
OOCISTOS ESPORULAREM: 1 A 2 DIAS. (11) A FORMA VEGETATIVA DO MICRORGANISMO (TROFOZOTICA) PODE SE MULTIPLICAR NA GUA.
Considerando os aspectos apresentados nas Tabelas 3.1 e 3.2, a tendncia mundial
considerar o Cryptosporidium como o protozorio referncia em se tratando da
transmisso de protozooses via abastecimento de gua para consumo humano. A
ateno e preocupao em relao a esse protozorio so observadas tanto no meio
cientco, como alvo de pesquisas e investigaes, quanto nos servios de sade p-
blica e de saneamento, como uma das referncias produo de gua segura po-
pulao. Alm das caractersticas j citadas, Cryptosporidium spp. objeto de maior
preocupao devido s diculdades de controle, uma vez que apresenta oocistos de
menor tamanho, sendo mais dicilmente removidos da gua, considerando os pro-
cessos tradicionais de claricao; tambm so mais persistentes no meio ambiente e
mais resistente aos processos usuais de desinfeco da gua de consumo.
A denio de possveis organismos que possam ser utilizados como patgenos refe-
rncia tambm importante para a aplicao da metodologia de Avaliao Quanti-
tativa de Risco Microbiolgico (AQRM)
4,
sendo necessria a existncia de dados sobre
dose-resposta exposio ao microrganismo, os quais so normalmente obtidos em
GUAS 80
estudos experimentais com voluntrios humanos ou animais ou constituem evidncias
epidemiolgicas, usualmente levantadas em investigaes de surtos/epidemias. Essas
informaes esto mais bem estabelecidas e sistematizadas para Cryptosporidium e
Giardia, reforando a escolha do primeiro como patgeno referncia.
importante mencionar que os dados utilizados para subsidiar a escolha de pat-
genos referncia dizem respeito ao conhecimento disponvel sobre os organismos
patognicos. Muitas informaes podem conter imprecises e em alguns casos no
existem, dicultando a comparao entre os organismos selecionados. Exemplicando
o exposto, considerando os impactos sade, o pequeno nmero de surtos/epidemias
registrado envolvendo outros protozorios patognicos, diferentes da Giardia e do
Cryptosporidium, pode ser devido a diferenas entre os procedimentos de noticao
existentes nos vrios pases; no sendo prtica, por exemplo, a adequada identicao
laboratorial de casos de doenas com quadro diarrico e das ocorrncias de protozo-
rios patognicos nas fontes de gua, dicultando uma avaliao do quadro real de
enfermidades relacionadas com a gua.
Adicionalmente, a bibliograa disponvel e mais fartamente utilizada de lngua in-
glesa. Assim, se dados/informaes no forem disponibilizados preferencialmente
nesse idioma, acabam por no serem considerados em avaliaes que pressupem
abranger diferentes pases em diferentes continentes, buscando se tornarem refern-
cia internacional. De fato, conforme caracterizao realizada por Karanis, Kourenti e
Smith (2007), dos 325 registros de surtos/epidemias relacionadas com protozorios,
93% ocorreram na Amrica do Norte e Europa, enquanto os demais foram distribudos
pelo Japo (1%), Austrlia (2%) e outros pases (4%). Nesse trabalho, os autores no
fazem referncia aos surtos de Cyclospora cayetanensis que ocorreram no Brasil em
2000, na cidade de General Salgado-SP, e no ano 2001, em Antonina-PR. No primeiro
surto, foram identicados 350 casos (taxa de incidncia = 32,3 casos/1.000 hab.);
crianas menores de 4 anos foram o grupo de maior risco (taxa de incidncia = 49,1
casos/1.000 habitantes); a durao mdia dos sintomas foi de 13,3 dias; e de 40 amos-
tras fecais testadas, foram identicados oocistos em 25% (EDUARDO et al., 2008). No
segundo surto, onde se estima o acometimento de 600 pessoas, de 46 amostras fecais
testadas, 47,8% conrmaram a presena de Cyclospora cayetanensis (MINISTRIO DA
SADE, 2002). Em ambos os surtos, foi evidenciada a gua de consumo como a fonte
de exposio para os casos, sendo que no surto ocorrido em General Salgado, foi iden-
ticado o agente em amostra de gua proveniente de um dos poos artesianos que
abastecia o municpio (MINISTRIO DA SADE, 2002; EDUARDO et al., 2008).
Essas questes so importantes de serem ponderadas, uma vez que as diferentes re-
alidades existentes nos pases, relacionadas ao perl de sade da populao, gesto
dos servios, ao escopo das polticas pblicas, dentre outros, devem ser consideradas
na denio/escolha de patgenos referncia.
3.2 Giardia sp. e Cryptosporidium spp. Importncia associada
ao abastecimento de gua para consumo humano
3.2.1. Persistncia no meio ambiente
Em condies naturais, a taxa de decaimento de oocistos de Cryptosporidium em
ambientes aquticos de 0,005 a 0,037 log
10
por dia (WHO, 2006A). A temperatura
ambiente parece ser um fator importante para a manuteno da infectividade dos oo-
cistos (FAYER; TROUT; JENKINS, 1998; KING et al., 2005). Oocistos de Cryptosporidium
spp. tambm podem sobreviver no solo por perodos variados de tempo (OLSON et al.,
1999; KATO et al., 2004).
A predao de oocistos no meio ambiente parece ser um mecanismo bastante comum
e importante de inativao, podendo desempenhar papel importante na eliminao
de oocistos de ambientes naturais. Espcies de rotferos, ciliados e amebas j foram
descritas como capazes de ingerir oocistos (FAYER et al., 2000; STOTT et al., 2003).
Outro aspecto que vem adquirindo importncia a capacidade de sobrevivncia dos
oocistos em guas estuarinas e marinhas e a possibilidade de contaminao de es-
pcies animais desses ambientes, aumentando o signicado de sade pblica desse
protozorio, tanto no que diz respeito transmisso envolvendo o contato primrio/
recreao, como devido ao consumo de produtos marinhos, principalmente crus.
A deteco de oocistos em gua do mar ou de esturios documentada na literatura
(JOHNSON et al., 1995; FERGUSON et al. 1996; LIPP et al., 2001), entretanto, a grande
maioria dos relatos, em diferentes partes do mundo, refere-se ao isolamento/identi-
cao de oocistos em moluscos aquticos (ostras, mexilhes e mariscos). Esses animais
podem desempenhar importante papel na transmisso do Cryptosporidium, uma vez
que, pela forma de alimentao dos mesmos (ltrao da gua), podem reter oocistos
infectantes em seus tecidos (FAYER; DUBEY; LINDSAY, 2004; SCHETS et al., 2007).
O comportamento da Giardia em condies de laboratrio e no ambiente semelhan-
te ao do Cryptosporidium, porm, normalmente, a sobrevivncia de cistos menor
que a dos oocistos. A temperatura tambm um fator que interfere na manuteno
da infectividade dos cistos (deREGNIER et al., 1989). No solo, os cistos apresentam
perodos variados de sobrevivncia (OLSON et al., 1999).
Cistos de Giardia tambm tm sido relacionados a ambientes marinhos e de esturio. A
deteco de cistos em gua do mar ou de esturios relatada por Johnson et al. (1995),
MICRORGANISMOS EMERGENTES 81
dos servios, ao escopo das polticas pblicas, dentre outros, devem ser consideradas
na denio/escolha de patgenos referncia.
3.2 Giardia sp. e Cryptosporidium spp. Importncia associada
ao abastecimento de gua para consumo humano
3.2.1. Persistncia no meio ambiente
Em condies naturais, a taxa de decaimento de oocistos de Cryptosporidium em
ambientes aquticos de 0,005 a 0,037 log
10
por dia (WHO, 2006A). A temperatura
ambiente parece ser um fator importante para a manuteno da infectividade dos oo-
cistos (FAYER; TROUT; JENKINS, 1998; KING et al., 2005). Oocistos de Cryptosporidium
spp. tambm podem sobreviver no solo por perodos variados de tempo (OLSON et al.,
1999; KATO et al., 2004).
A predao de oocistos no meio ambiente parece ser um mecanismo bastante comum
e importante de inativao, podendo desempenhar papel importante na eliminao
de oocistos de ambientes naturais. Espcies de rotferos, ciliados e amebas j foram
descritas como capazes de ingerir oocistos (FAYER et al., 2000; STOTT et al., 2003).
Outro aspecto que vem adquirindo importncia a capacidade de sobrevivncia dos
oocistos em guas estuarinas e marinhas e a possibilidade de contaminao de es-
pcies animais desses ambientes, aumentando o signicado de sade pblica desse
protozorio, tanto no que diz respeito transmisso envolvendo o contato primrio/
recreao, como devido ao consumo de produtos marinhos, principalmente crus.
A deteco de oocistos em gua do mar ou de esturios documentada na literatura
(JOHNSON et al., 1995; FERGUSON et al. 1996; LIPP et al., 2001), entretanto, a grande
maioria dos relatos, em diferentes partes do mundo, refere-se ao isolamento/identi-
cao de oocistos em moluscos aquticos (ostras, mexilhes e mariscos). Esses animais
podem desempenhar importante papel na transmisso do Cryptosporidium, uma vez
que, pela forma de alimentao dos mesmos (ltrao da gua), podem reter oocistos
infectantes em seus tecidos (FAYER; DUBEY; LINDSAY, 2004; SCHETS et al., 2007).
O comportamento da Giardia em condies de laboratrio e no ambiente semelhan-
te ao do Cryptosporidium, porm, normalmente, a sobrevivncia de cistos menor
que a dos oocistos. A temperatura tambm um fator que interfere na manuteno
da infectividade dos cistos (deREGNIER et al., 1989). No solo, os cistos apresentam
perodos variados de sobrevivncia (OLSON et al., 1999).
Cistos de Giardia tambm tm sido relacionados a ambientes marinhos e de esturio. A
deteco de cistos em gua do mar ou de esturios relatada por Johnson et al. (1995),
GUAS 82
Ferguson et al. (1996) e Lipp et al. (2001), contudo, o isolamento de cistos de Giardia em
moluscos aquticos tambm relevante (GRACZYK et al., 1999; SCHETS et al., 2007).
3.2.2 Ocorrncia em mananciais de abastecimento
A literatura cientca apresenta amplo e diversicado material sobre a identicao
de (oo)cistos de Giardia e Cryptosporidium em gua bruta. Na Tabelas 3.3 e 3.4 so
apresentados os resultados sistematizados de alguns trabalhos selecionados conside-
rando os tipos de mananciais pesquisados. Esses dados devem ser avaliados de for-
ma cuidadosa, uma vez que os mananciais monitorados apresentam, algumas vezes,
importantes diferenas entre si; os critrios de amostragem variam entre os estudos
e as tcnicas utilizadas para deteco de (oo)cistos empregadas pelos autores no
so, necessariamente, as mesmas. Entretanto, algumas questes podem ser aponta-
das, como a elevada variabilidade das concentraes de (oo)cistos; a ocorrncia de
organismos em maior nmero e frequncia nos mananciais superciais do que nos
subterrneos, assim como, naqueles mananciais superciais menos protegidos do que
nos protegidos.
Considerando os mananciais superciais, trabalhos registram que, dentre outras ca-
ractersticas, o grau e o tipo de ocupao da bacia, a existncia de cobertura vegetal,
o lanamento de euentes industriais e domsticos, alm da pluviosidade so fato-
res que contribuem para o aumento de (oo)cistos nesses mananciais (LeCHEVALLIER;
NORTON; LEE, 1991; ATHERHOLT et al., 1998; KISTEMANN et al., 2002; BASTOS et al.,
2004; HACHICH et al., 2004; DIAS et al., 2008).
As guas subterrneas podem apresentar nveis de contaminao menores ou quase
nulos devido ao processo natural de ltrao da gua por meio das camadas do solo,
entretanto, este poder ltrante pode ser afetado pela profundidade do aqufero, pre-
sena e concentrao das contaminaes nas proximidades desses e nas guas con-
tribuintes. Poos localizados perto de rios que recebem esgotos no tratados podem
potencialmente apresentar impactos na qualidade de sua gua devido a essa proximi-
dade. Adicionalmente, de forma geral, a frequncia de mananciais contaminados com
cistos de Giardia menor do que com oocistos de Cryptosporidium (Tabela 3.4). Alm
disso, esses ltimos normalmente ocorrem em maiores concentraes que os primei-
ros, conforme demonstrado no estudo de Solo-Gabrille et al. (1998). Cistos de Giardia,
por serem maiores (9-14 m) que oocistos de Cryptosporidium (4-6 m), seriam mais
facilmente retidos nas camadas de solo, alcanando em menor nmero os mananciais
subterrneos. Ainda h que se registrar que os estudos que demonstram a presena de
(oo)cistos em mananciais subterrneos normalmente apontam que caractersticas do
aqufero, uxo da corrente e caractersticas sobre a construo dos poos indicaram a
existncia de contaminao por guas superciais.
MICRORGANISMOS EMERGENTES 83
Tabela 3.3 > Ocorrncia de (oo)cistos de Giardia e Cryptosporidium em mananciais superciais
GIARDIA (CISTOS/100 L)
CRYPTOSPORIDIUM
(OOCISTOS/100 L)
PAS/REGIO CARACTERSTICAS
99 (19 300) EUA
Mdia aritmtica e faixa de concentraes de
seis amostras/reservatrios e cursos dgua de usos
mltiplos, recebendo descargas de esgotos
- 2 (1 13) EUA
Mdia aritmtica e faixa de concentraes
de seis amostras/mananciais protegidos
22 109 EUA
Curso dgua recebendo contribuies de esgotos
sanitrios e atividades agropecurias
(bovinocultura, ovinocultura e avicultura)
0,34 2,77 - Portland, EUA
Faixa de concentraes em 69 amostras/
mananciais protegidos
200 (4 6.600) 240 (6,5 6.500) 14 Estados, EUA
Mdia geomtrica e faixa de concentraes
encontradas em amplo programa de monitoramento
0,33 104 Vrias regies dos EUA
Mananciais poludos por contribuies de
esgotos sanitrios e atividades agropecurias
0,6 5 - Vrias regies dos EUA Mananciais protegidos
0,6 230 Vrias regies da Esccia
Faixa de concentraes encontradas em
programa de monitoramento de um ano
48 101 67 256 Utah, EUA
Faixa das mdias encontradas em programa de
monitoramento de seis meses/manancial de boa
qualidade fsico-qumica/bacia de captao com
presena de animais silvestres e atividades agropecurias
2,9 (0,1 181)
229 (7 2.125)
30 (8 114)
- British Columbia, Canad
Mdia geomtrica e faixa de concentraes
encontradas em um ano de monitoramento
em trs mananciais parcialmente protegidos
34 (12 156) 31 (7 2.223) Pittsburgh, EUA
Mdia geomtrica e faixa de concentraes de amostras
mensais/rio poludo por euente secundrio de ETEs
e contribuies de atividades agropecurias
240 2.100 58 260 Honduras Monitoramento pontual de quatro mananciais poludos
RI
(1)
RI
(1)
1,1-12,4
2,4-11,4
2,65-14,3
1,3-17
3 bacias hidrogrcas,
Alemanha
Primeira bacia bem protegida (98% de cobertura orestal)/
segunda com intensivo uso para pastagem (56,3%)/
terceira com intensivo uso agrcola (63%).
- ND
(2)
- 120 Holanda
gua bruta proveniente de lago utilizado
como manancial de abastecimento
200-14.000 400-51.000 Minas Gerais, Brasil
(3)
Manancial supercial no protegido
ND
(2)
52.100 ND
(2)
2.000
16 bacias hidrogrcas,
So Paulo, Brasil
(3)
Mananciais superciais no protegidos (dez deles localizados
em reas de grande concentrao urbana e intensa atividade
industrial e seis localizados em rea com atividade industrial,
porm a ocupao do solo era principalmente relacionada
a atividades agropecurias
ND
(2)
- 700 ND
(2)
2.500 Minas Gerais, Brasil
(3)
Manancial supercial no protegido
2.244 667 Minas Gerais, Brasil
(3)
Manancial supercial no protegido
NOTAS: (1) CISTOS FORAM RECUPERADOS DE FORMA IRREGULAR. (2) NO DETECTADO. (3) CONCENTRAO DE (OO)CISTOS POR FLOCULAO.
FONTES: BASTOS ET AL. (2001); KISTEMANN ET AL. (2002); MEDEMA ET AL. (2003); BASTOS ET AL. (2004); HACHICH ET AL. (2004); BRAGA (2007); DIAS ET AL.
(2008 ADAPTADO).
GUAS 84
Tabela 3.4 > Ocorrncia de (oo)cistos de Giardia e Cryptosporidium em amostras de gua
de mananciais subterrneos
ORIGEM DA GUA
Poo vertical Nascente Poo horizontal Galeria de inltrao
Cistos Oocistos Cistos Oocistos Cistos Oocistos Cistos Oocistos
3% (2/63) - 19% (16/84) - - - 19% (5/16) -
1% (2/149) 5% 14% (5/35) 20% 36% (4/11) 45% 25% (1/4) 50%
6/100L 26/100L - - - - - -
- 80% (8/10) - - - - - -
FONTE: DIAS ET AL. (2007 ADAPTADO).
3.2.3 Associao de giardiose e criptosporidiose ao consumo de gua
A ocorrncia de (oo)cistos em guas tratadas e em sistemas de abastecimento no
determina, necessariamente, comprometimentos da sade da populao consumido-
ra. Em princpio, os (oo)cistos identicados podem no ser viveis/infectantes e/ou as
concentraes observadas no so sucientes para determinar processos de infeco
e/ou os processos infecciosos que ocorrem no implicaram em quadro sintomtico.
Adicionalmente, h que se considerar o fato de que podem ocorrer casos eventuais
que, devido a pouca gravidade, no so identicados e, por conseguinte, no so noti-
cados; ou ainda, quando as concentraes so sucientes para desencadear proces-
sos de infeco, resultando em casos de giardiose e/ou criptosporidiose, os sintomas
podem ser atribudos a outros agentes.
Alguns dados de literatura relatam a identicao de (oo)cistos em euentes de es-
taes de tratamento de gua (ETAs) sem, contudo, associar os eventos com casos
de doena na populao (LeCHEVALLIER; NORTON; LEE, 1991; ABOYTES et al., 2004;
BASTOS et al., 2004). Se, por um lado, a identicao de (oo)cistos na gua tratada
no revela a condio de viabilidade/infectividade, limitando a denio do real risco
microbiolgico sade da populao, por outro, so indicadores incontestes da ocor-
rncia de falhas no processo de tratamento e/ou no controle da qualidade da gua.
Surtos e epidemias de giardiose e criptosporidiose envolvendo a gua de consumo
tm sido registrados por todo o mundo, sendo que Estados Unidos, Inglaterra, Canad
e Japo reportam o maior nmero de registros. A ocorrncia de surtos/epidemias de
giardiose mais antiga que de criptosporidiose, havendo registros de 34 eventos ape-
nas nos EUA no perodo de 1954 a 1979. A partir da dcada de 1980, observa-se uma
inverso, sendo que passam a ser mais frequentes os surtos/epidemias envolvendo o
Cryptosporidium spp. Tambm interessante notar que surtos registrados envolvendo
Giardia sp. so mais comuns nos EUA e aqueles envolvendo Cryptosporidium spp.
MICRORGANISMOS EMERGENTES 85
parecem acometer diferentes pases (Tabela 3.5). Entretanto, os dados sistematizados
nas Tabelas 3.5 e 3.6 se referem a eventos noticados pelos sistemas de vigilncia
epidemiolgica dos pases e/ou registrados em publicaes cientcas. Sendo assim,
no caracterizam necessariamente o real quadro epidemiolgico no que diz respeito
incidncia de giardiose e criptosporidiose no mundo como um todo.
No Brasil, no so conhecidos dados devidamente documentados que comprovem a
ocorrncia de surtos de giardiose e criptosporidiose associados ao consumo de gua.
Predominantemente, as formas de transmisso dos surtos descritos em nosso pas se
referem a contatos interpessoais, notadamente envolvendo crianas em creches.
Ainda que seja tarefa difcil a associao inequvoca entre a ocorrncia de surtos/epi-
demias e a gua consumida pela populao, alguns registros exemplicam de modo
mais ou menos consistente a participao da gua de consumo como veculo de trans-
misso de agentes patognicos. Na Tabela 3.6 so apresentados alguns importantes
surtos/epidemias de giardiose e criptosporidiose, considerando o nmero de pessoas
envolvidas, onde a gua de consumo humano foi implicada como a exposio.
De maneira geral, observa-se que alguns surtos estiveram associados ao abastecimen-
to de gua sem tratamento, entretanto, outros ocorreram em populaes onde a gua
consumida recebia algum tipo de tratamento, inclusive ltrao. Alguns aspectos
normalmente indicados como as possveis causas da presena de (oo)cistos na gua
distribuda e, consequentemente, origem do surto/epidemia incluem: (i) contaminao
dos mananciais de abastecimento (principalmente superciais) por esgoto domstico
ou gua residuria provenientes de instalaes de produes animais; (ii) aumento
sbito da contaminao dos mananciais (principalmente superciais) aps intensas
chuvas ou degelo; (iii) existncia de assentamentos humanos e/ou exploraes agro-
pecurias na rea da bacia hidrogrca do manancial; (iv) falhas nos processos de
tratamento (humanas e/ou instrumentais); (v) tratamento da gua por tcnicas e pro-
cessos inadequados aos nveis de poluio dos mananciais de abastecimento e/ou (vi)
recontaminao da gua na rede de distribuio (inltrao de esgotos/guas residu-
rias). Adicionalmente, registra-se que, de modo geral, a qualidade da gua tratada
normalmente atendia aos requisitos exigidos nas legislaes especcas.
Exemplicando o exposto, em relao ao surto ocorrido em Milwaukee, o abasteci-
mento de gua da cidade era feito por duas ETAs (Sul e Norte) que captavam gua
de manancial supercial (Lago Michigan). Em ambas as ETAs o tratamento inclua:
pr-clorao e tratamento convencional (coagulao com cloreto de poli-alumnio).
Adicionalmente, era feita recirculao da gua de lavagem dos ltros. Durante o
perodo de fevereiro a abril de 1993, alguns picos de turbidez da gua tratada na ETA
Sul ocorreram: 0,35 uT (18 de maro); 1,7 uT (28 e 30 de maro); 1,5 uT (5 de abril)
GUAS 86
Tabela 3.5 > Surtos/epidemias de giardiose e criptosporidiose registrados associados
gua de consumo humano contaminada
AGENTE/PERODO PAS SURTOS/EPIDEMIAS NOTIFICADOS PESSOAS ACOMETIDAS
Cryptosporidium spp.
1980-1989
Inglaterra 8 2.203
EUA 2 15.000
10 17.203
1990-1999
Inglaterra 28 4.774
EUA 14 420.892
(1)
Canad 6 30.214
Japo 2 9.166
Itlia 1 294
Espanha 1 21
Irlanda 1 13
Holanda 1 71
- 54 465.445
2000-2001
Inglaterra 5 168
Irlanda 4 505
EUA 1 5
Canad 1 5.800
Frana 1 563
12 7.041
TOTAL - 76 489.689
Giardia sp.
1954 a 1979 EUA 34 72.322
(2)
1980-1989
EUA 23 5.318
(3)
Canad 5 1.467
(4)
Sucia 2 1.456
Inglaterra 1 108
- 31 8.349
1990-1999
EUA 19 2.378
Canad 2 300
(4)
Inglaterra 2 40
23 2.718
2000-2001
EUA 5 50
Alemanha 2 8
(4)
Nova Zelndia 1 14
8 72
TOTAL - 96 83.461
TOTAL - 172 573.150
NOTAS: (1) INCLUI O SURTO OCORRIDO EM MILWAUKEE, WISCONSIN, EM 1993, COM 403.000 CASOS. (2) EM DOIS SURTOS O NME-
RO DE PESSOAS ACOMETIDAS NO FOI ESTIMADO/DETERMINADO. (3) EM QUATRO SURTOS O NMERO DE PESSOAS ACOMETIDAS
NO FOI ESTIMADO/DETERMINADO. (4) EM UM SURTO O NMERO DE PESSOAS ACOMETIDAS NO FOI ESTIMADO/DETERMINADO.
FONTES: BASTOS ET AL. (2001); KISTERMANN ET AL. (2002); MEDEMA ET AL. (2003); BASTOS ET AL. (2004); HACHICH ET AL. (2004); BRAGA (2007);
DIAS ET AL. (2008 - ADAPTADO); KARANIS; KOURENTI; SMITH (2007 ADAPTADO).
MICRORGANISMOS EMERGENTES 87
(Figura 3.1). No perodo de fevereiro a abril de 1993, amostras de gua tratada de
ambas as ETAs foram negativas para coliformes e atendiam legislao de qualida-
de da gua do Estado de Wisconsin. Inspees realizadas na ETA Sul revelaram que
um equipamento para auxiliar o operador no ajuste da dose de coagulante havia
sido instalado incorretamente e, portanto, no estava sendo usado. Adicionalmente,
equipamentos existentes para o monitoramento contnuo da turbidez na gua l-
trada no estavam em uso, consequentemente, a turbidez estava sendo monitorada
apenas a cada oito horas (Mac KENZIE et al., 1994).
3.2.4 Fundamentos das tcnicas analticas de deteco
e quanticao de (oo)cisto de Cryptosporidium spp. e Giardia sp.
Os mtodos de deteco e recuperao de protozorios na gua envolvem trs passos
fundamentais: concentrao da amostra de gua com a nalidade de recuperar ou cap-
turar (oo)cistos, puricao dos (oo)cistos, e identicao e conrmao. Basicamente, a
primeira etapa realizada por meio da ltrao de volumes variados, centrfugo-concen-
trao ou eluio dos microrganismos. A etapa de puricao tem sido amplamente estu-
dada e pode ser obtida por meio de gradientes de sacarose ou pela separao imunomag-
ntica. A etapa de identicao e conrmao geralmente obtida atravs de visualizao
em microscopia com imunouorescncia direta e prova conrmatria da morfologia por
meio de microscopia de contraste de fase seguida de enumerao dos (oo)cistos.
FONTE: MAC KENZIE ET AL. (1994 - ADAPTADO).
Figura 3.1
Valores mximos de turbidez da gua tratada durante o surto de criptosporidiose
ocorrido em Milwaukee/Wisconsin, EUA, 1993
GUAS 88
Tabela 3.6 > Caractersticas de alguns surtos/epidemias causados por Cryptosporidium spp.
e Giardia sp. e associados gua de consumo humano contaminada.
CIDADE/PAS ANO CASOS
MANANCIAL
DE ABASTE-
CIMENTO/
TRATAMENTO
CAUSA PROVVEL/OBSERVAES
Cryptosporidium spp.
Carrolton/EUA 1987 13.000
Supercial/
TC
(1)
Provvel contaminao do manancial com esgoto, euentes agropecurios
e escoamento supercial de reas de pastagem/identicadas falhas no pro-
cesso de tratamento da gua/primeiro surto associado com gua ltrada
Jackson County/EUA 1992 15.000
Nascente/
clorao e
supercial/
TC
(1)
Manancial supercial recebia euente de estao de tratamento
de esgoto/reas de pastagem na bacia de captao/identicadas falhas no
processo de tratamento da gua
Kitchener-Waterloo/
Canad
1993 23.900
Subterrneo
e supercial
com
tratamento
(2)
Atividade agropecuria na bacia de captao/contaminao dos manan-
ciais aps chuvas intensas e degelo/identicadas falhas no processo de
tratamento da gua/aplicao de oznio em nveis no adequados
Milwaukee/EUA 1993
403.000/
100 bitos
Supercial
(lago)/TC
(1)
Contaminao do manancial com descarga de esgoto e euente
de abatedouros/ atividade agropecuria na bacia de captao/provvel
remoo inadequada de oocistos/recirculao da gua de lavagem
de ltros
Saitama/Japo 1996 8.705
No
informado
Oocistos detectados em amostras de gua bruta e tratada
Dracy Le Fort
County/Frana
2001 563
Abastecimento
pblico
(2)
Oocistos detectados em amostras de gua da rede de distribuio/provvel
contaminao com esgotos domsticos
Giardia sp.
Portland/EUA
1954-
1955
50.000
Supercial/
clorao
Sem informao
Rome/EUA
1974-
1975
4.800 -
5.300
Supercial/
clorao
Primeiro surto onde cistos de Giardia foram detectados no abastecimento
de gua municipal/assentamentos humanos na bacia de captao/uso
de cloramina para desinfeco
Berlin/EUA 1977 7.000 Supercial
Provvel ocorrncia de dois surtos simultneos/dois sistemas
de abastecimento independentes envolvidos/cistos na gua bruta
e no euente nal tratado dos dois sistemas/vrias decincias
detectadas nos sistemas/contaminao dos mananciais superciais
por gua de degelo e dejetos humanos/identicao de animais
silvestres (castores) infectados na bacia de captao
Slen/Sucia 1986 > 1.400
No
informado
Contaminao da gua com esgoto/surto simultneo
de giardiose e amebiose
Bergen/Noruega 2004 1.300
Supercial/
clorao
Presena de assentamentos humanos prximo ao local de captao
da gua/rea da bacia de captao utilizada para recreao
e existncia de atividades agropecuria (criao de ovelhas)/deteco
de cistos na gua bruta e tratada/possvel contaminao da gua
distribuda com gua residuria devido m conservao da rede
de esgoto (antiga e com sinais de vazamento)
NOTAS: (1) TRATAMENTO CONVENCIONAL. (2) A FONTE NO INFORMA SOBRE O TIPO DE TRATAMENTO.
FONTES: KARANIS; KOURENTI; SMITH (2007); NYGRD ET AL. (2006 - ADAPTADO).
MICRORGANISMOS EMERGENTES 89
Musial et al. (1987) desenvolveram um mtodo para deteco e recuperao de
(oo)cistos de protozorios atravs de ltros de cartucho de polipropileno com po-
rosidade de 1m. Segundo essa tcnica, grandes volumes de gua (100 L a 1.000 L)
podem ser ltrados e a etapa de puricao obtida com o uso de sacarose-Percol
ou soluo de cloreto de sdio e a visualizao, mediante a imunouorescncia. Em-
bora os autores destaquem a capacidade do mtodo para detectar < 1 (oo)cisto por
litro, essa metodologia apresenta algumas limitaes e sofre muita inuncia da con-
centrao do inculo. Segundo Musial et al. (1987), a ecincia de recuperao va-
riou de 14,5% a 44% quando a concentrao do inculo foi alterada de 10
2
para 10
6
(oo)cistos. Essa tcnica foi a inicialmente adotada pela Agncia de Proteo Ambiental
dos Estados Unidos da Amrica (USEPA) como tcnica padro para deteco de (oo)
cistos em amostras de gua (USEPA, 1996).
A tcnica de oculao qumica com carbonato de clcio foi proposta como mtodo
de concentrao de volumes de 10 L de gua por precipitao (VESEY et al., 1993). O
sedimento obtido extremamente rico em material particulado, interferindo na leitura
de imunouorescncia, podendo resultar em falso-positivos. Esse mtodo possui eci-
ncia de recuperao entre 30% a 40% (FRICKER; CRABB, 1998).
A tcnica de ltrao em membranas, proposta por Aldom e Chagla (1995), foi de-
senvolvida para deteco de (oo)cistos em gua tratada, sendo posteriormente apli-
cada em amostras de gua bruta (ONGERTH; STIBBS, 1987). Consiste na captura dos
(oo)cistos atravs da ltrao em membranas de acetato de celulose, seguida de elui-
o por dissoluo em acetona e etanol. A turbidez da gua o maior fator limitan-
te, pois pode ocorrer rpida obstruo da malha ltrante, com consequente reduo
do volume ltrado. O mtodo sofre inuncia do processo de eluio nas etapas de
dissoluo em acetona e pode alterar a infectividade dos (oo)cistos (CARRENO et al.,
2001). A mdia de recuperao da metodologia de membrana ltrante pode chegar a
70,5% (ALDOM; CHAGLA, 1995). Um protocolo alternativo foi desenvolvido no Brasil
por Franco, Cantusio Neto e Branco (2001), no qual a recuperao dos (oo)cistos
feita por extrao mecnica, fazendo-se raspagem e lavagem da superfcie da mem-
brana, evitando assim as perdas de infectividade.
Com a ocorrncia de surtos de criptosporidiose veiculados pela gua de consumo, surgiu
a necessidade de desenvolver um novo mtodo para detectar os patgenos na gua,
no entendimento de que as tcnicas at ento utilizadas apresentam desvantagens em
comum como: (i) baixa ecincia de recuperao; (ii) taxas elevadas de falsos positivos
e falsos negativos e (iii) baixa preciso. Em 1997, a USEPA desenvolveu o mtodo 1622
para a deteco de oocistos de Cryptosporidium na gua atravs de ltrao, separao
imunomagntica (IMS) e imunouorescncia. O mtodo era inovador e apresentava as
GUAS 90
seguintes vantagens: (i) novo ltro aumentando a ecincia da captao e da eluio
dos oocistos; (ii) incorporao da separao imunomagntica reduzindo falsos positivos
e interferncias inespeccas; (iii) uma etapa adicional na conrmao e identicao
dos oocistos com incluso do corante 4,6-Diamidino-2-fenilindol (DAPI) e prova conr-
matria da morfologia atravs de microscopia de contraste de fase (CID) e (iv) incorpo-
rao de medidas de controle de qualidade (McCUIN; CLANCY, 2003).
Posteriormente, o mtodo 1623 foi desenvolvido visando a deteco conjunta de
(oo)cistos Giardia e Cryptosporidium utilizando as mesmas etapas do anterior. Com-
provadamente, a IMS uma alternativa superior s tcnicas da utuao com gra-
dientes de sacarose para isolar oocistos de em amostras ambientais. As porcentagens
da recuperao das amostras de gua bruta variam de 19,5 a 54,5% para oocistos de
Cryptosporidium e 46,7 a 70% para cistos de Giardia (McCUIN; CLANCY, 2003).
Uma limitao comum a todas as tcnicas citadas a incapacidade de fornecer infor-
maes sobre a espcie, viabilidade e infectividade
5
dos (oo)cistos. A viabilidade pode
ser avaliada por ensaio de excistamento in vitro, incluso ou excluso de corantes
uorognicos e/ou observao microscpica da morfologia dos (oo)cistos. Entretanto,
atualmente, as tcnicas mais aceitas e aplicadas para denio de viabilidade e infec-
tividade so o ensaio com camundongos e o cultivo celular.
As metodologias moleculares tm sido utilizadas, mais recentemente, na etapa con-
rmatria da pesquisa de protozorios. O principal objetivo a avaliao de fatores
associados ao ambiente e ao hospedeiro que possam auxiliar no entendimento da di-
nmica dos patgenos no ambiente, resultando assim em medidas preventivas que vi-
sem a minimizao do risco de transmisso. Os estudos moleculares apresentam como
vantagem a genotipagem com vistas a desvendar a espcie do patgeno, indicando
a origem dos microrganismos eventualmente isolados. No entanto, as tcnicas no
fornecem informaes sobre a infectividade do (oo)cistos. Alm disso, no dispensam
as etapas anteriores de concentrao e puricao.
Avaliao das ecincias das tcnicas utilizadas nos projetos que envolveram a pes-
quisa e identicao de (oo)cistos de protozorios em amostras de gua foi objeto
desse edital e est descrita no captulo 4 desse livro.
3.3 Cianobactrias
As cianobactrias so um dos componentes naturais da comunidade toplanctni-
ca de qualquer ecossistema aqutico, ocorrendo na natureza desde os primrdios da
colonizao biolgica na superfcie terrestre. Contudo, a ateno para a ocorrncia
desses microrganismos em mananciais de abastecimento pblico relativamente re-
MICRORGANISMOS EMERGENTES 91
cente e est associada, principalmente, constatao dos problemas de sade pblica
que podem decorrer do crescimento exagerado desse grupo em ambientes aquticos
potencialmente utilizveis para abastecimento humano e dessedentao animal.
A conrmao da produo de toxinas por espcies de cianobactrias com uma ele-
vada toxicidade para mamferos e o aumento do conhecimento dos processos de eu-
trozao articial, como uma das principais causas da crescente dominncia das
cianobactrias em ambientes aquticos continentais, permitiu, desde o nal da d-
cada de 1950, um contnuo aumento do interesse por esse grupo de microrganismos
(CHORUS; BARTRAM, 1999). Contudo, no se pode considerar as cianobactrias como
microrganismos patognicos num sentido clssico, pois embora muitas linhagens de
diferentes espcies possam produzir metablitos secundrios bioativos e txicos
clulas de diversos grupos de animais, grande parte desses compostos s liberada
para a gua aps a lise das clulas das cianobactrias. Portanto, a avaliao da poten-
cial toxicidade desses microrganismos precisa tambm considerar a presena dessas
toxinas na forma dissolvida, principalmente quando o alvo dessa avaliao a quali-
dade da gua potvel. Essa qualidade certamente poder ser mais comprometida pela
presena das toxinas na forma dissolvida do que por clulas viveis de cianobactrias,
que potencialmente devem ser removidas em grande parte durante o tratamento da
gua, que por sua vez pode levar ao rompimento das clulas desses microrganismos
pelo uso de compostos qumicos nas diversas etapas desse processo.
Para lidar com os problemas de sade pblica decorrentes da presena de cianobact-
rias txicas em mananciais de abastecimento, importante um conhecimento bsico
das caractersticas desses organismos que favorecem o seu crescimento nos ambien-
tes naturais. Esse item e os seguintes apresentam breve reviso de informaes gerais
sobre cianobactrias toxignicas, especialmente voltada para as condies normal-
mente encontradas no Brasil.
3.3.1 Aspectos gerais
As cianobactrias so microrganismos aerbicos fotoautotrcos. Seus processos vi-
tais requerem somente gua, dixido de carbono, substncias inorgnicas e luz. A
fotossntese seu principal modo de obteno de energia para o metabolismo; entre-
tanto, sua organizao celular demonstra que esses microrganismos so procariontes
e, portanto, muito semelhantes, bioqumica e estruturalmente, s bactrias.
As cianobactrias formam um grupo bastante diverso de microrganismos procariticos
fotossintetizantes. Elas podem ser unicelulares, coloniais ou lamentosas, podendo crescer
em suspenso na coluna dgua, sendo ento caracterizadas como organismos toplanc-
tnicos, ou aderidas superfcies, o que leva identicao de algumas espcies como
GUAS 92
bentnicas (quando esto aderidas a substratos no fundo dos ambientes aquticos), ou,
ainda, podem ser eptas (quando esto aderidas substratos localizados em profundi-
dades diferentes nos ambientes aquticos, como macrtas utuantes ou submersas, por
exemplo). As cianobactrias apresentam a reproduo assexuada como nico tipo de re-
produo e crescimento de sua populao, que se d pela diviso de clulas vegetativas.
A capacidade de crescimento nos mais diferentes meios uma das caractersticas
marcantes das cianobactrias. Entretanto, ambientes de gua doce so os mais fa-
vorveis, visto que a maioria das espcies apresenta melhor crescimento em guas
neutro-alcalinas (pH 6-9), temperatura entre 15 a 30C e alta concentrao de nu-
trientes, principalmente nitrognio e fsforo (PAERL, 2008).
As espcies de cianobactrias unicelulares apresentam dimetro compreendido na fai-
xa de 0,4 m at 40 m e podem apresentar variao de volume celular num fator
de 3x10
5
. Algumas espcies lamentosas apresentam dimetro de at 100 m, mas
normalmente essas clulas apresentam dimetro pequeno, o que lhes confere volu-
mes celulares menores do que os usualmente encontrados para espcies unicelulares
(WHITTON; POTTS, 2000).
As cianobactrias so consideradas como o primeiro grupo de organismos que foi
capaz de realizar fotossntese oxignica. Esse fato permitiu o incio da acumulao de
oxignio na atmosfera, que se deu entre 3,5 a 2,8 bilhes de anos, representando fato
crucial na evoluo da vida na Terra (WHITTON; POTTS, 2000).
3.3.2 Principais grupos de cianobactrias e risco sade
relacionado exposio por consumo de gua
As cianobactrias so atualmente reconhecidas como um grupo de bactrias Gram-
negativas includas no grupo Eubactria. Apesar do sistema de classicao utilizado
para se fazer o agrupamento taxonmico das cianobactrias no ser consenso entre
os especialistas, recentes revises feitas por Komrek (2003) e Komrek e Anagnostidis
(1999; 2005) propem aproximadamente 124 gneros de cianobactrias e 2 mil esp-
cies (53 gneros de organismos unicelulares e coloniais e 71 gneros de organismos
lamentosos). De forma geral, aceita-se que a descrio das espcies baseada nas
caractersticas morfolgicas por microscopia ainda o mtodo mais acessvel. Duas
breves revises sobre esse tema, adaptadas s necessidades nacionais da rea de sane-
amento podem ser encontradas em SantAnna et al. (2006) e Cybis et al. (2006).
Dentre as espcies so encontradas linhagens produtoras ou no produtoras de toxi-
nas e, de acordo com Apeldoorn et al. (2007), pelo menos 40 gneros distintos incluem
espcies com linhagens txicas
6
j identicadas. Entretanto, de maneira geral, as es-
pcies txicas mais comumente identicadas esto includas nos gneros: Anabae-
MICRORGANISMOS EMERGENTES 93
na, Aphanizomenon, Cylindorspermopsis, Lyngbya, Microcystis, Nostoc, Oscillatoria e
Planktothrix.
De acordo com uma recente reviso de SantAnna et al. (2008), j foram identicados
no Brasil 32 espcies de cianobactrias comprovadamente produtoras de toxinas. Doze
delas foram caracterizadas como pertencentes ordem Chroococales, dez ordem Os-
cillatoriales e dez ordem Nostocales. Considerando o local de identicao, a regio
tropical brasileira apresentou menor diversidade de cianobactrias txicas (14 espcies)
em relao regio subtropical do pas (27 espcies). Os gneros Microcystis (sete es-
pcies) e Anabaena (seis espcies) foram os que apresentaram o maior nmero de esp-
cies txicas. As espcies Microcystis aeruginosa e Cylindrospermopsis raciborskii foram
as de maior ocorrncia nas diferentes regies. Com exceo de Planktothrix agardhii,
todas as demais espcies de Oscillatoriales apresentaram espcies txicas restritas
regio subtropical. Entretanto, importante destacar que a produo de toxinas por es-
sas espcies altamente varivel, tanto em uma mesma orao como entre oraes
distintas, podendo, assim, variar tanto espacialmente como temporalmente.
Cabe esclarecer que o termo orao utilizado nesse texto como denio de uma
colorao visvel da gua de um referido manancial, devida presena de elevado
nmero de clulas, lamentos ou colnias de cianobactrias em suspenso. Tambm,
muitas vezes, com a subsequente formao de uma nata verde na superfcie da gua,
decorrente da acumulao desses microrganismos na superfcie, em perodos de pou-
ca ou nenhuma movimentao da coluna dgua.
As toxinas de cianobactrias, que so conhecidas como cianotoxinas, constituem
grande fonte de produtos naturais txicos produzidos por esses microrganismos e,
embora ainda no estejam devidamente esclarecidas as causas da produo dessas
toxinas, tem-se assumido que esses compostos tenham funo protetora contra her-
bivoria, como acontece com alguns metablitos de plantas vasculares (CARMICHAEL,
1992). Uma viso mais inovadora encara as cianotoxinas como potenciais molculas
mediadoras em interaes de cianobactrias com outros componentes do habitat,
como bactrias heterotrcas, fungos, protozorios e algas (PAERL; MILLIE, 1996).
Uma possibilidade atraente que a produo dessas toxinas por cianobactrias esteja
relacionada comunicao intercelular, seja intra ou interespecca (KEARNS; HUN-
TER, 2000; DITTMANN et al., 2001).
Algumas dessas toxinas, caracterizadas por sua ao rpida, causando a morte de
mamferos por parada respiratria aps poucos minutos de exposio, tm sido iden-
ticadas como alcalides ou organofosforados neurotxicos. Outras atuam menos ra-
pidamente e so identicadas como peptdeos ou alcalides hepatotxicos.
GUAS 94
De acordo com suas estruturas qumicas, as cianotoxinas podem ser includas em trs
grandes grupos: os peptdeos cclicos, os alcalides e os lipopolissacardeos. Entretan-
to, por sua ao farmacolgica, as duas principais classes de cianotoxinas so: neu-
rotoxinas (anatoxina-a, anatoxina-a(s) e saxitoxinas) e hepatotoxinas (microcistinas
e cilindrospermopsina). Alm disso, a constatao recente de que grande parte das
cianobactrias planctnicas pode potencialmente produzir o aminocido neurotxico
-N-metilamino-L-alanina, conhecido pela sigla BMAA (COX et al., 2005), introduziu
uma nova e sria preocupao quanto a riscos para a sade pblica, a partir do con-
sumo da gua e de pescado. Tal preocupao se baseia nos efeitos dessa neurotoxina,
BMAA reconhecido como a possvel causa de esclerose amiotrca lateral (ALS),
grave doena neurolgica que se caracteriza por paralisia progressiva associada ao
Mal de Parkinson e Doena de Alzheimer e atualmente designada pela sigla ALS-PDC
(complexo ALS-Parkinson-Demncia). Essa descoberta levanta novo desao, pois pra-
ticamente nada se sabe sobre os processos de degradao, bioacumulao, remoo e
estabilidade dessa neurotoxina em ambientes aquticos.
Alguns gneros de cianobactrias tambm podem produzir toxinas irritantes ao con-
tato. Essas toxinas tm sido identicadas como lipopolissacardeos (LPS), que so tam-
bm comumente encontrados nas membranas celulares de demais bactrias Gram-ne-
gativas. Esses LPS so endotoxinas pirognicas, porm, os poucos estudos disponveis
indicam que os lipopolissacardeos produzidos por cianobactrias so menos txicos
que os de outras bactrias como, por exemplo, Salmonella (KELETI; SYKORA, 1982;
RAZIUDDIN et al., 1983 apud CHORUS; BARTRAM, 1999).
As cianobactrias esto tambm frequentemente associadas produo de compostos
que conferem gosto e odor gua. Os dois principais compostos j caracterizados so
geosmina e 2-metilisoborneol (MIB). Embora esses compostos no possam ser consi-
derados txicos, sua presena muitas vezes implica na rejeio, por parte da popula-
o, da gua potvel fornecida e busca por fontes alternativas de abastecimento, com
aumento do risco sade (ver captulo 8). Esse problema bastante complexo e no
necessariamente est associado presena de cianobactrias. Vrios grupos de actino-
micetes, fungos e mixobacterias podem tambm produzir esses compostos. Alm disso,
a produo dessas substncias por cianobactrias no pode ser associada produo
de cianotoxinas. As rotas biosintticas para esses compostos so diferentes e no rela-
cionadas com a sntese das cianotoxinas conhecidas (CARMICHAEL et al., 2001).
As variaes de toxicidade das cianobactrias ainda no foram devidamente esclare-
cidas. Entretanto, est se tornando cada vez mais frequente a ocorrncia de oraes
txicas. Tipicamente, cerca de 50% de todas as oraes testadas em diferentes pases
se mostram txicas (FRISTACHI; SINCLAIR, 2008).
MICRORGANISMOS EMERGENTES 95
Os pases onde esses casos foram registrados esto distribudos nos diferentes conti-
nentes. No entanto, observa-se grande dominncia de relatos em pases do hemisfrio
norte, certamente devido ao maior interesse e investimentos nessa linha de pesquisa e
consequente preocupao com o potencial de intoxicao das cianobactrias.
Os registros sobre a ocorrncia de oraes txicas no Brasil se iniciaram na dcada de
1980. Uma reviso de dados da literatura sobre ecologia de toplncton mostrou que
os ambientes aquticos localizados em reas com forte impacto antrpico apresen-
tavam alta percentagem de dominncia de cianobactrias e ocorrncia de oraes.
Em mdia, 50% desses ambientes j apresentavam dominncia de cianobactrias. Em
pelo menos 11 dos 26 Estados brasileiros j foram identicadas espcies txicas de
cianobactrias, sendo a maioria dos registros provenientes de reservatrios de usos
mltiplos (AZEVEDO, 2005).
No Brasil, as oraes de cianobactrias vm aumentando em intensidade e frequncia
e, atualmente, possvel se visualizar um cenrio de dominncia desses organismos
no toplncton de muitos ambientes aquticos, especialmente durante os perodos de
maior biomassa e/ou densidade (AZEVEDO, 2005). Essa dominncia marcante sobre-
tudo em reservatrios e, em vrios deles, tem sido observado o predomnio de ciano-
bactrias durante grande parte do ano (BOUVY et al., 1999; HUZCAR et al., 2000).
As intoxicaes de populaes humanas pelo consumo oral de gua contaminada por
cepas txicas de cianobactrias j foram descritas em pases como Austrlia, Inglater-
ra, China e frica do Sul (HILBORN et al., 2008). Em nosso pas, o trabalho de Teixeira
et al. (1993) descreve forte evidncia de correlao entre a ocorrncia de oraes de
cianobactrias, no reservatrio de Itaparica, na Bahia, e a morte de 88 pessoas, entre as
200 intoxicadas, pelo consumo de gua do reservatrio, entre maro e abril de 1988.
Contudo, o primeiro caso conrmado de mortes humanas no Brasil causadas por cia-
notoxinas ocorreu no incio de 1996, quando 130 pacientes renais crnicos, aps te-
rem sido submetidos a sesses de hemodilise em uma clnica da cidade de Caruaru
(PE), passaram a apresentar quadro clnico compatvel com grave hepatotoxicose. Des-
ses, 60 pacientes vieram a falecer at dez meses aps o incio dos sintomas. As anlises
conrmaram a presena de microcistinas e cilindrospermopsina no carvo ativado
utilizado no sistema de puricao de gua da clnica, e de microcistinas em amostras
de sangue e fgado dos pacientes intoxicados (JOCHIMSEN et al., 1998; POURIA et
al., 1998; CARMICHAEL et al., 2001; AZEVEDO et al., 2002). Alm disso, as contagens
das amostras do toplncton do reservatrio que abastecia a cidade demonstraram
dominncia de gneros de cianobactrias comumente relacionados com a produo
de cianotoxinas.
GUAS 96
Em termos globais, os relatos clnicos dos danos para a populao humana, pelo con-
sumo oral de toxinas de cianobactrias em guas de abastecimento, indicam que esses
danos acontecem como consequncia de acidentes, desconhecimento ou decincia na
operao dos sistemas de tratamento da gua. Como resultado, esses relatos so parcial-
mente estimados e as circunstncias originais so frequentemente de difcil denio.
Em muitos casos, as cianobactrias causadoras dos danos desaparecem do reservatrio
antes que as autoridades de sade pblica considerem uma orao como possvel peri-
go, pois so geralmente desconhecedoras dos danos possveis resultantes da ocorrncia
de oraes de cianobactrias e, portanto, assumem que os processos de tratamento
da gua usuais so capazes de remover qualquer problema potencial. Entretanto, vrias
toxinas de cianobactrias, quando em soluo, so dicilmente removidas por meio do
processo convencional de tratamento, sendo inclusive resistentes fervura.
Em regies agricultveis, ou reas densamente povoadas, ocorre muitas vezes o apa-
recimento de oraes de cianobactrias em reservatrios de abastecimento pblico e
usualmente as autoridades de meio ambiente tentam controlar as oraes com apli-
cao de sulfato de cobre ou outros algicidas. Esse mtodo, cuja prtica vedada no
Brasil quando a densidade das cianobactrias exceder 20.000 clulas/mL (ou 2mm
3
/L
de biovolume), provoca a lise desses organismos, liberando as toxinas frequentemente
presentes nas clulas para a gua bruta do manancial. Tais aes podem causar expo-
sies agudas s toxinas. Alm disso, h evidncias que populaes abastecidas por
reservatrios que apresentam extensas oraes podem estar expostas a baixos nveis
de toxinas por longos perodos (HILBORN et al., 2008).
Essa exposio prolongada deve ser considerada como um srio risco sade, uma
vez que as microcistinas, que so o tipo mais comum de toxinas de cianobactrias, so
potentes promotoras de tumores e, portanto, o consumo continuado de pequenas do-
ses de hepatotoxinas pode levar maior incidncia de cncer heptico na populao
exposta. Algumas investigaes epidemiolgicas sugeriram que a ocorrncia de carci-
noma hepatocelular e cncer colo-retal era signicantemente mais alta em regies da
China onde o consumo de gua no tratada e com ocorrncia frequente de oraes
de cianobactrias eram mais comum do que em regies abastecidas por gua subter-
rnea e/ou devidamente tratada (RESSOM et al., 1994; FALCONER, 2005). Entretanto,
as evidncias epidemiolgicas so contraditrias. Um estudo retrospectivo recente
no conseguiu identicar a relao entre carcinoma hepatocelular e o consumo de
gua contaminada (YU et al., 2002).
De qualquer forma, o conhecimento sobre a toxicologia de cianotoxinas ainda bas-
tante restrito a estudos com pequenos roedores e principalmente dedicados ava-
liao da ocorrncia de efeitos agudos relacionados a microcistinas. Contudo, a ex-
MICRORGANISMOS EMERGENTES 97
posio crnica ou episdica a toxinas de cianobactrias certamente a principal via
de exposio humana a esses compostos, principalmente se considerando a via oral,
por meio do consumo de gua. Porm, h muito poucos dados sobre os efeitos dessas
toxinas nessas condies, o que torna a avaliao de risco para a populao bastante
imprevisvel (HILBORN et al., 2008).
Por outro lado, tambm importante considerar que grande parte das oraes pode
apresentar variao na composio de espcies de cianobactrias dominantes, tanto
espacialmente como temporalmente, com intervalos semanais e at mensais. Como
exemplo, pode-se citar o trabalho de Molica et al. (2005), que vericaram rpida subs-
tituio da espcie dominante de cianobactrias num reservatrio de abastecimento
pblico no Estado de Pernambuco e sua relao direta com o tipo e concentraes de
cianotoxinas presentes na gua bruta. Consequentemente, a predominncia de um ou
outro tipo de cianotoxina na gua captada para tratamento pode diferir em curtos
intervalos de tempo, dicultando ainda mais qualquer avaliao de risco para a po-
pulao abastecida e mesmo as adequaes necessrias para garantir a remoo das
clulas de cianobactrias e de suas toxinas durante o tratamento da gua.
Portanto, importante que os efeitos crnicos de exposies prolongadas por ingesto
oral de baixas concentraes de cianotoxinas sejam avaliados, tanto do ponto de vista
epidemiolgico como toxicolgico. H ainda a necessidade urgente do aumento do co-
nhecimento sobre efeitos crnicos, episdicos e de baixas doses de exposio s demais
cianotoxinas, especialmente relacionados inuncia no desenvolvimento neurolgico
e imunolgico. Essa observao se baseia nos resultados j obtidos por Falconer et al.
(1988), que mostraram efeitos citotxicos no hipocampo de camundongos neonatos,
aps a exposio crnica de fmeas grvidas com extratos de Microcystis. Alm disso,
mecanismos de imunomodulao e imunosupresso j foram tambm vericados para
microcistinas e cilindrospermopsina (HILBORN et al., 2008). Esses estudos so especial-
mente relevantes pois evidenciam o potencial risco para neonatos, expostos pela via oral,
durante o perodo de rpido desenvolvimento de seus sistemas imune e neural.
3.3.3 Caractersticas ambientais que propiciam
a contaminao de mananciais
A crescente eutrozao dos ambientes aquticos tem sido produzida, principalmente
em decorrncia de atividades humanas que causam o enriquecimento articial desses
ecossistemas. As principais fontes desse enriquecimento tm sido identicadas como
as descargas de esgotos domsticos e industriais dos centros urbanos e a poluio
difusa originada nas regies agricultveis.
GUAS 98
A eutrozao articial produz mudanas na qualidade da gua, incluindo: (i) reduo
do oxignio dissolvido; (ii) perda das qualidades cnicas, as quais so representadas
pelas caractersticas estticas do ambiente e seu potencial para lazer; (iii) morte exten-
siva de peixes e/ou (iv) aumento da incidncia de oraes de microalgas e cianobac-
trias. Essas mudana resultam em consequncias negativas sobre a ecincia e o cus-
to do tratamento da gua, quando se trata de manancial de abastecimento. Os efeitos
negativos dessas oraes para a sade pblica esto principalmente relacionados
com a produo de cianotoxinas pelas espcies de cianobactrias que predominam na
biomassa dessa densa camada de clulas.
amplamente aceito pelos microbiologistas e limnologistas que estudam a formao
dessas oraes, que a carga de nutrientes, o tempo de reteno da gua, a estratica-
o e a temperatura so os principais fatores que inuenciam a formao e a intensi-
dade das oraes. Em nosso pas, esse problema agravado pelo fato da maioria dos
reservatrios de gua para abastecimento apresentar as caractersticas necessrias
para o crescimento intenso de cianobactrias durante o ano todo.
Alm disso, o desenvolvimento da agroindstria em algumas regies do Brasil tem sido
bastante acelerado nos ltimos 30 anos. A grande biomassa de cultivos monoespeccos
e a necessidade de intensicar o crescimento vegetal, pelo uso intenso de fertilizantes
qumicos, tm causado rpida eutrozao de rios, lagos e reservatrios, resultando em
crescimento elevado de macrtas aquticas e altas concentraes de fsforo e nitrog-
nio na coluna dgua ou no sedimento. A taxa de urbanizao tambm tem crescido ra-
pidamente, com o consequente aumento da descarga de esgotos com pouco ou nenhum
tratamento prvio. Esses dois processos em larga escala so hoje as principais causas da
eutrozao de rios, lagos e reservatrios em muitas regies brasileiras.
O gerenciamento e controle de cianobactrias nos sistemas aquticos podem ser de car-
ter preventivo ou corretivo (erradicao da orao). Obviamente, a preveno a forma
mais racional e desejvel a ser adotada, pois evita o aparecimento de problemas potenciais
de toxicidade, gosto e odor na gua. Contudo, nenhuma tcnica de preveno simples
e, antes de qualquer opo ser selecionada, necessrio se considerarem as informaes
j disponveis sobre as variveis fsicas, qumicas e biolgicas do ambiente aqutico. Os
dados requeridos variam com o tipo de corpo dgua e da bacia hidrogrca. Por exemplo,
se o corpo dgua um rio, as prticas de uso da terra e os tipos de descarga de esgoto na
bacia de drenagem iro inuenciar as concentraes de nutrientes que estimulam as o-
raes de cianobactrias. Se o corpo dgua usado para abastecimento um reservatrio,
vrios fatores vo predispor a ocorrncia de oraes, incluindo o nmero dos auentes,
o uso da terra na bacia de drenagem, a profundidade do reservatrio, a existncia ou no
de estraticao trmica e o tempo de residncia da gua.
MICRORGANISMOS EMERGENTES 99
A experincia acumulada durante as ltimas duas dcadas com restaurao de ecos-
sistemas aquticos mostra que para a reduo de oraes de cianobactrias as con-
centraes de fsforo total devem ser no mximo de 30-50 g/L (COOKE et al., 1993
apud CHORUS; BARTRAM, 1999). De acordo com esses autores, em muitos corpos
dgua com esses valores pode ser obtida uma reduo substancial da densidade das
populaes de cianobactrias e toplncton em geral. Todavia, o trabalho de Paerl et
al. (2004) ressalta a importncia da reduo combinada entre as concentraes de
nitrognio total e fsforo total para uma reduo efetiva da eutrozao.
Alm disso, importante salientar que grande parte desses estudos s considera am-
bientes de regies temperadas e, portanto, pouca informao se tem disponvel sobre
esses mecanismos em regies tropicais e subtropicais. Fica ento evidente a necessi-
dade de estudos que comprovem se as relaes observadas em regies temperadas
podem tambm ser vericadas em nossos ecossistemas aquticos. O recente trabalho
de Huszar et al. (2006), que analisou a relao entre as concentraes de nutrientes e
clorola em 192 lagos de regies tropicais e subtropicais, demonstra claramente que a
relao linear entre a concentrao de fsforo total e clorola no to evidente nes-
ses sistemas. Porm, nesse mesmo trabalho, os autores destacam que a concentrao
de nitrognio total tambm no explica satisfatoriamente as concentraes de cloro-
la, o que demonstra que mecanismos mais complexos poderiam ter papel importante
no controle da biomassa toplanctnica em regies tropicais.
De maneira ideal, as entradas de nutrientes e a contribuio relativa das diferentes fontes
de nutrientes devem ser estimadas e as caractersticas da bacia de drenagem, tais como o
tipo de solo, o potencial escoamento e a cobertura vegetal devem ser considerados.
Numa regio rica em nutrientes, com solos passveis de eroso e cobertura vegetal
reduzida ou mesmo eutrozao natural (delta de rios ou algumas reas tropicais), as
redues nas entradas no so possveis como em regies com solos arenosos, topo-
graa plana e densa cobertura vegetal (COOKE et al., 1993 apud CHORUS; BARTRAM,
1999). Portanto, as mesmas medidas e investimentos utilizadas para a reduo de en-
tradas de nutrientes tero mais sucesso na reduo de eutrozao num ecossistema
potencialmente oligotrco que num naturalmente eutrco.
Em muitos casos, a contribuio quantitativa das entradas de nutrientes no pode ser
realmente avaliada porque isto requer a anlise detalhada das condies hidrolgicas
(as razes de uxo e tempos de reteno), assim como das concentraes de nutrien-
tes e suas variaes temporais nos principais tributrios. Tais investigaes reque-
rem tempo e recursos, pois embora entradas de fontes pontuais, tais como esgotos e
euentes, sejam relativamente fceis de mensurar, as entradas difusas da agricultura
so frequentemente difceis de quanticar.
GUAS 100
Alm disso, os gestores dos recursos hdricos so muitas vezes confrontados com
corpos dgua nos quais os dados limnolgicos no so disponveis e, s vezes, nem
mesmo a batimetria do corpo dgua conhecida.
O planejamento e a implantao de medidas de proteo dos recursos hdricos podem
ser adiados por vrios anos, antes que dados conveis possam ser disponibilizados.
Contudo, um dos dilemas que se apresenta se prefervel dar incio a aes para
reduzir de maneira substancial as entradas de nutrientes, sem ter a base de dados para
predizer se as medidas tomadas reduziro as concentraes desses nutrientes abaixo
dos limites efetivos para controlar as cianobactrias, ou retardar o planejamento e a
tomada de deciso, at que os dados possam estar disponveis.
No existe recomendao que possa ser dada para resolver o dilema entre a necessida-
de de adequar os dados de planejamento e a necessidade de implementar as medidas
bvias sem atraso. Uma alternativa efetiva para a avaliao quantitativa das entradas
de nutrientes o senso comum ou a avaliao qualitativa. Ambos iniciam com o estu-
do espacial da rea e identicao dos principais tributrios, das margens passiveis de
eroso, dos padres de precipitao e do uso e ocupao da terra.
A inspeo detalhada e crtica da bacia de drenagem pode proporcionar base excelente
para reconhecer as prioridades das aes, algumas das quais podem ser implantadas
a baixo custo. Contribuio qualitativa deve incluir a identicao de descargas de
esgotos, o uso da terra, a cobertura vegetal, as prticas de agricultura (a preparao do
solo passvel de eroso, perda da mata ciliar, que funciona como uma barreira contra a
lixiviao do solo para o corpo dgua e a queima de restos de plantaes).
Enquanto que os investimentos em medidas de controle internas ou no corpo dgua
podem ser inecazes sem uma avaliao prvia adequada restaurao, a reduo de
entradas externas de nutrientes seria, pelo menos, o primeiro passo na direo correta.
Os gestores devem ser encorajados a implantar medidas de controle de nutrientes,
mesmo que a base de dados no seja suciente para prever o impacto quantitativo nas
concentraes dentro do corpo dgua.
Quando o esgoto constitui fonte signicativa da entrada de fsforo, necessria a re-
moo desse nutriente nas estaes de tratamento. particularmente importante que a
agricultura praticada no entorno dos reservatrios de gua para abastecimento siga as
chamadas prticas de boa agricultura, que pode se alcanada pelo planejamento de zonas
de proteo ao redor das fontes de gua e pela regulamentao das prticas permitidas
ou proibidas dentro destas zonas de proteo. Alm da agricultura, outras atividades com
impactos na qualidade da gua, tais como reorestamento, pesca e turismo, devem ser
regulamentadas em zonas de proteo de reservatrios de gua para abastecimento.
Como foi evidenciado nessa reviso, o efetivo sucesso para o manejo e controle de o-
raes de cianobactrias depende muito mais de medidas preventivas que de medidas
corretivas. As aes que permitem minimizar os processos de eutrozao e manter a
biodiversidade aqutica natural, num dado ecossistema, sero sempre as mais efetivas.
Entretanto, hoje se observa, em grande parte dos nossos mananciais, sejam rios, lagoas
naturais e reservatrios articiais, grande impacto antrpico que tem promovido acele-
rados processos de eutrozao articial, tendo com uma das consequncias o aumento
da ocorrncia de oraes de cianobactrias. Nesses casos, importante que as medidas
de controle a serem adotadas considerem as particularidades do sistema; em especial
as estratgias ecolgicas das cianobactrias dominantes, os usos preponderantes desse
recurso hdrico (abastecimento humano, dessedentao animal, irrigao, pesca, lazer,
gerao de energia, dentre outros), suas caractersticas fsicas, qumicas e biolgicas.
Nenhuma tcnica de manejo pode ser adotada sem o conhecimento prvio das ca-
ractersticas principais do manancial e no h maneira de se prever o sucesso de uma
ao escolhida sem uma avaliao detalhada dessas caractersticas.
Portanto, ca claro que esse desao fundamentalmente multi e interdisciplinar e que
todos os atores envolvidos nas diferentes reas de conhecimento e atuao relaciona-
das qualidade ambiental e sade precisam atuar de forma integrada e cooperativa
nas tomadas de decises, garantindo uma viso real e completa do problema e mini-
mizando adequadamente os riscos ambientais e de sade pblica.
3.4 Consideraes nais
Os aspectos abordados nesse captulo informam sobre as diculdades e os desaos
que esses protozorios e cianobactrias representam atualmente para os servios de
saneamento considerando o abastecimento da populao com gua segura. Entretan-
to, para alm dos desaos tcnicos relacionados ao tratamento da gua, notria a
necessidade da atuao interdisciplinar e intersetorial envolvendo diferentes pros-
sionais e setores afetos ao tema, o que raramente notado em nosso pas.
Assim, importante que aes passem efetivamente a fazer parte da atuao de dife-
rentes setores da sociedade, integrando agendas de trabalho e denio de objetivos,
a exemplo de algumas colocadas a seguir:
aperfeioamento da noticao dos casos de doena diarrica aguda, con-
siderando a abrangncia espacial desse sistema no pas e a caracterizao
laboratorial dos agentes etiolgicos envolvidos;
anlise integrada de banco de dados epidemiolgicos e ambientais de
MICRORGANISMOS EMERGENTES 101
Como foi evidenciado nessa reviso, o efetivo sucesso para o manejo e controle de o-
raes de cianobactrias depende muito mais de medidas preventivas que de medidas
corretivas. As aes que permitem minimizar os processos de eutrozao e manter a
biodiversidade aqutica natural, num dado ecossistema, sero sempre as mais efetivas.
Entretanto, hoje se observa, em grande parte dos nossos mananciais, sejam rios, lagoas
naturais e reservatrios articiais, grande impacto antrpico que tem promovido acele-
rados processos de eutrozao articial, tendo com uma das consequncias o aumento
da ocorrncia de oraes de cianobactrias. Nesses casos, importante que as medidas
de controle a serem adotadas considerem as particularidades do sistema; em especial
as estratgias ecolgicas das cianobactrias dominantes, os usos preponderantes desse
recurso hdrico (abastecimento humano, dessedentao animal, irrigao, pesca, lazer,
gerao de energia, dentre outros), suas caractersticas fsicas, qumicas e biolgicas.
Nenhuma tcnica de manejo pode ser adotada sem o conhecimento prvio das ca-
ractersticas principais do manancial e no h maneira de se prever o sucesso de uma
ao escolhida sem uma avaliao detalhada dessas caractersticas.
Portanto, ca claro que esse desao fundamentalmente multi e interdisciplinar e que
todos os atores envolvidos nas diferentes reas de conhecimento e atuao relaciona-
das qualidade ambiental e sade precisam atuar de forma integrada e cooperativa
nas tomadas de decises, garantindo uma viso real e completa do problema e mini-
mizando adequadamente os riscos ambientais e de sade pblica.
3.4 Consideraes nais
Os aspectos abordados nesse captulo informam sobre as diculdades e os desaos
que esses protozorios e cianobactrias representam atualmente para os servios de
saneamento considerando o abastecimento da populao com gua segura. Entretan-
to, para alm dos desaos tcnicos relacionados ao tratamento da gua, notria a
necessidade da atuao interdisciplinar e intersetorial envolvendo diferentes pros-
sionais e setores afetos ao tema, o que raramente notado em nosso pas.
Assim, importante que aes passem efetivamente a fazer parte da atuao de dife-
rentes setores da sociedade, integrando agendas de trabalho e denio de objetivos,
a exemplo de algumas colocadas a seguir:
aperfeioamento da noticao dos casos de doena diarrica aguda, con-
siderando a abrangncia espacial desse sistema no pas e a caracterizao
laboratorial dos agentes etiolgicos envolvidos;
anlise integrada de banco de dados epidemiolgicos e ambientais de
GUAS 102
modo a melhor caracterizar a epidemiologia dos organismos (protozorios e
cianobactrias) no pas;
atuao integrada dos setores de sade, saneamento e meio ambiente na
denio de polticas e estratgias de atuao envolvendo os mananciais de
abastecimento de gua (bacias hidrogrcas), considerando as necessidades
e particularidades do meio urbano e rural;
aperfeioamento e efetiva aplicao da legislao referente proteo de
mananciais de abastecimento de gua;
fortalecimento do nvel local (municpios) na reexo, elaborao e execuo
de polticas relacionadas proteo de mananciais de abastecimento de gua;
fomento efetiva participao da populao nos fruns de discusso e nas
aes relacionadas proteo de mananciais de abastecimento de gua;
formao de recursos humanos com perl compatvel atuao interdis-
ciplinar e intersetorial envolvendo sade, saneamento e meio ambiente.
Referncias bibliogrcas
ABOYTES, R. et al. Detection of infectious Cryptosporidium in ltered drinking water. Journal of
American Water Works Association, v. 96, n. 9, p. 88-98, 2004.
ALDOM, J.E.; CHAGLA, A.H. Recovery of Cryptosporidium oocysts from water by a membrane
ltration dissolution method. Letter of Applied Microbiology, v. 20, n. 3, p. 186-187, 1995.
APELDOORN, M.E. et al. Toxins of cyanobacteria. Molecular Nutrition & Food Research, v. 51,
p. 7-60. 2007.
ATHERHOLT, T.B. et al. Effect of rainfall on Giardia and Cryptosporidium. Journal of the American
Water Works Association, v. 90, n. 9, p. 66-80, 1998.
AZEVEDO, S.M.F.O. South and Central America: Toxic cyanobacteria. In: CODD, G.A. et al. (ed.)
Cyanonet: a global network for cyanobacterial bloom and toxin risk management. Paris: IHP-
Unesco, 2005. p. 115-126.
AZEVEDO, S.M.F.O. et al. Human intoxication by microcystins during renal dialysis treatment in
Caruaru - Brazil. Toxicology, v. 181, p. 441-446, 2002.
BASTOS, R.K.X. et al. Reviso da Portaria 36 GM/90. Premissas e princpios norteadores. In: 21
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL. 2001. Joo Pessoa. Anais...
Rio de Janeiro: ABES, 2001. (CD-ROM).
BASTOS, R.K.X. et al. Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts dynamics in Southeast Brazil.
Occurrence in surface water and removal in water treatment processes. Water Science and Tech-
nology, v. 14, n. 2, p. 15 -22, 2004.
MICRORGANISMOS EMERGENTES 103
BOUVY, M. et al. Dynamics of a toxic cyanobacterial bloom (Cylindrospermopsis raciboskii) in a
shallow reservoir in the semi-arid region of Northeeast Brazil. Aquatic Microbial Ecology, v. 20,
p. 285-297, 1999.
BRAGA, M.D. Anlise de perigos e pontos crticos de controle APPCC: estudo de caso no sistema
de abastecimento de gua da Universidade Federal de Viosa. 2007.132 f. Dissertao (Mestrado
em Medicina Veterinria) - Universidade Federal de Viosa, 2007.
CARMICHAEL, W.W. Cyanobacteria secondary metabolites-the cyanotoxins. Journal of Applied
Bacteriology, v. 72, p. 445-459, 1992.
CARMICHAEL, W.W. et al. Human fatalities from Cyanobacteria: chemical and biological evidence
for cyanotoxins. Environmental Health Perspectives, v. 109, n. 7, p. 663-668, 2001.
CARRENO, R.A. et al. Decrease in Cryptosporidium parvum oocyst infectivity in vitro by using
the membrane lter dissolution method for recovering oocysts from water samples. Applied and
Environmental Microbiology, v. 67, p. 33093313, 2001.
CHORUS, I.; BARTRAM, J. (eds.) Toxic cyanobacteria in water: a guide to the public health conse-
quences, monitoring and management. Londres: E & FN Spon, 1999.
COX, P.A. et al. Diverse taxa of cyanobacteria produce -N-methylamino-l-alanie, a neurotoxic
amino acid. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 102, p. 5074-5078, 2005.
CYBIS, L.F.A. et al. Manual para estudos de cianobactrias planctnicas em mananciais de abas-
tecimento pblico: caso da Represa Lomba do Sabo e Lago Guaba, Porto Alegre, Rio Grande do
Sul. Rio de Janeiro: ABES, 2006.
deREGNIER, D.P. et al. Viability of Giardia cysts suspended in lake, river, and tap water. Applied
and Environmental Microbiology, v. 55, n. 5, p. 1223-1229, 1989.
DIAS, G.M.F. Qualidade microbiolgica da gua da bacia do Ribeiro So Bartolomeu, Viosa -
MG: anlise epidemiolgica, ambiental e espacial. 2007. 161 f. Dissertao (Mestrado em Medici-
na Veterinria) - Universidade Federal de Viosa, 2007.
DIAS, G.M.F. et al. Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em gua de manancial supercial de abas-
tecimento contaminada por dejetos humano e animal. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinria
e Zootecnia, v. 60, n. 6, p. 1291-1300, 2008.
DITTMANN, E. et al. Altered expression of two light-dependent genes in a microcystin-lacking
mutant of Microcystis aeruginosa PCC 7806. Microbiology, v. 147, p. 3119-3133, 2001.
EDUARDO, M.B.P. et al. Primeiro surto de Cyclospora cayetanensis investigado no Brasil, ocorrido
em 2000, no municpio de General Salgado (SP), e medidas de controle. Boletim Epidemiolgico
Paulista, v. 5, n. 49, p. 1-9, 2008.
FALCONER, I.R. Cyanobacterial toxins of drinking water supplies: cylindrospermopsins and micro-
cystins. Boca Raton: CRC Press, 2005.
FALCONER, I.R. et al. Oral toxicity of a bloom of the cyanobacterium Microcystis Aeruginosa
Administered to mice over periods up to 1 year. Toxicology and Environmental Health, v. 24,
GUAS 104
n. 3, p. 291-305, 1988.
FAYER, R.; DUBEY, J.P.; LINDSAY, D.S. Zoonotic protozoa: from land to sea. Trends in Parasitology,
v. 20, n. 11, p. 531-536, 2004.
FAYER, R; TROUT, J.M.; JENKINS, M.C. Infectivity of Cryptosporidium parvum oocysts stored in
water at environmental temperatures. Journal of Parasitology, v. 84, n. 6, p. 1165-1169, 1998.
FAYER, R. et al. Rotifers ingest oocysts of Cryptosporidium parvum. The Journal of Eukaryotic
Microbiology, v. 47, n. 2, p. 161-163, 2000.
FERGUSON, C.M. et al. Relationships between indicators, pathogens and water quality in an es-
tuarine system. Water Research, v. 30, n. 9, p. 2045-2054, 1996.
FRANCO, R.M.B.; CANTUSIO NETO, R.; BRANCO, N. Deteco de Cryptosporidium sp e Giardia sp
em gua pela tcnica de ltrao em membrana: estudo comparativo entre diferentes tcnicas
de eluio. Jornal Brasileiro de Patologia, v. 37, n. 4, p. 205, 2001.
FRICKER, C.R.; CRABB, J. Water-borne cryptosporidiosis: detection methods and treatment op-
tions. Advanced Parasitology, v. 40, p. 241-278, 1998.
FRISTACHI, A.; SINCLAIR, J. Occurrence of cyanobacterial harmful algal blooms workgroup report.
In: HUDNELL, K.H. (ed.) Cyanobacterial harmful algal blooms: state of the science and research
needs. Nova Iorque: Springer, 2008. p. 37-97.
GRACZYK, T.K. et al. Giardia duodenalis cysts of genotype a recovered from clams in the Chesa-
peake Bay subestuary, Rhode River. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 61,
n. 4, p. 526529, 1999.
HACHICH, E.M. et al. Giardia and Cryptosporidium in source waters of Sao Paulo State, Brazil.
Water Science and Technology, v. 50, p. 239-245, 2004.
HILBORN, E.D. et al. Human health effects workgroup report. In: HUDNELL, K.H. (ed.) Cyanobacte-
rial harmful algal blooms: state of the science and research needs. Nova Iorque: Springer, 2008.
p. 589-616.
HUSZAR, V.L.M. et al. Nutrient-chlorophyll relationships in tropical-subtropical lakes: to temper-
ate models t? Biogeochemistry, v. 79, n. 1-2, p. 239-250, 2006.
HUSZAR, V.L.M. et al. Cyanoprokaryote assemblages in eight productive tropical Brazilian waters.
Hydrobiologia, v. 424, p. 67-77, 2000.
JOCHIMSEN, E.M. et al. Liver failure and death following exposure to microcystin toxins at a he-
modialysis center in Brazil. The New England Journal of Medicine, v. 36, p. 373-378, 1998.
JOHNSON, D.C. et al. Detection of Giardia and Cryptosporidium in marine waters. Water Science
and Technology, v. 31, n. 5-6, p.4 39-442, 1995.
KARANIS, P.; KOURENTI, C.; SMITH, H. Waterborne transmission of protozoan parasites: a worldwide
review of outbreaks and lessons learnt. Journal of Water and Health, v. 5, n. 2, p. 1-38, 2007.
KATO, S. et al. Cryptosporidium parvum oocyst inactivation in eld soil and its relation to soil
MICRORGANISMOS EMERGENTES 105
characteristics: analyses using the geographic information systems. Science of the Total Environ-
ment, v. 321, p. 4758, 2004.
KEARNS, K.D.; HUNTER, M.D. Green algal extracellular products regulate antialgal toxin produc-
tion in a cyanobacterium. Environmental Microbiology, v. 2, n. 3, p. 291-297, 2000.
KELETI, G.; SYKORA, J. Production and properties of cyanobacterial endotoxins. Applied and Envi-
ronmental Microbiology, v. 43, p. 104-109, 1982.
KING, B.J. et al. Environmental temperature controls Cryptosporidium oocyst metabolic rate and
associated retention of infectivity. Applied and Environmental Microbiology, v. 71, n. 7, p. 3848-
3857, 2005.
KISTEMANN, T. et al. Microbial load of drinking water reservoir tributaries during extreme rainfall
and runoff. Applied and Environmental Microbiology, v. 68, n. 5, p. 2188-2197, 2002.
KOMREK, J. Coccoid and colonial cyanobacteria. In: WEHR, J.D; SHEATH, R. (eds.) Freshwater
algae of North America: ecology and classication. San Diego: Academic Press, 2003. p. 59-116.
KOMREK, J.; ANAGNOSTIDIS, K. Cyanoprokaryota. Itlia: Elsevier GmbH, 2005.
______. Cyanoprokaryota. 1. Teil: Chroococcales. In: ETTL, H. et al. (eds.) Ssswasserora von
Mitteleuropa 19/1. Alemanha: Gustav Fischer, Jena-Stuttgart-Lbeck, 1999. p. 1-548.
LeCHEVALLIER, M.W.; NORTON, W.D.; ATHERHOLT, T.B. Protozoa in open reservoirs. Journal of
American Water Works Association, v. 89, n. 9, p. 84-96, 1997.
LeCHEVALLIER, M.W.; NORTON, W.D.; LEE, R.G. Occurrence of Giardia and Cryptosporidium spp. in
surface water supplies. Applied and Environmental Microbiology, v. 57, n. 9, p. 2610-2616, 1991.
LIPP, E.K. et al. The effects of seasonal variability and weather on microbial fecal pollution and
enteric pathogens in a subtropical estuary. Estuaries, v. 24, n. 2, p. 266-276, 2001.
Mac KENZIE, W.R. et al. A massive outbreak in Milwaukee of Cryptosporidium infection transmitted
through the public water supply. New England Journal of Medicine, v. 331, n. 3, p. 161-167, 1994.
McCUIN, R.M.; CLANCY, J.L. Modications to United States Environmental Protection Agency
Methods 1622 and 1623 for detection of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in Water.
Applied and Environmental Microbiology, v. 69, n. 1, p. 267274, 2003.
MEDEMA, G.J. et al. Quantitative risk assessment of Cryptosporidium in surface water treatment.
Water Science and Technology, v. 47, n. 3, p. 241-247, 2003.
MINISTRIO DA SADE. FUNDAO NACIONAL DE SADE. Boletim Eletrnico Epidemiolgico,
n. 3, 2002. 9 p. Disponvel em: <http://www.saude.gov.br>. Acesso em: 17 set 2008.
MOLICA, J.R.R. et al. Occurrence of saxitoxins and an anatoxin-a(s)-like anticholinesterase in a
Brazilian drinking water supply. Harmful Algae, v. 4, n. 4, p. 743-753, 2005.
MUSIAL, C.E. et al. Detection of Cryptosporidium in water using Polypropylene Cartridge Filters.
Applied Environmental Microbiology, v. 53, p. 687-692, 1987.
NYGRD, K. et al. A large community outbreak of waterborne giardiasis: delayed detection in a
GUAS 106
non-endemic urban area. BMC Public Health, v. 6, p. 141-150, 2006.
OKHUYSEN, P.C. et al. Virulence of three distinct Cryptosporidium parvum isolates for healthy
adults. The Journal of Infectious Disease, v. 180, p. 12751281, 1999.
OLSON, M.E. et al. Giardia cyst and Cryptosporidium oocyst survival in water, soil, and cattle
feces. Journal of Environmental Quality, v. 28, n. 6, p. 1991-1996, 1999.
ONGERTH, J.E.; STIBBS, H.H. Identication of Cryptosporidium oocysts in river water. Applied
Environmental Microbiology, v. 53, n. 4, p. 672-676, 1987.
PAERL, H.W. Nutrient and other environmental controls of harmful cyanobacterial blooms along
the freshwater-marine continuum. In: HUDNELL, K.H. (ed.) Cyanobacterial harmful algal blooms:
state of the science and research needs. Nova Iorque: Springer, 2008. p. 215-241.
PAERL, H.W.; MILLIE, D. Physiological ecology of toxic aquatic cyanobacteria. Phycologia, v. 35,
n. 6, p. 160-167, 1996.
PAERL, H.W. et al. Solving problems resulting from solutions: evolution of a dual nutrient man-
agement strategy for the eutrophying Neuse river estuary, North Carolina. Environmental Sci-
ence & Technology, v. 38, n. 11, p. 3068-3073, 2004.
POURIA, S. et al. Fatal microcystin intoxication in haemodialysis unit in Caruaru, Brazil. The Lan-
cet, v. 352, p. 21-26, 1998.
RESSOM, M. et al. Health effects of toxic cyanobacteria (blue-green algae). Camberra: National
Health and Medical Research Council/Australian Government Publishing Service, 1994.
SANTANNA, C.L. et al. Manual ilustrado para identicao e contagem de cianobactrias planc-
tnicas de guas continentas brasileiras. Rio de Janeiro: Intercincia, 2006.
SANTANNA C.L. et al. Review of toxic species of Cyanobacteria in Brazil. Algol Studies, v. 126,
p. 251-265, 2008.
SCHETS, F.M. et al. Cryptosporidium and Giardia in commercial and non-commercial oysters
(Crassostrea gigas) and water from the Oosterschelde, the Netherlands. International Journal of
Food Microbiology, v. 113, n. 2, p. 189-194, 2007.
STOTT, R. et al. Predation of Cryptosporidium oocysts by protozoa and rotifers: implications for
water quality and public health. Water Science and Technology, v. 46, n. 3, p. 77-83, 2003.
TEIXEIRA, M.G.L.C. et al. Gastroenteritis epidemic in the area of the Itaparica Dam, Bahia, Brazil.
Bulletin of the Pan American Health Organization, v. 27, n. 3, p. 244-253, 1993.
USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Information collection rule.
ICR microbial laboratory manual. Washington, D.C.: Ofce of Research and Development, U.S.
Environmental Protection Agency, 1996. (EPA/600/R-95/178).
VESEY, G. et al. A new method for the concentration of Cryptosporidium oocysts from water.
Journal of Applied Bacteriology, v. 75, p. 82-86, 1993.
WHITTON, B.A.; POTTS, M. The ecology of cyanobacteria. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.
WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for drinking water quality. Cryptosporidium.
EHC Cryptosporidium draft 2. jan. 2006A.
______. Guidelines for drinking water quality [electronic resource]: incorporating rst adden-
dum. 3. ed. v. 1. Recommendations. 2006B. Disponvel em: <http://www.who.int/water_sanita-
tion_health/dwq/gdwq0506.pdf> Acesso em: 13 nov. 2008.
YU, S.Z. et al. Hepatitis B and C viruses infection, lifestyle and genetic polymorphisms as risk
factors for hepatocellular carcinoma in Haimen, China. Japanese Journal of Cancer Research, v.
93, p. 1287-1292, 2002.
Bibliograa citada em apud
Cooke, G.D. et al. Restoration and Management of Lakes and Reservoirs. 2. ed., Flrida: Lewis Pub-
lishers, 1993 apud CHORUS, I.; BARTRAM, J. Toxic cyanobacteria in water: a guide to their public
health consequences, monitoring and management. Londresw: E & FN Spon, 1999.
RAZIUDDIN, S.; SIEGELMAN, H.; TORNABENE, T. Lipopolysaccharides of the cyanobacterium Mi-
crocystis aeruginosa. European Journal of Biochemistry, v. 137, p. 333-336, 1983 apud CHORUS,
I.; BARTRAM, J. Toxic cyanobacteria in water: a guide to their public health consequences, moni-
toring and management. Londres: E & FN Spon, 1999.
Notas
1 Nas citaes de Cryptosporidium e Giardia, quando no especifcados, sero adotadas as citaes do
gnero Cryptosporidium spp., considerando que as espcies mais diretamente associadas aos agravos
sade humana so duas (C. parvum e C. hominis) e Giardia sp., considerando a espcie G. duodenalis
como a nica associada aos agravos sade humana.
2 Na denio da OMS, gua segura para consumo humano aquela que no representa risco signi-
cativo sade humana durante o consumo por toda a vida, incluindo as sensibilidades inerentes a cada
estgio de vida (WHO, 2005).
3 No Brasil, Cyclospora cayetanensis e Toxoplasma gondii foram associados a surtos onde a gua de con-
sumo foi caracterizada como a exposio. O primeiro agente foi associado a surtos ocorridos em 2000 na
cidade de General Salgado-SP e no ano 2001 em Antonina-PR (MINISTRIO DA SADE, 2002; EDUARDO
et al., 2008). Toxoplasma gondii foi o agente responsvel por surto ocorrido no municpio de Santa Isabel
do Iva-PR, onde aproximadamente 600 indivduos foram acometidos. A gua consumida era proveniente
de um reservatrio de gua de manancial subterrneo, sendo que o mesmo apresentava condies pre-
crias de manuteno. Nesse surto, a origem dos oocistos foi atribuda a uma provvel contaminao da
gua do reservatrio com fezes de felinos (MINISTRIO DA SADE, 2002).
4 Consultar captulo 9 para mais detalhes sobre conceitos, usos e aplicaes da AQRM.
5 Viabilidade e infectividade no so termos sinnimos. O primeiro se refere mais especicamente
integridade dos (oo)cistos e capacidade de sofrer excistamento; o segundo diz respeito capacidade de
causar infeco em hospedeiro humano ou animal. (Oo)cistos viveis no so necessariamente infectan-
tes, embora o inverso seja verdadeiro.
6 O termo espcie txica ou espcie toxignica denido aqui como aquelas que j tiveram linhagens ou
MICRORGANISMOS EMERGENTES 107
WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for drinking water quality. Cryptosporidium.
EHC Cryptosporidium draft 2. jan. 2006A.
______. Guidelines for drinking water quality [electronic resource]: incorporating rst adden-
dum. 3. ed. v. 1. Recommendations. 2006B. Disponvel em: <http://www.who.int/water_sanita-
tion_health/dwq/gdwq0506.pdf> Acesso em: 13 nov. 2008.
YU, S.Z. et al. Hepatitis B and C viruses infection, lifestyle and genetic polymorphisms as risk
factors for hepatocellular carcinoma in Haimen, China. Japanese Journal of Cancer Research, v.
93, p. 1287-1292, 2002.
Bibliograa citada em apud
Cooke, G.D. et al. Restoration and Management of Lakes and Reservoirs. 2. ed., Flrida: Lewis Pub-
lishers, 1993 apud CHORUS, I.; BARTRAM, J. Toxic cyanobacteria in water: a guide to their public
health consequences, monitoring and management. Londresw: E & FN Spon, 1999.
RAZIUDDIN, S.; SIEGELMAN, H.; TORNABENE, T. Lipopolysaccharides of the cyanobacterium Mi-
crocystis aeruginosa. European Journal of Biochemistry, v. 137, p. 333-336, 1983 apud CHORUS,
I.; BARTRAM, J. Toxic cyanobacteria in water: a guide to their public health consequences, moni-
toring and management. Londres: E & FN Spon, 1999.
Notas
1 Nas citaes de Cryptosporidium e Giardia, quando no especifcados, sero adotadas as citaes do
gnero Cryptosporidium spp., considerando que as espcies mais diretamente associadas aos agravos
sade humana so duas (C. parvum e C. hominis) e Giardia sp., considerando a espcie G. duodenalis
como a nica associada aos agravos sade humana.
2 Na denio da OMS, gua segura para consumo humano aquela que no representa risco signi-
cativo sade humana durante o consumo por toda a vida, incluindo as sensibilidades inerentes a cada
estgio de vida (WHO, 2005).
3 No Brasil, Cyclospora cayetanensis e Toxoplasma gondii foram associados a surtos onde a gua de con-
sumo foi caracterizada como a exposio. O primeiro agente foi associado a surtos ocorridos em 2000 na
cidade de General Salgado-SP e no ano 2001 em Antonina-PR (MINISTRIO DA SADE, 2002; EDUARDO
et al., 2008). Toxoplasma gondii foi o agente responsvel por surto ocorrido no municpio de Santa Isabel
do Iva-PR, onde aproximadamente 600 indivduos foram acometidos. A gua consumida era proveniente
de um reservatrio de gua de manancial subterrneo, sendo que o mesmo apresentava condies pre-
crias de manuteno. Nesse surto, a origem dos oocistos foi atribuda a uma provvel contaminao da
gua do reservatrio com fezes de felinos (MINISTRIO DA SADE, 2002).
4 Consultar captulo 9 para mais detalhes sobre conceitos, usos e aplicaes da AQRM.
5 Viabilidade e infectividade no so termos sinnimos. O primeiro se refere mais especicamente
integridade dos (oo)cistos e capacidade de sofrer excistamento; o segundo diz respeito capacidade de
causar infeco em hospedeiro humano ou animal. (Oo)cistos viveis no so necessariamente infectan-
tes, embora o inverso seja verdadeiro.
6 O termo espcie txica ou espcie toxignica denido aqui como aquelas que j tiveram linhagens ou
GUAS 108
populaes naturais j identicadas como produtoras de cianotoxinas j caracterizadas (neurotoxinas,
O termo espcie txica ou espcie toxignica denido aqui como aquelas que j tiveram linhagens ou
populaes naturais j identicadas como produtoras de cianotoxinas j caracterizadas (neurotoxinas,
hepatotoxinas ou dermatotoxinas).
4.1 Introduo
Em que pesem os reconhecidos avanos no campo das tcnicas de tratamento, ainda hoje
persistem vrios relatos sobre a transmisso de doenas relacionadas ao abastecimento
de gua para consumo humano, inclusive em pases desenvolvidos. Ateno crescente
tem sido dada transmisso de protozorios, vrios dos quais tm nos esgotos sanitrios
e atividades agropecurias algumas das principais fontes de contaminao de mananciais
de abastecimento. Diversos protozorios tm sido associados transmisso via consumo
de gua (ver captulo 3), entretanto, o conhecimento sobre a Giardia e o Cryptosporidium,
em particular sobre aspectos de veiculao hdrica, muito mais amplo do o que da maio-
ria dos outros protozorios patognicos (KARANIS; KOURENTI; SMITH, 2007).
Os protozorios Giardia e Cryptosporidium apresentam ciclos biolgicos complexos,
incluindo estgios de reproduo assexuada ou sexuada no organismo do hospedeiro
at a formao de cpsulas protetoras, os (oo)cistos. Do ponto de vista da Engenharia
Sanitria e Ambiental, importa reconhecer que os (oo)cistos desses protozorios so
as formas excretadas, infectantes, que circulam no ambiente e so ingeridas por novos
hospedeiros; so formas resistentes s condies ambientais e, portanto, chegam s
estaes de tratamento de gua e a necessitam de serem removidas.
O Cryptosporidium vem, mais recentemente, recebendo maior ateno na rea de
Engenharia Sanitria e Ambiental, pois seus oocistos so mais resistentes, menores e
4Tratamento de gua
e Remoo de Protozorios
Rafael Kopschitz Xavier Bastos, Cristina Celia Silveira Brando,
Daniel Adolpho Cerqueira
GUAS 110
menos densos que os cistos de Giardia e, portanto, apresentam sobrevivncia mais pro-
longada no ambiente, maior resistncia ao de desinfetantes e remoo mais difcil
por processos de separao, como a decantao e a ltrao. Por outro lado, dadas as
dimenses e outras caractersticas dos (oo)cistos, essas formas se comportam de manei-
ra semelhante s partculas inorgnicas, coloidais ou em suspenso e so passveis de
remoo por tcnicas usuais de tratamento de gua, tais como coagulao, oculao,
decantao e ltrao, desde que submetidas a rigoroso controle operacional.
Entretanto, por limitaes nanceiras e analtico-laboratoriais, o monitoramento roti-
neiro de protozorios praticamente invivel, principalmente na gua tratada, onde,
por hiptese, esses organismos se fazem presentes em baixas concentraes. Assim, os
responsveis pelo tratamento e controle de qualidade da gua necessitam de indicado-
res da presena/ausncia de (oo)cistos de protozorios em amostras de gua tratada; em
outras palavras, indicadores da ecincia do tratamento, para o que, a contagem de par-
tculas e, principalmente, a turbidez, devido ao baixo custo e simplicidade analtica de
sua determinao, se apresentam como candidatos naturais. Por outro lado, se reconhe-
cem controvrsias em torno da denio de limites numricos de turbidez abaixo dos
quais estaria assegurada a efetiva remoo de (oo)cistos de protozorios. No obstante,
em vrias normas de qualidade da gua, valores limites de turbidez para a gua ltrada
so entendidos como padro indicativo da qualidade parasitolgica da gua.
Neste captulo, discorre-se sobre alguns dos pontos acima delineados: (i) a remoo de
(oo)cistos de protozorios por meio de processos de tratamento de gua, com nfase
naqueles investigados no presente Edital do Prosab (decantao, ltrao rpida em
tratamento convencional e ltrao direta, ltrao lenta); (ii) o emprego de indica-
dores da remoo de protozorios por processos de tratamento de gua; (iii) a abor-
dagem da questo dos protozorios em normas e critrios de qualidade da gua para
consumo humano. No discorrer desses tpicos, d-se tambm nfase aos oocistos de
Cryptosporidium, pois, como j referido, estes apresentam maior diculdade de remo-
o do que os cistos de Giardia.
4.2 Remoo de (oo)cistos de Giardia e de Cryptosporidium
por meio do tratamento da gua
4.2.1 Mecanismos de remoo de (oo)cistos de protozorios
por decantao e ltrao
4.2.1.1. Tratamento convencional
1
e ltrao direta
Oocistos de Cryptosporidium so menores (4 - 6 m), menos densos (1.009-1.036 kg/
m
3
) que cistos de Giardia (9 - 14 m; 1.013-1.045 kg/m
3
) e, portanto, apresentam me-
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 111
nores velocidades de sedimentao: cerca de 0,3-0,4 m/s para oocistos de Cryptos-
poridium e de 0,7-1,4 m/s
para cistos de Giardia, em soluo salina (MEDEMA et al.,
1998; DAI; BOLL, 2006). Porm, quando aderidos a material particulado, parecem as-
sumir a velocidade de sedimentao das partculas em suspenso s quais se aderem.
Medema et al. (1998) citam valores de at 70 m/s em amostras de esgotos (euente
de decantador secundrio de lodos ativados).
Em geral, (oo)cistos de Cryptosporidium e Giardia apresentam carga eltrica neutra
em valores de pH mais baixos e assumem carga negativa em faixas de pH de neutro
a alcalino. Ongerth e Percoraro (1996) registraram potencial zeta (PZ) de oocistos de
Cryptosporidium igual a zero em valor de pH 4 a 4,5 e -35mV em pH 7. Dai e Boll
(2006) reportam tambm valores negativos de -5,8 mV e -18,8 mV para oocistos de
Cryptosporidium e de -12 mV para cistos de Giardia, em suspenso em gua destilada
sob condio de pH=7.
Percebe-se, assim, ainda que com base em apenas estas breves informaes sobre
algumas caractersticas dos (oo)cistos, que a otimizao da coagulao quesito fun-
damental para sua efetiva remoo na decantao e na ltrao (BAUDIN; LANE,
1998; COFFEY et al., 1999; EMELKO; HUCK; COFFEY, 2005). Por exemplo, em pesquisa
realizada por Dugan et al. (2001) em instalao piloto de tratamento convencional, a
remoo mdia de oocistos de Cryptosporidium na decantao foi de 1,3 log e 0,2 log,
respectivamente em condies de dosagem otimizada e subdosagem de coagulante.
Por sua vez, a importncia de mecanismos fsico-qumicos de aderncia de oocistos de
Cryptosporidium em meios ltrantes bem demonstrada no trabalho de Shaw, Walker
e Copman (2000): a camada de areia de ltros rpidos foi recoberta com xidos de
alumnio e ferro (adquirindo carga positiva), sendo observadas remoes de oocistos
72% e 95%, respectivamente nos meios no recobertos e recobertos.
4.2.1.2. Filtrao lenta
Os mecanismos de remoo de patgenos na ltrao lenta ainda no se encontram
de todo elucidados. Sabe-se, entretanto, da importncia de mecanismos biolgicos
(dentre os quais se destacam a predao) e da inativao natural ou pela radiao
solar (HAARHOFF; CLEASBY, 1991). A camada biolgica supercial formada nos l-
tros lentos (shmutzedecke) abriga uma comunidade complexa de organismos, alguns
comprovadamente predadores de oocistos de Cryptosporidium como, por exemplo,
protozorios, rotferos e cladceros (STOTT et al., 2003; CONNELLY et al., 2007).
Embora nem sempre comprovvel, costuma-se extrapolar como atuantes tambm nos
ltros lentos alguns dos mecanismos usualmente considerados na ltrao rpida
(HAARHOFF; CLEASBY, 1991). No entanto, reside aqui algo ainda pouco elucidado, uma
vez que a ltrao lenta no inclui etapa de desestabilizao eletrosttica de part-
GUAS 112
culas. Alguns estudos sugerem que polmeros extracelulares bacterianos servem para
xar esses organismos superfcies, outros que esses polmeros contribuiriam para a
desestabilizao das partculas (BELLAMY; HENDRICKS; LOGSDON, 1985). Haarhoff e
Cleasby (1991) sugerem ainda que a carga eltrica das partculas, ao passarem pela
shmutzedecke, pode ser convertida de negativa a positiva.
4.2.2. Ecincia de remoo de oocistos de Cryptosporidium
em processos de tratamento da gua
Como j destacado, (oo)cistos de protozorios tendem a ser removidos em processos
de claricao da gua pelos mesmos mecanismos que outras partculas em suspen-
so. Assim, alm da tambm j destacada importncia do controle da coagulao,
igualmente importantes so outras condies operacionais dos processos de trata-
mento, tais como a taxa de aplicao supercial dos decantadores, as taxas de l-
trao, os perodos de amadurecimento dos ltros, e situaes que podem acarretar
transpasse.
4.2.2.1. Tratamento convencional
Alguns estudos relatam que, sob condies otimizadas de coagulao e oculao
e de adequada operao, o tratamento convencional pode alcanar remoo de
(oo)cistos de Giardia e Cryptosporidium de 1-2 log na decantao e at 4 log na l-
trao (BAUDIN; LANE; 1998; LeCHEVALLIER; AU, 2004). Contudo, a US Environmental
Protection Agency (USEPA, 2006), com base em diversos trabalhos, assume 0,5 log de
remoo de oocistos de Cryptosporidium como crdito possvel de ser conferido a
decantao e 3 log ao tratamento em ciclo completo.
Vrios trabalhos registram, entretanto, a importncia do perodo de amadurecimento
dos ltros (at atingirem desempenho estvel no incio da carreira de ltrao, ps-
retrolavagem), durante o qual a probabilidade de transpasse de (oo)cistos maior (PA-
TANIA et al., 1995; HUCK et al., 2002; EMELKO; HUCK; DOUGLAS, 2003). Emelko et al.
(2000) destacam que o transpasse pode tambm ocorrer em perodos imediatamente
anteriores lavagem dos ltros.
4.2.2.2. Filtrao direta
Estudos de Nieminsky (1997) indicam que a ltrao direta pode alcanar ecincia
de remoo de (oo)cistos de Giardia e Cryptosporidium equiparvel do tratamento
convencional em experimentos em escala real e piloto, no foram encontradas dife-
renas ntidas entre as ecincias alcanadas pelas duas tcnicas de tratamento, em
torno de 3 log, mas valores um pouco mais elevados foram registrados nos experimen-
tos em escala piloto e para cistos de Giardia.
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 113
A importncia da otimizao da coagulao demonstrada no trabalho de Ongerth
e Percoraro (1995), ao avaliarem a remoo de (oo)cistos de Giardia e Cryptospori-
dium por ltrao direta (coagulao com sulfato de alumnio, sem oculao, ltros
de mltiplas camadas, escala piloto) a partir da inoculao de 5x10
3
(oo)cistos/L: em
condies de dosagem otimizada e de subdosagem, foram alcanadas remoes de,
aproximada e respectivamente, 3 e 1,5 log. Em experimentos em escala piloto no Bra-
sil, incluindo a inoculao de 10
2
-10
3
oocistos/L, Fagundes (2006) e Fernandes (2007),
avaliando, respectivamente, ltro descendente de camada de areia praticamente uni-
forme e ltro de dupla camada de antracito sobre areia, obtiveram valores de remoo
de (oo)cistos de Cryptosporidium entre 1,4-3,2 log. De forma similar ao relatado por
Ongerth e Percoraro (1995), os menores valores de remoo foram obtidos com sub-
dosagem do coagulante (sulfato de alumnio).
Dugan e Williams (2004), em experimentos em escala piloto, avaliaram efeitos da tem-
peratura (4,5C e 20C), do tipo de coagulante (cloreto frrico e sulfato de alumnio)
e de duas taxas de ltrao (120 m
3
/m
2
.d e 240 m
3
/m
2
.d). Os priores resultados (1 log)
foram obtidos com taxa de ltrao de 240 m
3
/m
2
.d, temperatura de 4,5C e sulfato de
alumnio e os melhores (4 log), independentemente do coagulante, com a tempera-
tura mais elevada e a taxa de ltrao mais baixa.
A USEPA (2006), considerando vrios trabalhos sobre remoo de oocistos na decan-
tao e por tratamento convencional, complementados pela reviso de estudos com
ltrao direta, admite para essa tcnica de tratamento 2,5 log de remoo.
4.2.2.3. Filtrao lenta
A importncia do perodo de amadurecimento dos ltros lentos na remoo de pat-
genos demonstrada, por exemplo, no trabalho de Schuler, Ghosh e Gopalan (1991),
que encontraram cerca de 4 e 2 log de remoo de (oo)cistos, quando os ltros foram,
respectivamente, operados com a camada biolgica amadurecida e no amadurecida.
Dullemont et al. (2006) registraram remoo ainda mais elevada (5,3 log), trabalhando
com a shmutzedecke madura.
Outros estudos tm-se dedicado vericao do efeito da taxa de ltrao na remo-
o de (oo)cistos de protozorios em ltros lentos. Bellamy et al. (1985) observaram
que a remoo de cistos de Giardia diminuiu com o aumento da taxa de ltrao de
0,96 m
3
/m
2
.d para 9,6 m
3
/m
2
.d. Resultados semelhantes foram observados por De-
Loyde et al. (2006): 4,3 e 3,3 log de remoo de oocistos de Cryptosporidium com,
respectivamente, 9,6 m
3
/m
2
.d e 19,2 m
3
/m
2
.d.
No Brasil, Vieira (2002) investigou o desempenho de ltros lentos em escala piloto de
escoamento ascendente e descendente, submetidos a taxas de ltrao de 3 e 6 m
3
/
GUAS 114
m
2
.d. Os melhores resultados foram obtidos com ltrao ascendente e com a taxa de
ltrao mais baixa (remoo de oocistos de Cryptosporidium de 99,84% e de 100%
de cistos de Giardia). Peralta (2005) obteve cerca de 2-3 log de remoo de oocistos de
Cryptosporidium, trabalhando com taxa de ltrao de 3 m
3
/m
2
.d.
O desempenho do pr-tratamento, sobretudo pr-ltrao em pedregulho, tem sido
tambm objeto de estudo (ex.: DeLoyde et al., 2006), demonstrando ganho de ecin-
cia na remoo de microalgas, coliformes e turbidez, porm, informaes sobre a re-
moo de (oo)cistos de protozorios nessas unidades so praticamente inexistentes.
A USEPA (2006) admite que a ltrao lenta seja capaz de alcanar ecincia de remoo
de oocistos de Cryptosporidium similar do tratamento convencional, isto , 3 log.
4.3. Parmetros indicadores da remoo de cistos
de Giardia e de oocistos de Cryptosporidium
Na avaliao da ecincia de processos de tratamento na remoo de patgenos, o
emprego de organismos indicadores deve partir do seguinte entendimento: (i) a ausn-
cia do organismo indicador no euente tratado indicaria a ausncia de patgenos, pela
inativao e/ou remoo de ambos; (ii) a presena dos indicadores no euente tratado
se daria em concentraes residuais s quais corresponderia ausncia de patgenos
ou, eventualmente, sua presena em concentraes correspondentes a nveis de risco to-
lerveis. Nesse sentido, para que um organismo cumpra o papel de indicador da ecincia
do tratamento, torna-se necessrio que: (i) o indicador apresente resistncia superior ou
similar dos patgenos aos processos de tratamento; (ii) o mecanismo de remoo de
ambos seja similar (BASTOS; BEVILACQUA; KELLER, 2003).
Em linhas gerais, os organismos patognicos apresentam-se na seguinte ordem crescen-
te de resistncia aos agentes desinfetantes: bactrias, vrus e protozorios. Tambm em
linhas gerais, ao menos quando se considera o cloro como agente desinfetante, bactrias
e vrus so inativados por desinfeco, enquanto protozorios so, preponderantemente,
removidos por processos fsicos de separao, tais como sedimentao, otao e ltra-
o. Assim sendo, rigorosamente, os organismos indicadores mais amplamente utiliza-
dos, as bactrias do grupo coliforme, s se prestam como indicadores da inativao de
bactrias patognicas, ou seja, da qualidade bacteriolgica da gua tratada. No que tan-
ge a avaliao da qualidade virolgica e parasitolgica, torna-se necessrio o emprego de
indicadores no-biolgicos como, por exemplo, os parmetros de controle do processo
de desinfeco (residual desinfetante x tempo de contato Ct) ou, no caso especco dos
protozorios e de processos fsicos de separao, indicadores da remoo de partculas,
tais como a turbidez e a prpria contagem de partculas por distribuio de tamanho.
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 115
Cabe registrar que vrios estudos (por exemplo, Coffey et al., 1999; Brown e Cornwell,
2007) tem testado o emprego de outras bactrias como indicadores da inativao/
remoo de (oo)cistos de protozorios, por exemplo, esporos de bactrias aerbias (e,
mais especicamente, Bacillus subtilis) e anaerbias (mais especicamente, Clostri-
dium perfringens), mas ainda no se dispe de resultados de todo convincentes.
Turbidez e contagem de partculas so medidas de natureza distinta. Resumidamente,
turbidmetros enxergam partculas em amplas faixas de tamanho (> 0,01 m). Nos
contadores de partculas, estas so agrupadas e contadas por faixas de tamanho, em
geral, a partir de 1-2 m; porm, esses equipamentos so mais adequados para amos-
tras com propores mais elevadas de partculas relativamente grandes (> 10 m)
(HAMILTON; STANDEN; PARSONS, 2002).
Alguns autores argumentam que, no obstante as diferenas, turbidez e contagem de
partculas expressam a mesma tendncia em determinado processo e, por isso, o em-
prego dos dois procedimentos seria redundante. Por outro lado, uma vez que conta-
dores de partculas apresentam maior sensibilidade a alteraes de qualidade da gua
em amostras de baixa turbidez, costuma-se destacar a aplicao complementar dessas
duas medidas em operaes de ajuste no, por exemplo, no controle de qualidade de
gua ltrada (HAMILTON; STANDEN; PARSONS, 2002). Apesar disso, em virtude da
variao e no-comparabilidade de contagem de partculas em equipamentos que se
valem de tcnicas distintas (disperso de luz, bloqueio de luz e zona de sensibilidade
eltrica), alm do custo mais elevado em relao medida de turbidez, ainda no tem
sido recomendado o estabelecimento de padres de qualidade baseados na contagem
de partculas (LETTERMAN, 2001).
Por sua vez, a turbidez tem sido incorporada em normas de qualidade da gua como
parmetro indicador da remoo de (oo)cistos por meio da ltrao, ou como pr-
requisito para a desinfeco. Entretanto, nesse caso, como se confere importncia a
valores baixos de turbidez, cuja leitura mais susceptvel a interferncias variadas, sua
medida deve resguardar, ao mximo, preciso e validade (SADAR, 1999). Por exemplo,
Lopes (2008), avaliando cinco turbidmetros na medida de turbidez de gua ltrada,
constatou que os equipamentos mais modernos forneceram, sistematicamente, leitu-
ras cerca de duas vezes mais baixas que as dos demais.
Finalmente, cabe mencionar experimentos com emprego de microesferas uorescen-
tes de poliestireno como marcadores da remoo de oocistos (LI et al, 1997; EMELKO;
HUCK; DOUGLAS, 2003). Essas microesferas apresentam tamanho e densidade simila-
res aos dos oocistos de Cryptosporidium; sua uorescncia tambm similar quela
emitida pelos oocistos em tcnicas de identicao por microscopia, porm com halos
de uorescncia que permitem sua distino. Dai e Hozalski (2003) vericaram ainda
GUAS 116
que o valor do potencial zeta de microesferas incorporadas avaliao de processos
de ltrao na remoo de oocistos foi de -7,4 a -50,2 mV em pH 6,7, observando que
o sulfato de alumnio proporcionou neutralizao das microesferas e de oocistos e
remoo similar para ambos.
4.3.1. Turbidez e contagem de partculas como parmetros
indicadores da remoo de (oo)cistos de Giardia e
de Cryptosporidium por ltrao rpida
A literatura registra nmero considervel de estudos que procuram associar as remo-
es de turbidez e de partculas com a de (oo)cistos de protozorios, bem como valores
absolutos de turbidez da gua ltrada com a presena/ausncia de (oo)cistos. Ainda
que vrios desses trabalhos tenham subsidiado a formulao de padres de potabili-
dade, com destaque para a regulamentao norteamericana (ver item 4.4.1), o estado
da arte do conhecimento sobre o tema ainda controverso.
Nieminski (1997), em experimentos com inoculao de (oo)cistos em instalaes piloto
e em escala real, de ltrao direta e tratamento convencional, encontrou elevada as-
sociao entre a remoo de (oo)cistos de Giardia e de Cryptosporidium e de partculas
de tamanho, respectivamente, entre 7-11 m (R
2
= 0,82) e 4-7 m (R
2
= 0,79), porm
a associao entre remoo de turbidez e de (oo)cistos de Giardia e Cryptosporidium
foi mais baixa (R
2
= 0,65 e R
2
= 0,55, respectivamente). Esse autor destaca ainda que
remoo efetiva de (oo)cistos ocorreu quando a turbidez da gua ltrada era to baixa
quanto 0,1-0,2 uT. LeChevalier e Norton, citados em USEPA (1999), tambm reportam
elevada associao entre a remoo de turbidez e de (oo)cistos de Giardia e Cryptos-
poridium em estudo em trs ETAs de tratamento convencional (Figura 4.1).
Na Tabela 4.1, encontram-se resumidas informaes sobre outros estudos envolvendo
a ltrao rpida, em que a turbidez e/ou a contagem de partculas revelaram algum
sucesso como indicadores da remoo de (oo)cistos. preciso, porm, considerar que
as referncias citadas no so recentes e que as tcnicas analticas de deteco e
quanticao de oocistos de Cryptosporidium, em que pesem limitaes pendentes,
conheceram j grandes avanos.
Entretanto, vrios outros estudos reportam insucesso na tentativa de associao entre
a remoo de (oo)cistos, turbidez e/ou partculas. Huck et al. (2002), em estudos em
vrias instalaes em escala piloto em condies otimizadas de tratamento, lograram
produzir, de forma estvel, euentes com baixos valores de turbidez e partculas, mas
as concentraes de oocistos apresentaram variaes de at 2 log. Os autores conclu-
ram que a contagem de partculas seria indicador mais apropriado. No trabalho de
States et al. (2002) sobre coagulao melhorada e remoo de oocistos de Cryptos-
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 117
poridium, os autores no consideraram a turbidez e a contagem de partculas como
indicadores conveis de remoo de oocistos. Hashimoto, Hirata e Kunikane (2001),
em experimentos em ETA com tratamento convencional em Kanagawa, no Japo, ob-
servaram remoes mdias em torno de 3 log de turbidez, 2,5 log de (oo)oocistos de
Cryptosporidium e Giardia, ou seja, remoo de patgenos inferior do indicador (cer-
ca de 0,5 log); alm disso, no foi encontrada associao signicativa entre a remoo
de turbidez e a de oocistos de Cryptosporidium (R
2
=0,247).
A associao de limites numricos de turbidez presena/ausncia ou ecincia
de remoo de (oo)cistos tambm tem sido motivo de controvrsias. Xagarokai et al.
(2004), em instalao piloto de tratamento convencional, mostraram que a remoo
de oocistos foi melhor em guas ltradas com turbidez inferior a 0,2 uT (1,8 a 2,3 log)
e pior quando a turbidez do euente ltrado era maior que 0,7 uT (0,5 log).
Por outro lado, Aboytes et al. (2004) monitoraram 82 amostras de guas ltradas de siste-
mas de tratamento convencional supridos por mananciais superciais e observaram que
20% e mais de 70% das amostras com presena de oocistos de Cryptosporidium apresen-
tavam turbidez inferior a 0,05 uT e 0,1 uT, respectivamente. Esses autores sugerem ainda
que em valores de turbidez inferiores a 0,3 uT, a ecincia de remoo de oocistos parece
estar associada ecincia de remoo da turbidez, mais do que a limites absolutos de
turbidez. LeChevallier, Norton e Lee (1991) analisaram dados de 66 ETAs nos EUA, detec-
tando cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium em, respectivamente, 17% e 27%
das amostras de gua tratada, com valores de turbidez to baixos quanto 0,19 uT.
Em que pesem as incertezas destacadas, parece, entretanto, consenso o entendimento de
que se deve buscar euentes ltrados com valores os mais baixos possveis de turbidez,
LOG REMOO DE TURBIDEZ.
FONTE: USEPA (1999).
Figura 4.1
Associao entre remoo de turbidez e de (oo)cistos de Giardia (a)
e Cryptosporidium (b)
A B
GUAS 118
Tabela 4.1 > Estudos sobre associao entre remoo de turbidez, de partculas
e de (oo)cistos de Giardia e Cryptosporidium em processos de ltrao rpida
ESTUDO/REFERNCIA DISCUSSO/CONCLUSO
LeChavallier,
Norton e
Lee (1991)
Estudo em 66 ETAs escala real, tratamento convencional
Remoo de 2-2,5 log de (oo)cistos de Cryptosporidium e Giardia.
Correlao signicativa (p = 0,01) entre remoo de turbidez
e de oocistos de Cryptosporidium.
Correlao estatisticamente signicativa entre remoo de partculas e remoo
de cistos de Giardia (R
2
=0,82) e de oocistos de Cryptosporidium (R
2
=0,83).
LeChevallier e
Norton (1992)
Turbidez da gua bruta = 1120 uT. Remoo mdia de (oo)cistos
de Cryptosporidium e Giardia de 2,5 log, dependendo das condies
operacionais e do nmero de organismos na gua bruta.
Correlao signicativa entre remoo de partculas (> 5 m)
e remoo de cistos de Giardia (0,879) e oocistos de Cryptosporidium (0,83).
Correlao signicativa entre remoo de turbidez e de (oo)cistos.
Turbidez revelou-se indicador adequado de remoo de (oo)cistos
de Giardia e Cryptosporidium.
1 log
remoo de partculas 0,66 log remoo de (oo)cistos.
1 log remoo de turbidez 0,89 remoo de (oo)cistos.
Patania et al. (1995)
Quatro sistemas de ltrao rpida. Condies de tratamento otimizadas
para remoo de turbidez e de partculas. Remoo mdia de turbidez,
de partculas e de (oo)cistos de 1,4 log, 2 log e 4,2 log, respectivamente.
Remoo mais efetiva de (oo)cistos com turbidez do euente ltrado 0,1 uT,
at 1 log superior do que quando turbidez > 0,1 UNT (na faixa de 0,1 a 0,3 uT).
A produo de euentes ltrados com 0,3 uT correspondeu
a de 2 log de remoo de oocistos de Cryptosporidium.
Nieminski e
Ongerth (1995)
Estudo em escala piloto: turbidez mdia da gua bruta = 4 uT (max = 23 uT);
turbidez da gua ltrada 0,1-0,2 uT. Remoo mdia de oocistos de
Cryptosporidium: 3 log
para tratamento convencional e ltrao direta.
Remoo mdia de cistos de Giardia: 3,4 log para tratamento
convencional e 3,3 log para ltrao direta.
Estudo em escala real: turbidez mdia da gua bruta = 2,5-11 uT (max = 28 uT);
turbidez da gua ltrada 0,1-0,2 uT. Remoo mdia de oocistos de
Cryptosporidium: 2,25 log
para tratamento convencional e 2,8 log
para
ltrao direta. Remoo mdia de cistos de Giardia: 3,3 log para tratamento
convencional e 3,9 log para ltrao direta.
Li et al. (1997)
Monitoramento de ltrao em escala real com inoculao de 3x10
4
oocistos
de Cryptosporidium por litro. Correlao signicativa entre remoo de oocistos,
de turbidez (R = 0,969) e de partculas (1-25 m) (R= 0,979).
FONTE: USEPA (1999).
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 119
pois como ressaltado em USEPA (1999), embora valores de turbidez bem reduzidos no
necessariamente garantam a ausncia de partculas, isto constitui excelente medida de
otimizao de estaes de tratamento com vistas a assegurar mxima proteo sade.
4.3.2. Parmetros indicadores da remoo de (oo)cistos
de Giardia e Cryptosporidium por ltrao lenta
Considerando que na ltrao lenta, alm de mecanismos fsico-qumicos, mecanis-
mos biolgicos cumprem importante papel na remoo de organismos patognicos,
o emprego da turbidez e da remoo de partculas como indicadores da remoo de
(oo)cistos de protozorios ainda mais controverso, uma vez que no se atenderia,
ao menos no integralmente, o requisito de patgenos e indicadores apresentarem
os mesmos mecanismos de remoo. Portanto, quando se trata de ltrao lenta, os
organismos indicadores parecem reassumir importncia.
Fogel et al. (1993), em estudo em ltro em escala real no Canad, relatam ecincias
de remoo relativamente baixas de (oo)cistos e de parmetros indicadores (93% de
cistos de Giardia, 48% de oocistos de Cryptosporidium, 91% de coliformes totais, 97%
de coliformes termotolerantes e 55% de turbidez). Esses resultados foram em parte
explicados pelo alto coeciente de uniformidade da areia do ltro em questo (3,5-
3,8). A turbidez mdia das amostras de euente ltrado com presena e ausncia de
oocistos foi de, respectivamente, 0,5 uT e 0,6 uT.
Bellamy et al. (1985), em estudo em instalao piloto, avaliaram a remoo de cistos de
Giardia (99,98199,994%), turbidez (27,2439,18%), coliformes totais (98,9899,67%) e
coliformes termotolerantes (98,4599,84%). Observa-se que a remoo de coliformes foi
bem mais prxima remoo de cistos do que a de turbidez. Dullemont et al. (2006) veri-
caram que a remoo de oocistos (5,3 log) foi bem superior de esporos de Clostridium
perfringens (3,8 log); entretanto, a remoo de E.coli foi prxima de oocistos (5,6 log).
No Brasil, Heller et al. (2006), em experimentos em escala piloto, encontraram elevadas
remoes de (oo)cistos de Giardia (100%) e Cryptosporidium (99,988-99,998%). Esporos
de bactrias anaerbias e Clostridium perfringens foram os parmetros que apresenta-
ram os percentuais de remoes mais semelhantes aos dos protozorios; coliformes to-
tais, E.coli e turbidez apresentaram percentuais um pouco menores e similares entre si.
Em trabalho realizado em Braslia, tambm em escala piloto e envolvendo a simulao
de picos de oocistos de Cryptosporidium (10
2
oocistos/L), Peralta (2005) reporta que
ltros lentos removeram 98,41-99,91% de oocistos, 97,2% de Clostridium perfringens
e 90,8-94,2% de turbidez. A gua bruta apresentava baixos valores de turbidez (< 5 uT
em 98% das amostras) e o euente ltrado raramente excedeu 0,3 uT.
GUAS 120
4.4 Abordagem da qualidade parasitolgica da gua
em normas e critrios de qualidade da gua para
consumo humano
Na grande maioria de normas e critrios vigentes em vrios pases, em geral no so
estabelecidos valores mximos permitidos (VMP) como limites numricos para mi-
crorganismos patognicos, mas valor mximo desejvel (VMD) de zero; alm disso, a
abordagem para o controle de protozorios combina os seguintes critrios: (i) Avaliao
Quantitativa de Risco Microbiolgico (AQRM); (ii) padro de turbidez; (iii) tratamento
requerido (HEALTH CANADA, 1995; USEPA, 2006; WHO, 2006; HEALTH CANADA, 2008).
Na aplicao da metodologia de AQRM, resultados de estudos experimentais (dose-
resposta) indicam o emprego de dois modelos matemticos para determinar a proba-
bilidade (risco) de infeco, decorrente da exposio a diferentes doses de organismos:
modelo exponencial para (oo)cistos de Giardia e Cryptosporidium e alguns vrus, modelo
Poisson para bactrias e outros vrus (HASS; ROSE; GERBA, 1999). Assim, conhecida a
concentrao de determinado organismo na gua e assumido um padro de consumo
de gua (L/d), pode-se estimar o risco de infeco em bases populacionais e temporais
(dirio, anual) (equaes 9.4, 9.5 e 9.6 captulo 9). Inversamente, estabelecido o ris-
co tolervel, pode-se estimar a concentrao admissvel de organismos patognicos na
gua tratada e, por conseguinte, o grau de tratamento requerido (ver captulo 9).
Nos EUA, admite-se risco anual de infeco de 1:10.000 (10
-4
) para os diversos orga-
nismos patognicos transmissveis via abastecimento de gua para consumo humano
(HASS; ROSE; GERBA, 1999), o que corresponde a riscos dirios de infeco por Giardia
e Cryptosporidium de 2,76 x 10
-7
. Para esse nvel de risco, considerando o consumo de
gua de 2 L/d, pode-se estimar o nmero de organismos ingeridos por litro de gua
em 6,9x10
-6
para Giardia e 3,27x10
-5
para Cryptosporidium (ver equaes 9.4 e 9.6 -
captulo 9). Como o monitoramento dessas concentraes de microrganismos na gua
tratada praticamente impossvel, a abordagem adotada a estimativa de tratamento
requerido, em funo da concentrao de patgenos na gua bruta, de forma a res-
guardar a meta de risco de risco tolervel (ver captulo 9).
O tratamento requerido costuma ser estabelecido pela associao de desempenho
esperado para diversas tcnicas de tratamento (usualmente expresso em termos de
unidades logartmicas de remoo), aliado ao atendimento de padro de qualidade da
gua tratada, expressa por meio de parmetros indicadores de remoo de (oo)cistos
de protozorios, por exemplo, a turbidez.
4.4.1. As diretrizes da OMS e a regulamentao nos EUA
As diretrizes da Organizao Mundial da Sade (OMS) e o conjunto de regulamenta-
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 121
es da US Environmental Protection Agency (USEPA) costumam servir de referncia
internacional normalizao sobre qualidade da gua para consumo humano e, por
isso, constituem foco central da presente abordagem; quando cabvel, citaes espe-
ccas sobre outros pases so acrescentadas.
A incorporao do controle de protozorios na regulamentao norte-americana,
inicialmente dirigida Giardia (em conjunto com vrus e Legionella), data de 1989,
concomitantemente ao estabelecimento da obrigatoriedade de ltrao e desinfec-
o em sistemas supridos por manancial supercial. A turbidez passa tambm a ser
incorporada como padro indicador da ecincia de remoo de cistos de Giardia por
meio da ltrao (USEPA, 1989). Quase dez anos depois, o foco passa a ser o controle
de oocistos de Cryptosporidium, at mesmo porque, por hiptese, a remoo desses
organismos garantiria a remoo de cistos de Giardia (USEPA, 1998). Pretendia-se,
poca, a garantia de remoo de oocistos, exclusivamente por ltrao, sem a ex-
pectativa de inativao por desinfeco. Em revises subsequentes da Surface Water
Treatment Rule (USEPA, 2002; 2006), a USEPA adota a abordagem descrita no item an-
terior, combinando critrios de tratamento requerido em funo da ocorrncia de oo-
cistos de Cryptosporidium no manancial e de atendimento a nveis de risco tolerveis;
foram atualizados os desempenhos esperados para diversas tcnicas de tratamento,
incluindo a desinfeco com agentes mais potentes do que o cloro, tais como oznio,
radiao UV e dixido de cloro.
Em resumo, as normas dos EUA conheceram a seguinte evoluo:
USEPA (1989), USEPA (1991). Remoo/inativao, por meio da ltrao-
desinfeco, de 99,9% (3 log) de cistos de Giardia: (i) ltrao rpida em tra-
tamento convencional - turbidez da gua ltrada 0,5 uT em 95% dos dados
mensais; mximo de 5 uT (2,5 log remoo) + desinfeco para inativao
equivalente a 0,5 log; (ii) ltrao direta - turbidez da gua ltrada 0,5 uT em
95% dos dados mensais; mximo de 5 uT (2 log remoo) + desinfeco para
inativao equivalente a 1 log; (iii) ltrao lenta - turbidez da gua ltrada
1 uT em 95% dos dados mensais; mximo de 5 uT (2 log remoo) + desin-
feco para inativao equivalente a 1 log.
USEPA (1998). Remoo, por meio da ltrao, de 99% (2 log) de oocistos
de Cryptosporidium: (i) ltrao rpida em tratamento convencional e ltra-
o direta - turbidez da gua ltrada 0,3 uT em 95% dos dados mensais e
mximo de 1 uT; (ii) ltrao lenta - turbidez da gua ltrada 1 uT em 95%
dos dados mensais e mximo de 5 uT).
Observa-se que o padro de turbidez para a gua ltrada torna-se mais rigoroso para
o tratamento convencional e por ltrao direta, mas para a ltrao lenta permanece
GUAS 122
o entendimento de que 1 uT seria suciente para a remoo desejada de (oo)cistos,
ou seja, so reconhecidas as especicidades dessa tcnica de tratamento e a ao
de outros mecanismos na remoo de oocistos distintos daqueles responsveis pela
remoo de turbidez.
Em 2006, a USEPA consolida a abordagem do estabelecimento de metas de remoo
de oocistos de Cryptosporidium em funo da qualidade da gua bruta e atualiza os
crditos de remoo atribuveis s diversas tcnicas de ltrao, como descrito a
seguir (USEPA, 2006).
Tratamento convencional (ltrao rpida) e ltrao lenta: 3 log de re-
moo de oocistos de Cryptosporidium, desde que obedecido o padro de
turbidez de 0,3 uT para o tratamento convencional (95% dos dados mensais
e mximo de 1 uT) e 1 uT para a ltrao lenta (95% dos dados mensais e
mximo de 5 uT).
Filtrao direta: 2,5 log de remoo de remoo de oocistos de Cryptospo-
ridium, desde que obedecido o padro de turbidez de 0,3 uT (95% dos dados
mensais e mximo de 1 uT).
Tratamento convencional ou ltrao direta: 0,5 log adicional de remoo
de oocistos de Cryptosporidium, desde que atendido critrio de euente l-
trado com turbidez 0,15 uT (95% dos dados mensais).
So ainda estabelecidos crditos adicionais de remoo para o controle no manancial
(0,5 log), ltrao em margem (0,5-1 log), ltrao secundria, rpida (0,5 log) e lenta
(2,5 log), cujo detalhamento encontra-se em USEPA (2006). Para a desinfeco, os crditos
de remoo devem ser atribudos de acordo com os parmetros de controle de cada pro-
cesso.
2
Tais crditos de remoo devem ento ser confrontados com o tratamento reque-
rido, conforme a seguinte classicao dos mananciais de abastecimento (Tabela 4.2).
Tabela 4.2 > Remoo necessria de oocistos de Cryptosporidium
de acordo com a concentrao na gua bruta e a tcnica de ltrao
CATEGORIA CONCENTRAO (C)
DE CRYPTOSPORIDIUM
NO MANANCIAL (OOCISTOS/L) (1)
TRATAMENTO ADICIONAL AOS CRDITOS ASSUMIDOS
Tratamento convencional
e ltrao lenta
Filtrao direta
1 C 0,075 NR (2) NR
2 0,075 C < 1 1 log 1,5 log
3 1 C < 3 2 log 2,5 log
4 C 3 2,5 log 3 log
(1) MDIA ARITMTICA DE 12 MESES DE MONITORAMENTO (VER DETALHAMENTO EM USEPA, 2006); (2) NR: NO REQUERIDO.
FONTE: USEPA (2006).
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 123
A concentrao de oocistos no manancial, abaixo da qual no exigida remoo adi-
cional (0,075 oocistos/L), refere-se a valor intermedirio (e prtico do ponto de vis-
ta de deteco de oocistos em programas anuais de monitoramento) entre 0,01-0,1
oocistos/L, aos quais, considerando 3 log de remoo por tratamento convencional,
corresponderiam a nveis de risco de 1,7 x10
-4
e 6 x 10
-3
(valores prximos ao risco to-
lervel de 10
-4
). Para as demais categorias, os requerimentos de remoo adicional so
computados sobre os crditos pr-conferidos a cada tcnica de ltrao (3 log para
tratamento convencional e ltrao lenta e 2,5 log para ltrao direta), de forma a
resguardar a mesma proteo proporcionada na categoria 1 (os mesmos nveis de ris-
co). Portanto, nas categorias 2, 3 e 4, a remoo total deve ser de 4 log, 5 log e 5,5 log,
respectivamente, sendo que isso pode ser alcanado em etapas adicionais de pr ou
ps-tratamento, como a ltrao em margem, ltrao secundria ou desinfeco.
Por m, preciso esclarecer que o limite superior, aberto, no critrio de classicao
da USEPA ( 3 oocistos/L) baseado em informaes de rara ocorrncia de valores
superiores a este em mananciais dos EUA.
As diretrizes da OMS tambm se encontram assentes na abordagem de remoo ne-
cessria em funo da ocorrncia de (oo)cistos no manancial, nesse caso para nvel de
proteo sade de 10
-6
DALYs pppa
3
. Nas diretrizes, encontram-se tambm sugestes
de remoo de oocistos por diferentes tcnicas de tratamento, mas a turbidez no
assumida como parmetro microbiolgico, explcito e numrico, de qualidade da gua
ps-ltrao e/ou pr-desinfeco, muito embora se enfatize que, idealmente, a tur-
bidez pr-desinfeco deva ser to reduzida quanto 0,1 uT (WHO, 2006).
A abordagem adotada no Canad bastante similar dos EUA, com a recomendao
adicional de que estaes de tratamento devem ser projetadas e operadas para re-
duo da turbidez a valores os mais baixos possveis, tendo como meta 0,1 uT. Para a
ltrao lenta, a turbidez da gua ltrada deve ser inferior a 1 uT em 95% dos dados
mensais e nunca exceder 3 uT; as disposies para as demais tcnicas de ltrao so
as mesmas da USEPA, descritas anteriormente (HEALTH CANADA, 2008).
No Reino Unido, o padro de turbidez de 1 uT entendido, entretanto, como padro
pr-desinfeco e no necessariamente como indicador da remoo de (oo)cistos por
ltrao (DWI, 2007). At recentemente, eram estabelecidos procedimentos de moni-
toramento intensivos da gua tratada, de forma a vericar, como meta, o atendimento
de concentrao mxima de 1 oocisto por 10 L (DWI, 2000) - o que corresponderia a
risco anual de infeco de 10
-1
(um caso de infeco em cada dez habitantes) (MARA,
2000), porm isto foi substitudo pelo enfoque do monitoramento como componente
de abordagem mais ampla de gerenciamento de risco, aos moldes dos Planos de Segu-
rana da gua, preconizados pela OMS (ver captulo 9) (DWI, 2007).
GUAS 124
4.5. Experincia do Prosab, Edital 5 Tema 1
Trs grupos de pesquisa (UFMG/Copasa, UFV e UnB) se dedicaram a estudos em insta-
laes piloto (no caso da UFV, tambm o monitoramento em escala real), envolvendo
a inoculao de oocistos de Crypotosporiudium e a vericao de sua remoo em
diversas tcnicas de tratamento. Todos os projetos tiveram como objetivo subsidiar
o contnuo processo de atualizao da norma brasileira de qualidade da gua para
consumo humano, contribuindo com informaes, dentre outras, sobre: (i) o poten-
cial de remoo de oocistos de Cryptosporidium por meio das tcnicas de tratamen-
to estudadas; (ii) o emprego da turbidez como indicador da remoo de oocistos de
Cryptosporidium. Na Tabela 4.4 encontra-se uma sntese do escopo desses trabalhos,
detalhados nos itens a seguir.
4.5.1. Universidade Federal de Viosa (UFV)
4.5.1.1. Delineamento experimental
Foram realizados 15 ensaios de inoculao em instalao piloto com concentraes
tericas de oocistos de Cryptosporidium de 1,2x10
3
oocistos/L (oito primeiros ensaios)
e 1,2x10
1
oocistos/L (sete ltimos ensaios); 40 L do inculo eram bombeados e mistu-
rados gua bruta auente a ETA piloto em aproximadamente 135 minutos. Para efei-
to de amostragem, esse tempo de operao foi dividido em trs etapas (incio, meio
e m), ao longo das quais (cerca de 45 minutos) eram coletados 10 L de gua bruta e
2 L das guas decantada e ltrada. Do incio ao m de cada ensaio, a cada 15 minutos,
eram realizadas anlises de turbidez em amostras da gua bruta, decantada e ltrada.
A gua ltrada era tambm monitorada, a cada cinco minutos, por medidas de turbi-
dez e contagem de partculas em equipamentos de processo.
A ETA piloto (EP UFV) (0,1 L/s), confeccionada em chapas de ao, era alimentada com
gua do mesmo manancial da estao de tratamento da universidade (ETA UFV); pro-
curou-se reproduzir em escala piloto as instalaes e os parmetros de operao do
tratamento em escala real (convencional), incluindo as seguintes unidades: coagu-
lao com sulfato de alumnio, mistura rpida em diafragma instalado na tubulao
de entrada, oculador hidrulico, decantador de baixa taxa com escoamento vertical,
ltro rpido descendente com camada simples de areia, tanque para alimentao do
inculo de oocistos de Cryptosporidium (Tabela 4.5 e Figura 4.2).
4.5.1.2. Sntese dos resultados
Ensaios de inoculao de oocistos de Cryptosporidium na ETA piloto
Na Tabela 4.6, so apresentados os resultados da quanticao de oocistos de Cryp-
tosporidium nos ensaios de inoculao realizados na EP UFV.
4.4.2. A norma brasileira
No Brasil, a Portaria MS n
o
518/2004 (BRASIL, 2004) incorpora as preocupaes in-
ternacionais relacionadas transmisso de protozorios via abastecimento de gua,
expressas na utilizao da turbidez como indicador sanitrio (Tabela 4.3) e na exi-
gncia de ltrao de fontes superciais de abastecimento. Recomenda-se ainda o
monitoramento de protozorios na gua tratada.
Tabela 4.3 > Padro de turbidez para gua ps-ltrao ou pr-desinfeco
TRATAMENTO DA GUA VMP
Desinfeco (gua subterrnea) 1 uT em 95% das amostras (1)
Filtrao rpida (tratamento completo ou ltrao direta) 1 uT
Filtrao lenta 2 uT em 95% das amostras (1)
(1) DENTRE OS 5% DOS VALORES PERMITIDOS DE TURBIDEZ SUPERIORES AOS VMP, O LIMITE MXIMO PARA QUALQUER AMOSTRA PONTUAL
DEVE SER 5 UT.
FONTE: PORTARIA MS N
O
518/2004.
A Portaria inclui tambm recomendao que para a ltrao rpida se estabelea
como meta a obteno de euente ltrado com valores de turbidez inferiores a 0,5 uT
em 95% dos dados mensais, nunca superior a 5 uT. Nota-se que tal recomendao
coincide com a abordagem da USEPA (1989) para a remoo de cistos de Giardia, mas
o atual padro norte-americano com vistas remoo de oocistos de Cryptosporidium
de 0,3 uT. O padro de turbidez (como padro de potabilidade) para ltrao rpida
de 1 uT, distante, assim, das exigncias cada vez mais rigorosas de normas de outros
pases, como EUA e Canad. Similarmente, o padro brasileiro para ltrao lenta
(2 uT) mais permissivo.
No que diz respeito desinfeco, a Portaria MS n
o
518/2004 exige a manuteno de
teor mnimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L na sada do tanque de contato e inclui
recomendaes de que a clorao seja realizada em pH inferior a 8 e tempo de contato
mnimo de 30 minutos. Admite-se a utilizao de outro agente desinfetante desde
que demonstrada ecincia de inativao microbiolgica equivalente da condio
descrita anteriormente. Entretanto, este valor de Ct (15 mg.min/L) voltado inativa-
o de vrus (BASTOS et al., 2001), sendo insuciente para ao efetiva sobre cistos de
Giardia e mais ainda sobre oocistos de Cryptosporidium.
Alm disso, a legislao brasileira carece de melhor fundamentao em AQRM, de
acordo com todo o exposto anteriormente: monitoramento da gua bruta e estabe-
lecimento de metas de remoo com base na avaliao da ecincia do tratamento,
tendo como referncia o conceito de risco tolervel.
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 125
4.5. Experincia do Prosab, Edital 5 Tema 1
Trs grupos de pesquisa (UFMG/Copasa, UFV e UnB) se dedicaram a estudos em insta-
laes piloto (no caso da UFV, tambm o monitoramento em escala real), envolvendo
a inoculao de oocistos de Crypotosporiudium e a vericao de sua remoo em
diversas tcnicas de tratamento. Todos os projetos tiveram como objetivo subsidiar
o contnuo processo de atualizao da norma brasileira de qualidade da gua para
consumo humano, contribuindo com informaes, dentre outras, sobre: (i) o poten-
cial de remoo de oocistos de Cryptosporidium por meio das tcnicas de tratamen-
to estudadas; (ii) o emprego da turbidez como indicador da remoo de oocistos de
Cryptosporidium. Na Tabela 4.4 encontra-se uma sntese do escopo desses trabalhos,
detalhados nos itens a seguir.
4.5.1. Universidade Federal de Viosa (UFV)
4.5.1.1. Delineamento experimental
Foram realizados 15 ensaios de inoculao em instalao piloto com concentraes
tericas de oocistos de Cryptosporidium de 1,2x10
3
oocistos/L (oito primeiros ensaios)
e 1,2x10
1
oocistos/L (sete ltimos ensaios); 40 L do inculo eram bombeados e mistu-
rados gua bruta auente a ETA piloto em aproximadamente 135 minutos. Para efei-
to de amostragem, esse tempo de operao foi dividido em trs etapas (incio, meio
e m), ao longo das quais (cerca de 45 minutos) eram coletados 10 L de gua bruta e
2 L das guas decantada e ltrada. Do incio ao m de cada ensaio, a cada 15 minutos,
eram realizadas anlises de turbidez em amostras da gua bruta, decantada e ltrada.
A gua ltrada era tambm monitorada, a cada cinco minutos, por medidas de turbi-
dez e contagem de partculas em equipamentos de processo.
A ETA piloto (EP UFV) (0,1 L/s), confeccionada em chapas de ao, era alimentada com
gua do mesmo manancial da estao de tratamento da universidade (ETA UFV); pro-
curou-se reproduzir em escala piloto as instalaes e os parmetros de operao do
tratamento em escala real (convencional), incluindo as seguintes unidades: coagu-
lao com sulfato de alumnio, mistura rpida em diafragma instalado na tubulao
de entrada, oculador hidrulico, decantador de baixa taxa com escoamento vertical,
ltro rpido descendente com camada simples de areia, tanque para alimentao do
inculo de oocistos de Cryptosporidium (Tabela 4.5 e Figura 4.2).
4.5.1.2. Sntese dos resultados
Ensaios de inoculao de oocistos de Cryptosporidium na ETA piloto
Na Tabela 4.6, so apresentados os resultados da quanticao de oocistos de Cryp-
tosporidium nos ensaios de inoculao realizados na EP UFV.
GUAS 126
T
a
b
e
l
a
4
.
4
>
I
n
f
o
r
m
a
e
s
d
e
s
c
r
i
t
i
v
a
s
d
o
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
o
s
s
o
b
r
e
r
e
m
o
o
d
e
o
o
c
i
s
t
o
s
d
e
C
r
y
p
t
o
s
p
o
r
i
d
i
u
m
e
i
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
c
o
n
d
u
z
i
d
o
s
n
o
E
d
i
t
a
l
5
,
T
e
m
a
1
d
o
P
r
o
g
r
a
m
a
d
e
P
e
s
q
u
i
s
a
e
m
S
a
n
e
a
m
e
n
t
o
B
s
i
c
o
(
P
r
o
s
a
b
)
I
N
S
T
I
T
U
I
O
I
N
O
C
U
L
A
O
(
O
O
C
I
S
T
O
S
/
L
)
T
C
N
I
C
A
S
D
E
T
R
A
T
A
M
E
N
T
O
E
S
T
U
D
A
D
A
S
/
C
O
A
G
U
L
A
N
T
E
S
G
U
A
D
E
E
N
S
A
I
O
T
C
N
I
C
A
A
N
A
L
T
I
C
A
D
E
D
E
T
E
C
O
E
Q
U
A
N
T
I
F
I
C
A
O
D
E
O
O
C
I
S
T
O
S
P
A
R
M
E
T
R
O
S
I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S
U
F
M
G
/
C
o
p
a
s
a
1
0
3
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
o
s
d
e
i
n
o
c
u
l
a
o
d
e
o
o
c
i
s
t
o
s
e
m
i
n
s
t
a
l
a
o
p
i
l
o
t
o
;
D
e
c
a
n
t
a
o
c
o
n
v
e
n
c
i
o
n
a
l
e
d
e
a
l
t
a
t
a
x
a
(
s
u
l
f
a
t
o
d
e
a
l
u
m
n
i
o
e
c
l
o
r
e
t
o
f
r
r
i
c
o
)
;
F
i
l
t
r
a
o
r
p
i
d
a
e
m
t
r
a
t
a
m
e
n
t
o
c
o
n
v
e
n
c
i
o
n
a
l
;
D
u
p
l
a
l
t
r
a
o
;
F
i
l
t
r
a
o
d
i
r
e
t
a
d
e
s
c
e
n
d
e
n
t
e
;
(
s
u
l
f
a
t
o
d
e
a
l
u
m
n
i
o
)
M
a
n
a
n
c
i
a
l
s
u
b
t
e
r
r
n
e
o
S
i
m
u
l
a
o
d
e
t
u
r
b
i
d
e
z
(
c
a
u
l
i
m
)
(
1
0
e
1
0
0
u
T
)
C
o
n
c
e
n
t
r
a
o
:
l
t
r
a
o
e
m
m
e
m
b
r
a
-
n
a
s
(
E
M
E
L
K
O
;
H
U
C
K
;
D
O
U
G
L
A
S
,
2
0
0
3
)
.
I
d
e
n
t
i
c
a
o
:
m
i
c
r
o
s
c
p
i
o
d
e
i
m
u
n
o
u
o
r
e
s
c
n
c
i
a
d
i
r
e
t
a
,
u
t
i
l
i
z
a
n
d
o
k
i
t
M
E
R
I
F
L
U
O
R
T
u
r
b
i
d
e
z
M
i
c
r
o
e
s
f
e
r
a
s
B
a
c
i
l
l
u
s
s
u
b
t
i
l
i
s
U
F
V
1
0
1
-
1
0
3
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
o
s
d
e
i
n
o
c
u
l
a
o
d
e
o
o
c
i
s
t
o
s
e
m
i
n
s
t
a
l
a
o
p
i
l
o
t
o
e
m
o
n
i
t
o
r
a
m
e
n
t
o
d
e
E
T
A
e
m
e
s
c
a
l
a
r
e
a
l
;
D
e
c
a
n
t
a
o
;
F
i
l
t
r
a
o
r
p
i
d
a
e
m
t
r
a
t
a
m
e
n
t
o
c
o
n
v
e
n
c
i
o
n
a
l
(
s
u
l
f
a
t
o
d
e
a
l
u
m
n
i
o
)
M
a
n
a
n
c
i
a
l
s
u
p
e
r
c
i
a
l
T
u
r
b
i
d
e
z
n
a
t
u
r
a
l
(
5
a
7
3
u
T
)
C
o
n
c
e
n
t
r
a
o
:
(
i
)
g
u
a
b
r
u
t
a
-
o
c
u
-
l
a
o
c
o
m
c
a
r
b
o
n
a
t
o
d
e
c
l
c
i
o
(
V
E
S
E
Y
e
t
a
l
.
,
1
9
9
3
)
;
(
i
i
)
g
u
a
s
d
e
c
a
n
t
a
d
a
e
l
t
r
a
d
a
-
l
t
r
a
o
e
m
m
e
m
b
r
a
n
a
s
(
F
R
A
N
C
O
;
R
O
C
H
A
-
E
B
E
R
H
A
R
D
T
;
C
A
N
T
U
S
I
O
N
E
T
O
,
2
0
0
1
)
.
I
d
e
n
t
i
c
a
o
:
m
i
c
r
o
s
c
p
i
o
d
e
i
m
u
n
o
u
o
r
e
s
c
n
c
i
a
d
i
r
e
t
a
,
u
t
i
l
i
z
a
n
d
o
k
i
t
M
E
R
I
F
L
U
O
R
T
u
r
b
i
d
e
z
C
o
n
t
a
g
e
m
d
e
p
a
r
t
c
u
l
a
s
U
n
B
1
0
1
-
1
0
3
E
x
p
e
r
i
m
e
n
t
o
s
d
e
i
n
o
c
u
l
a
o
d
e
o
o
c
i
s
t
o
s
e
m
i
n
s
t
a
l
a
o
p
i
l
o
t
o
;
F
i
l
t
r
a
o
l
e
n
t
a
;
P
r
l
t
r
a
o
e
m
p
e
d
r
e
g
u
l
h
o
+
l
t
r
a
o
l
e
n
t
a
M
a
n
a
n
c
i
a
l
s
u
p
e
r
-
c
i
a
l
T
u
r
b
i
d
e
z
n
a
t
u
r
a
l
(
2
,
2
a
8
4
u
T
)
C
o
n
c
e
n
t
r
a
o
(
U
S
E
P
A
,
2
0
0
5
)
:
l
t
r
a
o
e
m
l
t
r
o
d
e
e
s
p
u
m
a
,
e
l
u
i
o
,
l
t
r
a
o
e
m
m
e
m
b
r
a
n
a
e
c
e
n
t
r
i
f
u
g
a
o
.
S
e
p
a
r
a
o
i
m
u
n
o
m
a
g
n
t
i
c
a
e
i
d
e
n
-
t
i
c
a
o
m
i
c
r
o
s
c
p
i
o
d
e
i
m
u
n
o
u
o
-
r
e
s
c
n
c
i
a
,
c
o
n
t
r
a
s
t
e
d
e
i
n
t
e
r
f
e
r
n
c
i
a
d
i
f
e
r
e
n
c
i
a
l
(
D
I
C
)
e
c
o
l
o
r
a
o
d
o
c
i
d
o
n
u
c
l
i
c
o
p
e
l
o
D
A
P
I
(
4
6
-
d
i
a
m
i
d
i
n
o
-
2
-
f
e
n
i
l
i
n
d
o
l
)
,
u
t
i
l
i
z
a
n
d
o
k
i
t
M
E
R
I
F
L
U
O
R
.
T
u
r
b
i
d
e
z
C
l
o
s
t
r
i
d
i
u
m
p
e
r
f
r
i
n
g
e
n
s
C
o
l
i
f
o
r
m
e
s
t
o
t
a
i
s
F
O
N
T
E
S
:
U
F
M
G
:
U
N
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
F
E
D
E
R
A
L
D
E
M
I
N
A
S
G
E
R
A
I
S
;
C
O
P
A
S
A
:
C
O
M
P
A
N
H
I
A
D
E
S
A
N
E
A
M
E
N
T
O
D
E
M
I
N
A
S
G
E
R
A
I
S
;
U
F
V
:
U
N
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
F
E
D
E
R
A
L
D
E
V
I
O
S
A
;
U
N
B
:
U
N
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
D
E
B
R
A
S
L
I
A
.
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 127
Tabela 4.5 > Parmetros operacionais da ETA piloto UFV
MISTURA RPIDA GRADIENTE DE VELOCIDADE: 1.140 S
-1
Floculador
Gradientes de velocidade (s
-1
) nas cmaras
1 2 3 4 5 6
47 31 24 24 13 13
Tempo de deteno hidrulica: 20 min
Decantador Taxa de aplicao supercial 20,6 m/m.d
Filtro
Taxa de ltrao: 226,8 m/m.d
Granulometria areia: def=0,4 a 0,42mm , CU 1,3
DEF: TAMANHO EFETIVO; C
U
: COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE
Tomando como referncia os valores mdios, as seguintes remoes de oocistos podem
ser computadas no incio, meio e nal dos ensaios: (i) decantao: 0,25 - 0,89 - 0,83 log
(mdia de 0,65 log); (ii) ltrao: 0,65 - 0,97 - 0,92 log (mdia de 0,85 log); (iii) remoo to-
tal (decantao + ltrao): 0,91 - 1,87 - 1,35 log (mdia de 1,38 log). importante desta-
car que, em geral, os resultados indicam pior desempenho do sistema no incio e melhora
gradual ao longo de cada ensaio, o que, no caso da ltrao, pode ser interpretado como
reforo ao entendimento da importncia do perodo de amadurecimento dos ltros.
Tentativas de vericao de associao entre remoo de turbidez e oocistos por meio
da aplicao de teste estatstico no-paramtrico (correlao de Spearman) resultaram
em: (i) correlao mediana e estatisticamente signicativa para nvel de signicncia de
FONTE: APUD MORAVIA (2007).
Figura 4.2
Unidades da ETA piloto UFV: (a) ltro, (b) decantador, (c) tanque de inoculao
de oocistos de Cryptosporidium, (d) oculador.
D
A
B
C
D
GUAS 128
10% para a remoo na decantao (rs = 0,47; p = 0,089) e na decantao + ltrao
(rs = 0,45; p = 0,095); (ii) correlao muito fraca e estatisticamente no signicativa na l-
trao isoladamente (rs = 0,17; p = 0,57). Em princpio, no se obteve associao numrica
convincente entre a remoo de turbidez e a de oocistos (teste de regresso, R
2
= 0,223),
porm, exerccios adicionais, excluindo do banco de dados os resultados relativos ao incio
dos ensaios indicaram, de forma um pouco mais ntida, possvel associao. (Figura 4.3)
Adicionalmente, o teste de correlao no-paramtrico do Coeciente PHI (r) foi apli-
cado com vistas vericao de associao entre a ocorrncia de oocistos de Cryp-
tosporidium em amostras de gua ltrada com valores de turbidez tomados como
referncia de acordo com a evoluo da norma dos EUA (0,5 - 0,3 - 0,15 uT) e o padro
da legislao brasileira (1 uT). Os resultados (Tabela 4.7) no revelaram associao es-
tatstica para nvel de signicncia de 5%. Entretanto, nota-se que a associao um
pouco mais forte para limite de turbidez 0,3 uT, sendo, nesse caso, signicativa para
nvel de deciso de 10% ( = 0,10).
Tabela 4.6 > Resultados da pesquisa de oocistos de Cryptosporidium
nos ensaios de inoculao na ETA Piloto UFV (1)
ENSAIO GUA BRUTA (2) GUA DECANTADA (2) GUA FILTRADA (2)
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 225,5 20 61,5 105 2,5 2,5 0,5 0,5 4,5
2 40 15 - 2,5 ND 33 1 0,5 6
3 10 10 40 ND 0,5 ND ND ND ND
4 18 ND 11,1 ND ND ND ND ND 0,5
5 ND 14,3 20 8 8 ND ND ND ND
6 5 0,05 ND 0 20 15 ND 0,05 ND
7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND
8 10 30 11,2 10 ND 5,5 7,5 ND 0,05
9 4 5 5 7,5 ND 6 2,5 ND ND
10 8 ND 9 2,5 8 2,5 6 ND ND
11 10 5 ND 5 10,5 6,5 1 ND ND
12 5 20 50 30 10 ND ND ND ND
13 15 35 ND 0 20 40 30 5 5
14 40 200 90 15 5 15 ND 5 ND
15 ND 420 15 30 15 10 ND ND ND
1) OOCISTOS/ L; (2) AMOSTRA 1, 2 E 3: INCIO, MEIO E FINAL DA CARREIRA DE FILTRAO, RESPECTIVAMENTE. ND: NO DETECTADO.
FONTE: LOPES (2008).
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 129
Tabela 4.7 > Correlao entre valores de turbidez da gua ltrada
e ocorrncia de protozorios, ensaios de inoculao na ETA Piloto UFV
VARIVEIS TESTADAS TESTE DO COEFICIENTE PHI
r p
Ocorrncia de oocistos x turbidez 0,15 uT e 0,15 uT 0,1589 0,4725
Ocorrncia de oocistos x turbidez 0,3 uT e 0,3 uT 0,2915 0,1022
Ocorrncia de oocistos x turbidez 0,5 uT e 0,5 uT 0,0915 0,7698
Ocorrncia de oocistos x turbidez 1 uT e 1 uT 0,1225 0,6745
FONTE: LOPES (2008).
Na Figura 4.4 os resultados de remoo de partculas na ltrao so organizados, em
conjunto com os de remoo de turbidez e de oocistos. Tomando por base os valores
mdios, a remoo de partculas na faixa de 2-7 m foi cerca de 0,5 log superior a das
demais partculas e prxima remoo de turbidez e de oocistos. Testes de correlao
de Spearman (no-paramtrico) entre remoo de partculas e de turbidez na ltrao
resultaram em: (i) 2-7 m x turbidez (rs = 0,45; p = 0,1664); (ii) 8-15 m x turbidez
(rs = 0,42; p = 0,2033); (ii) 20-50 m x turbidez (rs = 0,27; p = 0,2680). Embora no
se tenham encontrado resultados estatisticamente signicativos, interessante notar
que a associao da remoo de turbidez com a de partculas torna-se mais fraca e/
ou mais distante do nvel de signicncia com o aumento do tamanho das partculas.
FONTE: LOPES (2008).
Figura 4.3
Associao (teste de regresso) entre valores mdios de log - remoo de turbidez
e de oocistos de Cryptosporidium na ETA piloto UFV (decantao + ltrao),
excludos os dados dos perodos iniciais dos ensaios
GUAS 130
Ou seja, se alguma inferncia de associao pode ser feita, seria com partculas de
2-7 m. No entanto, nenhum indcio de associao estatstica entre a remoo de
partculas e de oocistos de Cryptosporidium pode ser observado.
Monitoramento de protozorios e indicadores na ETA UFV
No perodo entre setembro de 2007 a julho de 2008, foi realizado o monitoramento de
(oo)cistos de Giardia e Cryptosporidium na ETA UFV, com coleta mensal de amostras
pontuais da gua bruta, decantada e ltrada. Oocistos de Cryptosporidium foram detec-
tados em duas amostras de gua bruta (4-12 oocistos/L), seis de gua decantada (3-6
oocistos/L) e quatro de gua ltrada (0,1-6 oocistos/L). Cistos de Giardia foram identi-
cados em apenas um evento de amostragem e somente na gua bruta (2,5 cistos/L).
Neste mesmo perodo foram realizadas medidas de turbidez das amostras pontuais
analisadas para protozorios. A turbidez da gua ltrada variou entre 0,3-1,1 uT, com
destaque para o fato de que na amostra com o maior valor de oocistos (6 oocistos/L)
(ltro 2, fevereiro), foi tambm registrado o maior valor de turbidez.
A Figura 4.5 resume as variaes dos resultados de turbidez da gua ltrada, medida em
frequncia horria, durante o perodo de monitoramento de protozorios. Nesta gura,
a linha cheia corresponde ao valor de 0,3 uT assumido pela EPA para turbidez da gua
ltrada como indicador de remoo de 3 log de oocistos de Cryptosporidium. Observa-se
que este valor (0,3 uT) ultrapassado com frequncia em todo o perodo de estudo, mas
o maior afastamento ocorre nos meses de chuvas mais intensas (dezembro a fevereiro). A
linha tracejada tem como referncia o valor mdio de turbidez do ms de abril, em torno
FONTE: LOPES (2008).
Figura 4.4
Remoo (log) de partculas por faixa de tamanho, de turbidez
e de oocistos de Cryptosporidium na ltrao, ETA piloto UFV
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 131
de 0,4 uT (menor valor mdio dentre os meses com ocorrncia de oocistos de Cryptospo-
ridium na gua ltrada). Em geral, nos meses nos quais no se detectou oocistos na gua
ltrada, os valores mdios de turbidez foram inferiores referncia assumida.
Em resumo, nas condies dos experimentos realizados na UFV, a remoo e/ou os
valores absolutos de turbidez mostraram-se mais adequados que os de contagem de
partculas como indicador da remoo de oocistos de Cryptosporidium; entretanto,
h que se considerar que a contagem foi realizada em faixa de tamanho que inclui
partculas menores que os oocistos (2-7 m).
Se os resultados no permitiram sugerir, conclusivamente, relao numrica entre as
remoes de turbidez e de oocistos de Cryptosporidium, tampouco entre valores ab-
solutos de turbidez e a ocorrncia de oocistos, por outro lado, renem indcios de que
a produo de gua ltrada com baixa turbidez constitui medida preventiva; mais que
isso, h indicaes no sentido de reforo do valor limite de 0,3 uT.
A instalao piloto alcanou, na mdia e aproximadamente, 0,5 log
na decantao e 1,5 log
no tratamento convencional de claricao. O primeiro resultado consistente com o
registrado na literatura e assumido na norma dos EUA, mas o segundo ca aqum do
esperado. Todavia, tais resultados poderiam estar subestimados, tendo em vista incertezas
sobre as concentraes de oocistos de fato inoculadas (os valores medidos na gua bruta
foram em geral bem abaixo do teoricamente inoculado) e o fato de que a pesquisa de
oocistos na gua bruta e nas amostras de gua tratada foram realizadas com emprego de
tcnicas distintas (sendo que a tcnica empregada nas amostras de gua bruta apresenta
para valores baixos de turbidez, reconhecidamente, menor poder de recuperao).
4.5.2. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
e Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)
4.5.2.1. Delineamento experimental
Foram realizados dois ensaios com cada tcnica de tratamento ou condio opera-
cional testada, a saber: (i) decantao convencional e de alta taxa com uso de sulfato
de alumnio e cloreto frrico; (ii) tratamento convencional, dupla ltrao e ltrao
direta descendente, com uso de sulfato de alumnio.
A gua era bombeada de poo artesiano para o tanque de alimentao da ETA piloto
(EP Copasa/UFMG), onde era preparada a gua de estudo, com simulao de turbidez
e inoculao de 5 x 10
3
oocistos de Cryptosporidium/L, de 5 x 10
3
microesferas/L (mi-
croesferas de poliestireno e carboxilato, autouorescentes, densidade = 1,045 g/mL,
dimetro = 4,675 0,208 m, Polyscience Incorporation) e de 1 x 10
3
esporos de Ba-
cillus subtilis/L. A turbidez foi simulada com adio de caulim para se obter: 10 0,5 e
100 5 uT na gua de estudo para os ensaios com decantao convencional e de alta
GUAS 132
FONTE: LOPES (2008).
Figura 4.5 Variao da turbidez da gua ltrada, ETA UFV, setembro 2007 a julho 2008
FONTE: CERQUEIRA (2008 - ADAPTADO).
Figura 4.6
Vista geral da ETA Piloto Copasa/UFMG: (a) mistura rpida, (b) oculadores, (c)
decantador de baixa taxa com escoamento vertical, (d) decantador de alta taxa, (e)
ltros, (f) tanque de preparo da gua de estudo, (g) tanques de gua tratada
F
G
A
C
A
D
B
E
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 133
taxa; 10 0,5 uT nos ensaios de ltrao direta; 10 0,5 e 100 5 uT nos ensaios de
dupla ltrao; 100 5 uT no tratamento convencional. Cada ensaio tinha a durao
de 24 horas, com coleta de 2 L de amostras para determinao de oocistos, esporos e
microesferas; as amostras de gua de estudo eram coletadas no incio de cada ensaio
e as amostras nos euentes das unidades de tratamento a cada duas horas. Para de-
terminao da turbidez, eram coletadas amostras a cada 30 minutos.
A EP Copasa/UFMG (Figura 4.6), executada em bra de vidro, foi projetada para con-
templar diversas tcnicas de tratamento, sendo neste trabalho utilizados as seguintes
unidades/processos: (i) duas unidades de mistura rpida mecanizada; (ii) quatro c-
maras de oculao mecanizadas; (iii) um decantador de alta taxa e um decantador
baixa taxa, ambos de escoamento ascendente, um ltro rpido descendente com meio
ltrante de antracito sobre areia, como unidade de tratamento convencional e de
ltrao direta; (iv) uma unidade de dupla ltrao ltro ascendente de pedregulho
+ ltro descendente de areia. Na Tabela 4.8 encontra-se um resumo dos parmetros
operacionais da EP Copasa/UFMG, a qual foi operada com vazo de 0,08 L/s.
Tabela 4.8 > Parmetros operacionais da ETA piloto Copasa/UFMG
PARMETROS UNIDADE DE TRATAMENTO / VALORES
G (s
-1
)
Mistura rpida
700
G cmaras (s
-1
)
Floculador
1 2 3 4
70 20 20 10
TDH (min) 42,4
TAS (m.m-.d
-1
)
Decantadores
Baixa taxa Alta taxa
20 80
Tf (m.d
-1
)
Filtros
FDAA
DF
FAP FDA
220 180 220
Leito ltrante Dmin Dmax (mm) [altura (m)]
Pedregulho - 1,41-25,4 [1,20]
Areia 0,42 1,24 [1,20] - 0,42 - 1,20 [1,20]
Antracito 0,71 - 2,83 [0,45] - -
G: GRADIENTE DE VELOCIDADE; TDH: TEMPO DE DETENO HIDRULICA; TAS: TAXA DE APLICAO SUPERFICIAL, TF: TAXA DE FILTRAO;
FDAA: FILTRAO DESCENDENTE, AREIA E ANTRACITO (CICLO COMPLETO E FILTRAO DIRETA); DF: DUPLA FILTRAO; FAP: FILTRAO ASCEN-
DENTE PEDREGULHO; FDA: FILTRAO DESCENDENTE, AREIA.
FONTE: CERQUEIRA (2008); SILVA (2008 - ADAPTADO).
GUAS 134
4.5.2.2. Sntese dos resultados
Ensaios de inoculao de oocistos de Cryptosporidium na ETA piloto
e vericao do desempenho da decantao
Na Tabela 4.9 so apresentados os valores mdios de log de remoo de oocistos de Cryp-
tosporidium e dos indicadores (turbidez e microesferas) nos ensaios com coagulao com
sulfato de alumnio e cloreto frrico, realizados com os dois tipos de decantadores.
A remoo mdia de oocistos de Cryptosporidium variou entre 1,76 a 2,48 log, a de
microesferas entre 0,80 a 1,74 log e a de turbidez entre 0,45 a 1,53 log. Portanto,
como tendncia geral, observa-se que a remoo de oocistos foi sempre maior que as
de microesferas e de turbidez. Entre os dois indicadores, os resultados oscilaram em
funo da turbidez da gua bruta: com turbidez igual a 10 uT, a remoo de microes-
feras superou a de turbidez, mas com turbidez igual a 100 uT, a remoo desses dois
indicadores foi mais prxima ou a de turbidez foi superior a de microesferas. Em ter-
mos gerais, pode-se dizer que o requisito da remoo de um parmetro indicador ser
inferior do patgeno foi cumprido, muito embora no se tenha estabelecido relao
numrica entre a remoo dos indicadores e a de oocistos.
O estudo incluiu testes estatsticos para aferir a signicncia de diferenas de desempe-
nho em funo do coagulante utilizado, do tipo de decantador e da turbidez da gua bru-
ta, alm da avaliao comparativa entre a remoo de oocistos, microesferas e turbidez. A
seguir, para afeito de sntese, so destacados alguns desses resultados: (i) no tratamento
das duas guas (10 uT e 100 uT) com sulfato de alumnio, a remoo de oocistos foi mais
elevada e estatisticamente signicativa no decantador convencional; com o emprego de
cloreto frrico, a remoo foi similar nos dois tipos de decantadores, independentemente
da turbidez da gua bruta; (ii) salvo raras excees, a remoo de oocistos foi no somente
mais elevada que a de microesferas como tambm mais estvel; (iii) possveis efeitos da
turbidez da gua na remoo de oocistos no se mostraram evidentes.
Tabela 4.9 > Mdia de log - remoo de oocistos de Cryptosporidium,
microesferas e turbidez na decantao. ETA Piloto Copasa/UFMG
PARMETRO
10 uT 100 uT
DBT DAT DBT DAT
SA CF SA CF SA CF SA CF
Turbidez 0,46 1,02 0,42 1,13 1,53 1,41 1,53 1,45
Microesferas 0,71 1,74 0,80 1,69 0,82 1,66 0,99 1,66
Oocistos 2,26 2,19 1,80 2,22 2,03 2,43 1,76 2,48
DBT: DECANTADOR DE BAIXA TAXA COM ESCOAMENTO VERTICAL; DAT: DECANTADOR DE ALTA TAXA; SA: SULFATO DE ALUMNIO, CF: CLORETO
FRRICO.
FONTE: SILVA (2008 - ADAPTADO).
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 135
Ensaios de inoculao de oocistos de Cryptosporidium na ETA piloto
e vericao do desempenho das tcnicas de ltrao
Na Tabela 4.10 so apresentados os valores mdios de log-remoo de oocistos e de
indicadores, nos dois ensaios realizados com cada tcnica de tratamento testada; na
Tabela 4.11, as mdias e variaes dos valores de turbidez.
A remoo mdia de oocistos de Cryptosporidium variou entre 2,63 a 2,76 log, a de
microesferas entre 1,45 a 2,58 log, a de turbidez entre 1,33 a 3,10 log e a de Bacillus
subtilis entre 0,09 a 0,47 log. Portanto, assim como observado para a decantao, com
apenas uma exceo (turbidez, DF100 uT), pode-se dizer que o requisito da remoo
de indicadores ser inferior do patgeno foi cumprido para os trs parmetros avalia-
dos. Destaca-se, porm, que em todas as tcnicas de ltrao a remoo de oocistos
foi bem mais prxima de microesferas e de turbidez do que de Bacillus subtilis. A
remoo (log) de oocistos de Cryptosporidium foi estatisticamente equivalente (teste
de Kruskal-Wallis, p < 0,05) de microesferas na DF10, DF100 e CC e de turbidez so-
mente no CC; por sua vez, as remoes de turbidez e microesferas foram equivalentes
na FDD, DF10 e CC (Figura 4.7).
Tabela 4.10 > Mdia de log - remoo de oocistos de Cryptosporidium,
microesferas, turbidez e esporos de Bacillus subtilis na ltrao. ETA Piloto Copasa/UFMG
PARMETRO TC DF100 DF10 FDD
Turbidez 2,54 3,10 2,13 1,33
Microesferas 2,49 2,58 2,32 1,45
Esporos de Bacillus subtilis 0,47 0,09 0,11 0,28
Oocistos de Cryptosporidium 2,63 2,76 2,66 2,64
TC: TRATAMENTO CONVENCIONAL; DF10: DUPLA FILTRAO COM TURBIDEZ DA GUA BRUTA =10 UT; DF100: DUPLA FILTRAO COM TURBI-
DEZ DA GUA BRUTA =100 UT; FDD: FILTRAO DIRETA DESCENDENTE.
Tabela 4.11 > Valores descritivos de turbidez dos euentes ltrados.
ETA Piloto Copasa/UFMG. ensaios 1 e 2
PARMETRO TC DF100 DF10 FDD
1 2 1 2 1 2 1 2
Mdia 0,78 0,16 0,08 0,09 0,07 0,08 0,87 1,03
Desvio padro 0,69 0,07 0,02 0,01 0,02 0,03 1,71 1,26
Coef variao 0,89 0,45 0,32 0,09 0,21 0,35 1,96 1,22
TC: TRATAMENTO CONVENCIONAL; DF10: DUPLA FILTRAO COM TURBIDEZ DA GUA BRUTA =10 UT; DF100: DUPLA FILTRAO COM TURBI-
DEZ DA GUA BRUTA =100 UT; FDD: FILTRAO DIRETA DESCENDENTE.
GUAS 136
Da Tabela 4.10, percebe-se tambm que a FDD proporcionou remoo de turbidez
e microesferas inferior s dos demais tratamentos, sendo isso conrmado estatis-
ticamente (teste de Mann Whitney, p < 0,05). Entretanto, a remoo de oocistos de
Cryptosporidium foi bem similar em todas as tcnicas de tratamento testadas, sendo
isso tambm conrmado estatisticamente (teste de Mann Whitney, p > 0,05) por
meio das seguintes comparaes: (i) DF10 x FDD (p = 0,633); (ii) tratamento conven-
cional x DF100 (p = 0,076); (iii) DF10 x DF100 (p = 0,190). Ou seja, todas as tcnicas
de tratamento proporcionaram nvel de proteo similar.
Em resumo, embora em vrias das situaes analisadas as remoes de oocistos, tur-
bidez e microesferas tenham se mostrado equivalentes em termos numricos abso-
lutos, no foi possvel estabelecer relao numrica entre a remoo de oocistos e
a de indicadores - testes no-paramtricos (correlao de Spearman) revelaram, na
maioria dos casos, correlaes positivas entre as remoes de oocistos e de turbidez
e microesferas, porm fracas (baixos valores de coecientes de correlao). No obs-
FONTE: CERQUEIRA (2008 - ADAPTADO).
Figura 4.7
Comparao da remoo (log) de turbidez, oocistos de Cryptosporidium,
microesferas uorescentes e esporos de Bacillus subtilis nas diferentes
tcnicas de ltrao, ETA Piloto Copasa/UFMG: (a) ltrao direta descendente;
(b) dupla ltrao, turbidez inicial de 10 uT; (c) dupla ltrao, turbidez inicial
de 100 uT; (d) tratamento convencional
C
A
D
B
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 137
tante, devem ser destacadas duas observaes gerais importantes: todas as tcnicas
de tratamento analisadas, sob condio de coagulao otimizada, produziram consis-
tente ou muito frequentemente valores de turbidez do euente ltrado inferiores a
0,5 uT, ou mesmo a 0,3 uT (com a exceo j mencionada da FDD) e elevadas remoes
de oocistos ( 2,5 log).
4.5.3. Universidade de Braslia (UnB)
4.5.3.1. Delineamento experimental
Foram realizados dez ensaios de inoculao de oocistos de Cryptosporidium em ins-
talao piloto (EP UnB) divididos em duas fases: (i) sete ensaios com os ltros lentos
operando com taxa de ltrao de 3 m
3
/m
2
.d; (ii) trs ensaios com taxa de ltrao de
6 m
3
/m
2
.d. Em cada ensaio (carreira de ltrao j que o ltro era limpo por meio de
remoo de 1-2 cm de areia) foram avaliados dois tipos de sequncia de tratamento: (i)
apenas ltrao lenta (FLA1); (ii) pr-ltrao em pedregulho com escoamento ascen-
dente seguido de ltrao lenta (PFPA+FLA2). O PFPA foi operado com taxa de ltrao
de 10 m
3
/m
2
.d. Nas duas fases, os ltros foram operados com diferentes graus de ama-
durecimento. A gua auente s duas sequncias de tratamentos era proveniente do
mesmo tanque de armazenagem de gua bruta, permitindo que os tratamentos (FLA1
e PFPA+ FLA2) corressem em paralelo. O pr-ltro de pedregulho e os dois ltros len-
tos foram confeccionados em acrlico, de acordo com as caractersticas especicadas
na Tabela 4.12. A Figura 4.8 mostra alguns detalhes da instalao piloto.
Tabela 4.12 > Caractersticas do pr-ltro de pedregulho e dos ltros lentos, Instalao Piloto UnB
FILTROS LENTOS PR-FILTRO DE PEDREGULHO
Parmetro Valor Parmetro Valor
Dimetro interno 0,15 m Dimetro interno 0,20 m
Dimetro efetivo (d
10
) 0,27 mm
Granulometria da camada
suporte (fundo)
19 31 mm
Coeciente de uniformidade 1,9
Granulometria da primeira
subcamada
12,7 19 mm
Altura meio ltrante 0,85 m
Granulometria da segunda
subcamada
6,4 12,7 mm
Granulometria do pedregulho
camada suporte
1,4 3,1 mm
Granulometria da terceira
subcamada
3,2 6,4 mm
Espessura camada suporte 0,35 m
Granulometria da quarta
subcamada
1,68 3,2 mm
Espessura total das camadas 1,30 m
FONTE: TAIRA (2008 ADAPTADO).
GUAS 138
A gua utilizada para realizao dos ensaios era proveniente do Crrego do Torto. Dia-
riamente, cerca de 400 L eram coletados em tambores plsticos e transportados ao la-
boratrio para alimentar os ltros. Nesses tambores era preparada a gua de estudo por
meio da adio de oocistos de Cryptosporidium, obtendo-se concentraes de ordens
de grandeza de 10
1
-0
3
oocistos/L. A gua de estudo que alimentava a EP UnB continha
ainda populaes naturais de coliformes totais (1,2 x 10
3
4,8 x 10
5
NMP por 100 mL) e,
na segunda fase, esporos de Clostridium perfringens (10
2
-10
3
NMP por 100 mL).
Aps distintos perodos de amadurecimento dos ltros lentos, eram simulados picos
de contaminao de oocistos de Cryptosporidium com durao 24 horas (ou excepcio-
nalmente, 12 horas). Decorridos os tempos de deteno da gua nas diferentes uni-
dades de ltrao, eram iniciadas as coletas das amostras dos respectivos euentes.
As amostras eram coletadas por tempo equivalente durao do pico, constituindo
assim amostras compostas, analisadas para turbidez e os organismos mencionados
anteriormente. Alm disso, em alguns ensaios, precedeu-se caracterizao da cama-
da biolgica dos FLAs e do biolme do PFPA.
4.5.3.2. Sntese dos resultados
A Tabela 4.13 apresenta os valores descritivos das concentraes de oocistos e de in-
dicadores encontrados nos euentes de cada tcnica de tratamento testada, alm das
respectivas remoes nas duas fases experimentais.
FONTE: TAIRA (2008 - ADAPTADO).
Figura 4.8
Unidades da instalao piloto UnB: (a) dispositivos de alimentao
de gua bruta e pr-ltro de pedregulho; (b) ltros lentos
e tanque de descarte de gua ltrada; (c) camada suporte dos ltros lentos
A B C
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 139
Tabela 4.13 > Valores descritivos e remoo de turbidez, oocistos de Cryptosporidium,
coliformes totais e Clostridium perfringens nas unidades de tratamento nas duas fases
experimentais (taxa de ltrao de 3 e 6 m
3
/m
2
.d)
UNIDADE PARMETRO N MDIA MEDIANA MNIMO MXIMO DESVIO PADRO
PFPA
Turbidez 15 12 9,9 1,13 47 13
Crypto 12 11,3 7,27 0,88 61,6 16,55
CT 13 2,9 x 10
3
1,0 x 10
3
76 1,2 x 10
4
4,2 x 10
3
R
Crypto
13 1,55 1,74 0,29 2,37 0,63
R
CT
14 0,84 0,76 0 1,69 0,56
R
Tur
15 0,51 0,53 0,29 1,10 0,21
R
Clos
4 0,47 0,51 -0,13 1 0,51
PFPA + FLA2
Turbidez 14 6,3 6,4 0,70 15 5,3
Crypto 11 0,1 0,09 0,04 0,28 0,07
CT 13 5,1 x 10
2
1,9 x 10
2
1 3,7 x 10
3
9,9 x 10
2
R
Crypto
12 3,66 3,7 2,84 4,28 0,49
R
CT
13 1,87 1,55 0,82 3,72 0,85
R
Tur
14 0,54 0,55 0,28 0,79 0,15
R
Clos
4 1,55 1,51 1,32 1,84 0,23
FLA1
Turbidez 14 7,3 6,8 0,64 19 6,4
Crypto 12 0,22 0,13 0,03 1,18 0,32
CT 13 1,8 x 10
3
3,5 x 10
2
2 7,2 x 10
3
2,7 x 10
3
R
Crypto
12 3,39 3,29 2,43 4,28 0,61
R
CT
12 1,51 1,30 0,50 3,42 0,94
R
Tur
14 0,51 0,53 0,24 0,92 0,18
R
Clos
4 1,22 1,23 1 1,42 0,17
PORIDIUM POR LITRO; CT: COLIFORMES TOTAIS (NMP/100ML); CLOS: CLOSTRIDIUM PERFRINGENS R: REMOO (LOG). INSTALAO PILOTO UNB.
PFPA: PR-FILTRAO DE PEDREGULHO DE FLUXO ASCENDENTE; FLA: FILTRO LENTO DE AREIA; TURBIDEZ (UT); CRYPTO: OOCISTOS DE CRYPTOS.
FONTE: TAIRA (2008 ADAPTADO).
Os valores mdios e medianos de remoo de oocistos ( 3,7 log) e coliformes totais
(CT) (1,6-1,8 log) no PFPA+FLA2 foram um pouco superiores aos do FLA1 ( 3,3 log e
1,3-1,5 log, respectivamente para oocistos e CT), o que sugere contribuio positiva
do PFPA na ecincia do tratamento como um todo, sob vrias condies de opera-
o e qualidade da gua bruta. O PFPA apresentou remoes de oocistos entre 0,29 e
2,37 log e de CT de 0,76 log (mediana). A associao PFPA+FLA2 parece ter exercido
tambm alguma inuncia positiva na remoo de C. perfringens, em torno de 0,3 log
adicionais de remoo mdia em comparao obtida no FLA1 ( 1,2 log). Entretanto,
a remoo de turbidez foi bastante similar no PFPA, no FLA1 e no conjunto PFPA+FLA2,
alm de inferior dos demais parmetros ( 0,5 log).
GUAS 140
De modo geral, com o aumento da taxa de ltrao de 3 para 6 m/m.d, observou-se
tendncia de diminuio da remoo de coliformes e de oocistos de Cryptosporidium,
porm a ecincia de remoo de turbidez manteve-se similar. Contudo, devido aos
poucos dados relativos segunda etapa experimental (6 m/m.d), tais observaes
no puderam ser comprovadas estatisticamente.
Quando foram considerados todos os experimentos, independentemente da taxa de ltra-
o dos ltros lentos, do perodo de amadurecimento, da concentrao inicial de oocistos
de Cryptosporidium e da turbidez da gua bruta, testes estatsticos no paramtricos para
aferir associaes entre a remoo dos parmetros analisados (teste de correlao de
Spearman) revelaram os seguinte resultados: (i) correlao positiva e signicativa entre as
concentraes euentes (r = 0,5879, p = 0,074) e remoes de oocistos e de CT (r = 0,5525,
p = 0,063) no PFPA e no FLA1 (concentraes euentes: r = 0,6924, p = 0,018; remoes:
r = 0,7363, p = 0,0097); correlao positiva e signicativa entre as remoes de oocistos
e de CT no conjunto PFPA+FLA2 (r = 0,6181, p = 0,043); (ii) em nenhuma das unidades
de tratamento foi encontrada correlao forte ou estatisticamente signicativa entre as
remoes ou concentraes euentes de turbidez e de oocistos de Cryptosporidium; (iii)
entretanto, nos trs arranjos/unidades de tratamento foram vericadas fortes correlaes
entre as concentraes de turbidez e de CT (PFPA: r = 0,8461, p = 0,0003; PFPA+FLA2:
r = 0,78022, p = 0,0016; FLA1: r = 0,8170, p = 0,0007), mas no entre as remoes destes
parmetros (Figura 4.9); (iv) a remoo de Clostridium perfringens no revelou correlao
com as de nenhum dos demais parmetros.
FONTE: TAIRA (2008 - ADAPTADO).
Figura 4. 9
Associao entre as concentraes de coliformes totais e de turbidez no conjunto
PFPA+FLA2, nas duas fases experimentais (taxa de ltrao de 3 e 6 m
3
/m
2
.d)
na Instalao Piloto UnB
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 141
Apesar dos dados no seguirem distribuio normal, foi realizada tentativa de asso-
ciar, numericamente, pelo mtodo dos mnimos quadrados, as remoes de oocistos
e coliformes totais nos euentes das sequncias de tratamento, sendo isso, de certa
maneira, vericado no FLA1 e no PFPA+FLA2 (Figura 4.10).
Nos experimentos da primeira fase (3 m
3
/m
2
.d, Ti = 2,2-82 uT), os valores mnimos de
turbidez no euente dos ltros lentos foram de 0,64 uT (FLA1) e 0,70 uT (PFPA+FLA2);
e os mdios, 7,6 6,3uT (FLA1) e 6,5 5,2 uT (PFPA+FLA2). Foram observadas correla-
es fortes e estatisticamente signicativas (a 99% de conana - correlao de Spe-
arman) entre a turbidez da gua bruta e a turbidez dos euentes do PFPA (r = 0,8462,
p = 0,0001), do FLA2 (r = 0,8626, p = 0,0001) e do FLA1 (r = 0,9011, p <0,0001).
Ainda em relao primeira fase experimental, em geral, no foram observadas corre-
laes fortes (teste do coeciente PHI) entre a ocorrncia de oocistos e os valores de
turbidez tomados como referncia nos euentes ltrados (1 uT e 2 uT, corresponden-
tes ao estabelecido nas normas dos EUA e do Brasil) (Tabela 4.25). No que diz respeito
signicncia estatstica dos resultados, nos euentes do FLA1 com turbidez 1 uT no
foram detectados oocistos de Cryptosporidium com 90% de segurana (p = 0,0704),
no sendo, entretanto, observada associao com o limite de 2 uT. No caso do euen-
te do PFPA+FLA2, no foi vericada correlao estatisticamente signicativa entre
turbidez e ocorrncia de oocistos; porm, com o limite de 2 uT, a conabilidade na
correlao (p = 0,5839 ) foi menor do que com 1 uT (p = 0,3711) (Tabela 4.14).
Tabela 4.14 > Correlao entre valores de turbidez da gua ltrada e ocorrncia de protozorios,
ensaios de inoculao na Instalao Piloto da UnB
VARIVEIS TESTADAS FLA1 PFPA+ FLA2
r
p r
p
Ocorrncia de oocistos x turbidez > 2 uT e 2 uT 0,1333 0,1880 0,0250 0,5839
Ocorrncia de oocistos x turbidez > 1 uT e 1 uT 0,2727 0,0704 0,0667 0,3711
Quando os ltros lentos de areia (FLAs) foram submetidos a perodo de amadureci-
mento, a remoo de oocistos de Cryptosporidium foi mais elevada: 2,97 a 3,68 log
(FLA1) e 1,67 a 1,90 log (FLA2) sem amadurecimento e 3,28 a 4,28 log (FLA1) e 1,53 a
2,54 log (FLA2) com amadurecimento. O PFPA foi submetido a perodo de amadure-
cimento durante toda primeira fase e apresentou ecincia de remoo de oocistos
entre 1,17 a 2,37 log. Alm disso, observou-se que quando os FLAs foram submetidos
a perodo de amadurecimento, a remoo de oocistos nas sequncias de tratamento
com e sem PFPA foram similares. Porm, com os ltros lentos no amadurecidos, o
PFPA desempenhou papel importante na remoo de oocistos, fazendo com que a re-
moo do conjunto PFPA+FLA2 se mantivesse na mesma faixa de valores (3,80 a 4,27
GUAS 142
log) de quando os ltros lentos j apresentavam algum grau de amadurecimento. A
remoo de CT no FLA1 tambm tendeu a ser menor nos experimentos sem amadure-
cimento. Entretanto, essa tendncia no foi vericada no conjunto PFPA+FLA2, pois as
remoes de CT se mantiveram similares, independentemente do FLA2 ter sido ou no
submetido a perodo de amadurecimento.
Em resumo, os resultados no permitiram o estabelecimento de relao ntida entre
as remoes de turbidez e de oocistos de Cryptosporidium. Por outro lado, foram reu-
nidos indcios de que euentes com valores mais baixos de turbidez (<1 uT) tendem
a apresentar presena de oocistos com menor frequncia. Alm disso, a remoo de
oocistos mostrou-se associada de CT, a qual, por sua vez, pode ser associada de
turbidez. Sugere-se, pois, que as remoes de CT e de oocistos tenham-se dado por
mecanismos similares, incluindo provavelmente mecanismos biolgicos. Essa hiptese
v-se reforada pela deteco na camada biolgica dos ltros (PFPA e FLA) de orga-
nismos reconhecidamente ou potencialmente predadores de oocistos de Cryptospori-
dium, conforme ilustrado na Figura 4.11.
4.6. Consideraes nais
Os projetos descritos neste captulo tinham dentre seus objetivos somar informaes
literatura nacional e internacional sobre o potencial de remoo de oocistos de Cryptos-
poridium por meio de diversas tcnicas de tratamento, segundo a prtica brasileira.
Nos ensaios da UFV em escala piloto (decantador de baixa taxa com escoamento
vertical - TAS 20 m/m.d), a remoo mdia de oocistos na decantao variou de
0,25-0,89 log, sendo o valor mais baixo relativo aos perodos iniciais de cada car-
reira de tratamento. Nas pesquisas da UFMG/Copasa, tambm em instalao piloto,
a remoo mdia variou, em valores aproximados, de 1,8-2,5 log no decantador
de alta taxa (TAS = 80 m/m.d) e de 2-2,5 log no decantador de baixa taxa com
escoamento vertical (TAS = 20 m/m.d). Assumindo que os valores mais baixos
dos resultados obtidos na UFV podem estar associados retomada de operao da
ETA piloto aps perodos prolongados de inatividade, considera-se que o conjunto
de resultados obtidos nos dois estudos conrma, com certa folga, os crditos atri-
budos pela EPA de 0,5 log de remoo de oocistos na decantao e at mesmo o
potencial de remoo mais elevada registrado em vrios trabalhos na literatura in-
ternacional (1-2 log) para esse tipo de unidade. Destaca-se ainda, como importante
contribuio, o desempenho alcanado pelo decantador de alta taxa, similar ao da
decantao convencional.
Nos ensaios da UFV com tratamento convencional em escala piloto (Tf 220 m/m.d),
a remoo mdia de oocistos variou entre 0,91-1,87 log (mdia de 1,38 log). Nos ensaios
FONTE: TAIRA (2008).
Figura 4.10
Associao (teste de regresso) entre valores de log - remoo de coliformes
totais e de oocistos de Cryptosporidium nas duas fases experimentais
(taxa de ltrao de 3 e 6 m
3
/m
2
.d). (a) FLA1; (b) PFPA+FLA2
na Instalao Piloto UnB
A B
FONTE: TAIRA (2008).
Figura 4.11
Principais classes de protozorios e metazorios encontrados em amostras
de camadas biolgicas do FLA1, Instalao Piloto da UnB
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 143
log) de quando os ltros lentos j apresentavam algum grau de amadurecimento. A
remoo de CT no FLA1 tambm tendeu a ser menor nos experimentos sem amadure-
cimento. Entretanto, essa tendncia no foi vericada no conjunto PFPA+FLA2, pois as
remoes de CT se mantiveram similares, independentemente do FLA2 ter sido ou no
submetido a perodo de amadurecimento.
Em resumo, os resultados no permitiram o estabelecimento de relao ntida entre
as remoes de turbidez e de oocistos de Cryptosporidium. Por outro lado, foram reu-
nidos indcios de que euentes com valores mais baixos de turbidez (<1 uT) tendem
a apresentar presena de oocistos com menor frequncia. Alm disso, a remoo de
oocistos mostrou-se associada de CT, a qual, por sua vez, pode ser associada de
turbidez. Sugere-se, pois, que as remoes de CT e de oocistos tenham-se dado por
mecanismos similares, incluindo provavelmente mecanismos biolgicos. Essa hiptese
v-se reforada pela deteco na camada biolgica dos ltros (PFPA e FLA) de orga-
nismos reconhecidamente ou potencialmente predadores de oocistos de Cryptospori-
dium, conforme ilustrado na Figura 4.11.
4.6. Consideraes nais
Os projetos descritos neste captulo tinham dentre seus objetivos somar informaes
literatura nacional e internacional sobre o potencial de remoo de oocistos de Cryptos-
poridium por meio de diversas tcnicas de tratamento, segundo a prtica brasileira.
Nos ensaios da UFV em escala piloto (decantador de baixa taxa com escoamento
vertical - TAS 20 m/m.d), a remoo mdia de oocistos na decantao variou de
0,25-0,89 log, sendo o valor mais baixo relativo aos perodos iniciais de cada car-
reira de tratamento. Nas pesquisas da UFMG/Copasa, tambm em instalao piloto,
a remoo mdia variou, em valores aproximados, de 1,8-2,5 log no decantador
de alta taxa (TAS = 80 m/m.d) e de 2-2,5 log no decantador de baixa taxa com
escoamento vertical (TAS = 20 m/m.d). Assumindo que os valores mais baixos
dos resultados obtidos na UFV podem estar associados retomada de operao da
ETA piloto aps perodos prolongados de inatividade, considera-se que o conjunto
de resultados obtidos nos dois estudos conrma, com certa folga, os crditos atri-
budos pela EPA de 0,5 log de remoo de oocistos na decantao e at mesmo o
potencial de remoo mais elevada registrado em vrios trabalhos na literatura in-
ternacional (1-2 log) para esse tipo de unidade. Destaca-se ainda, como importante
contribuio, o desempenho alcanado pelo decantador de alta taxa, similar ao da
decantao convencional.
Nos ensaios da UFV com tratamento convencional em escala piloto (Tf 220 m/m.d),
a remoo mdia de oocistos variou entre 0,91-1,87 log (mdia de 1,38 log). Nos ensaios
GUAS 144
os estudos da UFMG/Copasa revelaram, entretanto, resultados promissores sobre o
emprego de microesferas, restrito, porm ao papel de parmetros substitutos em es-
tudos e pesquisas e no propriamente de indicadores em monitoramento de rotina de
estaes de tratamento; (v) no projeto com ltrao lenta (UnB), embora os coliformes
totais tenham se mostrado indicadores mais adequados que a turbidez, exemplo da
ltrao rpida, os resultados sugerem que a produo de gua ltrada com baixa
turbidez constitui sim medida preventiva, neste caso, com valores inferiores a 1 uT.
Em suma, h subsdios para inferir que valores de turbidez euente de 1 uT e 2 uT,
respectivamente para a ltrao rpida e lenta, no constituem barreira de proteo
efetiva no que diz respeito remoo de oocistos de Cryptosporidium.
Referncias bibliogrcas
ABOYTES, R. et al. Detection of infectious Cryptosporidium in ltered drinking water. Journal of
the American Water Works Association, v. 96, n. 9, p. 88-98, 2004.
BASTOS, R.K.X.; BEVILACQUA, P.D.; KELLER, R. Organismos patognicos e efeitos sobre a sade
humana. In: GONLALVES, R.F. (org.). Desinfeco de esgotos sanitrios. Rio de Janeiro: ABES,
2003, p. 27-88.
BASTOS, R.K.X. et al. Reviso da Portaria n 36 GM/90. Premissas e princpios norteadores. In: 21
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL. 2001, Joo Pessoa. Anais...
Rio de Janeiro: ABES, 2001 (CD-ROM).
BAUDIN, I.; LAN, J.M. Assessment and optimization of clarication process for Cryptosporidium
removal. In: WATER QUALITY TECHNOLOGY CONFERENCE. 1998, San Diego. Proceedings... San
Diego: AWWA, 1998.
BELLAMY, W.D.; HENDRICKS, D.W.; LOGSDON, G.S. Slow sand ltration: inuences of selected
process variables. Journal of the American Water Works Association, v. 77, n. 12, p. 62-66, 1985.
BELLAMY, W.D. et al. Removing Giardia cysts with slow sand ltration. Journal of the American
Water Works Association, v. 77, n. 2, p. 52-60, 1985.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n. 518, de 25 de maro de 2004. Estabelece os procedimen-
tos e responsabilidades relativas ao controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo
humano e seu padro de potabilidade e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, 26 mar.
2004, Seo 1, p. 266.
BROWN, R.A.; CORNWELL, D.A. Using spore removal to monitor plant performance for Cryptospo-
ridium removal. Journal of the American Water Works Association, v. 99, n. 3, p. 95-109, 2007.
CERQUEIRA, D.A. Remoo de oocistos de Cryptosporidium e indicadores no tratamento de gua
por ciclo completo, ltrao direta descendente e dupla ltrao, em escala piloto. 2008. Tese
(Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hdricos) - Programa de Ps-graduao
em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hdricos, Escola de Engenharia, Universidade Federal
de Minas Gerais, 2008.
realizados na instalao piloto da UFMG/Copasa, a remoo mdia foi de aproxima-
damente 2,6-2,7 log para as diversas tcnicas de ltrao testadas (tratamento con-
vencional, ltrao direta e dupla ltrao, Tf = 180-220 m/m.d). Assumindo que os
resultados da UFV podem embutir subestimativas (ver discusso ao nal do item 4.5.1.2),
considera-se que o conjunto dos resultados no necessariamente contradiz o registrado
na literatura e assumido na norma dos EUA para o tratamento convencional (3 log de
remoo), embora, rigorosamente, tenham cado aqum desse valor. Os resultados da
UFMG/Copasa corroboram, entretanto, a remoo esperada para a ltrao direta de
2,5 log de remoo e adicionam informaes, ainda pouco discutidas na literatura, sobre
alcance similar apresentado pela dupla ltrao (ltrao em pedregulho e areia).
H que se ressaltar a ampla variao dos resultados encontrados entre os experi-
mentos conduzidos na UFV e na UFMG, muito provavelmente por conta de condies
operacionais e analtico-laboratoriais distintas. No entanto, h que se notar que isso
tambm foi vericado entre os prprios experimentos da UFMG: 1,80 a 2,5 log de re-
moo de oocistos na decantao e 2,6 log no tratamento convencional (decantao
+ ltrao), sendo que ambos foram conduzidos na mesma instalao piloto e com o
emprego da mesma tcnica analtica de laboratrio.
Finalmente, o trabalho da UnB indicou claramente o potencial da ltrao lenta na re-
moo de oocistos de Cryptosporidium ( 3 log), conrmando o assumido pela USEPA
para essa tcnica de tratamento. O projeto da UnB contribuiu tambm com informa-
es, at ento pouco disponveis na literatura, sobre o potencial de remoo de oo-
cistos na pr-lltrao em pedregulho: 1,6 log no pr-ltro e 3,7 log no conjunto
pr-ltro + ltro lento de areia (valores mdios).
Outro dos objetivos centrais dos projetos era contribuir com a discusso sobre o em-
prego de indicadores da remoo de oocistos de Cryptosporidium (em particular a
turbidez) por meio dos processos de tratamento de gua estudados. Embora nenhum
dos trabalhos tenha logrado estabelecer relaes numricas ntidas entre ecincias
de remoo de oocistos de Cryptosporidium e de turbidez, tampouco entre valores nu-
mricos de turbidez e a ocorrncia oocistos na gua ltrada, o conjunto dos resultados
permitiu observaes importantes: (i) nos dois projetos envolvendo ltrao rpida
(UFV e UFMG/Copasa), as remoes de oocistos de Cryptosporidium e de turbidez
apresentaram valores absolutos prximos (log de remoo); (ii) estes dois projetos
reuniram evidncias de que a produo de gua ltrada com baixa turbidez constitui
medida preventiva, em ambos os casos valores inferiores a 0,5 uT ou mesmo 0,3 uT;
(iii) outros indicadores testados revelaram-se menos adequados que a turbidez: con-
tagem de partculas (UFV), esporos de Bacillus subtilis (UFMG/Copasa), em ambos os
casos ltrao rpida, e Clostridium perfringens (UnB), no caso da ltrao lenta; (iv)
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 145
os estudos da UFMG/Copasa revelaram, entretanto, resultados promissores sobre o
emprego de microesferas, restrito, porm ao papel de parmetros substitutos em es-
tudos e pesquisas e no propriamente de indicadores em monitoramento de rotina de
estaes de tratamento; (v) no projeto com ltrao lenta (UnB), embora os coliformes
totais tenham se mostrado indicadores mais adequados que a turbidez, exemplo da
ltrao rpida, os resultados sugerem que a produo de gua ltrada com baixa
turbidez constitui sim medida preventiva, neste caso, com valores inferiores a 1 uT.
Em suma, h subsdios para inferir que valores de turbidez euente de 1 uT e 2 uT,
respectivamente para a ltrao rpida e lenta, no constituem barreira de proteo
efetiva no que diz respeito remoo de oocistos de Cryptosporidium.
Referncias bibliogrcas
ABOYTES, R. et al. Detection of infectious Cryptosporidium in ltered drinking water. Journal of
the American Water Works Association, v. 96, n. 9, p. 88-98, 2004.
BASTOS, R.K.X.; BEVILACQUA, P.D.; KELLER, R. Organismos patognicos e efeitos sobre a sade
humana. In: GONLALVES, R.F. (org.). Desinfeco de esgotos sanitrios. Rio de Janeiro: ABES,
2003, p. 27-88.
BASTOS, R.K.X. et al. Reviso da Portaria n 36 GM/90. Premissas e princpios norteadores. In: 21
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL. 2001, Joo Pessoa. Anais...
Rio de Janeiro: ABES, 2001 (CD-ROM).
BAUDIN, I.; LAN, J.M. Assessment and optimization of clarication process for Cryptosporidium
removal. In: WATER QUALITY TECHNOLOGY CONFERENCE. 1998, San Diego. Proceedings... San
Diego: AWWA, 1998.
BELLAMY, W.D.; HENDRICKS, D.W.; LOGSDON, G.S. Slow sand ltration: inuences of selected
process variables. Journal of the American Water Works Association, v. 77, n. 12, p. 62-66, 1985.
BELLAMY, W.D. et al. Removing Giardia cysts with slow sand ltration. Journal of the American
Water Works Association, v. 77, n. 2, p. 52-60, 1985.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n. 518, de 25 de maro de 2004. Estabelece os procedimen-
tos e responsabilidades relativas ao controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo
humano e seu padro de potabilidade e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, 26 mar.
2004, Seo 1, p. 266.
BROWN, R.A.; CORNWELL, D.A. Using spore removal to monitor plant performance for Cryptospo-
ridium removal. Journal of the American Water Works Association, v. 99, n. 3, p. 95-109, 2007.
CERQUEIRA, D.A. Remoo de oocistos de Cryptosporidium e indicadores no tratamento de gua
por ciclo completo, ltrao direta descendente e dupla ltrao, em escala piloto. 2008. Tese
(Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hdricos) - Programa de Ps-graduao
em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hdricos, Escola de Engenharia, Universidade Federal
de Minas Gerais, 2008.
GUAS 146
COFFEY, B.M. et al. The effect of optimizing coagulation on the removal of Cryptosporidium
parvum and Bacillus subtilis. In: WATER QUALITY TECHNOLOGY CONFERENCE. 1999, Tampa, USA.
Proceedings... Tampa: AWWA, 01 nov. 1999.
CONNELLY, S.J. et al. Impact of zooplankton grazing on the excystation, viability, and infectivity of
protozoan pathogens Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia. Applied and Environmental
Microbiology, v. 73, n. 22, p. 7277-7282, 2007.
DAI, X.; BOLL, J. Settling velocity of Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia. Water Resear-
ch, v. 40, p. 1321-1325, 2006.
DAI, X.; HOZALSKI, R.M. Evaluation of microespheres as surrogates for Cryptosporidium parvum
oocysts in ltration experiments. Environmental Science and Technology, v. 37, n. 5, p. 1037-
1042, 1, 2003.
DeLOYDE, J.L. et al. Removal of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts by pilot scale multi-
stage slow sand ltration. In: GIMBEL, E.; GRAHAM, N.J.D.; COLINS, M.R. (eds.) Recent progress in
slow sand and alternative bioltration processes. Londres: IWA Publishing, 2006. p.133-142.
DWI - DRINKING WATER INSPECTORATE. The Water Supply (Water Quality) Regulations 2000
(Amendment) Regulations 2007. Statutory Instrument No. 2734. 2007. Disponvel em: <http://
www.dwi.gov.uk/regs/regulations.shtm> Acesso em: 31 out. 2008.
______. Water Supply (Water Quality) Regulations. Statutory Instrument No. 3184. Londres:
HMSO, 2000. Disponvel em: <http://www.dwi.gov.uk/regs/regulations.shtm> Acesso em: 31 out.
2008.
DUGAN N.R. et al. Controlling Cryptosporidium oocysts using conventional treatment. Journal of
the American Water Works Association, v. 93, n. 12, p. 64-76, 2001.
DUGAN, N.R.; WILLIAMS, D.J. Removal of Cryptosporidium by in-line ltration: effects of co-
agulant type, lter loading rate and temperature. Journal of Water Supply: Research Technology
-Aqua, n. 53, p. 1-15, 2004.
DULLEMONT, Y.J. et al. Removal of microorganisms by slow sand ltration. In: GIMBEL, E.;
GRAHAM, N.J.D.; COLINS, M.R. (eds) Recent progress in slow sand and alternative bioltration
processes. Londres: IWA Publishing, 2006. p. 12-20.
EMELKO, M.B.; HUCK, P.M.; COFFEY, B.M. A review of Cryptosporidium removal by granular media
ltration. Journal of the American Water Works Association, v. 91, n. 12, p. 101-115, 2005.
EMELKO, M.B.; HUCK, P.M.; DOUGLAS, I.P. Cryptosporidium and microsphere removal during late in-
cycle ltration. Journal of the American Water Works Association, v. 95, n. 5, p. 173-182, 2003.
EMELKO, M.B. et al. Cryptosporidium and microsphere removal during low turbidity end-of-run
and early breakthrough ltration. In: WATER QUALITY TECHNOLOGY CONFERENCE. 2000. Salt
Lake City, USA. Proceedings... Salt Lake City: AWWA, 2000.
FAGUNDES, A.P. Remoo de oocistos de Cryptosporidium por ltrao direta: inuncia de al-
guns fatores operacionais. 2006. 148 f. Dissertao (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recur-
sos Hdricos) - Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Univer-
sidade de Braslia, 2006.
FERNANDES, N.M.G. Inuncia do pH de coagulao e dosagem de sulfato de alumnio na remo-
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 147
o de oocistos de Cryptosporidium por ltrao direta descendente. 2007. 144 f. Dissertao
(Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hdricos) - Faculdade de Tecnologia, Departa-
mento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Braslia, 2007.
FOGEL, D. et al. Removing Giardia and Cryptosporidium by slow sand ltration. Journal of the
American Water Works Association, v. 85, n. 11, p. 77-84, 1993.
FRANCO, R.M.B.; ROCHA-EBERHARDT, R.; CANTUSIO NETO, R. Occurrence of Cryptosporidium oo-
cysts and Giardia cysts in raw water from the Atibaia river, Campinas, Brazil. Revista do Instituto
de Medicina Tropical de So Paulo, v. 43, p. 109-111, 2001.
HAARHOFF, J.; CLEASBY, J.L. Biological and physical mechanisms in slow sand ltration. In: LOGS-
DON, G. (ed.) Slow Sand Filtration. Oregon: American Society of Civil Engineers, 1991. p. 19-68.
HAAS, C.N.; ROSE, J.B.; GERBA, C.P. Quantitative microbial risk assessment. Nova Iorque: John
Wiley & Sons, 1999.
HAMILTON, P.D.; STANDEN, G.; PARSONS, S.A. Using particle monitors to minimise Cryptospo-
ridium risk: a review. Journal of Water Supply: Research and Technology AQUA, v. 51, n. 7, p.
351-364, 2002.
HASHIMOTO, A.; HIRATA, T.; KUNIKANE, S. Occurrence of Cryptosporidium oocysts and Giardia
cysts in a conventional water purication plant. Water Science and Technology, v. 43. n. 12, p.
89-92, 2001.
HEALTH CANADA. Federal Provincial Territorial Committee on Drinking Water. Guidelines for Ca-
nadian drinking water quality. Summary table. Ottawa: Health Canada, 2008. Disponvel em:
<http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/water-eau/sum_guide-
res_recom/summary-sommaire-eng.pdf> Acesso em: 25 jan. 2009
______. Federal Provincial Territorial Committee on Drinking Water. Guidelines for Canadian
drinking water quality. Part I Approach to the derivation of drinking water guidelines. Ottawa:
Health Canada, 1995.
HELLER, L. et al. Desempenho da ltrao lenta em areia submetida a cargas de pico de oocistos
de Cryptosporidium sp, bactrias e slidos: uma avaliao em instalao piloto. Engenharia Sa-
nitria e Ambiental, v. 11, n. 1, p. 27-38, 2006.
HUCK, P.M. et al. Effects of lter operation on Cryptosporidium removal. Journal of the American
Water Works Association, v. 94, n. 6, p. 97-11, 2002.
KARANIS, P.; KOURENTI. C.; SMITH, H. Waterborne transmission of protozoan parasites: a worl-
dwide review of outbreaks and lessons learnt. Journal of Water and Health, v. 5, n. 1, p. 1-38,
2007.
LeCHEVALLIER, M.W.; AU, K.-K. Water treatment and pathogen control: process efciency in
achieving safe drinking water. Genebra: IWA Publishing, 2004.
LeCHEVALLIER, M.W.; NORTON, W.D. Examining relationships between particle counts and Giar-
dia, Cryptosporidium, and turbidity. Journal of the American Water Works Association, v. 84, n.
12, p. 54-60, 1992.
LeCHEVALLIER, M.W.; NORTON, W.D.; LEE, R.G. Giardia and Cryptosporidium spp. in ltered drinking
water supplies. Applied and Environmental Microbiology, v. 57, n. 9, p. 2617-2621, 1991.
GUAS 148
LETTERMAN, R.D. Further discussion of conscientious particle counting. Journal of the American
Water Works Association, v. 93, n. 4, p. 182-183, 2001.
LI, S. et al. Reliability of surrogates for determining Cryptosporidium removal. Journal of the
American Water Works Association, v. 89, n. 5, p. 90-99, 1997.
LOPES, G.J.R. Avaliao da turbidez e do tamanho de partculas como parmetros indicadores da
remoo de oocistos de Cryptosporidium spp. nas etapas de claricao no tratamento da gua
em ciclo completo. 2008. 144 f. Dissertao (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Ps-
Graduao em Engenharia Civil - Universidade Federal de Viosa, 2008.
MARA, D.D. Cryptosporidium a reasonable risk? Water 21, n. 4, p. 34, 2000.
MEDEMA, G.J. et al. Sedimentation of free and attached Cryptosporidium oocysts and Giardia
cysts in water. Applied and Environmental Microbiology, v. 64, n. 11, p. 4460-4466, 1998.
NIEMINSKI, E.C. Removal of Cryptosporidium and Giardia through conventional water treatment
and direct ltration. Project Summary. Cincinnati: USEPA, National Risk Management Research
Laboratory, 1997 (EPA/600/SR-97/025). Disponvel em: <http://www.p2pays.org/ref/07/06392.
pdf> Acesso em: 23 nov. 2008.
NIEMINSKI, E.C.; ONGERTH, J.E. Removing Giardia and Cryptosporidium by conventional treat-
ment and direct ltration. Journal of the American Water Works Association, v. 87, n. 9, p. 96-106,
1995.
OMELIA, C.R. Particles, pretreatment, and performance in water ltration. Journal of Envirnon-
mental Engineering, v. 111, n. 6, p. 874-887, 1985.
ONGERTH, J.E.; PERCORARO, J.P. Eletrophoretic mobility Cryptosporidium oocysts and Giardia
cysts. Journal of Envirnonmental Engineering, v. 123, n. 3, p. 222-231, 1996.
______. Removing Cryptosporidium using multimedia lters. Journal of the American Water
Works Association, v. 87, n. 12, p. 83-89, 1995.
PATANIA, N. et al. Optimization of ltration for cyst removal. Denver: Awwarf, 1995.
PERALTA, C.C. Remoo do indicador Clostridium perfringens e de oocistos de Cryptosporidium
parvum por meio da ltrao lenta avaliao em escala piloto. 2005. 84 f. Dissertao (Mestra-
do em Tecnologia Ambiental e Recursos Hdricos) - Faculdade de Tecnologia, Departamento de
Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Braslia, 2005.
SADAR, M. Turbidimeter Instrument comparison: low-level sample measurements. Loveland:
Hach Company, 1999. (Technical Information Series p/dp 4/99 1. ed. rev1 D90.5 Lit N 7063). Dis-
ponvel em:<http://www.hach.com/fmmimghach?/CODE%3AL7063548%7C1> Acesso em: 23
set. 2008.
SCHULER, P.F.; GHOSH, M.M.; GOPALAN, P. Slow sand and diatomaceous earth ltration of cysts
and other particulates. Water Research, v. 25, n. 8, p. 995-1005, 1991.
SHAW, K.; WALKER, S.; KOOPMAN, B. Improving ltration of Cryptosporidium. Journal of the
American Water Works Association, v. 92, n. 11, p. 103-111, 2000.
SILVA, C.F. Comparao da ecincia da decantao na remoo de oocistos e de indicadores
fsicos de cryptosporidium parvum em guas de abastecimento - estudo em escala piloto. Disser-
tao (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hdricos) - Programa de Ps-gra-
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE PROTOZORIOS 149
duao em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hdricos, Escola de Engenharia, Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.
STATES, S. et al. Enhanced coagulation and removal of Cryptosporidium. Journal of the American
Water Works Association, v. 94, n. 11, p. 67-77, 2002.
STOTT, R. et al. Predation of Cryptosporidium oocysts by protozoa and rotifers: implications for
water quality and public health. Water Science and Technology, v. 47, p. 77-88, 2003.
TAIRA, R. Remoo de oocistos de Cryptosporidium na ltrao lenta, precedida ou no de ltra-
o ascendente em pedregulho. 2008. 171 f. Dissertao (Mestrado em Tecnologia Ambiental e
Recursos Hdricos) - Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental,
Universidade de Braslia, 2008.
USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. National Primary Drinking Wa-
ter. Regulations: long term 2 enhanced surface water treatment rule; nal rule. Federal Register
Part II 40CFR, Parts 9, 141 and 142. 05 jan. 2006.
______. Ofce of Water. Method 1623: Cryptosporidium and Giardia in water by ltration/IMS/
FA. 2005. 76 p (EPA 815-R-05-002) Disponvel em: <http://www.epa.gov/microbes/>. Acesso em:
20 out. 2008
______. National Primary Drinking Water Regulations: Long Term 1 Enhanced Surface Water
Treatment Rule; Final Rule. Federal Register. 67 FR 1812. (EPA 815Z02001). 14 jan. 2002.
______. Guidance manual for compliance with the interim enhanced surface water treatment
rule. Turbidity provisions. Washington-DC: USEPA, 1999 (EPA 815-R 99-010).
______. National Primary Drinking Water Regulations: interim enhanced surface water treat-
ment; nal rule. Part V (40 CFR, Parts 9, 141, and 142). Washington, DC. Federal Register, Rules
and Regulations. v. 613, n. 241. 16 dez. 1998, p. 69479-69521.
______. Guidance manual for compliance with the ltration and disinfection requirements for
public water systems: using surface water sources. Washington, DC: USEPA, 1991. Disponvel em:
< http://www.epa.gov/safewater/mdbp/guidsws.pdf > Acesso em: 25 nov. 2008
______. National Primary Drinking Water Regulations. Filtration, disinfection, turbidity, Giardia
lamblia, viruses, Legionella, and heterotrophic bacteria; nal rule. Part III. Federal Register (54 FR
27486), 1989.
VESEY, G. et al. A new method for the concentration of Cryptosporidium oocysts from water.
Journal of Applied Bacteriology, v. 75, p. 82-86, 1993.
VIEIRA, M.B.C.M. Avaliao da ecincia da ltrao lenta na remoo de oocistos de Cryptospo-
ridium sp. e cistos de Giardia spp. 2002. 224 f. Tese (Doutorado em Cincia Animal) Escola de
Veterinria, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002.
WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for drinking water quality [electronic re-
source]: incorporating rst addendum. v. 1, Recommendations. 3. ed. Genebra: WHO, 2006. 595p.
Disponvel em: <http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq0506.pdf> Acesso em:
19 ago. 2008.
XAGAROKAI, I. et al. Removal of emerging waterborne pathogens and pathogens indicators.
Journal of the American Water Works Association, v. 96, n. 5, p. 102-113, 2004.
GUAS 150
Notas
1 Tratamento convencional e tratamento de ciclo completo so termos utilizados na literatura com
o mesmo signicado. Ao longo deste captulo optou-se pelo primeiro, esclarecendo, entretanto, que
aqui seu emprego refere-se aos processos de claricao (decantao e ltrao) que integram o ciclo
completo.
2 USEPA (2006) apresenta valores tabelados de Ct (dose x tempo de contato) para dixido de cloro e
oznio, e de dose no caso da radiao UV (mJ/cm
2
), para ecincias variadas de inativao de oocistos de
Cryptosporidium (log inativao).
3 Da sigla inglesa DALYs Disability Adjusted Life Years, ou anos de vida perdidos ajustados por incapa-
cidade, o que corresponde, aproximadamente, a nvel de risco de 10-3-10-4 (ver captulo 9).
Os problemas operacionais que ocorrem em estaes de tratamento que aduzem
guas de mananciais com presena de microalgas e cianobactrias (diculdade de
coagulao e oculao, baixa ecincia do processo de sedimentao, colmatao
dos ltros e aumento da demanda de produtos para a desinfeco, entre outros) so
relatados por tcnicos e pesquisadores da rea de saneamento h mais de quatro
dcadas. Porm, foi a partir da dcada de 1980 que cresceu a preocupao com os
aspectos de sade pblica associados presena desses organismos toplanctnicos
na gua auente s estaes de tratamento de guas (ETAs). Essa preocupao atri-
buda a dois fatores: o reconhecimento de que as microalgas e cianobactrias, e seus
subprodutos extracelulares, so potenciais precursores de subprodutos indesejados
da desinfeco, particularmente clorao; e o fato de alguns gneros e espcies de
cianobactrias terem a capacidade de produzir toxinas (cianotoxinas).
Como consequncia, na dcada de 1980 se intensicaram as pesquisas em que diferen-
tes processos, tcnicas e sequncias de tratamento eram avaliados quanto a capacidade
de remover cianobactrias e cianotoxinas (KEIJOLA et al., 1988; FALCONER et al., 1989;
HIMBERG et al., 1989; entre outros). Parte signicativa desses trabalhos se restringia a
vericar a ecincia de remoo de clulas e toxinas, sem preocupao maior em relao
aos fenmenos envolvidos na remoo. Com base nesses estudos, j em 1994, pesqui-
sadores de diversas partes do mundo, reunidos em um seminrio realizado na Austrlia,
reconheciam que as tecnologias baseadas na coagulao qumica alcanavam elevadas
5Tratamento de gua e Remoo
de Cianobactrias e Cianotoxinas
Cristina Celia Silveira Brando, Renata Iza Mondardo,
Rafael Kopschitz Xavier Bastos, Edson Pereira Tangerino
GUAS 152
remoes de clulas de cianobactrias, quando otimizadas para tal, mas apresentavam
baixa ecincia de remoo das cianotoxinas dissolvidas. Segundo Steffensen e Nichol-
son (1994), entre vrias recomendaes do referido seminrio, indicava-se a necessidade
de: avaliar se os processos clssicos de tratamento so capazes de remover as clulas de
forma intacta (ou seja, vericar a ocorrncia de lise nas diferentes etapas do tratamen-
to); comparar os processos de otao e sedimentao para garantir maior remoo de
clulas; aprimorar o uso da ps-oxidao e/ou da adsoro em carvo ativado como
modo de, conjuntamente com as sequncias de tratamento que se utilizam da coa-
gulao, promover a eciente remoo de cianotoxinas dissolvidas. O reconhecimento
das limitaes do tratamento convencional tambm fomentou o desenvolvimento de
pesquisas com outros processos, como a ltrao lenta, a ltrao em carvo biologica-
mente ativo e a ltrao em margem, alm de separao por membranas.
Nesse contexto, o presente captulo aborda os resultados obtidos como parte das pes-
quisas desenvolvidas no Prosab 5, que avaliam a remoo de cianobactrias e/ou ciano-
toxinas por meio do tratamento convencional, ltrao lenta e ltrao em margem.
5.1 Remoo de cianobactrias e cianotoxinas
por meio das tcnicas mais usuais de tratamento de gua
5.1.1 Sistemas convencionais e suas variantes
Para efetiva remoo de clulas de cianobactrias nos processos de separao slido-
lquido adotados no tratamento de gua (sedimentao, otao, ltrao rpida), as
etapas de coagulao e oculao devem ser otimizadas.
Os mecanismos de desestabilizao (coagulao) das microalgas e cianobactrias,
segundo Benhardt e Clasen (1991), so os mesmos que atuam no caso de partculas
inorgnicas, mas so dependentes da estrutura desses organismos. Esses autores re-
latam que, ao passo que microalgas e cianobactrias que so mais ou menos esfricas
e com superfcies suaves podem ser desestabilizadas pelo mecanismo de adsoro e
neutralizao de cargas, estruturas no esfricas, grandes ou lamentosas necessitam
de dosagens elevadas de coagulante, resultando na predominncia do mecanismo de
varredura. Benhardt e Clasen (1991 e 1994) ressaltam que para que a agregao das
clulas de microalgas e cianobactrias seja efetiva, estas devem possuir estrutura geo-
mtrica adequada e que exclua a interao estrica. Entretanto, devido grande varie-
dade de formas de clulas, no possvel satisfazer tal requisito para todas as espcies
de microalgas e cianobactrias e, por essa razo, os referidos autores sugerem que mais
investigaes sejam conduzidas sobre a inuncia das estruturas das clulas na coagu-
lao e separao desses organismos.
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 153
Dentre as diferentes variantes das sequncias de tratamento que envolvem a coagu-
lao qumica, a ltrao direta a que maiores problemas operacionais enfrenta ao
tratar guas com elevada densidade de toplncton. De modo geral, nessa condio
de gua bruta, os estudos realizados (MOUCHET; BONNLYE, 1998; SENS et al., 2002,
2003, 2006; Di BERNARDO et al., 2006; entre outros) indicam que para melhorar o
desempenho dessa tcnica faz-se necessrio a introduo de etapa de pr-oxidao, o
que, por sua vez, causa preocupao relativa gerao de subprodutos potencialmen-
te prejudiciais sade humana.
Mouchet e Bonnlye (1998) destacam que a remoo de microalgas e cianobactrias
na ltrao direta varia consideravelmente (10 a 70%) em funo da espcie presen-
te na gua e das caractersticas de projeto e operao do ltro. Os autores relatam
que a pr-oxidao, combinando perxido de hidrognio com oznio, foi capaz de
promover melhora aprecivel no desempenho da ltrao direta, resultando em re-
moo de microalgas superior a 99% (remoo de 93% foi obtida sem aplicao de
oznio e de 95,3% usando apenas oznio). Apesar dos bons resultados, os autores
concluram que a aplicao da ltrao direta na remoo de microalgas e ciano-
bactrias deve ser restrita a situaes especcas, sempre precedida por estudos em
escala piloto.
A preocupao manifestada por Mouchet e Bonnlye (1998) reforada pelos resultados
apresentados por Schmidt et al. (2002), que, em avaliao em escala piloto da ltrao
direta aplicada ao tratamento da gua de manancial mesotrco (presena de Plankto-
thrix rubescens produtora de microcistinas), observaram que a pr-ozonizao no pro-
moveu melhora na ecincia da ltrao direta (73 a 93% de remoo de microcistinas
total, em comparao com 87 a 94% sem pr-oxidao), ao passo que o uso do perman-
ganato de potssio redundou em efeito negativo (31 a 59% de remoo). Por outro lado,
a associao da pr-ozonizao com adio de carvo ativado em p (CAP) promoveu
resultados consistentes e elevada remoo de microcistinas total (95 a 97%). Entretan-
to, merece destaque o fato de que a simples introduo do CAP (sem pr-ozonizao)
redundou em elevada remoo de microcistinas (92-99%) na ltrao direta. Por sua
vez, deve-se considerar tambm a inuncia do uso de CAP na reduo da durao da
carreira de ltrao. Os autores ressaltam ainda que com o uso da pr-oxidao foi ob-
servada liberao de toxinas durante as etapas de oculao e ltrao. De fato, vrios
autores (HART et al., 1998; HRUDEY et al., 1999; LAM et al., 1995; entre outros) destacam
o risco da adoo da pr-oxidao, pois o uso de doses de oxidante no otimizadas pode
promover a lise celular, problema este agravado pela reconhecida baixa ecincia de
remoo da toxina dissolvida pelos processos baseados na coagulao.
Jurczak et al. (2005) analisaram, em escala real, a ecincia de remoo de microcisti-
GUAS 154
nas em uma ETA de ltrao direta com pr-oxidao e em uma ETA convencional. O
coagulante utilizado era base de alumnio e ambas as tcnicas se mostraram efetivas,
praticamente no sendo detectadas microcistinas na maioria das amostras coletadas no
euente dos ltros de cada ETA. Importante mencionar que praticamente toda microcis-
tina quanticada estava presente no interior das clulas e, desta forma, o desempenho
observado diz respeito remoo de clulas. Dados relativos quanticao das clulas
durante o monitoramento das ETAs no foram apresentados; entretanto, os dados de
microcistina intracelular (entre 0,05 e cerca de 3 g/L na gua bruta das duas ETAs)
sugerem que a gua bruta apresentava moderada presena de Microcystis.
No Brasil, Sens e colaboradores (2002; 2003; 2006), estudaram, em escala piloto, como
parte das pesquisas nanciadas com recursos dos Editais 3 e 4 do Prosab, o desempe-
nho da ltrao direta ascendente e da ltrao direta descendente no tratamento de
manancial com elevada densidade de cianobactrias (predomonncia de Cylindrosper-
mopsis raciborskii). A inuncia de diferentes tipos de coagulante (sulfato de alumnio
e hidroxicloreto de alumnio PAC) e de pr-tratamento da gua (micropeneiramento,
pr-clorao, pr-ozonizao) no desempenho dos ltros foi avaliada. Na ltrao
direta descendente, trs meios ltrantes foram testados (dois de camada praticamente
uniforme de antracito -
efet
de 2,5 e 3 mm e um de dupla camada antracito com
efet
de 1,1 mm, sobre areia com
efet
de 0,5 mm) e, na ltrao direta ascendente,
somente um meio ltrante (areia -
efet
de 0,71 mm). Todos os ltros foram operados
com taxa constante de 200 m
3
/m
2
.d e, no caso da ltrao ascendente, a operao foi
realizada com e sem descargas de fundo intermedirias
De modo geral, nos experimentos iniciais, sem pr-tratamento, Sens e colaborado-
res observaram que, independentemente do coagulante adotado, o ltro descendente
com meio ltrante de camada de antracito (
efet
= 2,5 mm) apresentou melhor de-
sempenho que os demais ltros descendentes e tambm superior ao ltro ascendente
maior durao da carreira de ltrao e melhor ou similar qualidade do ltrado.
Tanto na ltrao descendente como na ltrao ascendente, o uso do PAC promoveu
carreiras de ltrao com durao mais curtas do que as resultantes do uso do sulfato
de alumnio. A adoo das descargas de fundo intermedirias, por sua vez, promoveu
considervel aumento na durao da carreira de ltrao no ltro ascendente e levou
produo de ltrado com menor variao de qualidade.
A pr-clorao e a pr-ozonizao produziram impactos positivos tanto na filtra-
o descendente como ascendente, sendo que, como esperado, a pr-ozonizao
se mostrou mais efetiva, com aumento de cerca de 40% na durao da carreira de
filtrao do filtro descendente de camada nica e de cerca de 50% para o filtro
ascendente, maiores eficincias de remoo de fitoplncton e menor potencial de
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 155
formao de trihalometanos. Por outro lado, o uso de micropeneiras com abertura
de 25 e 50 m no gerou melhoria sistemtica do desempenho dos filtros ascen-
dentes ou descendentes.
Os efeitos de etapas de pr e ps-tratamentos no desempenho da dupla ltrao sobre
a remoo de cianobactrias do gnero Microcystis tambm foi objeto de estudo no
Prosab 4 (Di BERNARDO et al., 2006; KURODA, 2006; KURODA e Di BERNARDO, 2005).
O trabalho experimental foi desenvolvido em escalas de bancada e piloto. Os resulta-
dos dos ensaios em escala de bancada serviram de base para denio do tipo e dose
de coagulante, dos carves ativados e do oxidante adotados no estudo piloto, alm da
determinao do potencial de formao de subprodutos da oxidao.
O trabalho em escala piloto contemplou o estudo da dupla ltrao com etapas de oxi-
dao em coluna em diferentes pontos do tratamento (pr, interltros e ps-ltrao)
e/ou de adsoro em carvo ativado na forma pulverizada e granular. Os ltros as-
cendentes e descendentes foram operados, respectivamente, com taxa de ltrao de
120 e 180 m
3
/m
2
.d, o coagulante empregado foi o sulfato de alumnio e o oxidante foi o
hipoclorito de clcio. A gua de estudo apresentava densidade de Microcystis variando
na faixa de 2 a 5x10
4
cel/mL e de microcistinas dissolvida na faixa de 10 a 20 g/L.
As principais concluses de Kuroda (2006) relacionadas aos ensaios em escala piloto
foram: (i) a remoo de clulas de Microcystis foi de cerca de 30% na pr-oxidao
e superior a 99,5% na ltrao ascendente em pedregulho sempre que garantidas
condies adequadas de coagulao; (ii) a dupla ltrao (nas condies testadas)
foi bastante eciente na remoo de clulas de Microcystis e, consequentemente, de
microcistinas intracelulares; (iii) a dupla ltrao no foi eciente ( 27%) na remo-
o de microcistinas extracelulares (dissolvida), entretanto, a introduo da pr ou
interclorao, com valores residuais da ordem de 0,1 mg/L, juntamente com, respecti-
vamente, o uso do CAP e do CAG, produziram euentes nais com concentraes de
microcistinas inferiores a 1 g/L; (iv) a introduo da pr-clorao com dosagem mais
elevada (residual da ordem de 1 mg/L), sem uso de carvo ativado, mostrou-se e-
ciente na remoo de clulas e microcistinas (residuais < 1 g/L); porm, deve-se car
atento formao de subprodutos organohalogenados quando a densidade de clulas
na gua bruta for elevada (resultados de ensaios de bancada mostraram que enquanto
o potencial de formao de THMs (7 dias) de uma gua contendo 1,4x10
5
cel/mL de
Microcystis foi de 31 g/L, no caso 5,5x10
5
cel/mL o valor se elevou para 183 g/L);
(v) comparando-se a pr-clorao com a interclorao, como esperado, observou-se
maiores concentraes de THMs e AHAs no primeiro processo do que no segundo; (vi)
a adsoro em carvo ativado granular como etapa nal do tratamento mostrou-se
bastante eciente na remoo de microcistinas extracelulares.
GUAS 156
Em funo do uso difundido do tratamento convencional (ciclo completo) em todo
o mundo, a remoo de clulas de cianobactrias pelos processos de sedimentao e
otao tem sido objeto de vrias pesquisas. A particular ateno dada ao processo de
sedimentao motivada pelo fato das cianobactrias apresentarem baixa densida-
de e potencialmente formarem ocos com baixa velocidade de sedimentao. Assim,
muitos trabalhos buscam avaliar, de forma comparativa, a ecincia da sedimentao
e da otao.
Vlaki et al. (1996), em experimentos em escala de bancada, compararam a ecin-
cia da sedimentao e da otao por ar dissolvido (FAD) na remoo de Microcys-
tis aeruginosa cultivada em laboratrio. Para gua de estudo contendo cerca de
10
4
cel/mL, pH de coagulao de 8 e sal de ferro como coagulante, os autores relatam
que, sob condies otimizadas, a remoo de clulas na sedimentao (87%) foi supe-
rior da FAD (71%). Os autores relatam tambm que, independentemente do processo
de separao adotado, remoes de clulas de M. aeruginosa de 99% foram obtidas
com o uso combinado do sal de ferro com polieletrlito catinico como auxiliar de
oculao, o que indica a importncia das etapas de coagulao e oculao.
Os resultados obtidos por Vlaki e colaboradores contradizem os resultados apresenta-
dos em trabalhos anteriores, como os de Zabel (1985) e de Edzwald e Wingler (1990).
Zabel (1985) relata que, em escala real, a otao por ar dissolvido apresentou 92% de
ecincia de remoo de cianobactrias enquanto que a ecincia da sedimentao foi
uma ordem de magnitude inferior. Edzwald e Wingler (1990) relatam que a otao por
ar dissolvido apresentou melhor ecincia (99,9%) do que a sedimentao (90%) tanto
em relao remoo de turbidez quanto de microalgas, principalmente em baixas
temperaturas. Entretanto, ecincia de remoo de clulas da cianobactrias do gnero
Aphanizomenon (10
3
a 10
4
cel/mL) inferior a 30% na otao por ar dissolvido j havia
sido relatada no trabalho desenvolvido em escala piloto por Kaur et al. (1994).
Em estudos posteriores, em escala piloto, Vlaki et al. (1997) voltam a relatar que a
sedimentao foi superior a otao por ar dissolvido na remoo de turbidez e na
minimizao dos residuais de ferro; porm, em relao remoo de M. aeruginosa,
a FAD mostrou-se muito eciente e apropriada. Alm disso, enquanto que para a FAD
a dosagem tima variou de 7 a 12 mgFe/L, para a sedimentao foram necessrios de
20 a 24 mgFe/L.
Mouchet e Bonnlye (1998), a partir de estudo de caso e de reviso da literatura
realizada poca, defendem que a adoo da otao para remoo de microalgas
e cianobactrias mais vantajosa do que a sedimentao, e destacam duas razes:
(i) para obteno de ecincias similares (at 98% de remoo de clulas), menores
doses de coagulante (entre 20 e 40%) so necessrias na otao; (ii) maior contedo
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 157
de slidos na torta desidratada a partir da escuma do otador, sem a necessidade de
processo espessamento como no caso do lodo do sedimentador. Os autores chamam
ateno para o fato de que o custo operacional do tratamento quando se adota a
FAD cerca de 10 a 15% menor do que quando se usa a sedimentao, em funo da
economia no tratamento dos resduos.
Resultados publicados mais recentemente por Teixeira e Rosa (2006; 2007) reforam
a posio de Mouchet e Bonnlye (1998), favorvel FAD. Em 2006, Teixeira e Rosa
compararam, em escala de bancada, a sedimentao e otao por ar dissolvido. Duas
guas de estudo (gua da torneira inoculada com clulas de Microcystis aerugino-
sa) foram avaliadas: a primeira apresentava concentrao de clorola-a entre 10 e
35 g/L, enquanto na segunda essa concentrao era maior, entre 50 e 75 g/L. Tam-
bm foram avaliados dois coagulantes, o sulfato de alumnio e polihidroxiclorosulfato
de alumnio (WAC), com doses na faixa de 2 a 20 mg/L, equivalente a Al
2
O
3
, nos ensaios
de sedimentao (jarros com volume de 500 mL), e de 1 a 7 mg/L, equivalente a Al
2
O
3
,
nos ensaios de FAD (coluna de otao com volume de 3 L e presso de saturao
de 5 bar). Nos ensaios de FAD, por sua vez, duas condies de coagulao/oculao
foram aplicadas (Condio 1 G
MR
=743 s
-1
; t
MR
=2 min; G
F
=24 s
-1
; t
F
=15 min, mesma da
sedimentao; Condio 2 G
MR
=380 s
-1
; t
MR
=2 min; G
F
=70 s
-1
; t
F
=8 min), assim como
duas razes de reciclo (50% e 8%).
Com relao aos coagulantes adotados, os resultados mostraram maior efetividade
do WAC na remoo de clulas de M. aeruginosa tanto na sedimentao como na
otao. Para as duas guas de estudo, a otao foi capaz de produzir euente com
turbidez menor que 1 UT, independentemente do coagulante. Entretanto, segundo
Teixeira e Rosa (2006), esse valor s foi consistentemente obtido na sedimentao
quando o WAC foi usado, sugerindo, portanto, que o uso desse coagulante seria mais
apropriado do que de sulfato de alumnio para lidar com variaes na concentrao
de clulas na gua bruta.
Embora ambos os processos tenham sido capazes, em condies apropriadas, de pro-
mover remoes superiores a 90%, a FAD, com dosagem de coagulante mais baixa,
menor gradiente de velocidade na mistura rpida, menor tempo de oculao e razo
de reciclo de 8%, promoveu remoo de clorola-a na faixa de 93 a 98%. A remoo
de microcistinas dissolvidas foi baixa (5 a 24%) em ambos os processos de tratamento,
como j relatado na literatura, e, durante os experimentos, no foi observada liberao
de toxina para gua.
Dando sequncia ao trabalho anterior, Teixeira e Rosa (2007) avaliaram o efeito de ou-
tros compostos orgnicos naturalmente presentes na gua bruta sobre a ecincia da
FAD e da sedimentao na remoo de Microcystis aeruginosa (gua com 25 a 40 g/L
GUAS 158
de clorola-a). Os autores concluram que a ecincia da otao menos inuen-
ciada pela presena de matria orgnica natural do que a ecincia da sedimentao,
e, por essa razo, a introduo da pr-ozonizao praticamente no inuenciou o de-
sempenho da otao, mas inuenciou, positivamente, o processo de sedimentao.
No Brasil, dois estudos em escala de bancada, desenvolvidos como parte do Prosab
4, tambm avaliaram a ecincia da sedimentao e da otao por ar dissolvido na
remoo de cianobactrias. A remoo de clulas Cylindrospermopsis raciborskii pelos
dois processos de tratamento foi objeto do trabalho de Oliveira (2005), enquanto San-
tiago (2008) avaliou tambm a remoo de Microcystis protocystis.
Oliveira (2005) utilizou aparelho de teste de jarros para os ensaios de sedimentao
(TAS=7,2 e 14,4 m
3
/m
2
.d) e o teste de jarros adaptado (oteste) para otao (TAS=72 e
144 m
3
/m
2
.d) com presso de saturao de 5 atm e razo de reciclo de 10%. Em ambos
os casos, a gua de estudo (gua do lago Parano inoculada com clulas de C. raciborskii
produtora de saxitoxinas) continha cerca de 10
6
cel/mL (aproximadamente 250 g/L de
clorola-a) e foi coagulada com sulfato de alumnio em valores de pH na faixa de 5,5 a 7.
Os dois processos de separao avaliados por Oliveira (2005) apresentaram melhores
ecincias de remoo no valor de pH de 5,5. Isso sugere que, para as caractersti-
cas da gua de estudo, a remoo de Cylindrospermopsis raciborskii parece ser mais
eciente quando a coagulao realizada sob condies nas quais a predominncia
do mecanismo de adsoro-neutralizao de cargas favorecida. A sedimentao,
mesmo com uso de taxa de aplicao supercial baixa (7,2 m
3
/m
2
.d), apresentou va-
lor mximo de remoo de turbidez e clorola-a de, respectivamente, 87 e 86%. A
FAD mostrou-se mais eciente, com remoo mxima, tanto de turbidez como de
clorola-a, de 93%, independente da taxa de aplicao supercial adotada (72 ou
144 m
3
/m
2
.d). Alm disso, diferentemente da sedimentao, a otao mostrou-se um
processo robusto e com maior reprodutibilidade dos resultados.
Conrmado os resultados obtidos por Teixeira e Rosa (2006; 2007) para remoo de M.
aeruginosa, Oliveira (2005) e Oliveira et al. (2007) indicam que a FAD congura-se tam-
bm como a melhor alternativa para remoo de clulas de C. raciborskii, uma vez que
necessita de menores doses de coagulante e permite o emprego de taxas de aplicao
supercial mais elevadas. Acrescenta-se a isso o menor tempo de contato entre o lodo
(escuma) e a gua claricada, minimizando a possibilidade de contaminao da gua
com toxina oriunda da lise das clulas durante o processo. Entretanto, observa-se que
em condio de orao ( 10
6
cel/mL), mesmo sob condies timas de coagulao,
a concentrao de clorola-a na gua claricada na FAD ainda muito elevada, o que
pode comprometer o desempenho dos ltros rpidos devido sobrecarga de partculas
auentes s unidades de ltrao.
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 159
Santiago (2008), adotando equipamentos e condies experimentais similares a Olivei-
ra (2005), desenvolveu experimentos considerando dois tipos de gua de estudo (gua
destilada inoculada com clulas de Cylindrospermopsis raciborskii ou de Microcystis
protocystis) com densidade nal de clulas de cerca de 10
5
cels/mL e dois coagulantes,
sulfato de alumnio e cloreto frrico, com valores pH de coagulao variando de 5,5 a
8, em intervalos de aproximadamente 0,5 unidades.
Os resultados obtidos por Santiago (2008) mostram que o cloreto frrico apresentou
desempenho superior ao sulfato de alumnio nos ensaios de sedimentao, gerando
baixos valores de turbidez e cor aparente remanescente em vrias faixas de doses de
coagulante, mas sobretudo nas mais altas (25 a 40 mg/L). O melhor desempenho do
cloreto frrico nos dois processos foi obtido com as clulas de M. protocystis. Por ou-
tro lado, o sulfato de alumnio apresentou desempenho superior ao cloreto frrico nos
ensaios de FAD. O sulfato de alumnio parece ser mais adequado para remover clulas
cocides do que lamentosas. A tendncia mostrada nos diagramas de coagulao
construdos como parte do trabalho que a ecincia de remoo de lamentos
visivelmente menor.
Por sua vez, o processo de otao por ar dissolvido apresentou desempenho superior
ao processo de sedimentao nos ensaios onde a comparao estatstica foi possvel,
seja por apresentar maiores ecincias de remoo de turbidez ou por apresentar eci-
ncias similares sedimentao, porm com uso de menores dosagens de coagulante.
Na FAD, utilizando-se sulfato de alumnio, a ecincia de remoo de turbidez nos
ensaios com gua contendo C. raciborskii (lamentos) foi menor do que nos ensaios
com gua contendo M. aeruginosa (clulas cocides). Para a TAS de 144 m/m.d, a
diferena de ecincia de remoo para as duas espcies chegou a mais de 40%. Esse
resultado conrmou o observado na anlise qualitativa dos diagramas de coagulao,
que j apontava que a morfologia das clulas de cianobactrias inuenciou os proces-
sos de otao e sedimentao e que a C. raciborskii removida com mais diculdade
da gua de estudo por meio desses dois processos de tratamento. Apesar disso, sob
condies especcas, foi possvel obter-se ecincias de remoo de clula superiores
a 90% com ambos os processos.
Os resultados de Santiago (2008) sugerem inuncia estatisticamente signicativa do
aumento da taxa de aplicao na ecincia da FAD e da sedimentao, contrariando
os resultados de Oliveira (2005), que sugerem que o impacto na ecincia da FAD
menor do que na sedimentao.
Em que pese a tendncia de se recomendar o uso da otao por ar dissolvido para
remoo de cianobactrias, como entre as ETAs mais utilizadas no Brasil predomina
GUAS 160
a sedimentao, esse processo deve e pode ser otimizado para promover elevadas
remoes de clulas de cianobactrias. Por exemplo, Hoeger et al. (2004) relatam bons
resultados de remoo de cianobactrias ao longo de 46 semanas de operao de uma
estao de tratamento convencional em escala real. No perodo analisado, o total de
cianobactrias na gua bruta variou entre zero e 1,2x10
6
cel/mL, com predominncia
alternada de trs espcies, Microcystis aeruginosa, Anabaena circinalis e Planktothrix
sp. Durante um particular perodo em que a gua bruta apresentava elevada densidade
de M. aeruginosa e A. circinalis, a sedimentao foi capaz de remover 99% das clulas
sem diferena de ecincia entre as espcies. Aps a ltrao, a remoo de clulas
alcanou valores superiores a 99,9%, entretanto, observou-se que a etapa de ltrao
removeu de forma mais eciente a A. circinalis. Os autores lembram que mesmo com
elevada ecincia, durante os picos de orao, a gua tratada chegou a apresentar
mais que 3.000 cel/mL. Em relao cianotoxina dissolvida, amostras aleatrias re-
velaram que no houve alterao da concentrao de toxinas entre a alimentao do
sedimentador e a sada do ltro, conrmando a inecincia dessas etapas na remoo
da frao dissolvida.
Uma preocupao particular em relao s tcnicas de tratamento que se baseiam
no uso de coagulantes no condicionamento da gua o efeito desses produtos sobre
a integridade das clulas e a liberao de toxinas dissolvidas para o meio lquido.
Alguns artigos relatam a ocorrncia de lise celular, liberao de toxinas intracelulares
e compostos que conferem gosto e odor gua durante as etapas de coagulao e
oculao, enquanto outros relatam no ter havido nenhuma liberao de tais com-
postos para gua.
James e Fawell (1991) apud Drikas (1994) relataram aumento considervel na concen-
trao da microcistina-LR depois da adio do sulfato de alumnio em gua contendo
clulas de Microcystis aeruginosa, sugerindo que houve lise celular. Lam et al. (1995)
constataram que o uso do sulfato de alumnio, na faixa de pH de 6 a 10, pode promover
pequeno aumento da concentrao de microcistina dissolvida na gua (devido ao efeito
txico das espcies de alumnio sobre a integridade da clula), porm a liberao foi con-
siderada pequena se comparada resultante do emprego de produtos qumicos usados
para o controle de orao de cianobactrias. Os autores relataram ainda que a cal, usa-
da como alcalinizante no tratamento de gua, no promoveu danos s clulas de M. ae-
ruginosa (a integridade das clulas foi avaliada por meio de microscopia eletrnica). Por
outro lado, Hart et al. (1998), com base em estudos realizados no Reino Unido, destacam
que as condies de mistura adotadas nas etapas do tratamento no foram capazes de
promover a lise das clulas de Microcystis ou a liberao de toxinas. Similarmente, varia-
es de pH na faixa de 5 a 9 em nada afetaram a liberao da toxina intracelular. Nesse
estudo, foram usados como coagulante o sulfato de alumnio e o sulfato de ferro.
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 161
Tentando esclarecer essa polmica, Chow et al. (1998; 1999) realizaram estudo crite-
rioso simulando o tratamento convencional em escala de bancada e piloto. Os autores
demonstraram que a adio de coagulante (sulfato de alumnio e cloreto frrico) e a
ao mecnica da mistura rpida e da oculao no provocaram, em comparao
com frascos controle, dano adicional s clulas de Microcystis aeruginosa durante o
tratamento. Destacam-se aqui alguns resultados relatados por Chow e colaboradores
em 1998 e 1999: o uso do sulfato de alumnio no promoveu maiores alteraes no
contedo de clorola-a nem liberao de toxinas; quando o cloreto frrico foi usado
como coagulante, alm de no vericarem danos nas clulas, os autores observaram
reduo na liberao de microcistinas por clula (massa de microcistinas/massa de
clulas) em relao a frascos controle; a viabilidade celular foi de 100% aps a coagu-
lao, com dosagem sub-tima e tima de sulfato de alumnio; no houve variao da
viabilidade celular nem liberao adicional de microcistina-LR durante mistura rpida
(G = 480 s
-1
durante 1 minuto); aps oculao/sedimentao, as clulas permanece-
ram intactas no sobrenadante e no lodo. O estudo em escala piloto conrmou esses
resultados. Contudo, Chow e colaboradores no comentam sobre o comportamento
do lodo acumulado a partir da sedimentao dos ocos.
A ocorrncia de lise de clulas e a liberao de cianatoxinas em funo do tempo de
armazenamento do lodo sedimentado foi avaliada por Drikas et al. (2001) e por Olivei-
ra (2005) para guas contendo, respectivamente, M. aeruginosa e C. raciborskii. Nos
dois estudos, o sulfato de alumnio foi o coagulante utilizado.
Drikas et al. (2001) observaram que a concentrao de microcistina-LR extracelular
aumentou at o segundo dia de armazenamento do lodo, quando a concentrao ex-
tracelular aproximou-se da concentrao total de microcistina-LR, indicando a ruptu-
ra das clulas e a liberao de toxinas. A reduo considervel da densidade de clulas
de M. aeruginosa no lodo nesse perodo conrmou a ocorrncia da lise celular. Aps
o quinto dia de armazenamento, tanto a concentrao total de microcistina-LR quan-
to a extracelular comearam a diminuir (praticamente toda toxina encontrava-se na
forma extracelular dissolvida), indicando sua degradao, chegando a praticamente
zero no 13 dia.
A lise celular de C. raciborskii e a liberao de saxitoxinas (neoSTX e STX) com o tempo
de armazenamento do lodo foram igualmente relatadas por Oliveira (2005). Nesse
estudo, o efeito do pH de coagulao e da dosagem de sulfato de alumnio sobre o
comportamento das clulas e das toxinas tambm foram avaliados. Para as trs doses
de coagulantes e dois valores de pH testados (6 e 7), o autor observou o decaimento
acentuado da biomassa das clulas, estimado em termos de concentrao de cloro-
la-a (de cerca de 200 para 5 a 30 g/L de clorola-a) at do 10 dia de armazenamento
GUAS 162
do lodo e, a partir da, reduo mais suave. Tomando como base o comportamento
das clulas na gua sem adio coagulante, Oliveira (2005) relata uma tendncia de a
lise ser retardada com adio de coagulante. Com pH de coagulao igual a 6, o autor
observou que as concentraes de neoSTX e STX aumentaram consistentemente at o
10 dia de armazenamento do lodo (perodo que coincide com o acelerado decaimento
da concentrao de clorola-a). De modo geral, a partir do 10 dia de armazenamento
ocorria a reduo da concentrao (degradao) de neo-STX, mas a concentrao de
STX continuou a crescer at o nal do perodo avaliado (30 dias), indicando a possi-
bilidade de transformao de uma variante da toxina em outra. Com pH de coagula-
o igual a 7, a degradao das duas variantes de saxitoxinas foi mais rpida, sendo
que ao nal de 25 dias a neo-STX e a STX no foram detectadas no sobrenadante. O
autor comenta que a no deteco de neo-STX e STX no pH 7 ao nal do perodo de
armazenamento no garantia de ausncia de saxitoxinas, uma vez que ainda no se
esgotaram as pesquisas sobre quais outras variantes de saxitoxinas so produzidas
pela cepa estudada. Vale mencionar que a degradao da neo-STX e STX nos frascos
controle (sem coagulante), em ambos valores de pH, ocorreu de forma mais rpida do
que nos fracos com coagulante.
Os trabalhos de Drikas et al. (2001) e Oliveira (2005) corroboram as preocupaes mani-
festadas por Hoeger et al. (2004) em relao a importncia da remoo completa do lodo
e da lavagem dos ltros no tempo certo. Hoeger et al. (2004) constataram, a partir de
dados obtidos em ETAs australianas, grande aumento das concentraes de toxinas dis-
solvidas aps a sedimentao e ltrao, indicando a liberao das toxinas (microcistinas
e saxitoxinas) a partir do lodo depositado no decantador e do material retido no ltro.
5.1.2 Filtrao lenta, ltrao em mltiplas etapas
A ltrao lenta citada na literatura como o primeiro processo de tratamento de
gua efetivamente projetado por critrios de engenharia. A dominncia dos mecanis-
mos biolgicos na remoo de impurezas e de organismos patognicos, assim como
a possibilidade de ser usada de forma combinada com outros processos, zeram com
que a ltrao lenta, apesar do tempo, nunca fosse de todo abandonada como alter-
nativa de tratamento. Mais recentemente, tanto a ltrao lenta como os chamados
processos de bioltrao (que incluem a ltrao em margem, alm da ltrao em
carvo biologicamente ativado e ltrao biolgica induzida pela oxidao em ltros
de taxas mais elevadas), tem assumido grande relevncia em funo da capacidade de
remover tambm micropoluentes complexos, como frmacos e toxinas. No presente
captulo so enfocadas somente as tcnicas de ltrao lenta e ltrao em margem.
Embora existam vrios relatos positivos quanto a ecincia da ltrao lenta na re-
moo de microalgas e cianobactrias (exemplo: 99% segundo Mouchet e Bonnlye,
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 163
1998), os textos clssicos frequentemente apontam limitaes na capacidade dessa
tcnica de ltrao para tratar guas com elevada concentrao de toplncton. Ele-
vadas concentraes de microalgas ou cianobactrias na gua bruta podem provocar
rpida colmatao do meio ltrante, exigindo a remoo da camada biolgica su-
percial. Por sua vez, essa operao reduz a capacidade de remoo de substncias
orgnicas dissolvidas em funo da reduo da capacidade de biodegradao do meio
ltrante no amadurecido biologicamente. No entanto, estudos recentes sugerem que
o problema da colmatao dos ltros lentos pode ser contornado com a adoo de
unidades de pr-tratamento, entre as quais se destacam: a pr-ltrao em pedregu-
lho e a pr-oxidao.
Estudos desenvolvidos em escala piloto por Mello (1998) e Souza Jr. (1999) avaliaram
a remoo de cianobactrias utilizando ltros de pedregulhos antecedendo a ltra-
o lenta, processo conhecido com o nome de ltrao em mltiplas etapas - FiME.
Segundo o Mello (1998), o pr-ltro dinmico de pedregulho, conjuntamente com
o pr-ltro de pedregulho de escoamento ascendente de camadas sobrepostas, foi
capaz de remover at 80% da clorola-a presente na gua bruta (gua de lago com
concentrao da ordem de 30 g/L e predominncia da cianobactria Cylindrosper-
mopsis raciborskii). Nas condies estudadas, o euente do ltro lento apresentou
concentrao de clorola-a euente abaixo de 1 g/L e turbidez consistentemente
menor que 1 UT. Com o sistema de pr-ltrao operando adequadamente, o ltro
lento, aps 30 dias de operao, apresentava perda de carga de 9 cm.
Souza Jr. (1999), utilizando a mesma instalao piloto de Mello (1998), conrmou a
aplicabilidade da FiME no tratamento de guas com presena de Cylindrospermopsis
raciborskii (clorola-a euente abaixo de 0,5 g/L e turbidez sempre inferior a 1 UT);
porm, o autor observou que o aumento da taxa de ltrao dos pr-ltros ascenden-
tes, de 12 para 18 m
3
/m
2
.d., inuenciou negativamente a ecincia de remoo dessa
unidade. Por outro lado, o modo de operao dos pr-ltros ascendentes (com ou sem
descargas de fundo semanais) inuenciou muito pouco na ecincia de remoo de
clorola-a e de turbidez.
Saidam e Buttler (1996) atribuem a remoo de microalgas em pr-ltros de pedre-
gulho, o que poderia ser extrapolado para cianobactrias, a uma combinao de me-
canismos fsicos e biolgicos. Os poros de meio ltrante retm as impurezas presentes
na guas, funcionando como cmaras de deposio, enquanto que na superfcie dos
gros formada uma pelcula de aderncia, favorecendo o crescimento biolgico.
Quando as microalgas aderem superfcie dos gros, passam por metabolismo end-
geno, resultando na liberao de substrato solvel que pode ser utilizado por outros
microrganismos.
GUAS 164
A partir do mecanismo de remoo proposto por Saidam e Buttler (1996), pode- se
prever que no caso da presena de cianobactrias txicas na gua bruta, o euente
do pr-ltro poder conter toxinas liberadas a partir da lise celular, colocando assim
um novo desao para o ltro lento - a remoo das cianotoxinas. O trabalho pioneiro
de Keijola et al. (1988) sobre remoo de cianotoxinas na ltrao lenta, realizado em
escala de laboratrio, apresentou resultados de remoo substancial, tanto de hepato-
toxinas produzidas por Microcystis aeruginosa (> 80%) como de neurotoxina produzi-
da pela Anabaena os-aquae (cerca de 70%); por outro lado, no foi obtida remoo
satisfatria das hepatotoxinas produzidas pela Oscillatoria, cerca de 30-65%.
Embora os resultados apresentados por Keijola e colaboradores fossem promissores,
somente quase 16 anos depois novos trabalhos foram publicados sobre a aplicao da
ltrao lenta na remoo de cianobactrias e cianotoxinas. Grtzmacher et al. (2002)
avaliaram, em escala real, a remoo de clulas de Planktothrix agardii, produtoras
de microcistinas, na ltrao lenta. Numa primeira etapa, foi avaliada a remoo de
microcistinas dissolvidas (8 g/L), alimentadas por 30 horas aos ltros lentos, que
operaram com taxa de ltrao de 0,8 m
3
/m
2
.d. Na segunda etapa, o ltro lento foi ex-
posto por 26 dias a gua bruta contendo clulas de Planktothrix agardii (equivalente
a 50 g/L de microcistina intracelular), sendo operado com taxa de ltrao, no usual
e muito baixa, de 0,2 m
3
/m
2
.d.
Na primeira etapa, Grtzmacher et al. (2002) relatam elevada ecincia de remoo
da toxina dissolvida (> 95%), o que foi atribudo principalmente biodegradao,
uma vez que a areia utilizada apresentou baixa capacidade de adsoro em relao
toxina. No incio da segunda etapa, a remoo de microcistina intracelular (clulas) foi
superior a 85%, porm a remoo diminuiu para valores menores que 60% ao longo
do perodo experimental. De acordo com os autores, o decrscimo na ecincia pode
ter sido acarretado pela baixa temperatura no perodo experimental, o que pode ter
favorecido, por um lado, a lise celular e o aumento na concentrao de toxina extrace-
lular e, por outro, a reduo da atividade biolgica no ltro lento e da biodegradao
das microcistinas.
Nos experimentos de ltrao lenta em escala piloto realizados por S (2002), quando
foi empregada taxa de ltrao de 3 m
3
/m
2
.d (taxa bem superior s utilizadas por Grt-
zmacher et al., 2002) e densidade de clulas na gua bruta de at 10
5
cel/mL (60 g/L de
microcistina intracelular), a remoo de biomassa de M. aeruginosa foi superior a 99%.
As clulas de M. aeruginosa retidas no meio ltrante sofreram lise celular e liberaram
microcistinas e o autor relata que, para garantir que as microcistinas liberadas sejam
removidas, faz-se necessrio que a reteno das clulas ocorra na camada superior do
ltro, onde a atividade biolgica mais efetiva e suciente para a degradao desses
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 165
compostos. No mesmo estudo, S (2002) alimentou por 48 horas os ltros lentos com
gua bruta contendo aproximadamente 400 g/L de microcistinas extracelulares (frao
dissolvida). Os ltros lentos alcanaram 50% remoo de toxinas no primeiro dia e 99%
no segundo dia. Contudo, foi observado que a remoo de coliformes foi afetada nega-
tivamente pela alimentao dos ltros com microcistinas dissolvidas.
Em trabalho similar ao desenvolvido por S (2002), porm utilizando gua bruta con-
tendo clulas viveis de Cylindrospermopsis raciborskii, assim como saxitoxinas ex-
tracelulares (dissolvidas), Arantes (2004) relata que a remoo de clulas nos ltros
lentos (operados com taxa de ltrao de 3 e 2 m
3
/m
2
.d) foi superior a 98% quando
a gua continha cerca de 10
5
cel/mL de C. raciborskii. Diferentemente do relatado por
S (2002), Arantes (2004) no observou ocorrncia de transpasse de clulas de C. ra-
ciborskii, provavelmente devido morfologia dessa espcie de cianobactria; alm
disso, em nenhum momento a presena de saxitoxinas foi detectada na gua ltrada.
Entretanto, o prprio autor ressalta que a gua auente aos ltros lentos apresentava
baixas concentraes de saxitoxinas extracelulares.
S (2006) investigou a inuncia de alguns parmetros de projeto (tamanho efetivo,
espessura do meio ltrante, taxa de ltrao) e operao (variao da densidade de M.
aeruginosa 10
5
e 10
6
cel/mL - e microcistina extracelular - 17 a 140 g/L - na gua
bruta) sobre o desempenho da ltrao lenta. Detalhes do desenvolvimento desse tra-
balho esto disponveis no livro do Prosab 4 (TANGERINO et al., 2006) e em S (2006).
Das concluses obtidas no estudo de S (2006), destacam-se: (i) o tamanho efetivo
da areia (0,22 mm, 0,28 mm e 0,35 mm) parece no inuenciar na qualidade da gua
ltrada; no entanto, o ltro com areia de tamanho efetivo de 0,22 mm apresentou ele-
vada perda de carga, no sendo, portanto, recomendado para esse tipo de gua bruta;
(ii) o ltro com 0,60 m de camada de areia apresentou maior ocorrncia de transpasse
de clulas de M.aeruginosa, enquanto que para as outras espessuras avaliadas (0,9 e
1,1 m) no houve diferena entre a qualidade dos euentes produzidos; (iii) dentre as
taxas de ltrao avaliadas (2, 3 e 4 m
3
/m
2
.dia), a de 4 m
3
/m
2
.d. apresentou desempe-
nho inferior s demais, particularmente com gua bruta com 10
6
clulas de M. aerugi-
nosa/mL, pois observou-se o arraste de parte das clulas previamente retidas no meio
ltrante. Segundo S (2006), a ltrao lenta se apresenta como uma tecnologia de
grande potencial para o tratamento de gua contendo M. aeruginosa e microcistinas.
Entretanto, para uma remoo satisfatria de ambas, imprescindvel que seja asse-
gurada a maturao dos ltros, o que parece depender da exposio prvia toxina e
das caractersticas da gua auente.
A importncia do perodo de aclimatao e a dominncia da ao biolgica na de-
gradao das microcistinas dissolvidas (LR e LA) foram mostradas experimentalmente
GUAS 166
por Ho et al. (2006) em trabalho realizado com pequenas colunas de ltrao lenta
(
coluna
=2,5 cm, 15 cm de areia com
efet
=0,83 mm). Foram utilizadas trs colunas, A, B
e C, preenchidas com a mesma areia que, porm, se encontravam sob condies dis-
tintas antes do incio do experimento: (i) a areia da coluna A foi exposta previamente
a microcistinas; (ii) a areia da coluna B possua biolme, mas no aclimatado para o
experimento; (iii) a areia da coluna C foi submetida a autoclavagem para inativao
do biolme. As colunas de ltrao foram alimentadas com gua contendo 20 g/L
de microcistinas LR e LA dissolvidas por um perodo de 39 dias sob diferentes taxas de
ltrao (colunas A e B) e cinco dias (coluna C).
De acordo com Ho e colaboradores (2006), no foi detectada a presena das micro-
cistinas nos euentes das colunas B e C a partir do 4 dia de operao, enquanto no
euente da coluna A nada foi detectado desde o primeiro dia, indicando que a pr-ex-
posio do biolme microcistina (aclimatao) pode reduzir o perodo de amadure-
cimento do ltro lento no que tange degradao dessas microcistinas. Nas amostras
coletadas em ponto intermedirio das colunas tambm no foram detectadas micro-
cistinas, indicando que a remoo ocorreu na parte mais superior do meio ltrante e
foi devida degradao biolgica em vez de processos fsicos. Avaliao do material
ltrante aps o nal do experimento revelou que no havia indcios de microcistinas
no meio, o que refora a hiptese da degradao biolgica. Alm disso, foram detecta-
dos no biolme genes associados a bactrias degradadoras de microcistinas.
Em trabalhos posteriores, Ho et al. (2007A; 2007B) relatam o isolamento da bact-
ria LH21, supostamente responsvel pela degradao descrita no trabalho de 2006, e
comprovam sua habilidade de degradar microcistinas por meio de novos experimen-
tos. Os autores sugerem que a LH21 provavelmente pertence ao gnero Sphingopyxis
e contm quatro genes associados com outra espcie capaz de degradar as microcis-
tina-LR, a Sphingomonas sp. A capacidade da Sphingomonas sp (MJ-PV) de degradar
da microcistina-LR foi relatada por Bourne et al. (2006).
5.1.3 Filtrao em margem
A ltrao em margem tem se mostrado um processo promissor para remoo de
gama de microcontaminantes orgnicos e j praticada em diversos pases, com des-
taque para Alemanha. Na ltrao em margem, durante a passagem pelo solo, as
impurezas podem ser removidas da fase aquosa por ltrao, biodegradao (que faz
com que esse processo seja considerado um processo biolgico), inativao, adsoro,
sedimentao e por diluio resultante da mistura com guas subterrneas. Os meca-
nismos de remoo so complexos e a ecincia depende de vrios fatores, particu-
larmente as caractersticas do solo e a velocidade de percolao. Esses aspectos so
discutidos por Sens et al. (2006).
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 167
Certa similaridade com a ltrao lenta, os bons resultados relatados na literatura
em relao remoo de patgenos emergentes e microcontaminantes orgnicos
complexos, como frmacos, pesticidas, compostos aromticos sintticos, alm dos
resultados favorveis encontrados em estudos laboratoriais em escala de bancada e
em colunas de sedimentos e solos, demonstram o grande potencial da ltrao em
margem na remoo de cianobactrias e cianotoxinas.
Lahti et al. (1998) relatam elevada remoo de cianobactrias (98 a 99%) em ensaios
com colunas preenchidas com diferentes solos, mas, ao mesmo tempo, ressaltam que
clulas isoladas de cianobactrias foram encontrados na gua ltrada, mesmo depois
de a gua percorrer distncia de 100 m. Segundo os autores, as microcistinas no fo-
ram to ecientemente removidas quanto as clulas, e a remoo dependeu do tipo de
solo. A biodegradao foi relatada como sendo responsvel por 50 a 70% da remoo
total de hepatotoxinas (LAHTI et al., 1998; VAITOMAA, 1998). Entretanto, reconheci-
do que a ltrao em margem resultado dos processos de adsoro e biodegradao,
sendo que a efetividade de cada processo dependente das caractersticas naturais do
solo e da atividade microbiana. Portanto, preciso cautela, pois, uma vez exaurida a
capacidade adsortiva do solo, o excedente de toxinas pode chegar ao poo coletor.
Para melhor entender a remoo de microcistinas dissolvidas, Lahti et al. (1998) realiza-
ram outros experimentos em coluna e em campo. Colunas foram separadamente em-
pacotadas com 25 cm de sedimentos hmicos da superfcie de um esker, de areia e de
cascalho, e foram alimentadas com gua contendo 30 a 60 g/L de microcistinas por 9
a 14 dias, com tempo de deteno de 5 a 6 horas. A remoo de microcistinas foi maior
(98 a 99,9%) na coluna com sedimento do esker e menor no subsolo grosseiro (30 a
90% de remoo). Essa diferena foi atribuda presena no sedimento esker de or-
ganismos capazes de degradar as microcistinas, uma vez que esse material j havia sido
naturalmente exposto toxina no lago Uihnusjrvi, Finlndia. Os estudos mostraram
que as bactrias isoladas capazes de degradar as microcistinas eram majoritariamente
aerbias e, portanto, ambientes anaerbios tendem a inibir a atividade degradadora.
Miller et al. (2001) tambm avaliaram, em ensaios de bancada, a adsoro de microcis-
tina LR e nodularina em cinco diferentes tipos de solos, visando a aplicao da ltrao
em margem para remoo dessas toxinas. De modo geral, os solos com maior proporo
de argila apresentaram maior capacidade de adsoro das hepatotoxinas. Com relao
ao valor do pH, os autores observaram que condies mais cidas e maior salinidade fa-
voreceram a adsoro das toxinas (entre outros fatores, pelo aumento da hidrolicidade
da microcistina, e provavelmente da nodularina, com aumento do pH). Portanto, eleva-
dos valores de pH e baixa salinidade favoreceriam a mobilidade das toxinas, resultando
em menor ecincia da ltrao em margem e na necessidade de maiores percursos.
GUAS 168
Segundo Sens et al. (2006), a ltrao em margem, monitorada por cinco meses em
2005, mostrou-se altamente efetiva na remoo de turbidez e cor aparente (93 a 95%
e 83 a praticamente 100%, respectivamente) e foi capaz de produzir gua ltrada em
que no foi detectada presena de clulas de toplncton e saxitoxinas. Importante
mencionar que, no perodo em questo, a lagoa do Peri-SC (gua bruta para o siste-
ma de ltrao em margem) apresentava densidade de clulas de cianobactrias da
ordem de 10
6
cel/mL, com predominncia de Cylindrospermopsis raciborkii produtora
de saxitoxinas. Por outro lado, os dados obtidos mostraram que as concentraes de
dureza, alcalinidade, slidos dissolvidos, ortofosfato, amnia e nitrato foram conside-
ravelmente mais elevadas no euente da ltrao em margem do que na gua bruta,
sendo que o oposto ocorreu em relao concentrao de oxignio dissolvido. Em que
pese o curto espao de tempo em que a ltrao em margem foi monitorada (no sen-
do possvel analisar a capacidade adsortiva do solo), os resultados revelam o potencial
dessa tcnica como tratamento nico ou como pr-tratamento para a ltrao direta.
Exemplo dessa ltima aplicao est disponvel em Sens et al. (2006)
5.2 Experincia do Prosab, edital 5, tema 1
Quatro grupos de pesquisa (UFSC, UFV, UnB e Unesp Ilha Solteira) se dedicaram a
estudos de avaliao da remoo de clulas de cianobactris e/ou cianotoxinas por
diferentes tcnicas de tratamento de gua. Duas espcies de cianobactrias foram
foco dos estudos, a Microcystis aeruginosa (C1), produtora de microcistinas, e a Cylin-
drospermopsis raciborski, sendo uma cepa (C2) produtora de saxitoxinas e uma cepa
(C3) produtora de cilindrospermopsina. Em todos os projetos, os inculos de ciano-
bactrias foram preparados a partir de cepas cedidas pelo Laboratrio de Ecosiologia
e Toxicologia de Cianobactrias (LETC) da Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), que
tambm desenvolveu atividades juntamente com a UnB. Na Tabela 5.1, encontra-se
uma sntese do escopo desses trabalhos, discutidos nos itens que se seguem.
5.2.1 Universidade Federal de Viosa (UFV)
5.2.1.1 Delineamento experimental
Foram realizados 11 ensaios com gua inoculada com cianobactrias na instalao
piloto da UFV, os quais foram precedidos de criterioso trabalho em escala de bancada
para construo de 12 diagramas de coagulao com diferentes densidades e espcies
de cianobactrias. A Tabela 5.2 apresenta um resumo do trabalho realizado. Adicio-
nalmente, durante o perodo de novembro de 2007 a outubro de 2008, foi realizado
mensalmente o monitoramento do toplncton no manancial e na ETA UFV (Univer-
sidade Federal de Viosa).
A habilidade da argila (partculas < 2 m) em adsorver microcistinas foi tambm cons-
tatada por Moris et al. (2000). Para esses autores, isso fator de preocupao, pois as
fraes nas da argila, que permanecem em suspenso no corpo de gua, viabilizam
o transporte dessas toxinas e dicultam o acesso de bactrias degradadoras aos com-
postos, reduzindo a velocidade de degradao das toxinas no ambiente aqutico.
Estudo pioneiro no Brasil sobre a remoo de cianobactrias e cianotoxinas por ltrao
em margem foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina como parte
das pesquisas nanciadas pelo Edital 4 do Prosab (SENS et al., 2006). Para esse estudo, foi
construdo um sistema piloto de ltrao em margem (Figura 5.1) que constava de um
poo para extrao da gua ltrada, poos de proteo lateral e piezmetros de controle.
Antes da perfurao do poo, uma srie de informaes sobre o local (particularmente
do solo) orientou o posicionamento e a profundidade do poo principal e dos demais
elementos. Sondagens do solo local serviram de base para estimar o tempo de contato da
gua com o solo durante a ltrao em margem, obtendo-se um valor entre 63 e 74 d.
Figura 5.1
Esquema da estrutura utilizada na realizao de pesquisa pela Universidade Federal
de Santa Catarina (a) e detalhes da instalao piloto de ltrao em margem (b)
A
B
FONTE: SENS ET AL. (2006).
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 169
Segundo Sens et al. (2006), a ltrao em margem, monitorada por cinco meses em
2005, mostrou-se altamente efetiva na remoo de turbidez e cor aparente (93 a 95%
e 83 a praticamente 100%, respectivamente) e foi capaz de produzir gua ltrada em
que no foi detectada presena de clulas de toplncton e saxitoxinas. Importante
mencionar que, no perodo em questo, a lagoa do Peri-SC (gua bruta para o siste-
ma de ltrao em margem) apresentava densidade de clulas de cianobactrias da
ordem de 10
6
cel/mL, com predominncia de Cylindrospermopsis raciborkii produtora
de saxitoxinas. Por outro lado, os dados obtidos mostraram que as concentraes de
dureza, alcalinidade, slidos dissolvidos, ortofosfato, amnia e nitrato foram conside-
ravelmente mais elevadas no euente da ltrao em margem do que na gua bruta,
sendo que o oposto ocorreu em relao concentrao de oxignio dissolvido. Em que
pese o curto espao de tempo em que a ltrao em margem foi monitorada (no sen-
do possvel analisar a capacidade adsortiva do solo), os resultados revelam o potencial
dessa tcnica como tratamento nico ou como pr-tratamento para a ltrao direta.
Exemplo dessa ltima aplicao est disponvel em Sens et al. (2006)
5.2 Experincia do Prosab, edital 5, tema 1
Quatro grupos de pesquisa (UFSC, UFV, UnB e Unesp Ilha Solteira) se dedicaram a
estudos de avaliao da remoo de clulas de cianobactris e/ou cianotoxinas por
diferentes tcnicas de tratamento de gua. Duas espcies de cianobactrias foram
foco dos estudos, a Microcystis aeruginosa (C1), produtora de microcistinas, e a Cylin-
drospermopsis raciborski, sendo uma cepa (C2) produtora de saxitoxinas e uma cepa
(C3) produtora de cilindrospermopsina. Em todos os projetos, os inculos de ciano-
bactrias foram preparados a partir de cepas cedidas pelo Laboratrio de Ecosiologia
e Toxicologia de Cianobactrias (LETC) da Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), que
tambm desenvolveu atividades juntamente com a UnB. Na Tabela 5.1, encontra-se
uma sntese do escopo desses trabalhos, discutidos nos itens que se seguem.
5.2.1 Universidade Federal de Viosa (UFV)
5.2.1.1 Delineamento experimental
Foram realizados 11 ensaios com gua inoculada com cianobactrias na instalao
piloto da UFV, os quais foram precedidos de criterioso trabalho em escala de bancada
para construo de 12 diagramas de coagulao com diferentes densidades e espcies
de cianobactrias. A Tabela 5.2 apresenta um resumo do trabalho realizado. Adicio-
nalmente, durante o perodo de novembro de 2007 a outubro de 2008, foi realizado
mensalmente o monitoramento do toplncton no manancial e na ETA UFV (Univer-
sidade Federal de Viosa).
GUAS 170
Tabela 5.1 > Informaes descritivas dos experimentos sobre remoo de cianobactrias
e cianotoxinas conduzidos no Edital 5, Tema 1, do Prosab
INSTITUIO
ESTUDOS E TCNICAS
DE TRATAMENTO
AVALIADAS
GUA DE ESTUDO
TCNICA ANALTICA DE
QUANTIFICAO DE CIANOBACTRIAS
E CIANOTOXINAS
UFV
- Diagramas
de coagulao
- Decantao e ltrao
rpida em tratamento
convencional, em ETA
piloto, usando sulfato
de alumnio como
coagulante
- Monitoramento
de ETA convencional
em escala real
Manancial supercial inoculado
com clulas cultivadas de:
M. aeruginosa (C1);
C. raciborskii (C2);
M. aeruginosa (C1) +
C. raciborskii (C2)
- Contagem de clulas
utilizando cmara de Neubauer
- Determinao de microcistinas
utilizando LC-MS-MS
UnB
e
UFRJ
- Diagramas
de coagulao
- Liberao e degrada-
o de cianotoxinas
com tempo de
armazenamento
de lodo decantado
(escala de bancada)
- Pr-ltrao
em pedregulho +
ltrao lenta
Manancial supercial inoculado
com clulas cultivadas de:
M. aeruginosa (C1);
C. raciborskii (C2);
C. raciborskii (C3)
- Contagem de clulas utilizando
cmara de Neubauer (UnB) e
de Fuchs-Rosenthal (UFRJ)
- Determinao de microcistinas
por meio de imunoensaio com kit ELISA
- Determinao de saxitoxinas em CLAE
com derivatizao ps-coluna e detector
de uorescncia (OSHIMA, 1995)
- Determinao de cilindrospermopsina
em CLAE com detector UV de arranjo
de diodo (LI et al., 2001; WELKER
et al., 2002)
Unesp -
Ilha Solteira
- Filtrao em mltiplas
etapas modicada
com uso de colunas de
ltrao lenta + ltro
lento complementar +
carvo ativado granular
- Carvo ativado
granular
biologicamente ativo
(avaliao preliminar)
Manancial supercial inoculado com
clulas cultivadas de M. aeruginosa
(C1)
- Contagem de clulas
utilizando cmara de Neubauer
- Determinao de microcistinas em
CLAE com detector UV de arranjo
de diodo (MERILUOTO e SPOOF, 2005)
UFSC
- Adsoro de saxitoxi-
nas em solo natural
- Filtrao em margem
- Filtrao em margem
seguida de ltrao
direta
gua destilada inoculada
com saxitoxinas;
Manancial supercial com
predominncia de C. raciborskii
- Contagem de clulas utilizando
cmara de Neubauer
- Determinao de saxitoxinas em
CLAE com derivatizao ps-coluna
e detector de uorescncia
(OSHIMA, 1995)
CLAE CROMATOGRAFIA LQUIDA DE ALTA EFICINCIA;
LC-MS-MS - ESPECTROMETRIA DE MASSAS ACOPLADA A CROMATOGRAFIA LQUIDA DE ALTA EFICINCIA
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 171
Tabela 5.2 > Ensaios em bancada e em instalao piloto realizados pela UFV
ESPCIE DE CIANOBACTRIA BANCADA ETA PILOTO
Microcystis aeruginosa (C1)
2 diagramas com 10
5
cel/mL
2 diagramas com 10
6
cel/mL
3 ensaios com 10
5
cel/mL
Cylindrospermopsis raciborskii (C2)
1 diagramas com 10
4
cel/mL
2 diagramas com 10
5
cel/mL
2 diagramas com 10
6
cel/mL
2 ensaios com 10
4
cel/mL
3 ensaios com 10
5
cel/mL
Mista (M. aeruginosa e C. raciborskii) 3 diagramas com 10
6
cel/mL 3 ensaios com 10
5
cel/mL
FONTE: BASTOS ET AL. (2008).
Os ensaios de bancada foram realizados sob condies que procuravam reproduzir
os parmetros de operao da ETA UFV (tratamento convencional, escala real) e da
ETA piloto (EP UFV), cujo detalhamento est descrito no captulo 4 (item 4.5.1.1). Nos
ensaios em escalas de bancada e piloto, foi utilizada como gua de estudo a gua do
mesmo manancial que alimenta a ETA UFV, inoculada com cultivos de cianobactrias
para atingir as densidades indicadas na Tabela 5.2.
Os ensaios na ETA piloto duraram em mdia 7,5 horas, limitados pelo horrio de funciona-
mento da ETA UFV. A cada hora, eram coletadas amostras da gua bruta, do inculo, mis-
tura (gua bruta + inculo), da gua decantada e da gua ltrada para anlises de turbidez
e contagem de clulas. A cada hora tambm eram determinados o pH e a alcalinidade
(gua bruta, inculo, mistura e ltrada), e a cada 5 minutos eram computados os valores
de contagem de partculas (contador de partculas on-line, marca Hach) na gua ltrada.
Amostras do euente das unidades de decantao e ltrao foram coletadas para deter-
minao de cianotoxinas (amostras compostas ao longo dos ensaios de inoculao).
5.2.1.2 Sntese dos resultados
A anlise taxonmica das amostras referentes ao perodo de novembro de 2007 a
julho de 2008 resultou na identicao de 23 txons, distribudos entre 11 classes. O
maior nmero de gneros encontrados pertence classe Chlorophyceae. Foram tam-
bm encontrados organismos reconhecidamente responsveis por problemas de gosto
e odor na gua e por colmatao de ltros. No perodo monitorado, as cianobactrias
contriburam com maiores densidades do que as microalgas. Foram encontradas trs
espcies lamentosas dos gneros Phormidium, Pseudanabaena e Geitlerinema. Os
dois primeiros apresentam registros de espcies txicas e o terceiro pode provocar
problemas de colmatao de ltros. Entretanto, todos os organismos foram detec-
tados em baixas densidades, o que, se por um lado no indica problemas em termos
operacionais e de qualidade da gua, por outro, h que se registrar que a remoo de
clulas nas etapas de tratamento no se mostrou efetiva.
GUAS 172
Os 12 diagramas de coagulao descritos na Tabela 5.2 foram construdos para as
etapas de decantao e de ltrao, tomando como parmetros de avaliao tanto a
remoo de turbidez como de clulas de cianobactrias. Como resultado, foram pro-
duzidos 44 variantes dos diagramas. As Figuras 5.2 a 5.4 mostram os digramas obti-
dos com base na contagem de clulas na gua de estudo contendo, respectivamente,
10
6
cel/mL de M. aeruginosa, 10
6
cel/mL de C. raciborskii , e mistura de 10
6
cel/mL de
C. raciborskii e 10
5
cel/mL de M. aeruginosa. Importante mencionar que, de acordo com
Chorus e Bartram (1999), se o manancial apresenta valores superiores a 1x10
5
cel/mL,
j se considera que o risco sade humana elevado. Em pases tropicais, como Brasil,
uma densidade de 10
6
cel/mL j congura orao plena de cianobactrias.
A remoo de clulas de M. aeruginosa na decantao, Figura 5.2 (a), mostrou-se
limitada em valores de pH inferiores a 6,5. Em valores de pH superiores a este e doses
do coagulante acima de 8 mg/L, a remoo de clulas foi superior a 1 log (90%). A
combinao das etapas de decantao e ltrao, Figura 5.2 (b), promoveu remoes
de clulas superiores a 1 log em ampla faixa de valores de pH e de dose, e foi superior
a 4 log em regies de pH acima de 6,3 e doses do coagulante maiores que 16 mg/L. A
remoo de turbidez apresentou comportamento similar remoo de clulas, sendo
comprovada forte correlao entre esses parmetros (n = 78, r = 0,87, p < 0,0001). No
entanto, isso deve ser interpretado de forma cautelosa, pois a turbidez das amostras
era devida, essencialmente, s prprias clulas de Microcystis.
A Figura 5.3 (a) mostra que nos ensaios de decantao com gua inoculada com clu-
las de C. raciborskii foi possvel atingir ecincia de 1 log de remoo de clulas com
valores de pH de coagulao entre 6 e 7,5 e doses de sulfato de alumnio na faixa de
10 a 20 mg/L. Com uso de doses de coagulante superiores a 20 mg/L e valores de pH
entre 7 e 7,5, observa-se uma pequena regio com remoo de clulas superior a 2 log.
A remoo total (decantao + ltrao Figura 5.3 (b)) de clulas foi muito elevada,
alcanando consistentemente valores superiores a 4 log (99,99%) com doses acima de
18 mg/L e pH acima de 6. Os diagramas mostrados na Figura 5.3 foram construdos
com gua do perodo de chuvas (turbidez acima de 30 UT). Nos diagramas construdos
com gua do perodo de seca (turbidez <13 UT), foram obtidas ecincias mais eleva-
das de remoo de C. raciborskii, particularmente na decantao.
Nos diagramas relativos cultura mista, Figura 5.4, a remoo de C. raciborskii e de M.
aeruginosa na decantao foi superior a 1 log em valores de pH acima de 6,5 e doses
do coagulante acima de 8 mg/L. Remoes superiores a 2 log s foram alcanadas em
doses de coagulante maiores que 18 mg/L e em faixa de pH entre 7 e 7,5, sugerindo que,
nas condies estudadas, o mecanismo de coagulao predominante de varredura ten-
de a ser mais efetivo. Esse comportamento foi observado tanto para as duas espcies
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 173
Figura 5.2
Ecincia de remoo de clulas (log) de M. aeruginosa aps decantao (a)
e aps decantao e ltrao (b), ensaio com 10
6
clulas/mL
FONTE: MORAIS ET AL. (2009A).
A B
Figura 5.3
Ecincia de remoo de clulas (log) de C. raciborskii aps decantao (a)
e aps decantao e ltrao (b), ensaio com 10
6
clulas/mL
FONTE: MORAIS ET AL. (2009A).
A B
GUAS 174
individualmente, quanto em relao contagem total de clulas (soma das contagens
de ambas). A remoo total (decantao + ltrao) de clulas foi superior a 4 log em
faixas de pH entre 6,7 e 7,3 e de doses do coagulante de 16 a 21 mg/L
e de 25 a 30 mg/L.
Nesse caso, vericou-se tendncia de maior remoo de clulas do que turbidez.
Os ensaios em escala piloto com inoculao de C. raciborskii demonstraram poten-
cial de remoo de clulas na decantao da ordem de 2 log; a ltrao foi capaz de
remover os lamentos de C. raciborskii at valores no detectveis (exemplo na Tabela
5.3). Levando em considerao o limite de deteco da tcnica de contagem utilizada
(10
2
cel/mL) e a densidade de clulas no incio dos testes, a remoo total (decantao
+ ltrao) foi superior a 2 e 3 log, quando inoculadas, respectivamente, 10
4
e 10
5
cel/mL.
Diferentemente do que foi observado nos ensaios com inoculao de C. raciborskii, nos en-
saios com M. aeruginosa (exemplo na Tabela 5.4) foram detectadas clulas no euente dos
ltros, entre 10
2
-10
3
cel/mL, em praticamente todos os ensaios. Como a densidade inicial
era em torno de 10
5
cel/mL, a ecincia de remoo total (decantao + ltrao) foi da
ordem de 2-3 log. A diculdade de remoo das clulas parece ter-se reetido na turbidez
da gua ltrada, que na maior parte do tempo apresentou valores acima de 1 UT.
Figura 5.4
Ecincia de remoo de clulas (log) de M. aeruginosa + C. raciborskii
aps decantao (a) e aps decantao e ltrao (b), ensaio com
10
5
clulas M. aeruginosa por mL e 10
6
clulas C. raciborskii por mL
A B
FONTE: BASTOS ET AL. (2008).
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 175
Tabela 5.3 > Contagem de clulas de C. raciborskii em ensaio de inoculao
na ETA piloto da UFV, 10
5
cel/mL
AMOSTRA HORA DA COLETA
09h20 10h20 11h20 12h20 13h20 14h20 15h20 16h20
Bruta ND ND ND ND ND ND ND ND
Inculo 3,0x10
6
2,3x10
6
3,1x10
6
2,7x10
6
2,5x10
6
4,2x10
6
3,8x10
6
3,2x10
6
Mistura 1,4x10
5
1,2x10
5
7,8x10
4
1,3x10
5
1,3x10
5
1,5x10
5
9,1x10
4
1,3x10
5
Decantada ND ND 2,0x10
3
3,0x10
3
5,3x10
3
ND ND 2,0x10
3
Filtrada ND ND ND ND ND ND ND ND
ND: NO DETECTADO.
FONTE: MORAIS ET AL. (2009A).
Tabela 5.4 > Contagem de clulas de M. aeruginosa em ensaio de inoculao
na ETA piloto da UFV, 10
5
cel/mL
AMOSTRA HORA DA COLETA
10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00
Bruta 8,7x10
2
1,0x10
4
5,7x10
2
1,3x10
3
7,6x10
2
8,8x10
2
9,8x10
3
8,6x10
4
Inculo 3,7x10
6
8,6x10
6
2,5x10
6
2,8x10
6
1,8x10
6
3,5x10
6
3,1x10
6
-
Mistura 2,3x10
4
1,2x10
5
1,4x10
5
2,9x10
5
1,7x10
5
1,0x10
5
2,5x10
5
1,3x10
6
Decantada 2,4x10
2
1,6x10
4
4,3x10
4
2,9x10
4
1,5x10
4
2,2x10
4
3,5x10
4
1,1x10
4
Filtrada ND 2,8x10
2
7,0x10
3
3,6x10
3
4,2x10
3
1,3x10
3
1,3x10
3
3,7x10
3
ND: NO DETECTADO.
FONTE: MORAIS ET AL. (2009B).
Nos ensaios com cultura mista (Tabela 5.5), observou-se comportamento similar aos dos
ensaios com as culturas separadas (Tabelas 5.3 e 5.4): resultados no detectveis para
clulas de C. raciborskii e ocorrncia de clulas de M. aeruginosa aps a ltrao, ou seja,
remoo de C. raciborskii acima de 3 log e de M. aeruginosa em torno de 2 log. Mais uma
vez, talvez reetindo a baixa remoo de clulas de M. aeruginosa, a turbidez da gua
ltrada s atingiu valores inferiores a 1 UT nas ltimas horas de operao do ltro.
Em resumo, os testes realizados em bancada (teste de jarros) indicaram que, em even-
tos de orao de M. aeruginosa ou C. raciborskii (10
5
-10
6
cel.mL), os processos sedi-
mentao e ltrao podem promover elevadas remoes de clulas de ambos orga-
nismos. Destaca-se que a remoo de C. raciborskii foi mais efetiva, provavelmente
devido s diferenas de morfologia entre as clulas de M. aeruginosa (unicelulares,
esfricas e de menor dimenso) e de C. raciborskii (lamentos, de maiores dimenses).
Resultados similares foram obtidos nos ensaios na ETA piloto, produzindo-se euente
do ltro com nveis no detectveis de clulas de C. raciborskii e densidades da ordem
de 10
3
cel/mL de M. aeruginosa.
GUAS 176
Tabela 5.5 > Contagem de clulas em ensaio de inoculao na ETA piloto da UFV com cultura mista
(C. raciborskii e M. aeruginosa), 10
5
cel/mL
AMOS-
TRA
ESPCIE HORA DA COLETA
09h15 10h15 11h15 12h15 13h15 14h15 15h15 16h15
B
C ND ND ND ND ND ND ND ND
M ND ND ND ND ND ND ND ND
I
C 1,6x10
6
2,3x10
6
1,3x10
6
1,7x10
6
2,1x10
6
2,0x10
6
2,3x10
6
2,0x10
6
M 1,0x10
6
7,9x10
5
8,8x10
5
8,4x10
5
1,1x10
6
8,6x10
5
9,6x10
5
1,1x10
6
M
C 1,4x10
5
1,1x10
5
1,2x10
5
1,3x10
5
2,1x10
5
1,5x10
5
1,2x10
5
1,3x10
5
M 3,5x10
4
9,2x10
4
6,0x10
4
2,9x10
4
2,7x10
4
7,9x10
4
2,4x10
3
4,9x10
3
D
C ND ND 8,6x10
2
3,6x10
3
ND 1,2x10
3
ND 6,8x10
3
M 6,9x10
2
1,1x10
2
1,2x10
3
2,4x10
3
1,9x10
3
2,6x10
4
2,1x10
3
3,6x10
3
F
C ND ND ND ND ND ND ND ND
M 5,7x10
1
5,7x10
1
7,1x10
1
9,3x10
1
1,3x10
2
1,1x10
2
6,6x10
1
2,5x10
1
B: GUA BRUTA, I: INCULO; M: MISTURA AB+I; D: GUA DECANTADA; F: GUA FILTRADA; C: C. RACIBORSKII M: M. AERUGINOSA ND: NO
DETECTADO.
FONTE: MORAIS ET AL., (2009B).
Embora durante os experimentos em escala piloto realizados com gua contendo M.
aeruginosa no tenha sido detectada a presena de microcistinas no euente do de-
cantador e do ltro, preciso enfatizar que nas condies dos experimentos realiza-
dos, com elevadas densidades de cianobactrias na gua auente, mesmo com remo-
es elevadas (em alguns casos de mais de 99%), podem ser obtidas altas densidades
de clulas no euente ltrado, devendo ser avaliada o potencial de lise e liberao de
cianotoxinas na etapa de tratamento posterior a desinfeco.
5.2.2 Universidade de Braslia (UnB)
e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
5.2.2.1 Delineamento experimental
A UnB, em colaborao com a UFRJ, desenvolveu trs ensaios em escala de bancada
para avaliao da inuncia do tempo de armazenamento do lodo na lise celular, libe-
rao e degradao de cianotoxinas. Antecedendo estes ensaios, e como base para a
denio dos valores de pH e doses de coagulante, foram construdos dez diagramas
de coagulao utilizando dois coagulantes e trs tipos de gua de estudo, conforme
detalhado na Tabela 5.6. Para cada dose e valor de pH, sries de jarros de 2 L foram
submetidos s etapas de coagulao, oculao e sedimentao e, posteriormente,
armazenados por at 50 dias sob condies prximas s existentes nos poos de lodos
dos decantadores - pouca luz e baixa troca de oxignio com ar.
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 177
Tabela 5.6 > Ensaios em bancada realizados na UnB e UFRJ
ESPCIE DE CIANOBACTRIA
(DENSIDADE)
DIAGRAMA DE COAGULAO ENSAIO DO LODO
M. aeruginosa (C1)
(10
6
cel/mL)
2 diagramas,
sulfato de alumnio
2 diagramas, cloreto frrico
1 ensaio, sulfato de alumnio, pH 5,5 e 7
1 ensaio, cloreto frrico, pH 5,5 e 7
C. raciborskii (C2)
(10
6
cel/mL)
2 diagramas,
sulfato de alumnio
2 diagramas, cloreto frrico
1 ensaio, sulfato de alumnio, pH 5,5 e 7
1 ensaio, cloreto frrico, pH 5; 6,5 e 7,5
C. raciborskii (C3)
(10
6
cel/mL)
1 diagrama, sulfato de alumnio
1 diagrama, cloreto frrico
1 ensaio, sulfato de alumnio, pH 5,5 a 8
1 ensaio, cloreto frrico, pH 5,5 a 8
(intervalos de 0,5)
A UnB tambm avaliou, em escala piloto, a remoo de M. aeruginosa e C. raciborskii
por meio da ltrao lenta precedida de pr-ltrao em pedregulho com escoamento
ascendente em subcamadas. A instalao piloto utilizada similar descrita no captulo
4, item 4.5.3.1, com o pr-ltro operando com taxa de ltrao de 10 m
3
/m
2
.d e o ltro
lento com taxa de 3 m
3
/m
2
.d. Foram realizadas duas carreiras de ltrao, com durao
de cerca de 60 dias e com a seguinte sequncia: perodo de amadurecimento do ltro
lento, seguido intercaladamente de perodos de alimentao da instalao com gua
contendo 10
6
cel/mL de cianobactrias (trs dias) e perodos de monitoramento com
alimentao de gua sem cianobactrias. Os perodos de monitoramento permitiam
avaliar a ocorrncia da lise das clulas retidas, a liberao e degradao das toxinas.
5.2.2.2 Sntese dos resultados
As Figuras 5.5 e 5.6 apresentam, respectivamente, as densidades de M. aeruginosa e
C. raciborskii ao longo do tempo de armazenamento do lodo sedimentado, em dois
valores de pH de coagulao com sulfato de alumnio.
Observa-se, nas Figuras 5.5(a) e 5.5(b), que o uso do sulfato de alumnio tendeu a
acelerar o decaimento da densidade das clulas de M. aeruginosa. De modo geral, com
adio de coagulante, aps dez dias de armazenamento do lodo, as clulas encontra-
vam-se em torno de nmeros praticamente no detectveis, enquanto que nos frascos
controle (sem coagulante) isso s foi observado no 15 dia de armazenamento.
O pico de liberao de microcistinas do lodo para gua claricada, para todas as do-
ses de coagulante, se deu em torno do quinto dia de armazenamento, Figura 5.5(c)
e 5.5(d), e, em geral, aps 15 dias os valores encontrados eram inferiores a 1 g/L.
Reetindo o comportamento das clulas nos frascos controle, a reduo nas concen-
traes de microcistinas na ausncia de coagulante ocorreu de forma mais lenta. Alm
GUAS 178
disso, como pode ser visto na Figura 5.5, o pH no parece ter afetado marcadamente a
densidade de clulas de M. aeruginosa no lodo, assim como a liberao e a degradao
de microcistinas ao longo do tempo de armazenamento. Os resultados obtidos so
coerentes com os relatados por Drikas et al. (2001).
FONTE: ERMEL, 2009.
Figura 5.5
Densidade de clulas de M. aeruginosa (a) e (b) e liberao de microcistinas (c) e (d)
ao longo do tempo de armazenamento do lodo sedimentado, em valores de pH de,
respectivamente, 5,5 e 7 coagulao com sulfato de alumnio
As Figuras 5.6(a) e 5.6(b) mostram que, de modo geral, a densidade de clulas de
C. raciborskii tendeu a se aproximar de valores no detectveis aps cinco dias de
armazenamento do lodo, sugerindo, numa primeira avaliao, que essa espcie de
cianobactria mais suscetvel s condies adversas de armazenamento do lodo.
Entretanto, ao se comparar os valores de densidade de clulas de C. raciborskii (Figuras
5.6(a) e 5.6(b)) e de M. aeruginosa (Figuras 5.5(a) e 5.5(b)), verica-se que os valores
iniciais de C. raciborskii eram prximos aos valores observados para as clulas de M.
aeruginosa no quinto dia de armazenamento, sugerindo que a taxa de reduo foi
similar para as duas espcies. Adicionalmente, de forma anloga ao observado para
as clulas de M. aeruginosa, a reduo no nmero de clulas de C. raciborskii no lodo
parece ter sido acelerada pela adio do sulfato de alumnio.
Diferentemente do observado em relao degradao de microcistinas, verica-se,
comparando as Figuras 5.6(c), 5.6(e) e 5.6(g) com as Figuras 5.6(d), 5.6(f) e 5.6(h), que
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 179
Figura 5.6
Densidade de clulas de C. raciborskii (a) e (b) e liberao de saxitoxinas (c), (d), (e),
(f), (g) e (h) ao longo do tempo de armazenamento do lodo sedimentado,
valores de pH de, respectivamente, 5,5 e 7 coagulao com sulfato de alumnio
FONTE: ERMEL (2009).
GUAS 180
o pH de coagulao parece ter inuncia marcante na dinmica de liberao/degrada-
o das saxitoxinas. Ao passo que no pH de coagulao prximo de 7, no 20 dia de ar-
mazenamento, j no se detectava a presena das variantes neo-STX, dc-STX e STX no
claricado, no valor de pH de 5,5 foram necessrios 40 dias para o desaparecimento
das toxinas quando a dose de sulfato de alumnio foi 12 mg/L, e mais que 50 dias com
dose de 29 mg/L. Importante mencionar que a no deteco dessas variantes depois
de um certo perodo no signica ausncia de saxitoxinas, uma vez que outras varian-
tes no foram avaliadas nesse trabalho e pode haver transformaes entre variantes.
A inuncia do pH na persistncia das saxitoxinas j havia sido relatada por Oliveira
(2005); entretanto, essa autora relata que a STX uma das variantes mais persistentes,
enquanto no presente trabalho observou-se que a dc-STX tambm apresenta elevada
persistncia. Essa diferena pode ser atribuda ao fato de que no trabalho de Oliveira
(2005) no se dispunha de padro que permitisse a deteco da variante dc-STX e o
pico relativo a essa toxina pode ter sido confundido com o da STX no cromatograma
em face da proximidade dos mesmos.
Os lodos de sedimentao gerados com a adio de cloreto frrico como coagulante,
tanto para gua contendo M. aeruginosa como contendo C. raciborskii, apresentaram
comportamento com o tempo de armazenamento similar ao observado com o sulfato
de alumnio e ilustrado nas Figuras 5.5 e 5.6. Esses resultados sugerem que o compor-
tamento observado na liberao e degradao de saxitoxinas est provavelmente mais
associado ao pH de coagulao do que ao coagulante utilizado.
importante destacar que os diagramas de coagulao que precederam os ensaios de
armazenamento do lodo revelaram que as maiores ecincias de remoo de clulas
por sedimentao, tanto para M. aeruginosa como para C. raciborskii, ocorreram em
valores de pH de coagulao inferiores a 6,5, portanto, de forma contrria ao obser-
vado no estudo desenvolvido na UFV (Figuras 5.2(a) e 5.3(a)). Tais diferenas podem
estar associadas s caractersticas da gua utilizada em cada caso para preparao da
gua de estudo e revelam a importncia de outros parmetros de qualidade da gua
(alcalinidade, matria orgnica dissolvida, turbidez mineral etc.) na denio da regio
tima para remoo de cianobactrias.
O comportamento do lodo gerado resultante da utilizao do sulfato de alumnio e
do cloreto frrico para coagulao-oculao-sedimentao de clulas da cepa de C.
raciborkii produtora de cilindrospermopsina mostrado na Figura 5.7. Esses ensaios,
pioneiros, foram realizados no LETC/UFRJ.
Apesar da variabilidade dos dados, observa-se na Figura 5.7 que a cilindrospermopsina
mostrou-se persistente aps 14 dias de armazenamento. De modo geral, indepen-
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 181
dentemente do valor do pH e do coagulante utilizado, entre o stimo e o 14 dia de
armazenamento a concentrao de cilindrospermopsina permaneceu relativamente
estvel, exceto no caso do pH 7 e coagulao com sulfato de alumnio. Esse compor-
tamento da cilindrospermopsina, que no se assemelha nem ao das microcistinas nem
ao das saxitoxinas, merece, portanto, investigaes adicionais, incluindo tempos de
armazenamento mais longos.
Como descrito no item 5.2.2.1, a UnB tambm avaliou a remoo de clulas de M.
aeruginosa e C. raciborskii por meio da ltrao lenta precedida de pr-ltrao em
pedregulho. Os principais resultados obtidos esto resumidos na Figura 5.8. Essa ava-
liao foi motivada pelos resultados relatados por S (2006) e Melo (2006). De acordo
com S (2006), quando o ltro lento foi alimentado com gua contendo clulas de
M. aeruginosa da ordem 10
6
cel/mL, houve arraste de clulas previamente retidas,
comprometendo a qualidade da gua produzida. Por outro lado, segundo Melo (2006),
quando a cianobactria presente na gua de alimentao dos ltros lentos foi a C.
raciborskii (10
6
cel/mL) no foi observado o transpasse de clulas, mas ocorreu cresci-
mento acelerado da perda de carga, obrigando a interrupo da carreira de ltrao.
FONTE: AZEVEDO; MAGALHES (2009).
Figura 5.7
Liberao de cilindrospermopsina com uso do sulfato de alumnio (a) e (b)
e do cloreto frrico (c) e (d) ao longo do tempo de armazenamento do lodo
sedimentado, valores de pH 5,5 e 7
A B
C D
GUAS 182
O conjunto pr-ltro de pedregulho de escoamento ascendente e ltro lento, Figuras
5.8(a) e 5.8(b), garantiu, nas condies estudadas (10
6
cel/mL, clorola-a na faixa de
200 a 300 g/L), elevada remoo de biomassa das cianobactrias (at 99% de M. ae-
ruginosa e at 99,9% de C. raciborskii) e baixo crescimento da perda de carga, Figuras
5.8(c) e 5.8(d). Como j relatado na literatura, foi observada ocorrncia de lise celular
e liberao de cianotoxinas na pr-ltrao e na ltrao lenta, porm, a remoo
de microcistinas (considerando massa total auente e euente do sistema) variou
de 2 a 3 log (99 a 99,9%); entretanto, na primeira inoculao, em funo da elevada
concentrao de microcistinas na gua bruta e do grau de amadurecimento biolgico
do ltro, valores superiores a 1 g/L foram pontualmente registrados. J em relao
remoo de saxitoxinas, apesar da elevada remoo de clulas de C. raciborskii, os
resultados foram pouco consistentes e sugerem que o sistema apresenta diculdade
para oxidar/degradar esse tipo de toxina e, nesse caso, os indcios aqui reunidos me-
recem conrmao em estudos complementares.
FONTE: AMANCIO (2007).
Figura 5.8
Remoo de clulas (expressa como clorola-a) de M. aeruginosa (a)
e C. raciborskii (b) na ltrao lenta precedida de pr-ltrao em pedregulho
e respectiva perda de carga nos ltros lentos (c) e (d)
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 183
5.2.3 Unesp - Ilha Solteira
5.2.3.1 Delineamento experimental
Na ltrao em mltiplas etapas (FiME), a produo de gua limitada pela baixa
taxa de ltrao dos ltros lentos, particularmente no caso da remoo de ciano-
bactrias e cianotoxinas, em que a taxa inuencia marcadamente a ecincia dessa
unidade. Nesse sentido, o trabalho da Unesp objetivou introduzir modicaes nos
ltros lentos visando o aumento da vazo nal tratada, mas com diminuio da taxa
supercial de aplicao, por meio do emprego de colunas verticais de ltrao, onde
se obtm aumento da rea ltrao. No arranjo proposto pela Unesp, Figura 5.9(a),
a etapa de ltrao lenta realizada por duas unidades: coluna vertical de ltrao
lenta (CF), onde o escoamento da gua se d no sentido radial, Figura 5.9(b), e ltro
lento complementar (FDC), que pode ser operado com taxas de ltrao mais elevadas.
Para garantir a remoo de cianotoxinas, o sistema foi complementado com unidade
de carvo ativado granular.
FONTE: TANGERINO (2008).
Figura 5.9
Arranjo esquemtico da etapa de ltrao lenta e carvo ativado
granular na FiME modicada (a) e detalhe da coluna de ltrao lenta (b),
instalao piloto da Unesp - Ilha Solteira
GUAS 184
A instalao piloto de FiME utilizada nos experimentos apresentada na Figura 5.10.
Nessa instalao, o sistema de pr-tratamento (pr-ltro dinmico - PFD e pr-ltro
ascendente - PFVA) pode alimentar tanto as quatro colunas de ltrao lenta, com
taxas de ltrao distintas (CF1 - 0,38 m
3
/m
2
.d; CF2 - 3 m
3
/m
2
.d, CF3 - 0,75 m
3
/m
2
.d
e CF4 1,5 m
3
/m
2
.d), como os ltros lentos convencionais (FL1 e FL2 3 m
3
/m
2
.d).
Para a avaliao da remoo de cianobactrias e cianotoxinas com as modicaes
propostas, a gua euente das etapas de pr-ltrao em pedregulho foi inoculada
(ponto Px na Figura 5.10), em quatro ensaios distintos, com clulas de M. aeruginosa
nas densidades de 10
5
, 10
4
e 10
3
cel/mL, e com microcistina extracelular (dissolvida)
com concentrao de 5, 15 e 30 g/L por trs dias consecutivos.
A equipe da Unesp avaliou tambm, em carter preliminar, a remoo de microcistinas
em colunas de carvo biologicamente ativo. Para o desenvolvimento do trabalho, realiza-
do em escala piloto, foram utilizadas duas colunas verticais de carvo ativado granular,
operadas com a mesma taxa de ltrao, sendo que uma delas foi alimentada com gua
inoculada com microcistinas (coluna A) e a outra com gua, com microcistinas e com
azida sdica, que tem a funo de inibir a atividade biolgica no carvo (coluna B). A gua
bruta, que recebia aplicao de cianotoxinas extracelulares, era bombeada de um lago.
5.2.3.2 Sntese dos resultados
Nos ensaios com aplicao do cultivo de clulas de cianobactrias, a turbidez no
euente das colunas de ltrao lenta manteve-se abaixo de 1 UT, sendo que a coluna
com maior taxa de aplicao (CF2) apresentou valores remanescentes de turbidez mais
elevados, valor mdio de 0,51 UT, enquanto, como esperado, a coluna com menor taxa
de aplicao (CF1) apresentou melhor ecincia, com valor mdio de turbidez euente
Figura 5.10 Arranjo (a) e fotograa (b) da instalao piloto da Unesp - Ilha Solteira
FONTE: TANGERINO (2008).
A B
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 185
de 0,36 UT. Importante mencionar que a gua auente a essas unidades apresentou
turbidez variando na faixa de 0,5 a 3,2 UT. A remoo de clulas de cianobactrias na
instalao atingiu valores superiores a 95%, como ilustra a Figura 5.11.
A remoo de microcistinas, quando da aplicao do cultivo de cianobactrias, foi
inferior a 20%, com concentrao no euente nal acima de 1g/L, indicando a ocor-
rncia de lise em diferentes etapas do tratamento. Entretanto, no ensaio com inocu-
lao de microcistinas dissolvida, os resultados apresentados foram melhores, sendo
que o ltro complementar de areia foi a unidade que apresentou as maiores ecin-
cias de remoo de toxinas.
No experimento com carvo biologicamente ativo, observou-se na coluna A, sem azi-
da, que o processo apresentou remoo mdia de microcistinas de 90%. J na coluna
B, com azida, o processo no apresentou a mesma ecincia, sugerindo que a ativida-
de biolgica favorece a maior ecincia das unidades de carvo ativado granular.
5.2.4 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
5.2.4.1 Delineamento experimental
As investigaes foram conduzidas por meio de ensaios em bancada e em instalaes
piloto localizadas junto ETA da Companhia Catarinense de guas e Saneamento
(Casan), s margens da Lagoa do Peri, sul de Florianpolis. Foram utilizados dois siste-
mas de ltrao em margem - sendo um que compreende poos de captao de gua
ltrada e de proteo perfurados na margem da lagoa do Peri (ver Figura 5.1) e outro
Figura 5.11
Remoo de clulas de Microcystis aeruginosa nas colunas de ltrao lenta
(CF1 - 0,38 m
3
/m
2
.d; CF2 - 3 m
3
/m
2
.d, CF3 - 0,75 m
3
/m
2
.d e CF4 1,5 m
3
/m
2
.d)
e no ltro lento complementar (FDC - 5,7 m
3
/m
2
.d)
FONTE: TANGERINO (2008).
GUAS 186
em escala piloto que consiste de colunas em srie que perfazem um tempo de contato
de 50 dias (Figura 5.12(a)) e um sistema de ltrao direta (Figura 5.12(b)).
Os experimentos foram desenvolvidos em trs etapas, a saber: (i) caracterizao do
manancial lagoa do Peri e da gua ltrada em margem (poo), com particular ateno
quanticao da cianobactria C. raciborskii e suas saxitoxinas; (ii) (a) ensaios de
bancada para avaliao da capacidade adsortiva do material sedimentar da lagoa do
Peri em relao s saxitoxinas (soluo diluda em gua destilada); (b) ensaios para
simulao da ltrao em margem em coluna ltrante, preenchida com material se-
dimentar e alimentada com gua de estudo preparada pela diluio de cultivo de C.
raciborskii em gua destilada; (iii) ensaio de ltrao direta com escoamento descen-
dente, com o ltro de camada dupla (antracito e areia, taxa de ltrao de 200 m
3
/
m
2
.d). Os ensaios foram realizados com dois tipos de gua: (1) gua da lagoa do Peri
(bruta); e, (2) gua de estudo composta de 85% da gua ltrada em margem + 15%
da gua da lagoa.
5.2.4.2 Sntese dos resultados
Os valores mdios de alguns parmetros de qualidade da gua da lagoa do Peri (bruta)
e da gua ltrada em margem (poo) esto apresentados na Tabela 5.7. A turbidez
e a cor aparente remanescente da gua ltrada em margem foram, em mdia, de
0,39 UT e 13 uC, respectivamente, que equivale a uma ecincia mdia de remoo de
79% da cor aparente e de 91% da turbidez. A lagoa apresentou elevada densidade de
Figura 5.12
Detalhes das instalaes piloto da UFSC, sistema de ltrao em margem
em colunas (a) e esquema do sistema de ltrao direta descendente (b)
FONTE: SENS ET AL. (2008).
A B
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 187
toplncton, de 10
5
a 10
6
cel/mL, enquanto que na gua ltrada em margem nenhuma
clula foi detectada. A avaliao qualitativa e quantitativa do toplncton na Lagoa
do Peri nos meses de janeiro de 2007 a maio de 2008 indicou predominncia de cia-
nobactrias, aproximadamente 99% do total de clulas, majoritariamente da espcie
Cylindrospermopsis raciborskii, apresentando valores de 10
5
a 10
6
clulas/mL. A Figura
5.13 mostra de forma simplicada os quantitativos desse perodo.
Tabela 5.7 > Caractersticas da gua da lagoa do Peri e da gua ltrada em margem
PARMETROS
GUA DA LAGOA DO PERI (BRUTA)
VALOR MDIO/FAIXA DE VARIAO
GUA FILTRADA EM MARGEM
VALOR MDIO/FAIXA DE VARIAO
Cor aparente (uC) 62 / 45 - 90 13 / 2 - 14
Turbidez (UT) 4,31 / 2,86 -7,09 0,39 / 0,31 - 0,64
pH 7,05 / 6,79 - 7,66 7,81 / 7,52 - 8,07
Alcalinidade (mgCaCO
3
/L ) 7,64 / 6,4 - 8,9 89 / 79,6-96
Dureza (mgCaCO
3
/L ) 10,5/ 9 - 11,1 85 / 78,8 - 92
Cloreto (mgCl-/L ) 17,1 / 15,9 - 18,6 17,7 / 16 - 21
STD (mg/L) 36 / 28 - 50 118 / 102 - 151
OD (mg/L) 7,62 / 6,8 - 8,9 2,62 / 2,1 - 2,9
Fitoplncton total (cel/mL) 1,79 x 10
5
1,81 x 10
6
Ausente
FONTE: SENS ET AL. (2008).
Os ensaios de adsoro em bancada (isotermas de adsoro de saxitoxinas, deter-
minadas em triplicata, ajustadas segundo o modelo de Freundlich) revelaram que a
capacidade do sedimento da lagoa do Peri em adsorver saxitoxinas baixa (K = 0,5
e n = 2), o que sugere que o bom desempenho da ltrao em margem (Tabela 5.7)
pode ser atribudo biodegradao. Em relao degradao de saxitoxinas nas colu-
nas ltrantes, os resultados preliminares obtidos se mostram muito promissores. Em
amostras coletadas aps tempo de contato equivalente a 15 dias, no foi detectada a
presena de nenhuma das variantes de saxitoxinas presentes na gua de alimentao
da coluna (cerca de 82 g/L de neo-STX e 1 g/L de GTX2), embora no quinto dia pra-
ticamente toda toxina alimentada ainda estivesse presente na gua. Esse dado revela
a importncia do posicionamento do poo de captao na ltrao em margem para
garantir o tempo de contato necessrio para remoo dos contaminantes.
Muito embora a ltrao em margem como nica etapa de tratamento tenha revelado
excelente desempenho, nas pesquisas da UFSC foi tambm avaliada a ltrao em
margem como pr-tratamento para ltrao direta descendente (FDD). Carreiras de
ltrao direta foram realizadas com gua da lagoa do Peri (bruta) e gua de estudo
(85% da gua ltrada em margem + 15% da gua da lagoa). Da Tabela 5.8, que resume
os resultados obtidos, observa-se que nos ensaios em que foi utilizada a ltrao em
GUAS 188
Tabela 5.8 > Carreiras de ltrao direta descendente usando gua bruta e gua de estudo
PARMETRO COMPOSIO DO TRATAMENTO
gua bruta gua de estudo
Cor aparente (uH)
Turbidez (UT)
Absorbncia ( = 254 nm)
Dosagem de Sulfato de Alumnio (mg/L)
Fitoplncton total (cel/mL)
Cylindrospermopsis raciborskii (cel/mL)
64
3,88
0,105
18
7,4 x 10
5
7,2 x 10
5
17
1,19
0,084
10
1,5 x 10
5
1,2 x 10
5
Parmetro
Filtrao direta
descendente
Filtrao direta
descendente
Durao das carreiras (h),
para atingir 2 m de perda de carga
10 38
Turbidez mdia remanescente (UT) 0,67 0,29
Cor aparente mdia (uC) 6 3
Absorbncia mdia (= 254 nm) 0,052 0,046
Fitoplncton total (cel/mL)
Cylindrospermopsis raciborskii (cel/mL)
7,2 x 10
4
7,1 x 10
4
2,4 x 10
3
2,2 x 10
3
FONTE: SENS ET AL. (2008).
margem (85% FM + 15% lagoa) a dose de sulfato de alumnio necessria para a ltrao
direta foi inferior (10 mg/L) e as carreiras de ltrao resultaram trs a quatro vezes mais
Figura 5.13
Densidade de toplncton na gua bruta da Lagoa do Peri, Florianpolis-SC,
janeiro de 2007 a maio de 2008
FONTE: TSENS ET AL. (2008).
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 189
longas do que com gua bruta da lagoa do Peri. Alm disso, a qualidade da gua produ-
zida foi superior em todos os parmetros avaliados, incluindo matria orgnica (avaliada
por meio da leitura da absorbncia a 254 nm) e contagem de toplncton.
Considerao importante diz respeito ao nmero de clulas de Cylindrospermopsis
raciborskii no euente da ltrao direta em cada situao estudada. Verica-se na
Tabela 5.8 que com a adoo da ltrao em margem a gua produzida apresenta
uma ordem de grandeza a menos de clulas dessa espcie produtora de saxitoxinas,
reduzindo tanto os riscos de liberao de toxinas na etapa de desinfeco como de
formao de subprodutos clorados.
5.2.5 Consideraes nais
Os projetos descritos neste captulo agregam informaes relevantes literatura na-
cional e internacional sobre o potencial de remoo de cianobactrias por meio de
tcnicas convencionais de tratamento (tratamento em ciclo completo), da ltrao
lenta e da ltrao em margem.
Os experimentos realizados na UFV fornecem importantes subsdios sobre o potencial
de remoo e sobre o controle de coagulao em eventos de orao, tanto de Mi-
crocystis aeruginosa como Cylindropermopsis raciborskii, por meio de tcnicas con-
vencionais de tratamento, mais especicamente a decantao e a ltrao (emprega-
das na maioria das ETAs no Brasil).
preciso, entretanto, destacar duas especicidades desses experimentos: (i) a remo-
o de C. raciborskii se deu de forma mais efetiva do que a de M. aeruginosa; (ii) os ex-
perimentos foram conduzidos com inculos de cultivos de cada um desses organismos
isoladamente, ou mistos, com os dois. Os resultados conrmam, assim, o entendimen-
to consolidado de que os mecanismos e o desempenho dos processos de tratamento
so funo do(s) e devem ser adequados ao(s) tipo(s) de organismo(s) presente(s) ou
preponderante(s) na gua. Portanto, por relevantes que sejam, esses resultados no
podem ser genericamente extrapolados, pois, na prtica, oraes de cianobactrias
podem conter populaes complexas desses organismos.
A questo da necessidade de se tratar adequadamente casos especcos, e a impor-
tncia de outros parmetros de qualidade da gua, foi ainda revelada pelos distintos
resultados obtidos nos experimentos da UFV e da UnB em termos de otimizao da
coagulao para a remoo de clulas por sedimentao, tanto para M. aeruginosa
como para C. raciborskii.
Tambm preciso rearmar a ressalva j feita de que, mesmo com as elevadas remo-
es de clulas que podem ser obtidas no conjunto sedimentao-ltrao, densida-
GUAS 190
des relativamente altas de clulas no euente ltrado ainda podem ocorrer a depender
da densidade na gua bruta. Nesses casos, a desinfeco/oxidao, se no adequada-
mente realizada, pode provocar a liberao de cianotoxinas.
O problema de liberao de cianotoxinas durante o processo de tratamento foi cons-
tatado nos experimentos da UnB com armazenamento de lodo sedimentado. Entre-
tanto, se por um lado isso revela potencial de introduo de perigo, por outro, os
experimentos e os resultados delineiam que medidas adequadas de controle podem
ser empregadas, mais especicamente a adequada frequncia de descarte de lodo.
Encontra-se aqui, claramente, indicativo para a continuidade de pesquisas, tendo em
vista subsdios prtico-operacionais.
A agenda para pesquisas futuras tambm foi alinhavada pelos resultados obtidos pela
UnB com o conjunto pr-ltro de pedregulho de escoamento ascendente e ltro lento,
alternativa de tratamento promissora, mas ainda pouco estudada em termos de remo-
o de cianobactrias e protozorios (ver captulo 4). Resultados preliminares revelam
elevado potencial de remoo de cianobactrias (aqui tambm a remoo de C. racibor-
skii foi mais efetiva do que a de M. aeruginosa), mas tambm chamam ateno para o
problema de liberao de toxinas, porm, eventualmente seguida de biodegradao.
Com enfoque anlogo, podem ser interpretados os experimentos da Unesp - Ilha Sol-
teira resultados preliminares sobre uma tcnica de tratamento inovadora e promis-
sora (como variante da ltrao lenta), os quais revelam a capacidade potencial de
remoo de clulas (Microcystis aeruginosa), mas que tambm chamam ateno para
a necessidade de melhor apropriao do problema de liberao/remoo de cianoto-
xinas (microcistinas).
Por m, os experimentos da UFSC conrmam o excelente desempenho alcanvel pela
ltrao em margem na remoo de cianobactrias (Cylindrospermopsis raciborskii) e
agregam importantes informaes sobre a remoo de toxinas (saxitoxinas), presu-
mivelmente com mecanismos de degradao prevalecendo sobre os de adsoro no
meio ltrante. Registre-se que informaes dessa natureza constituem importantes
subsdios de concepo e projeto de sistemas de ltrao em margem, por exemplo,
em relao ao adequado posicionamento dos poos de captao.
Referncias bibliogrcas
AMANCIO, R.A.J. Avaliao da ecincia da ltrao lenta precedida de pr-ltrao em pedregu-
lho na remoo de cianobactrias e cianotoxinas. 2007. 77 p. Monograa (Trabalho de Concluso
de Curso) - Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Braslia, 2007.
ARANTES, C. Uso da ltrao lenta para a remoo de Cylindrospermopsis raciborskii e saxitoxi-
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 191
nas. 2004. 109 p. Dissertao (Mestrado em Biologia Animal) - Departamento de Cincias Fisio-
lgicas, Universidade de Braslia, 2004.
AZEVEDO, S.M.F.; MAGALHES, V. Comunicao pessoal. 2008.
BASTOS, R.K.X.; BEVILACQUA, P.D.; MOUNTEER, A.H. Tratamento de gua para remoo de orga-
nismos emergentes cianobactrias e protozorios. Relatrio de Atividades Edital 5 do Prosab
Tema 1. Finep, Rio de Janeiro: Finep, 2008.
BERNHARDT, H.; CLASEN, J. Investigations into the occulation mechanisms of small algal cells.
Journal Water SRT-Aqua, v. 43, n. 5, p. 222-232, 1994.
______. Flocculation of micro-organisms. Journal Water SRT-Aqua, v. 40, n. 2, p. 76-81, 1991.
BOURNE, D.G. et al. Biodegradation of the cyanobacterial toxin microcystin LR in natural water
and biologically active slow sand lters. Water Research, v. 40, p. 1294-1302, 2006.
BRASIL. Ministrio da Sade. Portaria n 518: Procedimentos e responsabilidades relativos ao
controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo humano e seu padro potabilidade.
Dirio Ocial da Unio. 25 mar. 2004.
CHORUS, I.; BARTRAM, J. (eds.) Toxic Cyanobacteria in Water. Londres: E&FN Spon, 1999.
CHOW, C.W.K. et al. The impact of conventional water treatment processes on cells of the Cy-
anobacterium Microcystis aeruginosa. Water Research, v. 33, n. 15, p. 3253-3262, 1999.
CHOW, C.W.K. et al. The effect of ferric chloride occulation on cyanobacterial cells. Water Re-
search, v. 32, n. 3, p. 808-814, 1998.
Di BERNARDO, L. et al. Filtrao direta. In: PDUA, V.L. (ed.). Contribuio ao estudo da remoo
de cianobactrias e microcontaminantes orgnicos por meio de tcnicas de tratamento de gua
para consumo humano. Rio de Janeiro: ABES-Projeto Prosab, 2006. p. 275-334.
DRIKAS, M. Control and removal of algal toxins. In: STEFFENSEN, D.A.; NICHOLSON, B.C. (eds.)
Toxic cyanobacteria current status of research and management: proceedings of an international
workshop. Australia, 1994. p. 93-102.
DRIKAS, M. et al. Using coagulation, occulation e settling to remove toxic cyanobacteria. Jour-
nal of American Water Works Association, v. 93, n. 2, p. 100-111, 2001.
EDZWALD, J.K.; WINGLER, B.J. Chemical and physical aspects of dissolved air otation for the
removal of algae. Journal Water SRT-Aqua, v. 39, n. 1, p. 24-35, 1990.
ERMEL, A.V.B. Inuncia do pH de coagulao na lise celular, produo e degradao de cianotoxinas
em lodos de sedimentadores. 2009. Dissertao (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hdri-
cos) - Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Braslia. Em elaborao.
FALCONER, I.R. et al. Using activated carbon to remove toxicity from drinking water containing
cyanobacterial blooms. Journal of American Water Works Association, v. 81, n. 2, p. 102-105, 1989.
GRTZMACHER, G. et al. Removal of Microcystis by slow sand ltration. Environmental Toxicol-
ogy, v. 17, n. 4, p. 386-394, 2002.
GUAS 192
HART, J.; FAWELL, J.K.; CROLL, F.B. The fate of both intra- and extracellular toxins during water
treatment. Water Supply, v. 16, n. 1/2, p. 611-616, 1998.
HIMBERG, K. et al. The effect of water treatment processes on Microcystis e Oscillatoria Cy-
anobacteria: a laboratory study. Water Research, v. 23, n. 8, p. 979-984, 1989.
HO, L. et al. Isolation and identication of a novel microcystin-degrading bacterium from biologi-
cal sand lter. Water Research, v. 41, p. 4685-4695, 2007A.
______. Degrading of microcystin-LR throug biological sand lter. Practice Periodical of Hazard-
ous, Toxic, and Radioactive Wastemangement-ASCE, v. 11, n. 3, p. 191- 195, 2007B.
HO, L. et al. Bacterial degradation of microcystis toxins within a biologically active sand lter.
Water Research, v. 40, n. 4, p. 768-774, 2006.
HOEGER, S.J. et al. Occurrence and elimination of cyanobacterial toxins in two Australian drink-
ing water treatment plants. Toxicon, v. 43, n. 6, p. 639649, 2004.
HRUDEY, S., et al. Remedial measures. In: CHORUS, I.; BARTRAM, J. (eds.) Toxic cyanobacteria in
water. Londres: E&FN Spon, 1999. p. 275-312.
JAMES, H.; FAWEL, J. Detection and removal of cyanobacterial toxins from fresh waters. Final
Report 0211. Foudation for Water Research. Marlow, UK: 1991. (citado em apud)
JURCZAK, T. et al. Elimination of microcystins by water treatment processes examples from
Sulejow reservoir, Poland. Water Research, v. 39, p. 2394-2406, 2005.
KAUR, K. et al. Treatment of algal-laden water: pilot-plant experiences. Journal IWEM, v. 8, p.
22-32, 1994.
KEIJOLA, A.M. et al. The removal of cyanobacterial toxins in water treatment processes: labora-
tory and pilot-scale experiments. Toxic Assessment: An International Journal, v. 3, n. 5, p. 643-
656, 1988.
KURODA, E.K. Remoo de clulas e subprodutos de Mixrocystis spp. por dupla ltrao, oxidao
e adsoro. 2006. 267 p. Tese (Doutorado em Hidrulica e Saneamento) - Escola de Engenharia
de So Carlos, Universidade de So Paulo, So Carlos, 2006.
KURODA, E.K.; Di BERNARDO, L. Determinao das condies de coagulao qumica para ltra-
o direta com guas contendo clulas e subprodutos de cianobactrias. In: 23
O
CONGRESSO
BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL, 2005. Campo Grande. Anais... Rio de
Janeiro: Associao Brasileira de Engenharia Sanitria e Ambiental, 2005. (CD)
LAHTI, K. et al. Fate of cyanobacterial hepatotoxins in articial recharge of groundwater and in
bank ltration. In: PETERS, J. (ed.) Articial recharge of groundwater. Roterd: 1998. p. 211216.
LAM, A.K.Y. et al. Chemical control of hepatotoxic phytoplankton blooms: implications for human
health. Water Research, v. 29, n. 8, p. 1845-1854, 1995.
LI, R.et al. First report of the cyanotoxins cylindrospermopsin and deoxycylindrospermopsin from
Raphidiopsis curvata (cyanobacteria). J. Phycol., v. 37, n. 6, p. 1121-1126, 2001.
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 193
MELO, A.E.S. Avaliao da ltrao lenta na remoo de clulas de Cylindrospermopsis raciborskii
e saxitoxinas. 2006. 197 p. Dissertao (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hdricos)
- Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Braslia, 2006.
MELLO, O.M.T. Avaliao do desempenho da ltrao em mltiplas etapas no tratamento de
guas com elevadas concentraes de algas. 1998. 136 p. Dissertao (Mestrado em Tecnologia
Ambiental e Recursos Hdricos) - Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade
de Braslia, 1998.
MILLER, M.J. et al. The adsorption of cyanobacterial hepatotoxins from water onto soil during
batch experiments. Water Research, v. 35, n. 6, p. 1461-1468, 2001.
MORAIS, A.A. et al. Diagramas de coagulao e avaliao do potencial de remoo de clulas de
Microcystis aeruginosa e Cylindrospermopsis raciborskii por processos convencionais de trata-
mento de gua. In: 25 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL, 2009,
Recife. Anais... Recife: 2009A.
MORAIS, A.A. et al. Avaliao da remoo de clulas da cianobactria Microcystis aeruginosa em
instalao piloto de processos convencionais de tratamento de gua. In: 25 CONGRESSO BRASI-
LEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL, 2009, Recife. Anais... Recife: 2009B.
MORIS, R.J. et al. The adsorption of microcystin-LR bay natural clay particles. Toxicon, v. 38, n. 2,
p. 303-308, 2000.
MOUCHET, P.; BONNLYE, V. Solving algae problems: French expertise and world-wide applica-
tions. Journal Water Supply: Research and Technology AQUA, v. 47, n. 3, p. 125-141, 1998.
OLIVEIRA, J.M.B. Remoo de Cylindrospermopsis raciborskii por meio de sedimentao e de o-
tao: avaliao em escala de bancada. 2005. 122 p. Dissertao (Mestrado em Tecnologia Am-
biental e Recursos Hdricos) - Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de
Braslia, 2005.
OLIVEIRA, J.M.B. ; BRANDO, C.C.S. ; PIRES JR, O.R. Remoo de Cylindrospermopsis raciborskii
por meio de sedimentao e de otao: Avaliao em escala de bancada. Anais do 24 Congresso
Brasileiro de Engenharia Sanitria e Ambiental. Belo Horizonte. 2007. 8 p.
OSHIMA, Y. Post-column derivatization HPLC methods for paralytic shellsh poisons. In: HAL-
LEGRAEF, G.M.; ANDERSON, D.M.; CEMBELLA, A.D. (eds.) Manual on harmful marine microalgae,
IOC manuals and guides N 30. Paris: United Nations Educational, Scientic and Cultural Orga-
nization, 1995. p. 81-94.
PDUA, V.L. (coord.) Contribuio ao estudo da remoo de cianobactrias e microcontaminantes
orgnicos por meio de tcnicas de tratamento de gua para consumo humano. Rio de Janeiro:
ABES-Projeto Prosab, 2006. 504 p.
S, J.C. Inuncia das caractersticas da camada da ltrante e da taxa de ltrao na ecincia de
remoo de Microcystis aeruginosa e microcistina na ltrao lenta em areia. 2006. 186 p. Tese
(Doutorado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hdricos) - Departamento de Engenharia Civil e
Ambiental, Universidade de Braslia, 2006.
GUAS 194
______. Remoo de Microcystis aeruginosa e microcistina pelo processo de ltrao lenta. 2002.
115 p. Dissertao (Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hdricos) - Departamento de
Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Braslia, 2002.
SAIDAM, M.Y.; BUTLER, D. Algae removal by horizontal ow rock lters. In: GARHAM, N.; COLLINS,
R. (eds.) Advances in slow sand and alternative biological ltration. Londres: John Wiley & Sons,
1996. p. 327-340.
SANTIAGO, L.M. Remoo de clulas de cianobactrias por processos de sedimentao e ota-
o por ar dissolvido: avaliao em escala de bancada. 2008. 147 p. Dissertao (Mestrado em
Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hdricos) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2008.
SCHMIDT, C.K.; LANGE, F.T.; BRAUCH, H.J. Assessing the impact of local boundary conditions
on the fate of organic micropollutants during underground passage. In: GIMBEL, R.; GRAHAM,
N.J.D.; COLLINS, M.R. (eds). Recent progress in the slow sand and alternative bioltration pro-
cesses. International Water Association Publishing, 2006. p. 561-569.
SCHMIDT, W. et al. Production of drinking water from raw water containing Cyanobac-
teria pilot plant studies for assessing the risk of microcystin breakthrough. Environ-
mental Toxicology, v. 17, p. 375-385, 2002.
SENS, M.L. et al. Filtrao em margem. In: PDUA, V.L. (coord.). Contribuio ao estudo
da remoo de cianobactrias e microcontaminantes orgnicos por meio de tcnicas
de tratamento de gua para consumo humano. Rio de Janeiro: ABES-Projeto Prosab,
2006. p. 173-236.
SENS, M.L. et al. Filtrao direta descendente com pr-oculao em meio granular ex-
pandido: aspectos hidrulicos e produtivos. Relatrio de Atividades, Edital 3 do Prosab,
Tema 1 - Continuidade. Rio de janeiro: Finep, 2003.
______. (2002). Filtrao direta descendente com pr-oculao em meio granular
expandido: aspectos hidrulicos e produtivos. Relatrio de Atividades, Edital 3 do Pro-
sab, Tema 1. Rio de Janeiro: Finep, 2002.
SENS, M.L. et al. (2008) Filtrao em margem como como pr-tratamento de guas
poludas por toxinas, microrganismos e microcontaminantes: subprojeto avaliao da
ltrao em margem como pr-tratamento ltrao direta descendente na remoo
de cianobactrias e cianotoxinas. Relatrio de Atividades, Edital 5 do Prosab, Tema 1.
Rio de Janeiro: Finep, 2008.
SOUZA JR., W.A. Filtrao em mltiplas etapas aplicada ao tratamento de gua com
presena de algas: avaliao de variveis operacionais. 1999. 131 p. Dissertao (Mes-
trado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hdricos) - Departamento de Engenharia
Civil e Ambiental, Universidade de Braslia, 1999.
TRATAMENTO DE GUA E REMOO DE CIANOBACTRIAS E CIANOTOXINAS 195
STEFFENSEN, D.A.; NICHOLSON, B.C. Summary of discussion Session IV: Control and
removal of toxins. In: STEFFENSEN, D.A.; NICHOLSON, B.C. (eds.) Toxic cyanobacteria
current status of research and management: proceedings of an international work-
shop. Adelaide, Austrlia: 1994. p. 125-126.
TANGERINO, E.P. Utilizao de sistemas alternativos de tratamento de gua na remo-
o de algas e cianobactrias. Relatrio de Atividades, Edital 5 do Prosab, Tema 1. Rio
de Janeiro: Finep, 2008.
TANGERINO, E.P.; CAMPOS, L.C.; BRANDO, C.C.S. Filtrao lenta. In: PDUA, V.L. (co-
ord.). Contribuio ao estudo da remoo de cianobactrias e microcontaminantes
orgnicos por meio de tcnicas de tratamento de gua para consumo humano. Rio de
Janeiro: ABES-Projeto Prosab, 2006. p. 237-273.
TEIXEIRA, M.R.; ROSA, M.J. Comparing dissolved air otation and conventional sedi-
mentation to remove cyanobaterial cells of Microcystis aeruginosa. Part II: The effect
of water background organics. Separation and Purication Technology, v. 53, p. 126-
134, 2007.
______. Comparing dissolved air otation and conventional sedimentation to remove
cyanobaterial cells of Microcystis aeruginosa. Part I: The key operating conditions.
Separation and Purication Technology, v. 52, p. 84-94, 2006.
VAITOMAA, J. Fate of blue-green algae and their hepatotoxins during inltration: ex-
periments with soil and sediment columns. The Finnish Environment, 174, Helsinki,
Filndia: The Finnish Environment Institute, 1998.
VLAKI, A.; VAN BREEMEN, A.N.; ALAERTS, G.J. The role of particle size and density
in dissolved air otation e sedimentation. Water Science & Technology, v. 36, n. 4, p.
177-189, 1997.
______. (1996). Optimisation of coagulation conditions for the removal of cyanobac-
teria by dissolved air otation or sedimentation. Jour. Water SRT-Aqua, v. 45, n. 5, p.
253-261, 1996.
WELKER, M.; BICKEL, H.; FASTER, J. HPLC-PDA detection of cylindrospermopsin: op-
portunities and limits. Water Research, v. 36, p. 4659-4663, 2002.
ZABEL, T.F. The advantages of dissolved air otation for water treatment. Journal of
American Water Works Association, v. 77, n. 5, p. 42-46, 1985.
6.1 Introduo
A exposio do homem aos agrotxicos ocorre por trs tipos de vias: oral, respirat-
ria e cutnea. Segundo a Organizao Mundial de Sade (OMS), a contaminao dos
alimentos pelos agrotxicos a via de exposio mais importante. As avaliaes dos
riscos atribuem 90% da exposio alimentao, 9,5% gua e uma parte menor
ao ar (CPP, 2002). Faltam estudos dos efeitos atravs da via cutnea em populaes
expostas. Uma vez no organismo, os agrotxicos se acumulam no tecido adiposo e a
toxicidade difere segundo a substncia ativa que o compe. A acumulao dos orga-
noclorados importante, no homem, no tecido adiposo, no fgado e nos msculos.
Os organofosforados apresentam toxicidade aguda mais importante, mas so menos
persistentes. Eles se acumulam principalmente nas gorduras e no fgado, mas no
so cancergenos. Os carbamatos tm toxicidade similar dos organofosforados e
so extremamente txicos na forma aguda. Os herbicidas perturbam essencialmente
o metabolismo dos vegetais, sendo pouco txicos para os mamferos. Quanto aos
fungicidas, sua toxicidade sobre os mamferos varivel, situando-se normalmente
entre os inseticidas e os herbicidas (GERIN; GOSSELIN; CORDIER, 2003). As intoxica-
es agudas so geralmente pequenas, de carter acidental e normalmente ligadas
a erros de manipulao, fraudes ou utilizao de agrotxicos no indicados para
certas culturas (GERIN; GOSSELIN; CORDIER, 2003). As intoxicaes crnicas consti-
tuem um grande fator de risco sanitrio, um risco a longo termo, difcil de estimar,
6Remoo e Transformao
de Agrotxicos
M. L. Sens, C. F. P. R. Paschoalato, E. R. C. Coelho, R. L. Dalsasso,
D. C. Gis Santos, A. Di Bernardo Dantas, M. S. Martinez,
J. Casagrande, L. Di Bernardo
pois est ligada ao consumo praticado em pequenas doses e a diferentes agrotxi-
cos. De forma geral, a exposio crnica de inmeros agrotxicos apontada como
a causadora de certos cnceres, como leucemia e tumor no crebro. Podem provocar
abortos, esterilidade, infertilidade masculina, m formao congnita do aparelho
genital masculino, entre outros, alm de perturbao do sistema nervoso e do com-
portamento, como mal de Alzheimer, Parkinson e Esclerose Lateral Amiotrca. Cer-
tos agrotxicos provocam tambm a diminuio do humor e representam um fator
de risco de suicdios. Esse captulo aborda, de maneira mais detalhada, os compostos
carbofurano, diuron, hexazinona, 2,4-D e glifosato, sobre os quais foram conduzidos
estudos no mbito do Prosab, relativos sua remoo em sistemas de tratamento de
gua para abastecimento.
6.2 Poluio das guas por agrotxicos
Depois de serem aplicados sobre o solo e/ou plantas, os agrotxicos so submetidos a uma
srie de complexos processos biolgicos e no biolgicos que podem implicar na degra-
dao ou transporte atravs da atmosfera, dos solos, dos organismos e particularmente
da gua. O caminho e a extenso deste transporte so diferentes em funo do compos-
to (GICQUEL, 1998). As reas agrcolas so fontes potenciais de contaminao de guas
subterrneas e superciais por fontes difusas, decorrente do uso de grande quantidade
de fertilizantes e agrotxicos, tais como ametrina, diuron, tebutiuron, hexazinona, me-
tribuzin, halosulfuron, clomazone, ametrina, 2,4-D, imazapic, uazifop-p-butil, que por
serem facilmente lixiviadas no solo, oferecem riscos de contaminao das guas (JACO-
MINI, 2006; SILVA, 2004). Segundo Armas et al. (2007), a grande variedade de molcu-
las com distintas propriedades confere aos agrotxicos diferentes graus de persistncia
ambiental, mobilidade e potencial txico carcinognico, mutagnico, teratognico ou
algum efeito endcrino aos diversos organismos no-alvos, como o homem. De acordo
com Somasundaran e Coats (1991), as transformaes na estrutura molecular dos agro-
txicos podem ocorrer imediatamente aps sua aplicao ou at mesmo durante seu
armazenamento. Muitos agrotxicos aplicados no meio ambiente so degradados at
transformarem-se em substncias simples como dixido de carbono, amnia, gua e sais
minerais. A evoluo dos agrotxicos no meio ambiente se desenvolve por trs vertentes:
adsoro pelo solo, migrao e degradao. Quando o agrotxico entra em contato com
o solo, uma parcela liga-se por adsoro s partculas do solo (matria orgnica) e outra
dissolve-se e mistura-se gua presente entre as partculas do solo (GICQUEL, 1998;
DALSASSO, 1999). Segundo os autores, a migrao de agrotxicos at as guas depen-
der de mecanismos que inuenciam na persistncia e na mobilidade dos compostos.
Esses mecanismos podem ser: degradao, disperso atmosfrica, escoamento super-
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 197
pois est ligada ao consumo praticado em pequenas doses e a diferentes agrotxi-
cos. De forma geral, a exposio crnica de inmeros agrotxicos apontada como
a causadora de certos cnceres, como leucemia e tumor no crebro. Podem provocar
abortos, esterilidade, infertilidade masculina, m formao congnita do aparelho
genital masculino, entre outros, alm de perturbao do sistema nervoso e do com-
portamento, como mal de Alzheimer, Parkinson e Esclerose Lateral Amiotrca. Cer-
tos agrotxicos provocam tambm a diminuio do humor e representam um fator
de risco de suicdios. Esse captulo aborda, de maneira mais detalhada, os compostos
carbofurano, diuron, hexazinona, 2,4-D e glifosato, sobre os quais foram conduzidos
estudos no mbito do Prosab, relativos sua remoo em sistemas de tratamento de
gua para abastecimento.
6.2 Poluio das guas por agrotxicos
Depois de serem aplicados sobre o solo e/ou plantas, os agrotxicos so submetidos a uma
srie de complexos processos biolgicos e no biolgicos que podem implicar na degra-
dao ou transporte atravs da atmosfera, dos solos, dos organismos e particularmente
da gua. O caminho e a extenso deste transporte so diferentes em funo do compos-
to (GICQUEL, 1998). As reas agrcolas so fontes potenciais de contaminao de guas
subterrneas e superciais por fontes difusas, decorrente do uso de grande quantidade
de fertilizantes e agrotxicos, tais como ametrina, diuron, tebutiuron, hexazinona, me-
tribuzin, halosulfuron, clomazone, ametrina, 2,4-D, imazapic, uazifop-p-butil, que por
serem facilmente lixiviadas no solo, oferecem riscos de contaminao das guas (JACO-
MINI, 2006; SILVA, 2004). Segundo Armas et al. (2007), a grande variedade de molcu-
las com distintas propriedades confere aos agrotxicos diferentes graus de persistncia
ambiental, mobilidade e potencial txico carcinognico, mutagnico, teratognico ou
algum efeito endcrino aos diversos organismos no-alvos, como o homem. De acordo
com Somasundaran e Coats (1991), as transformaes na estrutura molecular dos agro-
txicos podem ocorrer imediatamente aps sua aplicao ou at mesmo durante seu
armazenamento. Muitos agrotxicos aplicados no meio ambiente so degradados at
transformarem-se em substncias simples como dixido de carbono, amnia, gua e sais
minerais. A evoluo dos agrotxicos no meio ambiente se desenvolve por trs vertentes:
adsoro pelo solo, migrao e degradao. Quando o agrotxico entra em contato com
o solo, uma parcela liga-se por adsoro s partculas do solo (matria orgnica) e outra
dissolve-se e mistura-se gua presente entre as partculas do solo (GICQUEL, 1998;
DALSASSO, 1999). Segundo os autores, a migrao de agrotxicos at as guas depen-
der de mecanismos que inuenciam na persistncia e na mobilidade dos compostos.
Esses mecanismos podem ser: degradao, disperso atmosfrica, escoamento super-
GUAS 198
cial, inltrao e absoro pelas plantas e por organismos. Esses mecanismos dependem
tambm de condies ambientais (clima, solo, relevo, entre outros) e das propriedades
qumicas do composto.
6.3 Riscos sanitrios e impactos nos sistemas
de tratamento de gua
Para o controle de agrotxicos em gua de abastecimento, faz-se necessrio conhecer
quais os princpios ativos utilizados, alm de suas propriedades fsicas e qumicas, tais
como: solubilidade, grau de adsoro no solo (K
OC
), meia-vida no solo (DT
50
) e taxa de
volatilizao. Estas propriedades, associadas a diferentes fatores ambientais, caracterizam
os agrotxicos do ponto de vista de persistncia que os relaciona aos riscos ambientais,
toxicidade associada aos efeitos na sade humana e bioacumulao. Em trabalho reali-
zado por Pessoa et al. (2007), foram avaliados 145 princpios ativos mais utilizados no
pas com relao sua presena em mananciais, levando em conta o seu potencial de
transporte, avaliando-se solubilidade, K
OC
, DT
50
, dados estes obtidos em literatura nacio-
nal e internacional. Entre os princpios ativos estudados, encontram-se o glifosato, que
apresentou alto potencial de transporte em gua, associado ao sedimento e dissolvido
em gua; o 2,4-D, que apresentou baixo potencial de transporte em gua, associado ao
sedimento e mdio potencial de transporte dissolvido em gua; o diuron e a hexazinona,
que apresentaram mdio potencial de transporte em gua associados ao sedimento e alto
potencial de transporte dissolvidos em gua; e o carbofurano (inseticida e nematicida),
que apresentou mdio potencial de transporte em gua associado ao sedimento e alto
potencial de transporte dissolvido em gua. O carbofurano apresentou provvel potencial
de lixiviao para gua subterrnea, enquanto o 2,4-D e diuron caram na faixa chamada
de transio com relao lixiviao para gua subterrnea.
Segundo Chen e Young (2008), o diuron um dos herbicidas mais usados na Califrnia
(EUA) e tem sido frequentemente detectado nas guas de abastecimento. O estudo su-
gere que o diuron pode ser um precursor da formao da nitrosodimetilamina (NDMA),
composto da famlia das N-nitrosaminas, com elevado potencial carcinognico. De
acordo com Mitch et al. (2003), at recentemente havia a preocupao com a presena
de NDMA somente em alimentos e ar poludo. Entretanto, tem aumentado a preocu-
pao com a ocorrncia do NDMA em gua potvel. De acordo com Silva (2004), nas
culturas de cana de acar no Estado de So Paulo, o diuron bastante utilizado, sen-
do um dos principais herbicidas recomendados nos vrios estgios dessa cultura. Chen
e Young (2008) quanticaram o potencial de formao de NDMA de solues aquosas
de diuron em diferentes condies de aplicao de cloro e de cloraminas. A formao
de NDMA foi consistentemente observada mesmo na ausncia de amnia.
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 199
Na Tabela 6.1 so apresentadas informaes tcnicas dos compostos comerciais diu-
ron, hexazinona, carbofurano, 2,4-D e glifosato.
Tabela 6.1 > Informaes tcnicas, ambientais e toxicolgicas do hexazinona,
diuron, carbofurano, 2,4-D e glifosato
HEXAZINONA DIURON CARBOFURANO 2,4-D GLIFOSATO
Ingrediente
ativo
Hexazinona Diuron Carbofurano
2,4-diclorofenoxia-
ctico
Glifosato
Sinonmia DPX 3674 DMU, DCMU IUPAC, CA
2,4-D LV6; DMA;
DMA 4; BH 2,4-D;
U-46; U-5043
CP 67573
N chemi-
cal abstract
service
CAS
51235 04 - 2 330-54-1 1563-66-2 94-75-7 1071-83-6
Nome
qumico
3cyclohexyl6-
Dimethylami-
no1methil1-
,3,5triazine2-
,4(1H,3H)-dione
3-(3,4-
dichlorophenyl)-1,1-
dimethylurea
2,3-dihidro-2,2-
dimetil-benzofuranN-
7-YL-metilcarbamato
e 2,3-dihidro-2,2-
dimetil-benzofuranil
metilcarbamato
3(2,4-
dichlorophenoxy)
acetic acid
N-(phosphonomethyl)
glycine
Frmula
molecular
C12H20N4O2 C9H10Cl2N2O C12H15NO3 C12H20N4O2 C3H8NO5P
Grupo
qumico
Triazinona Ureia Carbamatos
cido
ariloxialcanico
Glicina substituda
Classe Herbicida Herbicida Inseticida Herbicida Herbicida
Classica-
o txica
Classe III
medianamente
txico
Classe IV
pouco txico
Classe III mediana-
mente txico
Classe I-extrema-
mente txico
IV - Pouco txico
Uso
agrcola
Aplicao
em pr e ps-
emergncia
das plantas
infestantes
na cultura de
cana-de-acar.
Aplicao em pr e
ps-emergncia das
plantas infestantes na
cultura de
cana-de-acar.
Aplicao com pr
e ps-incidncia
de pragas e ervas
daninhas de plantas
infestadas em culturas
de caf, algodo, arroz
irrigado, repolho,
amendoim,trigo,
milho, fumo, cebola,
cana-de-acar,
batata, banana
e cenoura.
Aplicao em pr
e ps-emergncia
das plantas
infestantes nas
culturas de arroz,
aveia, caf, cana-
de-acar, centeio,
cevada, milho,
pastagens, soja,
sorgo e trigo.
Aplicao em
ps-emergncia das
plantas infestantes
nas culturas de
algodo, ameixa,
arroz, banana, cacau,
caf, cana-de-acar,
citros, coco, feijo,
fumo, ma, mamo,
uva, trigo, milho, soja,
nectarina, pastagens,
seringueira, pra e
pssego
LMR
(mg/kg)*
0,1 0,1 0,1 varivel varivel
Classi-
cao
ambiental
No especicado II muito perigoso II muito perigoso
III e II (perigoso a
muito perigoso)
III e II (perigoso
a muito perigoso)
Solubili-
dade em
gua ***
29,8 g/L 42 mg/L 351 mg/L 900/620 (20
0
C) 120.000
Intervalo
de segu-
rana
150 dias 150 dias 90 dias 30 dias para caf 1 a 30 dias
* LMR: LIMITE MXIMO DO RESDUO DO PRODUTO COMERCIAL EM MG/KG. ** PORTARIA NORMATIVA IBAMA N 84, DE 15 DE OUTUBRO DE 1996;
CAS: NMERO NICO DE REGISTRO DO COMPOSTO, DA LITERATURA CIENTFICA, INDEXADO, FORNECIDO PELA SOCIEDADE AMERICANA DE QUMICA.
*** FONTE: HTTP://EXTRANET.AGRICULTURA.GOV.BR/AGROFIT_CONS/PRINCIPAL_AGROFIT_CONS.
GUAS 200
Altas concentraes podem acarretar em hemlise e reduo na capacidade de carrear
oxignio, pela formao de metahemoglobina, com o aparecimento de sintomas como
cianose, fraqueza e respirao curta. Os estudos crnicos em animais com hexazinona
mostraram que pode ocorrer perda de peso, aumento no peso do fgado, alteraes
nas medidas qumicas do sangue, aumento na atividade enzimtica e danos patol-
gicos hepticos. Dentre os herbicidas comercializados no pas, o glifosato e o 2,4-D
tambm se encontram entre os mais utilizados.
6.4 Normas de qualidade de gua e potabilidade
O Ministrio da Sade, por meio da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa),
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Mapa) e Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis (Ibama), mantem um banco de da-
dos dinmico e atualizado de informaes de interesse pblico relativo ao uso e registro
de produtos agrotxicos, denominado Sistema de Informaes sobre Agrotxicos (SIA),
que foi institudo pelo Decreto n 4074, de janeiro de 2002 (MENEZES; HELLER, 2005).
A determinao das concentraes de agrotxicos presentes nos mananciais utilizados
nos sistemas de abastecimento pblico e nas etapas dos processos de tratamento de
fundamental importncia para controle operacional, avaliao de risco e proposio de
prticas de controle e de monitoramento para assegurar a sade dos consumidores.
Os agrotxicos se enquadram no grupo das substncias qumicas orgnicas e, quando
presentes na gua de consumo humano, devem obedecer a Portaria MS n 518/2004
(BRASIL, 2004), que estabelece o padro de potabilidade. A portaria inclui uma relao
de 22 agrotxicos, dentre as substncias qumicas consideradas como de maior poten-
cial de risco sade, conforme Tabela 6.2.
Tabela 6.2 > Valores mximos permissveis dos agrotxicos da Portaria MS n 518/2004
PRINCPIO ATIVO LIMITE MAX. (g/L) PRINCPIO ATIVO LIMITE MAX.(g/L)
Alaclor 20 Hexaclorobenzeno 1
Aldrin e Dieldrin 0,03 Lindano (-BHC) 2
Atrazina 2 Metolacloro 10
Bentazona 300 Metoxicloro 20
Clordano (ismeros) 0,2 Molinato 6
2,4-D 30 Pendimetalina 20
DDT (ismeros) 2 Pentaclorofenol 9
Endossulfan 20 Permetrina 20
Endrin 0,6 Propanil 20
Glifosato 500 Simazina 2
Heptacloro e Heptacloro epxido 0,03 Triuralina 20
Na Portaria MS n 518, no so apresentados valores mximos permitidos para os
agrotxicos carbofurano, diuron e hexazinona. A Comunidade Europia recomenda a
concentrao mxima de pesticidas na gua tratada de 0,5 g/L e de qualquer pesti-
cida de 0,1 g/L (COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 1998). Em relao presena
de agrotxicos em recursos hdricos, a regulamentao no Brasil estabelecida pela
Resoluo Conama n 357/2005, para guas superciais doces, salobras e salinas, e
pela Resoluo n 396/2008, para guas subterrneas. Na Tabela 6.3 esto listados
estes limites para os agrotxicos estudados no Prosab.
6.5 Tecnologias de remoo e transformao
dos agrotxicos
A seleo da tecnologia de tratamento de gua depende de fatores como a nature-
za dos poluentes, sua concentrao, volume a tratar e toxicidade. Existem diferentes
mtodos fsicos, qumicos e biolgicos que so usados para a remoo de pesticidas,
sejam independentes ou associados, tais como: oxidao qumica, fotodegradao,
combinao de oznio com radiao UV, degradao pelo reagente de Fenton, degra-
dao biolgica, coagulao e adsoro em carvo ativado. Nas Figuras 6.1, 6.2, 6.3
e 6.4 so apresentados os uxogramas das tecnologias de tratamento de gua para
remoo e transformao de agrotxicos.
Tabela 6.3 > Comparao de normas para qualidade da gua potvel
para nveis mximos dos herbicidas estudados no mbito do Prosab
COMPOSTOS
ESTUDADOS
PELO PROSAB
LEGISLAES
Canad * EUA** Austrlia NZ OMS
BRASIL / CONAMA
357/2005
2
396/2008
1
Diuron (g/L) 150 L - 30 20 - - -
Hexazinona (g/L) - - 300 400 - - -
2,4-D (g/L) 100 70 30 40 30 4 / 30 30
Glifosato (g/L) 280 700 - - - 65 / 280 500
3
Carbofurano (g/L) 90 40 - 8 7 - 7
*CANADIAN DRINKING-WATER QUALITY, CONCENTRAO MXIMA ACEITVEL (CMA) 2008. **EPA DRINKING WATER STAN-
DARDS AND ADVISORIES - HEALTH ADVISORY, LIFETIME USEPA 2006.
#
DRINKING WATER GUIDELINES FOR PESTICIDES, AUS-
TRLIA, HV: HEALTH VALUE (HV).
##
DRINKING WATER STANDARDS FOR NEW ZELAND, MAXIMUM ACCEPTABLE VALUE MAV.
1
MA-
NANCIAIS SUBTERRNEOS USO PREPONDERANTE PARA CONSUMO HUMANO.
2
MANANCIAIS DE SUPERFCIE COM VALORES PARA:
CLASSE 1 E 2 E 3.
3
GLIFOSATO + AMPA (CIDO AMINOMETILFOSFNICO) METABLITO; OMS GUIDELINES FOR DRINKING WATER QUALITY (2004).
FONTE: HAMILTON ET AL. (2003).
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 201
Na Portaria MS n 518, no so apresentados valores mximos permitidos para os
agrotxicos carbofurano, diuron e hexazinona. A Comunidade Europia recomenda a
concentrao mxima de pesticidas na gua tratada de 0,5 g/L e de qualquer pesti-
cida de 0,1 g/L (COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 1998). Em relao presena
de agrotxicos em recursos hdricos, a regulamentao no Brasil estabelecida pela
Resoluo Conama n 357/2005, para guas superciais doces, salobras e salinas, e
pela Resoluo n 396/2008, para guas subterrneas. Na Tabela 6.3 esto listados
estes limites para os agrotxicos estudados no Prosab.
6.5 Tecnologias de remoo e transformao
dos agrotxicos
A seleo da tecnologia de tratamento de gua depende de fatores como a nature-
za dos poluentes, sua concentrao, volume a tratar e toxicidade. Existem diferentes
mtodos fsicos, qumicos e biolgicos que so usados para a remoo de pesticidas,
sejam independentes ou associados, tais como: oxidao qumica, fotodegradao,
combinao de oznio com radiao UV, degradao pelo reagente de Fenton, degra-
dao biolgica, coagulao e adsoro em carvo ativado. Nas Figuras 6.1, 6.2, 6.3
e 6.4 so apresentados os uxogramas das tecnologias de tratamento de gua para
remoo e transformao de agrotxicos.
Tabela 6.3 > Comparao de normas para qualidade da gua potvel
para nveis mximos dos herbicidas estudados no mbito do Prosab
COMPOSTOS
ESTUDADOS
PELO PROSAB
LEGISLAES
Canad * EUA** Austrlia NZ OMS
BRASIL / CONAMA
357/2005
2
396/2008
1
Diuron (g/L) 150 L - 30 20 - - -
Hexazinona (g/L) - - 300 400 - - -
2,4-D (g/L) 100 70 30 40 30 4 / 30 30
Glifosato (g/L) 280 700 - - - 65 / 280 500
3
Carbofurano (g/L) 90 40 - 8 7 - 7
*CANADIAN DRINKING-WATER QUALITY, CONCENTRAO MXIMA ACEITVEL (CMA) 2008. **EPA DRINKING WATER STAN-
DARDS AND ADVISORIES - HEALTH ADVISORY, LIFETIME USEPA 2006.
#
DRINKING WATER GUIDELINES FOR PESTICIDES, AUS-
TRLIA, HV: HEALTH VALUE (HV).
##
DRINKING WATER STANDARDS FOR NEW ZELAND, MAXIMUM ACCEPTABLE VALUE MAV.
1
MA-
NANCIAIS SUBTERRNEOS USO PREPONDERANTE PARA CONSUMO HUMANO.
2
MANANCIAIS DE SUPERFCIE COM VALORES PARA:
CLASSE 1 E 2 E 3.
3
GLIFOSATO + AMPA (CIDO AMINOMETILFOSFNICO) METABLITO; OMS GUIDELINES FOR DRINKING WATER QUALITY (2004).
FONTE: HAMILTON ET AL. (2003).
GUAS 202
Figura 6.1
Fluxograma das tecnologias de oxidao, adsoro e separao em membranas
para tratamento de guas subterrneas contaminadas por agrotxicos
Figura 6.2
Fluxograma das tecnologias com ltrao em margem e ltrao lenta
para tratamento de gua supercial contaminada com agrotxico
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 203
Figura 6.3
Fluxograma da tecnologia de ltrao direta para gua supercial
contaminada com agrotxico
GUAS 204
Figura 6.4
Fluxograma da tecnologia convencional para tratamento de gua
contaminada com agrotxico
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 205
Na Tabela 6.4 so apresentadas caractersticas da gua bruta e possveis tecnologias
ou sequncias do tratamento, indicando quais tm contribuio do Prosab-5 no estu-
do da remoo de agrotxicos.
Tabela 6.4 > Caractersticas da gua bruta, possveis tecnologias, sequncias do tratamento
e contribuio do Prosab-5 para remoo de agrotxicos
CARACTERSTICA
DA GUA BRUTA
TECNOLOGIA DE TRATAMENTO SEQUNCIA DO TRATAMENTO CONTRIBUIES
PROSAB-5
gua subterrnea
com agrotxicos
Oxidao, adsoro e
separao em membranas
1, 5 UNAERP/UFES
2, 4 e 5 UNAERP
gua supercial
com agrotxicos
Filtrao em margem,
oxidao e ltrao lenta
1 e 3A UFSC
1, 3B e 5 UFSC
Filtrao em margem,
oxidao e ltrao direta
1 e 2A UFSC
Tratamento convencional
1, 4A, 6, 7, 8, 9A e 10 UNAERP/UFES
1, 4
, 6, 7, 8 e 9B UNAERP/UFES
1, 4B, 5, 6, 7, 8 e 9B UNAERP
2, 5, 6, 7, 8 e 9B UNAERP
3, 6, 7, 8, 9A e 10 UNAERP/UFES
3, 6, 7, 8 e 9B UNAERP/UFES
6.5.1 Tratamento convencional
No pas, em torno de 50% das estaes de tratamento de gua empregam a tec-
nologia de tratamento convencional, que consiste em uma sequncia de processos
que incluem a coagulao, oculao, sedimentao (ou otao), ltrao, uo-
rao, clorao e correo de pH. Por apresentar algumas limitaes na remoo
de determinados agrotxicos (LAMBERT; GRAHAM, 1995), so propostas algumas
associaes, tais como: adio de polmeros, pr-oxidao, inter-oxidao, adsoro
em carvo ativado pulverizado e carvo ativado granular ou associao destes. Al-
guns trabalhos tm sido realizados para avaliar a tecnologia na remoo de alguns
agrotxicos. Miltner et al. (1989) estudaram a remoo dos agrotxicos alaclor, me-
talaclor, linuron, carbofurano, atrazina e simazina metribuzin nos ensaios utilizando
GUAS 206
equipamento de Jarteste com gua do rio Ohio, e observaram que eles no foram
removidos. Lambert e Graham (1995) apresentaram uma reviso referente remoo
de agrotxicos em sistemas de tratamento convencional (atrazina, simazina, cianina,
linuron 2,4-D e lindano). Dentre estes, a remoo cou entre 0 a 40%, sendo que
para o 2,4-D a ecincia de remoo foi nula.
6.5.2 Filtrao direta
A ltrao direta por si s no remove agrotxicos. Sens, Dalsasso e Hassemer (2004)
estudaram a remoo de carbofurano na ltrao direta (FD) e na FD com pr-oxidao
com oznio. A gua bruta continha em torno de 70 g/L de carbofurano, e no primeiro
tratamento a remoo foi de apenas 2,5% e no segundo tratamento, acrescentado-se
a pr-ozonizao, a remoo foi de 95% para uma aplicao de 4 mg/L de O
3
. Eviden-
temente que a remoo se deu principalmente pela oxidao e no pela ltrao, mas
os autores queriam observar se no haveria desprendimento do agrotxico acumulado
no lodo no meio ltrante durante a carreira de ltrao. O desprendimento no acon-
teceu nem mesmo sem a pr-ozonizao. O item a seguir trata da oxidao de forma
geral para remoo de agrotxicos.
6.5.3 Oxidao
A oxidao qumica tem sido utilizada em tratamento de gua e tratamento de
euentes industriais e domsticos. A tecnologia encontra-se estabelecida no Brasil
e tem sido empregada para oxidar contaminantes refratrios como substncias h-
micas, fenis, agrotxicos, solventes clorados, hidrocarbonetos aromticos, benzeno,
tolueno, entre outros. Os produtos qumicos normalmente utilizados como oxidantes
so cloro, dixido de cloro, perxido de hidrognio, permanganato de potssio, oxig-
nio, oznio e produtos de decomposio do oznio, como o radical hidroxila.
A oxidao do glifosato por diferentes oxidantes em instalao piloto foi estudada por
Speth (1993, citado por USEPA, 2001). Para a concentrao inicial de glifosato igual a
796 g/L e dosagem de cloro de 2,1 mg/L com tempo de contato igual a 7,5 minutos,
no foi detectado glifosato para valores acima do limite de deteco de 25 g/L.
6.5.4 Adsoro em carvo ativado
A adsoro com carvo ativado a tecnologia mais utilizada no tratamento de guas
contaminadas por pesticidas e outros compostos qumicos que oferecem risco a sa-
de. O carvo ativado pode ser empregado em p ou granular. Existe na literatura refe-
rncia a estes dois tipos de aplicao, sendo recomendado pela OMS como tecnologia
para remoo da maioria dos compostos orgnicos, entre eles os agrotxicos. O uso
de carvo ativado em p em estaes de tratamento de gua comum em situaes
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 207
de acidente ou quando um contaminante detectado na gua bruta e possui caracte-
rsticas de sazonalidade. Em algumas estaes de tratamento de gua o uso feito de
forma contnua. Este o mtodo mais comum, porque seu uso pode ser adequado em
instalaes j existentes sem investimentos signicativos (USEPA, 2001).
Segundo Di Bernardo e Dantas (2005), a maior parte das substncias que causam sa-
bor e odor, cor, mutagenicidade e toxicidade, incluindo agrotxicos, geosmina, MIB e
cianotoxinas em geral, podem ser adsorvidas em carvo ativado (CA).
Najm et al. (1991) apresentaram uma reviso sobre a aplicao do carvo ativado
em p na remoo de compostos orgnicos sintticos de guas naturais e de abas-
tecimento. Nesse trabalho, os autores apresentaram os parmetros de adsoro de
Freundlich em carvo ativado de 44 contaminantes potenciais, os quais podem ser
encontrados em guas de abastecimento.
Petrie et al. (1993) estudaram a remoo de pesticidas carbamatos e oxiclorofenoxi-
cidos em leitos ltrantes de areia, de carvo ativado, argila e de turfa e concluram
que dos quatros leitos ltrantes estudados, o carvo ativado foi o mais eciente na
remoo dos agrotxicos.
Existem referncias a respeito da remoo de 2,4-D em leitos de carvo ativado granu-
lar precedidos de ltrao rpida em sistemas convencionais de tratamento de gua.
Vericou-se que esse tipo de sistema pode reduzir 2,4-D com concentrao inicial
de 2 g/L a valores inferiores a 0,1 g/L (FRICK; DALTON, 2005; HART, 1989; HART;
CHAMBERS, 1991, citados por CANADA, 2007). O emprego de carvo ativado granular
tem sido proposto em sistemas de tratamento de gua na Inglaterra, precedido ou no
por pr-oxidao, como estratgia de tratamento para remoo de agrotxicos (LAM-
BERT et al., 1996).
6.5.5 Filtrao lenta
Coelho e Di Bernardo (2003) estudaram a ltrao lenta com camada de areia (FLA)
e camada intermediria de carvo ativado granular (CAG), precedida ou no de pr-
oxidao com oznio associado ao perxido de hidrognio, para avaliao da remoo
de atrazina presente em mananciais abastecedores da cidade de So Carlos (SP).
No ltro lento com camada nica de areia, a remoo de atrazina variou entre 35 e
89% para valores no auente entre 53 e 101 g/L; no ltro lento de areia com camada
intermediria de carvo ativado granular (FLA-CAG), no entanto, foram observados
valores da concentrao desse agrotxico, inferiores a 2 g/L. Por outro lado, no FLA-
CAG foram observados valores da concentrao de atrazina inferiores a 2 g/L para
relao O
3
/H
2
O
2
superior a 0,5.
GUAS 208
O euente do FLA-CAG apresentou, para a condio sem pr-oxidao, concentrao
de atrazina inferior a 2 g/L para concentrao no auente entre 52,8 e 101,1g/L,
aps 499 dias de operao contnua.
Na pr-oxidao, a concentrao de atrazina no euente do FLA-CAG foi inferior a
0,1 g/L para relao O
3
/H
2
O
2
entre 0,5 e 1 e valores no auente entre 26 e 68 g/L,
atendendo aos padres mais restritivos, como os europeus, que apresentam como
limite mximo para pesticidas o valor de 0,1 g/L.
6.5.6 Filtrao em margem
A tecnologia de ltrao em margem (FM) pode ser uma alternativa de remoo de con-
taminantes das guas, podendo mesmo, em muitos casos, torn-las potvel. A FM pode
remover vrios contaminantes, como agrotxicos, microalgas, toxinas, metais pesados,
frmacos, patgenos, entre outros. A remoo dos contaminantes orgnicos, na FM,
ocorre em torno da interface manancial aqufero por processos fsicos e bioqumicos.
Entretanto, os processos biolgicos, responsveis pela sua eliminao, ocorrem predomi-
nantemente nos primeiros metros de leito ltrante. Por sua vez, a frao biodegradvel
da matria orgnica pode ser degradada por bactrias, enquanto a frao refratria pode
ser removida por adsoro na fase slida (MARMONIER et al., 1995).
Diversos estudos realizados na Alemanha mostraram a ecincia da FM e inltrao
articial em relao remoo de muitos compostos orgnicos. Em relao aos re-
sduos de pesticidas, as ecincias de remoo atravs da inltrao articial podem
variar entre 10% para atrazina e 100% para lindano, dependendo das propriedades do
composto, conforme pode-se constatar na Tabela 6.5.
Tabela 6.5 > Ecincias de remoo de resduos de pesticidas
atravs da recarga articial de guas subterrneas
PESTICIDAS REMOO (%) PESTICIDAS REMOO (%)
Atrazina 12 Clortoluran 100
Simazina 13 Dicloroprop 100
Isoproturan 20 Lindano 100
Diuron 90 MCPA* 100
Terbutilazina 90 Metabenziazura 100
* MCPA: 2-METIL-4-CIDO CLOROFENOXIACTICO.
FONTE: SCHMIDT ET AL. (2003).
De acordo com os estudos feitos no rio Reno, foi comprovado a remoo de diferentes
micropoluentes polares atravs de FM. Entretanto, alguns micropoluentes orgnicos
mveis e persistentes mostraram tendncia de remoo menor. Estudos mais deta-
lhados mostram que as concentraes de muitos micropoluentes orgnicos presentes
nos rios alemes podem ser reduzidas ou at eliminadas durante a passagem sub-
terrnea em meio aerbio ou anaerbio. Contudo, a eliminao de certos compos-
tos mostrou-se claramente dependente dos potenciais redox nas guas subterrneas.
Devido s suas propriedades fsicas e qumicas, os compostos industriais lipoflicos e
os pesticidas, como o DDT e o heptacloro, so sucientemente reduzidos atravs de
processos de adsoro em solos inorgnicos e orgnicos.
6.5.7 Separao por membranas
As tcnicas que utilizam membranas para tratar gua de abastecimento so notadamen-
te ecazes para reduzir a turbidez, microorganismos, microcontaminantes, subprodutos
da oxidao e desinfeco e para melhorar a qualidade gustativa da gua potvel.
A natureza do material da membrana (poliamida, amida, acetato de celulose) inuen-
cia o mecanismo de reteno.
A presena de matria orgnica (MO) favorece a remoo de certos agrotxicos, como
a atrazina e a simazina. O fenmeno de adsoro dos agrotxicos sobre a MO se faz
por siosoro e por quimiosoro (BOUSSAHEL; BAUDU; MONTIEL, 2000).
Os sistemas de nanoltrao no removem completamente todos os agrotxicos. A
ecincia de remoo depende de vrios fatores e necessita-se de estudos de todas as
famlias de agrotxicos sobre os diferentes tipos de membranas. Para garantir, durante
todo o tempo de tratamento, que a gua atenda os padres de qualidade em relao
aos agrotxicos, um tratamento suplementar (adsoro em CAG) pode ser necessrio.
A prtica da nanoltrao necessita de pr-tratamentos fsicos e qumicos perfeitamente
adaptados para assegurar a perenidade das membranas e reduzir os riscos de perda de
desempenho. Como para as aplicaes a base de CAP, faz-se necessrio uma reexo com
relao aos rejeitos (o concentrado pode representar at 15% da vazo de alimentao).
6.6 Contribuio do Prosab aos estudos
de remoo de agrotxicos
Entre o perodo de 2006 a 2008, foram realizadas pesquisas atravs do Programa de Pes-
quisa em Saneamento Bsico Prosab, objetivando o estudo da remoo dos agrotxicos
carbofurano, diuron, 2,4-D e hexazinona. Foram avaliadas as tecnologias de ltrao
em margem e tratamento convencional com a presena de pr-oxidao e adsoro em
carvo ativado em p e granular. Os resultados obtidos so apresentados a seguir.
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 209
lhados mostram que as concentraes de muitos micropoluentes orgnicos presentes
nos rios alemes podem ser reduzidas ou at eliminadas durante a passagem sub-
terrnea em meio aerbio ou anaerbio. Contudo, a eliminao de certos compos-
tos mostrou-se claramente dependente dos potenciais redox nas guas subterrneas.
Devido s suas propriedades fsicas e qumicas, os compostos industriais lipoflicos e
os pesticidas, como o DDT e o heptacloro, so sucientemente reduzidos atravs de
processos de adsoro em solos inorgnicos e orgnicos.
6.5.7 Separao por membranas
As tcnicas que utilizam membranas para tratar gua de abastecimento so notadamen-
te ecazes para reduzir a turbidez, microorganismos, microcontaminantes, subprodutos
da oxidao e desinfeco e para melhorar a qualidade gustativa da gua potvel.
A natureza do material da membrana (poliamida, amida, acetato de celulose) inuen-
cia o mecanismo de reteno.
A presena de matria orgnica (MO) favorece a remoo de certos agrotxicos, como
a atrazina e a simazina. O fenmeno de adsoro dos agrotxicos sobre a MO se faz
por siosoro e por quimiosoro (BOUSSAHEL; BAUDU; MONTIEL, 2000).
Os sistemas de nanoltrao no removem completamente todos os agrotxicos. A
ecincia de remoo depende de vrios fatores e necessita-se de estudos de todas as
famlias de agrotxicos sobre os diferentes tipos de membranas. Para garantir, durante
todo o tempo de tratamento, que a gua atenda os padres de qualidade em relao
aos agrotxicos, um tratamento suplementar (adsoro em CAG) pode ser necessrio.
A prtica da nanoltrao necessita de pr-tratamentos fsicos e qumicos perfeitamente
adaptados para assegurar a perenidade das membranas e reduzir os riscos de perda de
desempenho. Como para as aplicaes a base de CAP, faz-se necessrio uma reexo com
relao aos rejeitos (o concentrado pode representar at 15% da vazo de alimentao).
6.6 Contribuio do Prosab aos estudos
de remoo de agrotxicos
Entre o perodo de 2006 a 2008, foram realizadas pesquisas atravs do Programa de Pes-
quisa em Saneamento Bsico Prosab, objetivando o estudo da remoo dos agrotxicos
carbofurano, diuron, 2,4-D e hexazinona. Foram avaliadas as tecnologias de ltrao
em margem e tratamento convencional com a presena de pr-oxidao e adsoro em
carvo ativado em p e granular. Os resultados obtidos so apresentados a seguir.
GUAS 210
6.6.1 Remoo de carbofurano por ltrao em margem
Conforme visto no item 6.5.6 deste captulo, os agrotxicos tambm podem ser remo-
vidos da gua atravs da tcnica da ltrao em margem (FM). Para conhecimentos
mais aprofundados acerca da tecnologia da FM, ver o captulo 5 do livro Contribuio
ao estudo da remoo de cianobactrias e microcontaminantes orgnicos por meio
de tcnicas de tratamento de gua para consumo humano, dos estudos do Prosab 4
(SENS et al., 2006). Nesse tpico ser abordada a remoo do agrotxico carbofurano
pela FM, por meio de estudos em um sistema piloto, localizado em uma regio rural
com alta produtividade agrcola e uso acentuado desse agrotxico. O estudo tambm
avalia a FM seguida de ltrao lenta com retrolavagem (FLR), ambas consideradas
tecnologias simples, que requerem frequentemente pouca manuteno e utilizao
de produto qumicos.
O estudo foi desenvolvido s margens de rio Itaja do Sul, na cidade de Ituporanga (SC),
(Figuras 6.5 e 6.6). As caractersticas do local de estudo so: coordenadas geogrcas
272448,1 sul, longitude 493619,5 oeste, com elevao de 375 metros e precipitao
pluviomtrica mdia mensal de 131,47 mm. Ituporanga tem como principal fonte econ-
mica a agricultura, predominando os plantios de cebola, milho, fumo e feijo (IBGE, 2008).
As informaes sobre o uso de carbofurano na regio foram obtidas em lojas de produtos
agropecurios e da Empresa de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Cata-
rina (Epagri). As terras apresentam acentuadas ondulaes e inclinaes, o que diculta
o uso de grandes mquinas agrcolas e facilita a chegada dos agrotxicos at os rios. Na
Tabela 6.6 apresentado a classicao do relevo e o solo da regio de Ituporanga.
FONTE: ADAPTADO DE RIO DAS LONTRAS (2009).
Figura 6.5 Localizao do rio Itaja do Sul
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 211
FONTE: IBGE (1980).
N
Figura 6.6 Localizao do trecho do rio, objeto de estudo
Tabela 6.6 > Classicao do solo e relevo da regio de Ituporanga
RELEVO E SOLO REA (ha)
0,6% solos planos hidromrcos Gleissolos (Gleis) 1.710
51% solos suaves ondulados e ondulados Cambissolos (113.450 ha)
e Argissolos (Podzlicos 24.800 ha)
138.250
34% solos declivosos Cambissolos (75.630 ha) e Argissolos (Podzlicos 16.540 ha) 92.170
13,5% solos rasos Neossolos (Litossolos e solos Litlicos) 36.675
0,9% outros solos, corpos de gua e reas urbanas 2.515
Regio 271.320*
*A DIFERENA ENTRE A REA TOTAL E ESTA CITADA OCUPADA POR ESTRADAS.
FONTE: EMBRAPA (2000).
Sistemas pilotos de tratamento de gua: O sistema piloto de FM foi executado com
base em investigaes geolgicas e hidrogeolgicas do local. Foram executados quatro
furos de sondagem. Os furos SP 1, SP 2 e SP 4 receberam revestimento interno como
tubo de PVC 40 mm, ranhurado e envolto com manta de Bidim Rt7, transformando-se
em piezmetros. No local de execuo do furo SP 3 foi construdo o poo 2, destinado
aos estudos sobre FM. Este poo teve profundidade mxima de 4,70 m; a Figura 6.7
ilustra o arranjo descrito. A permeabilidade foi determinada apenas para amostras
coletadas entre os horizontes 3,90 m e 4,70 m, e o valor encontrado foi 266 m/d, con-
siderado de boa permeabilidade.
GUAS 212
Sistema piloto in loco: O sistema piloto in loco foi construdo no local indicado da
Figura 6.6, e detalhado nas Figuras 6.7 e 6.8. Este sistema formado por trs piez-
metros, dois poos e um ltro lento. Do poo 2 coletada a gua ltrada em margem,
encaminhada ao ltro lento. O poo 1 permite manter o nvel do lenol fretico rebai-
xado, induzindo a inltrao da gua do rio atravs da margem at o poo 2.
O ltro lento serve como tratamento complementar, em funo de caractersticas in-
corporadas gua devido sua passagem pelo solo da margem do rio. A limpeza do
ltro lento feita por retrolavagem .
O FLR foi construdo de alvenaria armada com tijolos macios e laje de fundo de con-
creto armado. O meio ltrante composto por uma camada de areia de 40 cm, com
dimetro efetivo de 0,3 mm e coeciente de desuniformidade < 1,5. A camada suporte
Figura 6.7
Esquema em planta de alocao do sistema piloto in loco. SP1, SP2 e SP4 = poos
piezomtricos; poo 2 = poo principal (FM); poo 1 = poo de proteo
Figura 6.8 Esquema do sistema piloto in loco: vista lateral
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 213
Figura 6.9 Desenho esquemtico do sistema piloto em colunas ltrantes de solo sedimentar
tem 15 cm de espessura com gros variando de 1,4 a 4,5 mm. A rea ltrante de
0,64 m
2
, trabalhando com taxa de 3 m
3
/m
2
.d. O ltro opera com vazo controlada por
cmara de nvel constante e carga hidrulica varivel. A retrolavagem, por gravidade,
utiliza gua ltrada produzida pelo prprio ltro. As carreiras de ltrao eram encer-
radas quando a perda de carga total no meio ltrante atingia 1 m.
Sistema piloto em colunas ltrantes com material sedimentar (solo/subsolo): Esse
sistema piloto foi proposto com o intuito de siwmular a FM que ocorre in loco, de
forma a proporcionar aplicaes de maiores contaminaes da gua bruta. O siste-
ma (Figura 6.9) foi montado no Laboratrio de Potabilizao de guas (Lapoa), da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). formado por dez colunas de PVC
ligadas em srie, com dimetro de 100 mm e altura de 1,50 m, preenchidas com
solo/subsolo das margens do rio em estudo. O nmero de colunas foi denido para
representar o percurso da gua (perodo de reteno) com a taxa de ltrao no
solo de 0,1 m
3
/m
2
.d. A cada 3 m de percurso de coluna, existe um ponto de coleta
de gua. Utilizou-se uma bomba micro-dosadora para alimentar o sistema. Ao longo
deste estudo foram feitas coletas da gua que alimenta o sistema em colunas (gua
preparada), aps 3; 6; 9; 12 e 15 m de percurso. A gua que alimenta este sistema
piloto vem do rio Itaja do Sul e recebe forticao do agrotxico carbofurano em
torno de 1 g/L.
Os parmetros analticos estudados quinzenalmente esto listados na Tabela 6.7, as-
sim como o equipamento e a metodologia utilizada. Para o sistema piloto in loco, foi
feita a caracterizao da gua bruta do rio Itaja do Sul, da gua aps passar pela l-
GUAS 214
trao em margem e aps passar pelo FLR. Para o sistema em colunas, foram coletadas
amostras duas vezes por semana, sendo realizadas anlises de turbidez, cor aparente
e verdadeira, pH e ferro total.
No Brasil, no existe padro que dena o limite mximo de concentrao de carbo-
furano na gua potvel, desta forma, foi necessrio comparar os resultados com as
legislaes internacionais. A Unio Europia apresenta o limite de 0,1 g/L para qual-
quer grupamento qumico de agrotxico. As amostras de gua bruta do sistema de
campo apresentam valores abaixo de todos os limites apresentados na Tabela 6.3.
Resultados do sistema piloto in loco: Conforme mostra a Tabela 6.8, constata-
se que a gua bruta apresenta concentrao de carbofurano acima do limite da
legislao internacional. Ao nal de todo o sistema, a concentrao de carbofurano
cou abaixo do limite estabelecido de 0,1 g/L. Observa-se que a FM foi eciente na
remoo do carbofurano, resultando valores em torno de 0,1 g/L. Vale observar que
a sequncia de dados de estudo foi interrompida no ms de novembro de 2008, por
causa das intempries ocorridas na regio de Santa Catarina, o que inviabilizou o
acesso ao sistema piloto in loco.
Tabela 6.7 > Parmetros analisados neste estudo
PARMETROS (UNIDADE) EQUIPAMENTO REFERNCIA
METODOLGICA *
Cor aparente (uH) Espectrofotmetro HACH DR/2010, =455 nm 2120
Cor verdadeira (uH)
Filtrao em membrana 0,45 m,
Espectrofotmetro HACH DR/2010 =455 nm
2120
Ferro total (mg/L) Espectrofotmetro HACH DR/2010 3.500-Fe
Turbidez (uT) Turbidmetro HACH 2100P -
Condutividade (S/cm a 25C) Condutivmetro porttil HACH -
Nitrito (mg/L) Espectrofotmetro HACH DR/2010, =550 nm 4.500-NO2-
Nitrato (mg/L) Espectrofotmetro HACH DR/2010, =420 nm 4.500-NO3-
Agrotxicos carbofurano (g/L) Cromatograa Lquida de Alta Performance 6610
Coliformes totais (NMP/100mL) Colimtrico 9.222.B
Coliformes termotolerantes
(NMP/100mL)
Colimtrico 9.260.F
pH pHmetro HACH 4.500-H+
Temperatura (C) Termmetro -
*A REFERNCIA METODOLGICA EST DETALHADA NO STANDARD METHODS.
FONTE: APHA; AWWA; WPCF (1998).
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 215
Em relao turbidez e cor, as Figuras 6.10 e 6.11 mostram a obteno de eciente
remoo, resultando, aps passar pelo FLR, valores nais abaixo de 1 uT e 15 uH, para
turbidez e cor aparente, respectivamente.
Em relao srie nitrogenada, analisou-se nitrito e nitrato. Segundo a Portaria MS
n
o
518/2004, os limites mximos em gua para consumo humano para o nitrito
1 mg/L e 10 mg/L para nitrato. Em todas as amostras analisadas, as respectivas con-
centraes caram abaixo do limite mximo. A FM removeu as concentraes de nitri-
to e nitrato em 90% e 63%, respectivamente.
Observa-se na Figura 6.12 o comportamento do ferro total no sistema de campo.
Os valores de ferro na gua bruta so inferiores aos da gua ltrada em margem.
A regio onde foi instalado este sistema piloto formada em seu subsolo de rocha
basltica. Alm disso, as camadas do subsolo e da margem do rio contm formas re-
duzidas de ferro. Assim, o ferro assimilado e quando a gua que contm ferro ca
exposta ao ar atmosfrico, o ferro volta a se oxidar em formas insolveis, causando
cor e cheiro na gua. A portaria limita em 0,30 mg/L de ferro presente em gua para
o consumo humano. Aps o tratamento por FM + FLR, a gua apresentou valores
abaixo de 0,35 mg/L. Vale lembrar que nos meses de monitoramento do FLR, a camada
microbiana ainda no havia se formado por completo. Apesar da ltrao lenta remo-
ver ferro, no a mais indicada para resolver este problema. Deste modo, seria mais
interessante a substituio da FLR por um sistema de aerao/ltrao rpida para o
caso de Ituporanga.
Tabela 6.8 > Concentrao de carbofurano nas guas do sistema piloto in loco
GUA DE ESTUDO (mg/L) GUA BRUTA GUA FM GUA FM + FLR
Meses de estudo
em 2008
Fevereiro 0,530 0,008 ---
Maro 0,336 0,132 ---
Abril 0,255 0,083 ---
Maio 0,211 0,112 ---
Junho 0,317 0,254 0,111
Julho 0,326 0,112 0,061
Agosto 0,481 0,118 0,058
Setembro 0,395 0,102 0,052
Outubro 0,289 0,112 0,042
Novembro --- --- ---
Dezembro 0,442 0,142 0,072
Mdia 0,331 0,112 (66%) 0,060 (82%)
--- SEM VALORES NOS MESES CORRESPONDENTES
GUAS 216
Massmann et al. (2008) apresentam uma seo transversal de regio de poos de
FM com consumo de ons nion e liberao de ons ction. Quando fala da zona de
potencial redox para o referido caso, ocorre o desaparecimento de O
2
, NO
-3
, SO
4
2-
e/
ou o aparecimento de Mn
2+
e Fe
2+
. Para o caso do estudo atual, pode-se observar que
a concentrao de nitrato muito pequena e a concentrao de ferro muito acima
dos padres recomendados. O comportamento comentado pelo autor citado tambm
ocorre com o sistema em questo. Alm disso, no incio dos estudos, foram feitas
anlises O
2
e SO
4
2-
e obtidos valores muito abaixo do limite estabelecido pelos padres
de potabilizao de gua. Hiscock e Grischek (2002) tambm comentam que a FM no
traz apenas as vantagens de eliminao de slidos suspensos, partculas, compostos
biodegradveis, bactrias, vrus e parasitas; eliminao de parte de compostos absor-
vveis, como tambm provoca efeitos indesejveis, podendo causar aumento da con-
centrao de amnia, do ferro dissolvido e do mangans e a formao de sulfureto,
consequncias das mudanas de condies redox.
O monitoramento da dureza (Figura 6.13) mostrou que as amostras apresentaram
valores bem abaixo do limite mximo denido pala Portaria MS n
o
518/2004, que
500 mg/L, alm do que, com a utilizao da FM e do FLR houve diminuio na concen-
trao deste parmetro. Em relao aos coliformes totais, foram superiores a 5 x 10
4
Figura 6.10 e 6.11 Turbidez do sistema em campo e Cor aparente e verdadeira
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 217
NMP/100 mL, e em relao aos termotolerantes, acima de 10
3
NMP/100 mL. A ltrao
em margem removeu 99% de coliformes totais e mais de 60% dos termotolerantes.
Entretanto, a remoo que ocorreu entre a gua FM e a gua proveniente do sistema
de FLR no apresentaram valores que atendem referida portaria, que exige ausncia
de coliformes em 100 mL, mas esta exigncia obtm-se aps a desinfeco.
Resultados do sistema de colunas: No sistema de colunas, foram feitas coletas a cada
cinco dias, para cada 3 m percorridos. A Figura 6.14 mostra os resultados obtidos. O
carbofurano leva de 25-30 dias para ser removido com gua em pH neutro. Percebe-se
que no tempo zero (dia zero), das carreiras avaliadas, o pH encontra-se em torno do
neutro e que no, 25 dia, o pH da gua ltrada estava cido (entre 2 e 3,5). Esta aci-
dez pode ser provocada pelo acmulo de intermedirios do processo de degradao,
atuando como inibidores do processo de degradao do carbofurano. A remoo da
concentrao de carbofurano entre a entrada (bruta) e a sada (ltrada) durante o pe-
rodo de estudo cou acima de 77%, o que mostra que mesmo com o pH cido houve
remoo signicativa de carbofurano. A reduo do valor do pH pode ser provocada
pela no existncia de todos os microorganismos necessrios para a degradao com-
pleta do carbofurano e seus intermedirios.
A Figura 6.15 mostra o comportamento da perda de carga nas colunas, avaliada
atravs de piezmetros. Observa-se que nos 30 primeiros dias a leitura nos piezme-
tros apresentou superposio (acomodao do sistema). Acredita-se que a partir do
75 dia iniciou-se a formao da camada microbiana nas colunas ao mesmo tempo da
formao da pelcula de ferro oxidado, pois o nvel tendeu a permanecer constante at
atingir 266 dias de funcionamento.
A Figura 6.16 mostra que no houve remoo da turbidez, ocorrendo at mesmo tur-
bidez da gua ltrada superior a da bruta. Em relao cor aparente e verdadeira, os
resultados no foram coerentes, ou seja, as amostras ltradas apresentaram valores
superiores s da bruta. Acredita-se que a presena do ferro seja responsvel pelo au-
mento da turbidez (Figura 6.17).
A Figura 6.18 mostra que os valores de ferro da gua ltrada so superiores da bruta
forticada. Mesmo com a formao de lodo, a remoo do carbofurano no sistema
em colunas ltrantes cou limitada pelo pH cido. Na Figura 6.19, observa-se que o
pH das amostras de gua bruta encontra-se, no geral, prximo ao pH neutro, uma vez
que a gua proveniente do rio.
O pH das amostras de gua ltrada cido, comportamento tambm semelhante com
o sistema em campo. Acredita-se que com a passagem da gua pela meio ltrante, o
ferro, que estava no solo na forma insolvel, ca solvel e esta modicao da forma
GUAS 218
Figura 6.14 Monitoramento da remoo de carbofurano no sistema em colunas ltrantes
Figura 6.12 e 6.13 Dados de ferro total no sistema in loco e dados de dureza no sistema em campo
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 219
do ferro faz com que o pH do meio que cido. Alm disso, o carbofurano presente na
gua se decompe em substncias simples ou em subprodutos, que normalmente so
cidos orgnicos ocorrendo a reduo do pH do meio.
Consideraes nais: A proposta principal desta pesquisa foi estudar a FM como pr-
tratamento FLR, na remoo de carbofurano e da turbidez. A FM, seguida de FLR,
mostra-se como tecnologia promissora no tratamento de guas contendo microcon-
taminantes orgnicos sintticos, como o caso do carbofurano. Os resultados obtidos
nesses experimentos foram positivos em relao principalmente ao carbofurano e tur-
bidez. Em relao ao carbofurano, o sistema proposto remove com ecincia o mesmo;
melhor ecincia pode-se conseguir em solo sem a presena de ferro. Ainda em relao
ao sistema em campo, este apresentou boa ecincia na adequao dos parmetros
fsico-qumicos. Contudo, a gua ltrada em margem no apresentou bons resultados
Figura 6.16 Monitoramento da turbidez do sistema em colunas
Figura 6.15 Leitura piezomtrica da coluna de alimentao do sistema em colunas
GUAS 220
Figura 6.17 Comportamento da cor no sistema em colunas
em relao ao parmetro ferro. Isso porque o solo por onde a gua percolou tem carac-
tersticas baslticas; alm disso, o solo contm formas insolveis de ferro, sendo assi-
milado pela gua. Apesar do retardo na formao do lme microbiano schmutzdecke, a
FLR apresentou boa ecincia na remoo dos parmetros fsico-qumicos analisados,
principalmente turbidez e ferro total. Em relao simulao da ltrao em margem,
que acontece nas colunas ltrantes, ocorre a reproduo do que acontece em campo
(poo), principalmente em relao remoo do carbofurano. Os outros parmetros
fsico-qumicos analisados nesse sistema no apresentaram bons resultados. Acredita-se
que a presena do ferro interra na adequao dos outros parmetros, no enquadran-
do-os abaixo dos limites estabelecidos pela Portaria MS n
o
518/2004.
Figura 6.18 Comportamento do ferro total no sistema em colunas
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 221
6.6.2 Remoo de diuron e de hexazinona
de guas supercial e subterrnea
O produto herbicida comercial constitudo pelos ativos diuron (46,8% p/p) e hexazi-
nona (13,2% p/p), e o restante de inertes, foi o herbicida usado nesta pesquisa para
a contaminao das guas de estudo. A escolha foi motivada pela caracterstica da
regio de Ribeiro Preto (SP), com extensa cultura de cana de acar e explorao do
aqufero Guarani para atendimento de 100% do abastecimento pblico. A pesquisa
foi desenvolvida na Universidade de Ribeiro Preto (Unaerp) e foi subdivida em qua-
tro subprojetos. Na primeira fase do subprojeto 1, o objetivo foi a seleo de carvo
ativado granular (CAG) e carvo ativado em p (CAP) (PIZA, 2008). Foram realizadas as
isotermas de adsoro dos compostos diuron e hezaxinona, que foram quanticados
pela tcnica analtica de cromatograa a gs com detector de nitrognio e fsforo
(CGDNP); o mtodo usado foi adaptado a partir do mtodo 507 da USEPA (1995).
Os subprodutos orgnicos halogenados (SOH) foram determinados por cromatograa
a gs com detector de captura de eltrons, de acordo com a tcnica recomendada
pelo mtodo 551.1 da USEPA (1995) e adaptada por Paschoalato (2005). Os seguintes
subprodutos foram investigados: trialometanos, haloacetonitrilas, cloropicrina, ha-
loacetonas, tricloroacetaldedo ou cloro hidrato. As metodologias empregadas esto
descritas no apndice.
6.6.2.1 Estudos de adsoro em carvo ativado
Na Tabela 6.9 esto apresentados os resultados da caracterizao de trs CAGs (coco,
madeira e babau) e quatro CAP(s) (coco, madeira1, madeira2 e babau) por meio dos
Figura 6.19 Dados de pH do sistema de colunas
GUAS 222
seguintes parmetros: massa especca, nmero de iodo (ABNT MB-3410), ndice de
azul de metileno (JIS K 1474) e pH.
Em funo dos resultados obtidos (PIZA, 2008) nos ensaios preliminares de adsoro,
foram selecionados o CAP e o CAG de babau para a realizao dos subprojetos 3 e
4. Foi feita a medida da rea supercial BET, que resultou 134,14 m
2
/g para o CAP e
de 118,64 m
2
/g para o CAG. Foram realizados estudos preliminares de adsoro com
os sete carves ativados da Tabela 6.9, para escolha dos carves mais ecientes. Com
base nos resultados obtidos, foram selecionados o CAP e o CAG de babau para uso
nos outros subprojetos desta pesquisa.
Analisando-se os parmetros de adsoro da Tabela 6.10, vericou-se que tanto o CAG
quanto o CAP de babau foram mais ecientes na remoo do herbicida diuron, pois apre-
sentaram valores superiores de k
f
e valores de 1/n menores que 1. A maior ecincia de
adsoro do diuron pode ser decorrente do fato desse herbicida ter carter neutro, pois a
adsoro sofre grande inuncia do pH. A adsoro de hexazinona foi relativamente baixa
para ambos os carves estudados; uma possvel explicao desse resultado o fato do
herbicida hexazinona ter carter bsico, como tambm o tm os carves estudados.
Tabela 6.9 > Resultados da caracterizao dos carves ativados
TIPO CARVO pH
MASSA ESPECFICA
(g/cm
3
)
NMERO DE IODO
(mg/g)
NDICE DE AZUL
DE METILENO (mL/g)
CAG coco 8,72 2,7594 889,19 160
CAP coco 8,06 2,1793 821,17 110
CAG madeira 8,80 2,1443 988,14 180
CAP madeira 1 9,96 2,0499 707,12 120
CAP babau 9,57 2,4229 939,10 120
CAG babau 9,55 2,9001 1028,80 170
CAP madeira 2 9 1,9281 798,74 130
PARA O CAP E O CAG DE BABAU, FORAM CONSTRUDAS AS ISOTERMAS DE ADSORO PARA OS COMPOSTOS DIURON E HEXAZINONA (ASTM
D 3922-89 E 386089A). NA TABELA 6.10, ENCONTRAM-SE OS VALORES DOS PARMETROS DE ADSORO DE HEXAZINONA E DE DIURON:
CONSTANTE DE CAPACIDADE ADSORTIVA DE FREUNDLICH (K
F
), CONSTANTE DE AFINIDADE ADSORTIVA DE FREUNDLICH (1/N) E OS COEFICIENTES
DE AJUSTE DAS EQUAES AOS DADOS EXPERIMENTAIS (R
2
).
Tabela 6.10 > Parmetros das isotermas de Freundlich para os herbicidas hexazinona e diuron
TIPO DE CARVO HERBICIDA 1/N (L/G) KF (mG/G) R
2
CAP Hexazinona 0,1074 86,57 0,7992
CAG Hexazinona 0,2404 124,78 0,8987
CAP Diuron 0,1353 322,02 0,7905
CAG Diuron 0,2012 401,24 0,8987
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 223
6.6.2.2 Bioensaios
Os ensaios biolgicos foram divididos em duas etapas: Teste de Dose Letal de 50%
da populao (DL
50
) e Teste de Mutagenicidade (Microncleos). Para determinao do
DL
50
, foram usados ratos Wistar machos, pesando 200 3g, divididos de acordo com
a substncia aplicada via oral. De acordo com os resultados obtidos pelos testes de
DL
50
, ocorreram alteraes no grupo que recebeu a gua contaminada com 50 mg/L do
herbicida comercial pr-oxidada com 5 mg/L de cloro, tais como: letargia; prostrao e
nuseas; alm de trs animais que morreram e tiveram seus rgos retirados para exa-
mes patolgicos. Com base nos exames realizados, concluiu-se que o bito se deu por
parada cardiorrespiratria causada por uma reao alrgica no organismo do animal.
Na metodologia utilizada nos testes de mutagenicidade, os animais foram expostos s
substncias em teste, diuron e hexazinona, pela via intraperitonial e sacricados em
tempos apropriados aps o tratamento. As preparaes celulares foram coradas com
alaranjado de Giemsa (TRIMAILOVAS et al., 2008).
As substncias-teste foram dissolvidas em leo de milho (NBR 15725). Foi utilizado
como controle positivo e suas respectivas doses para camundongo: 50 mg/kg; ciclo-
fosfamida (CPA, CAS 50-18-0). Para o controle negativo, foi utilizado o solvente leo
de milho. Os seguintes grupos foram estudados:
Tabela 6.11 > Vericao da dosagem de CAP com o uso da pr-oxidao com cloro
e dixido de cloro na gua de estudo
Grupo 1: Diuron 50 mg/kg; Grupo 5: Hexazinona 50 mg/kg;
Grupo 2: Diuron 100 mg/kg; Grupo 6: Hexazinona 100 mg/kg;
Grupo 3: Diuron 500 mg/kg; Grupo 7: Hexazinona 500 mg/kg;
Grupo 4: Diuron 1000 mg/kg; Grupo 8: Hexazinona 1.000 mg/kg;
Grupo 9 - Controle Positivo:
Ciclofosfamida 25 mg/kg;
Grupo 10 - Controle Negativo:
leo de soja 3 mL/kg.
Na Figura 6.20 so apresentados os resultados dos testes de microncleos em reti-
culcitos de sangue perifrico de camundongos machos (MNRETs), constatou-se que
o diuron no produziu efeito mutagnico e/ou carcinognico para as quatro doses
estudadas, os resultados caram abaixo dos valores obtidos pela substncia do grupo
controle positivo tratado com ciclofosfamida.
A hexazinona apresentou para o Grupo 8 (11,1 0,61) valor bem prximo do valor
encontrado para o grupo controle positivo (12,7 0,58). O teste de Microncleo con-
rmou a baixa mutagenicidade do diuron, porm comprovou o potencial mutagnico
e/ou carcinognico da hexazinona, sobre a qual existem poucos relatos na literatura.
GUAS 224
FONTE: TRIMAILOVAS ET AL. (2008).
Figura 6.20
Anlise da frequncia dos microncleos aps 24h e 48h
da administrao dos compostos
6.6.2.3 gua subterrnea
Foi construda uma instalao piloto (IP) de escoamento contnuo composta por tan-
que de armazenamento da gua de estudo do Aqufero Guarani (60 L), bomba dosa-
dora, cmara de pr-oxidao com agitador mecnico e coluna de carvo ativado gra-
nular. A coluna de CAG foi montada com um tubo em acrlico com dimetro interno
de 2 cm e a altura til de CAG de 20 cm. A cmara de pr-oxidao foi construda em
acrlico, com tempo mdio de deteno de 45 minutos para a vazo de estudo de 2 L/h.
Na Figura 6.21 apresentada uma foto da IP (BALLEJO, 2008).
As vazes das solues de cloro e de dixido de cloro (oxidantes) foram xadas em
funo dos resultados de ensaios de demanda. A gua de estudo para uso na IP foi pre-
parada a partir da mistura de gua proveniente de poo artesiano localizado na Unaerp
com o herbicida comercial para se obter uma concentrao de 50 mg/L. Essa concentra-
o do produto comercial foi xada com base nos resultados dos bioensaios em ratos,
realizados no subprojeto 2.
Ensaios para determinao das dosagens dos oxidantes: Foram feitos ensaios prvios
visando determinao das dosagens de cloro e de dixido de cloro para uso na pr-
oxidao da gua de estudo. Estes foram realizados com tempo de contato de 30 minutos
e dosagens de cloro entre 0,1 e 2,5 mg/L de cloro (soluo de hipoclorito de clcio) e de
dixido de cloro entre 0,25 e 1,5 mg/L (gerado a partir de clorato de sdio, perxido de hi-
drognio e cido sulfrico). O critrio para a escolha das dosagens de cloro e de dixido de
cloro foi o residual do oxidante em torno de 0,1 mg/L, para que no houvesse sua interfe-
rncia na adsoro dos herbicidas no carvo ativado. Para medio dos residuais, foi usado
o mtodo espectrofotomtrico com uso de DPD (com adio de glicina para a leitura do
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 225
residual de dixido de cloro). A concentrao de clorito na gua, aps a pr-oxidao com
dixido de cloro, foi medida pelo mtodo iodomtrico titrimtrico. As dosagens de cloro
e de dixido de cloro xadas para a realizao dos ensaios na IP foram de 0,3 mg/L e de
0,5 mg/L, respectivamente, sendo que em ambos os casos o residual do oxidante resultou
em torno de 0,1 mg/L. A concentrao de clorito aps a pr-oxidao com dixido de cloro
resultou de 0,2 mg/L (valor abaixo do mximo permitido pela USEPA, de 1 mg/L e igual ao
permitido pela Portaria MS n
o
518/2004 (BRASIL, 2004), de 0,2 mg/L).
Foram realizados trs ensaios na instalao piloto (IP), conforme caractersticas lis-
tadas a seguir: Ensaio 1: adsoro em CAG; vazo da gua de estudo 2 L/h; durao
do ensaio 54h; parmetros de controle diuron e hexazinona do euente da coluna
CAG. Ensaio 2: pr-oxidao com cloro e adsoro em CAG; vazo da soluo de cloro
0,3L/h; vazo da gua de estudo 2 L/h; durao do ensaio: 24h; parmetros de contro-
le: residual de cloro e SOH do euente
da cmara de pr-oxidao e diuron,
hexazinona e SOH no euente da co-
luna de CAG. Ensaio 3: pr-oxidao
com dixido de cloro e adsoro em
CAG; vazo da soluo de dixido de
cloro 0,3 L/h; vazo da gua de estudo
2 L/h; durao do ensaio 14h; parme-
tros de controle, residual de dixido
de cloro e SOH do euente da cmara
de pr-oxidao e diuron, hexazinona,
clorito e SOH do euente da coluna de
CAG. Os resultados dos ensaios 1, 2 e 3
realizados na IP so mostrados nas Fi-
guras 6.22, 6.23 e 6.24, respectivamen-
te. Nessas guras, foram destacados
os tempos em que foram iniciados os
transpasses dos herbicidas na coluna
de CAG. De acordo com os resultados, o
incio do transpasse de hexazinona (em
torno de 20h) ocorreu antes do incio
do transpasse do diuron (entre 24 e
30h). Estes resultados indicam maior anidade do CAG usado na adsoro de diuron,
de acordo com os resultados obtidos no subprojeto 1.
No ensaio 2, o incio do transpasse tanto do diuron quanto da hexazinona ocorreu
antes dos tempos vericados no ensaio 1, sendo da ordem de 14h para a hexazinona e
FONTE: BALLEJO (2008).
Figura 6.21 Foto da instalao piloto
GUAS 226
de 16h para o diuron. Tais resultados mostram que a pr-oxidao da gua de estudo
com o cloro piorou a ecincia de adsoro do CAG, indicando possvel ocorrncia de
competio entre os subprodutos formados da oxidao do diuron e da hexazinona ou
do cloro residual, pelos stios ativos do CAG (Figura 6.23).
Os resultados do ensaio 3 mostraram que a pr-oxidao com o dixido de cloro piorou
ainda mais a ecincia de adsoro da coluna de CAG, com os incios dos transpasses
ocorrendo em torno de 6h para a hexazinona e de 2h para o diuron. Alm dos subprodu-
tos formados pela oxidao dos herbicidas com o dixido de cloro, a ecincia do CAG
pode ter piorado devido presena do clorito na gua pr-oxidada, uma vez que em
torno de 50 a 70% do dixido de cloro aplicado se converte em clorito (Figura 6.24).
No ensaio com a pr-oxidao usando o cloro (ensaio 2), houve formao de 90 g/L de
SOH na gua pr-oxidada, com predominncia do clorofrmio. Aps a adsoro em CAG,
a concentrao total de SOH resultou menor que o limite de deteco (0,1 g/L).
No ensaio 3, com a pr-oxidao usando o dixido de cloro, no houve formao de
SOH investigados (valores abaixo do limite de deteco do mtodo, 0,1 g/L). Outros
subprodutos podem ter sido formados quando foram usados o cloro e o dixido de
cloro em guas contendo diuron e hexazinona, conforme dados de Chen e Young
(2008), em estudos com o diuron, que observaram a formao do composto NDMA
em gua contaminada com diuron e cloradas. Nas condies em que foram realizados
os ensaios na instalao piloto, a pr-oxidao tanto com o cloro como com o dixido
de cloro piorou a ecincia de adsoro de diuron e de hexazinona no CAG. Na ocor-
rncia de contaminao de poos artesianos com os herbicidas diuron e hexazinona, a
adsoro em CAG poder ser empregada para remoo destes compostos.
Figura 6.22
Concentrao de diuron e de hexazinona no euente da coluna
de adsoro - Resultados do ensaio 1 na IP (sem a pr-oxidao)
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 227
6.6.2.4 gua supercial
Nesse subprojeto, foi preparada uma gua com caractersticas similares s do Rio Pardo
(manancial para possvel abastecimento de Ribeiro Preto) em turbidez e cor aparente,
contaminada com 50 mg/L do herbicida comercial. Na gua de estudo foram observa-
das as seguintes caractersticas: pH = 6,53; cor aparente = 253 uH; cor verdadeira = 15
uH; turbidez = 62,2 uT; alcalinidade = 16,1 mg/L; absorbncia a 254 nm = 1,34; COT =
17,23 mg/L; diuron = 16,67 mg/L; e hexazinona = 5,34 mg/L (FALEIROS, 2008; ROSA, 2008).
Foram feitos sete ensaios em jarteste objetivando a construo dos diagramas de co-
agulao com sulfato de alumnio para remoo de cor aparente e de turbidez para
duas velocidades de sedimentao. Foi usado o hidrxido de sdio como alcalinizante
para a variao do pH de coagulao. Nestes ensaios, foram utilizadas as seguintes
condies: mistura rpida (Tmr = 10s e Gmr = 1000s
-1
); oculao (Tf = 20 min e Gf =
25 s
-1
); sedimentao (Vs
1
= 3 cm/min e Vs
2
= 1,5 cm/min). Os parmetros de controle
foram: pH de coagulao, cor aparente e turbidez do sobrenadante.
Com base nos diagramas de coagulao, foi escolhido o ponto com dosagem de sulfa-
to de alumnio de 40 mg/L e pH de coagulao de 6,67. Os resultados obtidos foram:
turbidez = 3,54 uT e cor aparente = 9 uH para a Vs
1
e turbidez = 3,37 uT e cor aparente
= 9 uH para a Vs
2
(FALEIROS, 2008; ROSA, 2008).
Ensaio em tratamento convencional sem pr-oxidao e sem adsoro em carvo ati-
vado: As condies do ensaio foram: seis jarros idnticos nas condies de coagulao
denidas anteriormente; mistura rpida: Tmr = 10 s e Gmr = 1000 s
-1
; oculao: Tf =
FONTE: TRIMAILOVAS ET AL. (2008).
Figura 6.23
Concentrao de diuron e de hexazinona no euente da coluna
de adsoro - Resultados do ensaio 2 na IP (com a pr-oxidao com cloro
GUAS 228
2 min e Gf = 25 s
-1
; sedimentao: Vs
2
= 1,5 cm/min; ltrao em ltros de laboratrio
com areia com tamanho dos gros entre 0,30 e 0,59 mm; coleta da gua ltrada a partir
de 20 minutos com taxa de ltrao da ordem de 60 m
3
/m
2
.d. Para a realizao da ps-
clorao e vericao da formao dos SOH, foi feito o tamponamento da gua ltrada
com soluo de fosfato em pH 7, conforme metodologia 5710 A (APHA; AWWA; WPCF,
1998); adio de 5 mg/L de cloro e acondicionamento temperatura de 25
o
C. Os par-
metros de controle foram as concentraes de diuron e hexazinona das guas de estudo,
decantada e ltrada. Aps 30 minutos e 24h do trmino da ps-clorao foram medidos
os residuais de cloro, as concentraes de diuron e hexazinona, as concentraes de
SOH, turbidez, cor aparente, pH e COT (carbono orgnico total).
Os resultados deste ensaio encontram-se nas Figuras 6.28 e 6.29, nas quais foi ob-
servado que o tratamento convencional no foi suciente para remover signicativa-
mente os herbicidas diuron e hexazinona da gua em tratamento, com ecincia da
ordem de 5% de remoo para diuron e de 40% para hexazinona. Na Tabela 6.12 so
apresentados os resultados da gua aps a ps-clorao, com destaque para o valor
do COT de 16 mg/L obtido no ETC sem pr-oxidao e sem adsoro.
Ensaios em tratamento convencional sem a pr-oxidao e com adsoro em car-
vo ativado: Foram feitos dois ensaios, nomeados da seguinte maneira: ETC sem pr-
oxidao com adsoro em CAP e ETC sem pr-oxidao com adsoro em CAG. Ini-
cialmente, foi feito um ensaio de adsoro, coagulao, oculao, sedimentao e
ltrao em areia no qual se variou a dosagem de CAP, com a dosagem de coagulante
e pH de coagulao selecionados nos diagramas de coagulao. As caractersticas
desse ensaio foram: adsoro: Tad = 30min, Gad = 100s
-1
; mistura rpida: Tmr = 10s
e Gmr = 1000s
-1
; sedimentao: Vs
2
= 1,5 cm/min; ltrao em ltros de laboratrio
FONTE: TRIMAILOVAS ET AL. (2008).
Figura 6.24
Concentrao de diuron e de hexazinona no euente da coluna de adsoro -
Resultados do ensaio 3 na IP (com a pr-oxidao com dixido de cloro)
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 229
com areia com tamanho dos gros entre 0,30 e 0,59 mm, coleta da gua ltrada a
partir de 20min com taxa de ltrao da ordem de 60 m
3
/m
2
.d. Os parmetros de
controle foram as concentraes de diuron e hexazinona, o COT e a absorvncia a
254 nm da gua ltrada. Foi vericado, na Figura 6.25, que o aumento da dosagem de
CAP proporcionou reduo nas concentraes de diuron e de hexazinona e nos valores
de COT e de absorvncia a 254 nm da gua ltrada.
Para a dosagem de CAP de 250 mg/L, as concentraes dos herbicidas foram reduzidas
para valores inferiores aos adotados como referncia neste trabalho em gua potvel
(norma canadense: concentrao mxima de diuron de 150 g/L e norma australiana:
concentrao mxima de hexazinona de 300 g/L). Portanto, esta dosagem foi esco-
lhida para uso nos demais ensaios. Aps a denio da dosagem de CAP, o ensaio ETC
sem pr-oxidao com adsoro em CAP foi refeito nas mesmas condies de adsor-
o, coagulao, oculao, sedimentao, ltrao e ps-clorao.
Foi utilizado um equipamento de jarteste com dois conjuntos de seis ltros de labora-
trio acoplados em srie para ltrao em areia e adsoro em CAG (Figura 6.26).
As condies deste ensaio foram: mistura rpida (Tmr = 10s e Gmr = 1000s
-1
); oculao
(Tf = 20min e Gf = 25s
-1
); sedimentao (Vs
2
= 1,5 cm/min); ltrao em ltros de labo-
ratrio com areia com tamanho dos gros entre 0,30 e 0,59 mm, coleta da gua ltrada
a partir de 20min com taxa de ltrao da ordem de 60 m
3
/m
2
.d.; adsoro em ltros de
laboratrio com CAG; coleta da gua a partir de 20min com taxa de ltrao da ordem de
60m
3
/m
2
d. Para a realizao da ps-clorao e vericao da formao dos SOH, foi feito
o tamponamento da gua ltrada com soluo de fosfato em pH 7, conforme metodolo-
gia 5710 A (APHA; AWWA; WPCF, 1998; PASCHOALATO, 2005); adio de 5 mg/L de cloro
e acondicionamento temperatura de 25
o
C. Este procedimento foi adotado em todas as
coletas destinadas vericao da formao de SOH.
Figura 6.25
Concentrao de diuron e de hexazinona na gua ltrada em funo da dosa-
gem de CAP antecedendo a coagulao, sedimentao e ltrao em areia
GUAS 230
Os parmetros de controle dos ensaios com CAP e CAG foram: concentraes de diu-
ron e hexazinona das guas de estudo, decantada, ltrada e aps adsoro em CAP
e CAG. Aps 30min e 24h do trmino da ps-clorao, foram medidos o residual de
cloro, as concentraes de diuron e hexazinona, as concentraes dos SOH, turbidez,
cor aparente, pH e COT. Os resultados deste ensaio encontram-se nas Figuras 6.29 e
6.30 (com CAP) e nas Figuras 6.31 e 6.32 (com CAG). Nota-se nestas guras que o
tratamento convencional associado adsoro em CAP ou em CAG removeu ecien-
temente os herbicidas. No ensaio com o CAG, foi obtida remoo ligeiramente superior
tanto de diuron quanto de hexazinona em todas as etapas de tratamento estudadas.
Nas amostras de gua tratada coleta-
das 24 horas aps a ps-clorao, hou-
ve aumento nas ecincias de remo-
o dos dois herbicidas, com reduo
do residual de diuron de 0,066 mg/L
para 0,011 mg/L e reduo do residu-
al de hexazinona de 0,065 mg/L para
0,001 mg/L.
Na Tabela 6.11, encontram-se os resul-
tados da gua aps a ps-clorao nos
ensaios com CAP e CAG, com destaque
para os valores de COT em torno de
1 mg/L, ou seja, remoo de 94,2% do
COT total presente na gua de estudo.
Este resultado pode ser considerado
um indicativo da remoo dos herbici-
das estudados.
Ensaios preliminares para determi-
nao das dosagens dos oxidantes na
pr-oxidao: Foram feitos ensaios
prvios em mesa agitadora visando
determinao das dosagens de cloro e
de dixido de cloro para uso na pr-oxidao da gua de estudo. Os ensaios de pr-
oxidao com o cloro e com o dixido de cloro foram realizados com tempo de contato
de 30min e dosagens variando entre 0,1 e 3 mg/L de cloro. O critrio para a escolha das
dosagens de cloro e de dixido de cloro foi idntico aos dos ensaios anteriores. As do-
sagens de cloro e de dixido de cloro obtidos nos ensaios de demanda e xadas para a
realizao dos ensaios em tratamento convencional com a pr-oxidao foram de 0,35
Figura 6.26
Equipamento de jarteste e ltros
de laboratrio de areia e de CAG
para a realizao dos ensaios em
tratamento convencional com CAG
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 231
mg/L e de 0,50 mg/L, respectivamente. A concentrao de clorito aps a pr-oxidao
com 0,50 mg/L de dixido de cloro resultou abaixo de 0,1 mg/L.
Tabela 6.11> Vericao da dosagem de CAP com o uso da pr-oxidao com cloro
e dixido de cloro na gua de estudo
DOSAGEM DE CAP
(mg/L)
CLORO
(mg/L)
DIURON
(mg/L)
HEXAZINONA
(mg/L)
DIXIDO DE
CLORO (mg/L)
DIURON
(mg/L)
HEXAZINONA
(mg/L)
200 0,5 0,072 1,092 0,5 < 0,01 0,999
225 0,5 < 0,01 0,561 0,5 < 0,01 0,654
250 0,5 < 0,01 0,364 0,5 < 0,01 0,228
Ensaios em tratamento convencional com a pr-oxidao com cloro e dixido de
cloro com e sem adsoro: Foram feitos seis ensaios em tratamento convencional
(ETC), nomeados da seguinte maneira: ETC pr-cloro sem adsoro; ETC pr-cloro com
CAP; ETC pr-cloro com CAG; ETC pr-dixido de cloro sem adsoro; ETC pr-dixido
de cloro com CAP; ETC pr-dixido de cloro com CAG. Inicialmente, foi feita uma
vericao da inuncia da pr-oxidao na adsoro em CAP na remoo dos herbi-
cidas. As caractersticas desse ensaio foram: pr-oxidao com dosagens de cloro e de
dixido de cloro de 0,5 mg/L, Tox = 30min, Gox = 100s
-1
; adsoro: dosagem de CAP
de 200 a 250 mg/L, Tad = 30min e Gad = 100s
-1
. Os parmetros de controle foram as
concentraes de diuron e hexazinona da gua aps a adsoro.
Pelos resultados obtidos e apresentados na Tabela 6.11, foi vericado que, com a pr-
oxidao com cloro e dixido de cloro, no foi possvel reduzir a dosagem de CAP
denida anteriormente, de 250 mg/L, sem que houvesse reduo na ecincia de re-
moo dos herbicidas. Portanto, nos ensaios nais de tratamento convencional com a
pr-oxidao, foi mantida a dosagem de CAP igual a 250 mg/L.
Os seis ensaios ETC foram feitos nas seguintes condies: seis jarros idnticos nas
condies de pr-oxidao denidas nos ensaios de demanda: 0,5 mg/L de oxidante
e Tox = 30min; ETC com CAP: dosagem de CAP de 250 mg/L e Tad = 30min; mistura
rpida: condies de coagulao denidas nos diagramas de coagulao, Tmr = 10s e
Gmr = 1000s
-1
; oculao: Tf = 20min e Gf = 25s
-1
; sedimentao: Vs
2
= 1,5 cm/min;
ltrao em ltros de laboratrio com areia com tamanho dos gros entre 0,30 e 0,59
mm; coleta da gua ltrada a partir de 20min com taxa de ltrao da ordem de 60
m
3
/m
2
.d; ETC com CAG: ltros de laboratrio com CAG e coleta da gua a partir de
20min com taxa de ltrao da ordem de 60 m
3
/m
2
d.
GUAS 232
Os parmetros de controle dos seis ensaios ETC com a pr-oxidao foram: concentraes
de diuron e hexazinona das guas de estudo, decantada, ltrada e aps adsoro em CAP
e CAG. Aps 30min e 24h do trmino da ps-clorao, foram medidas as concentraes
residuais de diuron e de hexazinona, as concentraes dos SOH, turbidez, cor aparente e
COT. Os resultados esto apresentados na Tabela 6.12 e nas Figuras 6.27 a 6.32.
Na Tabela 6.12, tambm so mostrados os valores de clorofrmio e o somatrio dos
subprodutos orgnicos halogenados formados nos nove ensaios ETC. Dentre os SOH in-
vestigados, o clorofrmio foi o composto que apresentou maior formao em todas as
condies estudadas, sendo que os demais foram formados com concentraes abaixo
de 20 g/L. Os valores de turbidez, cor aparente e alumnio residual apresentaram-se em
conformidade com os padres de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS n
o
518/2004.
Observou-se que o uso da pr-oxidao potencializou a formao dos subprodutos inves-
tigados. Tal fato mostra que o herbicida presente nas guas um precursor da formao
de compostos orgnicos halogenados e que sua presena em gua bruta deve ser preo-
cupante quando do uso da pr-oxidao com cloro. O uso do carvo ativado em p ou
granular foi essencial para a remoo dos SOH formados na pr-oxidao.
6.6.2.5 Consideraes nais
Algumas constataes com a realizao das pesquisas realizadas na Unaerp eviden-
ciaram a importncia da investigao de diuron e hexazinona nas guas subterrnea
e supercial em regies onde o uso do solo predominante para o cultivo de cana-
de-acar. Estes compostos, alm de possivelmente txicos ao ser humano, atuam
como precursores da formao de compostos orgnicos halogenados, muitos deles
reconhecidamente cancergenos. Concluiu-se que o uso de adsoro em carvo ati-
vado fundamental para a remoo dos agrotxicos estudados, como tambm dos
subprodutos formados pelo uso de oxidantes.
6.6.3 Remoo de 2,4-D e glifosato em guas superciais
Devido larga utilizao do 2,4-D e glifosato no Estado do Esprito Santo, existe pos-
sibilidade de presena destes contaminantes em sistemas de gua de abastecimento
e a consequente necessidade de avaliao da remoo destes compostos nos pro-
cessos de tratamento e o monitoramento da sua presena em mananciais. Segundo
Rodrigues (2003), no Esprito Santo, os agrotxicos mais utilizados so o glifosato
(37% e 2,4-D 10% do total).
Segundo Speth (1993), a remoo de glifosato em gua para abastecimento no siste-
ma de tratamento convencional dependente da turbidez da gua bruta; a oxidao
com cloro e oznio efetiva na remoo do glifosato, enquanto que o dixido de clo-
ro, permanganato de potssio e perxido de hidrognio no se mostraram efetivos.
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 233
T
a
b
e
l
a
6
.
1
2
>
P
a
r
m
e
t
r
o
s
d
e
c
o
n
t
r
o
l
e
d
a
g
u
a
p
s
-
c
l
o
r
a
d
a
n
o
s
e
n
s
a
i
o
s
c
o
m
e
s
e
m
a
p
r
-
o
x
i
d
a
o
c
o
m
c
l
o
r
o
e
d
i
x
i
d
o
d
e
c
l
o
r
o
e
c
o
m
e
s
e
m
a
d
s
o
r
o
e
m
c
a
r
v
o
a
t
i
v
a
d
o
E
T
C
G
U
A
A
P
S
A
P
S
-
C
L
O
R
A
O
T
U
R
B
I
D
E
Z
(
u
T
)
C
O
R
A
P
A
R
E
N
T
E
(
u
H
)
C
O
T
(
m
g
/
L
)
A
L
U
M
N
I
O
R
E
S
I
D
U
A
L
(
m
g
/
L
)
C
L
O
R
O
F
R
M
I
O
(
g
/
L
)
S
O
H
*
(
g
/
L
)
S
e
m
p
r
-
o
x
i
d
a
o
S
e
m
a
d
s
o
r
o
3
0
m
i
n
0
,
4
6
<
1
1
6
,
0
5
8
,
8
9
9
,
5
0
2
4
h
0
,
4
3
<
1
1
6
,
1
4
<
0
,
0
0
1
6
,
5
1
7
,
2
1
A
d
s
o
r
o
C
A
P
3
0
m
i
n
0
,
4
9
<
1
0
,
9
9
6
,
5
7
6
,
9
8
2
4
h
0
,
6
3
<
1
1
,
0
8
<
0
,
0
0
1
5
,
0
5
1
2
,
3
8
A
d
s
o
r
o
C
A
G
3
0
m
i
n
0
,
8
5
<
1
0
,
9
8
5
5
,
4
7
2
4
h
0
,
9
8
<
1
0
,
9
7
<
0
,
0
0
1
8
,
0
1
1
2
,
1
4
P
r
-
o
x
i
d
a
o
c
o
m
c
l
o
r
o
S
e
m
a
d
s
o
r
o
3
0
m
i
n
0
,
4
2
3
1
9
,
4
8
1
0
,
8
7
1
6
,
4
7
2
4
h
0
,
4
3
4
1
9
,
4
5
0
,
0
2
0
7
3
,
4
2
9
5
,
9
4
A
d
s
o
r
o
C
A
P
3
0
m
i
n
0
,
5
5
<
1
1
,
6
2
6
,
1
0
7
,
7
4
2
4
h
0
,
5
8
<
1
1
,
6
4
0
,
0
6
6
1
2
,
5
6
2
2
,
0
1
A
d
s
o
r
o
C
A
G
3
0
m
i
n
0
,
2
6
<
1
1
,
9
2
0
,
6
0
6
,
6
2
7
2
4
h
0
,
2
4
<
1
1
,
9
5
0
,
0
1
2
<
0
,
1
<
0
,
1
P
r
-
o
x
i
d
a
o
c
o
m
d
i
x
i
d
o
d
e
c
l
o
r
o
S
e
m
a
d
s
o
r
o
3
0
m
i
n
0
,
5
3
1
1
7
,
4
7
1
1
1
7
,
7
9
2
4
h
0
,
4
6
<
1
1
7
,
4
2
0
,
0
2
6
8
0
,
5
9
1
1
8
,
8
2
A
d
s
o
r
o
C
A
P
3
0
m
i
n
0
,
6
3
<
1
1
,
4
7
5
,
7
2
8
,
7
0
2
4
h
0
,
5
5
<
1
1
,
4
8
0
,
1
3
6
8
,
4
6
1
1
,
1
1
A
d
s
o
r
o
C
A
G
3
0
m
i
n
0
,
1
0
<
1
0
,
9
2
4
,
9
4
6
,
0
5
2
4
h
0
,
1
0
<
1
0
,
9
6
0
,
0
3
4
6
,
3
9
8
,
0
4
*
S
O
H
:
S
O
M
A
T
R
I
O
D
O
S
S
U
B
P
R
O
D
U
T
O
S
O
R
G
N
I
C
O
S
H
A
L
O
G
E
N
A
D
O
S
GUAS 234
Figura 6.27
Concentrao de diuron nas etapas do tratamento no ensaio
em tratamento convencional sem adsoro em carvo ativado
Figura 6.28
Concentrao de hexazinona nas etapas do tratamento no ensaio
em tratamento convencional sem adsoro em carvo ativado
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 235
Figura 6.30
Concentrao de hexazinona nas etapas do tratamento no ensaio
em tratamento convencional com adsoro em carvo ativado em p
Figura 6.29
Concentrao de diuron nas etapas do tratamento no ensaio
em tratamento convencional com adsoro em carvo ativado em p
GUAS 236
Figura 6.31
Concentrao de diuron nas etapas do tratamento no ensaio
em tratamento convencional com adsoro em carvo ativado granular
Figura 6.32
Concentrao de hexazinona nas etapas do tratamento no ensaio
em tratamento convencional com adsoro em carvo ativado granular
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 237
Na remoo do 2,4-D, segundo o mesmo autor, os processos de adsoro em carvo
ativado em p e a ultraltrao em membranas de 0,45 m tambm no foram efe-
tivos. Lambert e Graham (1995), encontraram que a ltrao rpida tambm no
efetiva na remoo do 2,4-D.
Considerando-se que o processo de tratamento denominado convencional predo-
minante nas principais instalaes existentes no Brasil, e as limitaes deste trata-
mento na remoo de agrotxicos, o foco principal da pesquisa realizada no mbito
do Prosab 5, na Universidade Federal do Esprito Santo (Ufes), foi estudar em labora-
trio e em instalao piloto a remoo dos agrotxicos glifosato e 2,4-D utilizando
o tratamento convencional associado a pr-oxidao e adsoro em carvo ativado
granular. O trabalho teve tambm como objetivo avaliar a presena de 2,4-D e gli-
fosato em dois mananciais superciais que abastecem a regio metropolitana de
Vitria (ES), que so os rios Santa Maria da Vitria e Jucu.
6.6.3.1 Remoo do 2,4-D em sistemas de tratamento de gua
Para avaliar a remoo de 2,4-D, foram construdos diagramas de coagulao para
algumas faixas de variao de turbidez da gua bruta do manancial e foram estabe-
lecidos os parmetros fsicos operacionais e dosagem de coagulante. Os parmetros
encontrados e adotados esto apresentados na Tabela 6.13.
Tabela 6.13 > Condies operacionais para os ensaios de Jarteste
GRADIENTE DE VELOCIDADE (S
-1
) TEMPO DE CONTATO (min)
Coagulao 500 0,16
Floculao 25 25
Sedimentao Velocidade de sedimentao = 1 cm/min
Filtrao Filtros da marca Qually (tamanho mdio dos poros de 28 m)
Desinfeco (6 mg/L) 100 30
Remoo do 2,4-D no tratamento convencional em Jarteste: Foi realizado um ensaio
de jartest adicionando-se o herbicida 2,4-D gua bruta para vericar a ecincia do
sistema de tratamento convencional (Jarteste), considerando a desinfeco com cloro
apos ltrao.
Na Tabela 6.14 esto representados os resultados das anlises fsico-qumicas e as
concentraes encontradas de 2,4-D e aps o tratamento convencional.
GUAS 238
Tabela 6.14 > Resultados das anlises fsico-qumicas e de 2,4D da gua bruta
do rio Santa Maria da Vitria e nas etapas do tratamento convencional em Jarteste
AMOSTRA pH TURBIDEZ
(uT)
COR
VERDADEIRA
(uH)
ABS.
(254
nm)
2,4-D
(g/L)
gua bruta (AB) 7,4 5,5 14,6 0,057 ALD
AB + 2,4-D 7,4 5,5 14,6 0,057 99,3
AB + 2,4-D + Coag. + Floc. + Sed. 7,2 1,2 < 1 0,018 101,3
AB + 2,4-D + Coag. + Floc. + Sed. + Filt. 7 0,2 < 1 0,024 100,3
AB + 2,4-D + Coag. + Floc. + Sed. + Filt. + Desinf. 7 0,2 < 1 0,027 100,8
Considerando os resultados apresentados na Tabela 6.14, observou-se que a tecnolo-
gia do tratamento convencional no foi eciente na remoo do herbicida 2,4-D. Estes
resultados concordam com os dados apresentados na literatura da limitao deste
tratamento na remoo do 2,4-D (LAMBERT; GRAHAM, 1995).
Tabela 6.15 > Metodologias utilizadas na caracterizao dos carves ativados e resultados
PARMETRO MTODO CA
-1
(BABAU) CA
-2
(COCO)
rea supercial especca (m/g) Modelo de BET N2 77K 517 723
Densidade parente (g/cm) MB 3413 ABNT 0,422 0,380
Teor de umidade (%) D 2867/04 ASTM 7,2 8
Teor de cinza (%) D 2866/99 ASTM 14,4 27
Materiais volteis (%) D 5832/03 ASTM 21,4 25,3
Carbono xo (%) D 1762/64 - ASTM 56,9 39,6
pH D 6851/02 ASTM 8,5 9,2
A tcnica utilizada para os ensaios de adsoro em carvo ativado seguiu a norma D
3860-89a da American Society for Testing and Materials (ASTM). O experimento foi
conduzido com a concentrao de 2,4-D igual a 150 mg/L (pH 6,8), obtida de uma
soluo estoque de 500 mg/L, preparada em gua destilada e deionizada. Os dois tipos
de carves ativados tambm foram avaliados para capacidade de adsoro do iodo e
azul de metileno (Tabela 6.16).
Adsoro em carvo ativado granular: Para avaliar a remoo do 2,4-D, foram re-
alizados ensaios para o traado de isotermas de adsoro para dois tipos de carvo
ativado granular. Um carvo foi denominado CA-1, derivado de babau, e o outro,
denominado de CA-2, derivado de casca de coco, sendo os dois de fabricao nacional.
A determinao dos parmetros fsicos e qumicos seguiu normas nacionais e interna-
cionais e os resultados esto tambm apresentados na Tabela 6.15.
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 239
Tabela 6.16 > Parmetros obtidos pela isoterma de adsoro de Freundlich do 2,4-D,
ndice de iodo e de azul de metileno dos carves ativados estudados
PARMETRO CA
-1
CA
-2
2,4-D ndice
de iodo
ndice de azul
de metileno
2,4-D ndice de
iodo
ndice de azul
de metileno
K
f
100,4 1616,9 187,9 107,4 1756,3 271
1/n 0,096 0,182 0,057 0,119 0,159 0,050
X/M (mg/g) 158,9 793 173,24 192,5 941 252,35
R
2
0,998 0,994
Considerando os parmetros: rea supercial especca, coeciente emprico K
f
, ndice
de iodo, ndice de azul de metileno e mxima capacidade de adsoro, pode-se concluir
que o carvo ativado CA-2 apresenta maior capacidade adsortiva que o carvo ativado
CA-1. Os ensaios de adsoro em coluna foram realizados com o carvo CA-2.
Avaliao da remoo do 2,4-D em coluna de CAG: O ensaio de adsoro em coluna
de leito xo foi realizado em escoamento contnuo, com o auxlio de uma bomba peris-
tltica de vazo constante. As caractersticas fsicas da coluna e as condies de ensaio
esto apresentadas na Tabela 6.17. A concentrao do 2,4-D utilizada no ensaio foi de
2 mg/L, feita a partir da soluo padro de 2,4-D (Sigma-Aldrich), diluda em gua ltrada
da instalao piloto de tratamento de gua, cujo sistema do tipo convencional. Foram
preparados 200 L de soluo, armazenada em uma caixa dgua de 310 L. As amostras
foram coletadas em intervalos 3, 15, 30 e 60 minutos. A partir destes intervalos, as amos-
tras foram coletadas a cada hora. Aps a coleta, as amostras do euente foram ltradas
vcuo em membrana de bra de vidro e, em seguida, em membrana 0,45 m, para a
remoo dos slidos em suspenso e posterior anlise no cromatgrafo. Na Figura 6.33
est representado o esquema da coluna de adsoro em carvo ativado granular.
Pode-se observar que na coluna de CAG ocorreu a remoo do herbicida 2,4-D por um
perodo de 13 horas de funcionamento, produzindo um euente com concentrao
menor que 30 g/L. Os resultados obtidos do ensaio de adsoro de 2,4-D em leito de
CAG esto apresentados na Figura 6.34.
A instalao piloto (IP) de tratamento de gua foi projetada e construda junto ETA
da Companhia Esprito Santense de Saneamento (Cesan), utilizando-se da mesma gua
bruta auente do sistema pblico que o rio Santa Maria da Vitria. A gua bruta que
chega ETA-Cesan encaminhada IP, mostrada nas Figuras 6.35 e 6.36, aps a pas-
sagem pelo medidor de vazo a gua chega a um vertedor retangular para controle da
vazo. A disperso do alcalinizante e do sulfato de alumnio (SA) foi feita por difusores
na tubulao de gua bruta aps a caixa de entrada e a montante da primeira cmara de
GUAS 240
oculao. O sulfato de alumnio lquido utilizado possui aproximadamente a densidade
de 1,33 g/cm
3
e concentrao de sulfato de alumnio no produto comercial de 46,32%.
Os gradientes de velocidade nas cmaras de oculao foram estabelecidos atravs de en-
saios de otimizao da oculao resultando em 23s
-1
para a primeira cmara, 15s
-1
para
a segunda cmara e de 15s
-1
para a terceira cmara. O oxidante foi aplicado na primeira
cmara de oculao. A unidade de decantao de alta taxa e escoamento vertical.
Com a nalidade de se estudar a adsoro de 2,4-D em meio de CAG com escoamento
contnuo, foi instalada, aps os ltros de dupla camada (areia e antracito), uma coluna
de carvo ativado com altura de leito igual a 1 metro. As caractersticas do leito l-
trante e da coluna de carvo ativado constam das Tabelas 6.17 e 6.18.
Tabela 6.17 > Caractersticas fsicas e as condies do ensaio em coluna de CAG
PARMETRO VALOR
Altura total do leito 16 cm
Espessura do leito de CAG 3 cm
Dimetro interno da coluna 55 mm
Massa de CAG 90 g
Granulometria do CAG 0,074-0,149 mm
Concentrao do adsorvato 2037,3 g/L
pH da soluo 6,5
Taxa de escoamento 120 m
3
/m
2
.d
Vazo 3,3 0,2 cm
3
/s
Temperatura 22 2
o
C
REMOO DO 2,4-D EM INSTALAO PILOTO DO TIPO CONVENCIONAL
Tabela 6.18 > Caractersticas do material ltrante da instalao piloto
MATERIAL ALTURA (CM) CARACTERSTICAS
Antracito 55 Te = 0,9 mm; Cu < 1,8
Areia 25 Te = 0,4 mm; Cu < 1,6
Camada suporte
10
7,5
7,5
19,512,7 mm
12,76,35 mm
6,353,175 mm
Carvo ativado granular 100 0,0740,149 mm
A taxa de ltrao era de 244 m
2
/m
2
dia. A gua ltrada era encaminhada a um tanque
de contato projetado para tempo de deteno mnimo de 30 minutos. A qualidade
fsico-qumica da gua bastante varivel ao longo do ano, com a turbidez variando
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 241
entre os extremos de 3,9 uT a 900 uT, cor aparente de 3,5 a 307 uH e o pH de 6,5 a 7,55
no perodo de fevereiro a dezembro de 2008, poca do trabalho desenvolvido. Segun-
do dados da Cesan, por ocasio das anlises de rotina de glifosato e 2,4-D na gua do
rio Santa Maria da Vitria, no ponto de captao, no houve deteco dos mesmos.
Para avaliar a remoo de 2,4-D, foram realizados os seguintes ensaios na IP: no
primeiro ensaio, foi avaliada a remoo do 2,4-D considerando somente a inuncia
do tratamento convencional; no segundo, foi realizado o tratamento convencional
sem a etapa de pr-oxidao e com a etapa adicional de adsoro utilizando uma
coluna de carvo ativado granular; no terceiro, foi realizado tratamento convencional
com a etapa de pr-oxidao (cloro ativo 1,0 mg/L e 10 minutos de tempo de contato)
Figura 6.34 Curva de saturao do 2,4-D em leito de CAG
Figura 6.33
Esquema do sistema experimental da coluna de carvo ativado
granular de laboratrio
GUAS 242
e coluna de CAG. A variao da turbidez na gua bruta ao longo do ensaio de remoo
do 2,4-D foi de 28,5 a 69 uT; a variao do pH foi de 5 a 6,3 e a adio de 2,4-D foi
em torno de 100 g/L.
Os pontos de coleta durante todos os ensaios foram: gua bruta natural (sem adio
de 2,4-D) e gua bruta com adio de 2,4-D, aps a pr-oxidao, aps a ltrao
rpida, aps a coluna de CAG e aps a desinfeco.
A turbidez, aps a ltrao, apresentava-se igual a 0,12 uT e aps a etapa de desin-
feco, entre 0,10 e 0,22 uT. Esses resultados se enquadram no padro de potabilidade
(Portaria MS n
o
518/2004), que limita em 1 uT ao nal do processo. O tratamento con-
vencional mostrou-se pouco eciente na remoo do herbicida 2,4-D. A concentrao
mdia inicial de 2,4-D aps adio na gua bruta foi de 152,7 g/L; aps a etapa de
ltrao houve uma reduo de aproximadamente 17% e aps a etapa de desinfeco
a reduo foi de 4,4% em relao ao residual detectado aps a ltrao, permanecen-
do com uma concentrao nal de 121 g/L.
Inuncia da adsoro em carvo ativado granular no tratamento convencional na
remoo do herbicida 2,4-D em instalao piloto
O ensaio foi realizado em um perodo de 48 horas, e foram coletadas trs amostras para
cada ponto de amostragem denido. Os pontos de amostragem foram: entrada da 1
cmara do oculador (aps aplicao de 2,4-D na gua bruta); sada da 1 cmara do
oculador (aps oxidao, tempo de contato aproximado de 11 minutos); euente do
ltro; euente da coluna de CAG; e euente do tanque de contato (aps desinfeco).
A concentrao inicial do herbicida foi em mdia 99 g/L e o euente do ltro foi en-
caminhado para a coluna de carvo ativado granular. Aps a coluna de CAG, no foi
detectada a presena do herbicida em concentraes superiores ao limite de deteco do
mtodo (15 g/L), podendo a tecnologia ser indicada para remoo deste herbicida.
Inuncia da pr-oxidao no tratamento convencional seguido da adsoro em
coluna de CAG na remoo do herbicida 2,4-D em instalao piloto
O ensaio foi realizado com tratamento convencional precedido da etapa de pr-oxida-
o (cloro ativo 1 mg/L e tempo de oxidao aproximado de 11 minutos), seguido da
etapa de adsoro atravs de CAG. A concentrao do herbicida no incio do processo
foi em torno de 100 g/L. A contribuio na remoo do herbicida aps a etapa de
pr-oxidao foi de 8%. Aps a etapa de ltrao no ocorreu remoo de 2,4-D.
Aps a coluna de CAG, no foi detectada a presena do herbicida em concentraes
superiores ao limite de deteco de 15 g/L. A concentrao do 2,4-D, detectada aps
a etapa de desinfeco (euente proveniente do primeiro ltro sem passar pela coluna
de CAG), demonstra que a oxidao/desinfeco com cloro no contribuiu na remoo
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 243
Figura 6.35 Vista geral da IP (tratamento convencional) UFES
Figura 6.36 Esquema funcional da IP
GUAS 244
do 2,4-D, pois houve uma diminuio de 2% da concentrao do 2,4-D em relao
concentrao detectada na amostra de gua ltrada. Na Figura 6.37, pode-se obser-
var o valor residual de 2,4-D nas trs alternativas de tratamento de gua estudadas.
Foi possvel concluir que o tratamento convencional, precedido ou no da etapa de
pr-oxidao, ineciente na remoo do 2,4-D, pois nos dois processos o residual
do herbicida cou acima do limite estabelecido na Portaria MS n
o
518/2004, que de
30 g/L. Observou-se que na coluna de CAG, o 2,4-D foi removido para valores inferio-
res ao limite de deteco do mtodo de 15 g/L, o que demonstra que o carvo ativado
pode ser utilizado para o tratamento de remoo do 2,4-D.
6.6.3.2 Remoo do glifosato em sistemas de tratamento de gua
Remoo do glifosato em instalao piloto do tipo convencional seguida de carvo
ativado granular
Antes dos ensaios em instalao piloto, foram realizados ensaios em Jarteste para as
condies estabelecidas na Tabela 6.13 e condies de oxidao descritas em Rosalm
(2007). Com base nos testes de pr-oxidao em Jarteste, foi realizado um ensaio
na IP. Nesse ensaio, foi estudado o tratamento convencional precedido da etapa de
pr-oxidao com cloro, uma vez que este foi mais efetivo quando comparado com o
permanganato de potssio em Jarteste. Foi adicionada uma concentrao de 500 g/L
de glifosato, 1 mg/L de cloro na etapa de pr-oxidao e 6 mg/L de cloro na etapa de
desinfeco com tempo de contato de 30 minutos. As caractersticas da gua bruta
no dia do ensaio eram: turbidez igual 7 uT; pH igual a 7,1; cor aparente igual 50 uH;
cor verdadeira igual 23 uH; e absorvncia no comprimento de onda de 254 nm igual a
0,084. Estas condies foram as mesmas estudadas em ensaio anterior de Jarteste.
Figura 6.37 Residual do 2,4-D nas sequncias de tratamento na instalao piloto
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 245
Os resultados dos ensaios na IP se diferenciaram dos resultados obtidos em Jarteste. A
concentrao residual de glifosato at a etapa de ltrao foi equiparada, porm, ao
ser adicionado 6 mg/L de cloro na etapa de desinfeco, observou-se que, no labora-
trio, a concentrao residual foi abaixo do limite de deteco (5 g/L), enquanto que
na IP, a concentrao residual do glifosato foi de 51 g/L. importante ressaltar que o
ensaio em Jarteste pode, em alguns casos, superestimar a remoo de contaminantes.
Na Figura 6.38 encontra-se representado a remoo de glifosato aps tratamento
convencional com a etapa de pr-oxidao utilizando-se o cloro (1 mg/L).
Consideraes nais: A adsoro em carvo ativado granular constitui-se uma alternati-
va tecnolgica para remoo de 2,4-D. Nas condies em que foram realizados os experi-
mentos, o tratamento convencional e a oxidao com cloro e permanganato de potssio
no mostraram-se efetivos para remoo do herbicida 2,4-D a limites inferiores ao esta-
belecido pela Portaria n 518/2004, que de 30 g/L, para valores iniciais de 100 g/L.
No estudo da ecincia do tratamento convencional na remoo do glifosato, pde-se
observar que a combinao das etapas de coagulao, oculao e sedimentao con-
tribuem com 57% de remoo do herbicida. Aps a etapa de ltrao, a remoo foi
de 79% e aps a etapa de desinfeco, a remoo foi de 90% para uma concentrao
inicial adicionada a gua bruta de 500 g/L.
No estudo de avaliao do poder de oxidao do permanganato de potssio em relao
ao glifosato, observou-se que a remoo de glifosato aps a etapa de pr-oxidao
Figura 6.38
Residual do glifosato durante o tratamento convencional precedido da etapa de
pr-oxidao utilizando o cloro. AB = gua bruta; Gli = glifosato;
PO = pr-oxidao utilizando cloro (1 mg/L)
GUAS 246
foi de 24% para concentrao inicial de 500 g/L. Quando foi utilizada a pr-oxidao
com cloro, e aps a etapa de desinfeco, no foi detectada a presena de glifosato na
gua tratada, considerando a limite de deteco de 5 g/L.
As concentraes dos herbicidas 2,4-D e glifosato encontradas nos dois mananciais
superciais monitorados por seis meses estiveram abaixo do limite mximo permitido
pela Portaria n 518/2004 do Ministrio da Sade, que dene a concentrao de 500
g/L para o glifosata e de 30 g/L para o 2,4-D.
Referncias bibliogrcas
AMARANTE, J. et al . Breve reviso de mtodos de determinao de resduos do herbicida cido
2,4-diclorofenoxiactico (2,4-D). Qum. Nova, v. 26, n. 2, mar. 2003. Disponvel em: <http://www.
scielo.br/scielo>. Acesso em: 29 nov. 2008.
AMARANTE, J. et al. Glifosato: propriedades, toxicidade, usos e legislao. Qum. Nova, v. 25, n.
4, p. 589-593, 2002.
Analysis of Wood Charcoal. Philadelphia, 1977. 1042p.
ANVISA - AGNCIA NACIONAL DE VIGILNCIA SANITRIA. Informaes mdicas de urgncia nas
intoxicaes por produtos agrotxicos. 2006. Disponvel em: <http://www.anvisa.gov.br/toxicolo-
gia/informed/paginaoutros.htm>. Acesso em: 19 maio 2006.
APHA; AWWA; WPCF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 5710A.
19. ed. Washington: 1998.
ARMAS, E.D. Biogeodinmica de herbicidas utilizados em cana-de-acar (Saccharum ssp.) na
sub-bacia do rio Corumbata. 2006. 186 p. Tese (Doutorado) - Programa de ps-graduao em
Ecologia Aplicada, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 2006.
ARMAS, E.D. et al. Diagnstico espao-temporal da ocorrncia de herbicidas nas guas super-
ciais e sedimentos do rio Corumbata e principais auentes. Qumica Nova, v. 30, n. 30, p. 1119-
1127, 2007.
ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. International standard practice for
determination of adsorptive capacity of activated carbon by aqueous phase isotherm technique
Especicaes: D 3860. West Conshohocken, 2003.
______. ASTM D 1762: chemical
______. ASTM D 2866: standard test method for total ash content of activated carbon. West
Conshohocken, 1994.
______. ASTM D 2867: standard test methods for moisture in activated carbon. West Consho-
hocken, 2004.
______. ASTM D 4607: standard test method for determination of iodine number of activated
carbon. West Conshohocken, ?
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 247
______. ASTM D 5832: standard test method for volatile matter content of activated carbon
samples. West Conshohocken, 1998.
______. ASTM D 6851: standard test method for determination of contact pH with activated
carbon. West Conshohocken, ?
BALLEJO, R.R. Pr-oxidao e adsoro em carvo ativado para remoo de diuron e hexazinona
de gua subterrnea. 2008. Dissertao (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Universidade de
Ribeiro Preto, 2008.
BOUSSAHEL, R.; BAUDU, M.; MONTIEL, A. Inuence of water organic and inorganic matter on the
pesticide removal by nanoltration. Rev. Sci. Eau, v. 15, n. 4, : p. 709-720, 2002. [artigo em francs].
BRASIL. Leis, Decretos. Ministrio da Sade. Resoluo n 357 Conama. Dispe sobre a classica-
o dos corpos de gua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece
as condies e padres de lanamento de euentes, e d outras providncias. Braslia: Dirio
Ocial da Unio, 2005.
______. Ministrio da Sade. Portaria n 518. Estabelece procedimentos e responsabilidades re-
lativos ao controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo humano e seu padro de
potabilidade, e das outras providncias. Dirio Ocial da Unio. 26 mar. 2004.
CANADA, C. Federal-Provincial-Territorial Committee on Drinking Water of. 2-Methyl-4-chloro-
phenoxiacetic Acid (MCPA) in drinking water(MCPA). 2007.
CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL. Relatrio de qualidade das
guas interiores do estado de So Paulo. 2006. So Paulo: CETESB, 2006, 327 p.
CHEN, W.; YOUNG, T.M. NDMA formation during chlorination and chloramination of aqueous
diuron solutions. Environ. Sci. Technol., v. 42, p. 1072-1077, 2008.
COELHO, E.R.C.; Di BERNARDO, L. Avaliao da ltrao lenta em leito de areia e carvo ativado
granular e da pr-oxidao com oznio e perxido de hidrognio na remoo de matria org-
nica, microrganismos e atrazina. In: 22 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E
AMBIENTAL. 2003, Joinville. Anais... Joinville, 2003, CD-ROM.
COELHO, E.R.C. Inuncia da pr-oxidao com oznio e perxido de hidrognio na remoo de
atrazina em ltros lentos de areia e carvo ativado granular. Tese (Doutorado) - Escola de Enge-
nharia de So Carlos, Universidade de So Paulo, So Carlos, 2002.
COELHO, E.R.C. et al. Remoo de agrotxico em gua de abastecimento pblico. Relatrio parcial.
Prosab, 2007.
CORBI, J.J. et al. Diagnstico ambiental de metais e organoclorados em crregos adjacentes a
reas de cultivo de cana-de-acar. Qum. Nova, v. 29, n. 1, 2006.
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Council directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the
quality of water intended for human consumption. Ofcial Journal of the European Communi-
ties, v. 330, p. 32-43, 1998.
CPP - COMITE DE LA PREVENTION ET DE LA PRECAUTION. Risques sanitaires lis lutilisation ds
produits phytosanitaires. Ministre de lecologie et du dveloppement durable, fev. 2002, 47 p.
GUAS 248
DALSASSO, R.L. Pr-ozonizao de guas contendo agrotxicos, seguida de ltrao direta. 1999.
147 p. Dissertao (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Programa de Ps-Graduao em En-
genharia Ambiental, Universidade de Santa Catarina, Florianpolis, 1999.
DALSASSO, R.L.; SENS, M.L.; HASSEMER, M.E. Utilizao de oznio em guas contaminadas com
agrotxico. Saneamento Ambiental, n. 101, p. 36-40, dez. 2003/jan. 2004.
Di BERNARDO, L.; DANTAS, A.D. Mtodos e tcnicas de tratamento de gua. So Carlos: Rima,
2005. 1566 p.
EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECURIA. Levantamento de reconheci-
mento de solos de alta intensidade de Santa Catarina. 2000.
FALEIROS, R.J.R. Uso de carvo ativado pulverizado para remoo dos herbicidas diuron e hexazi-
nona de gua supercial. 2008. 1023 p. Dissertao (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Uni-
versidade de Ribeiro Preto, 2008.
GERIN, M.; GOSSELIN, P.; CORDIER, S. Environnement et sant publique. Fondements et pratiques.
Edisem: Editions Tec & Doc, fev. 2003, 1023p.
GICQUEL, L. Curso agrotxico. Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental. Universidade
Federal de Santa Catarina, 1998, 43 p.
GRNHEID, S.; AMY, G.; JEKEL, M. Removal of bulk dissolved organic carbon (DOC) and trace organic
compounds by bank ltration and articial recharge. Water Research, v. 39, p. 3219-3228, 2005.
HAMILTON, D.J. et al. Regulatory limits for pesticides in water (IUPAC Technical Report). Pure and
Applied Chemistry, v. 75, n. 8, p. 1123-1155, 2003.
HISCOCK, K. M.; GRISCHEK, T. Attenuation of groundwater pollution by bank ltration. Journal of
Hydrology, v. 266, . 3-4, p. 139-144, 2002.
IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA. Populao do Estado de Santa Cata-
rina. 2007. Disponvel em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/
contagem_nal/tabela1_1_22.pdf>. Acesso em: ago. 2008.
______. Produo agrcola municipal. 2007. Disponvel em: <http://www.ibge.gov.br/home/esta-
tistica/producao_agricola2007>. Acesso em: ago. 2008.
______. Regio Sul do Brasil Ituporanga. Folha SG-22-Z-C-III-4, MI-2892/4, ESCALA 1:50.000.
1980.
INOUE, M.H. et al. Critrios para avaliao do potencial de lixiviaodos herbicidas comercializa-
dos no estado do Paran. Planta Daninha, v. 21, n. 2, p. 313-323, 2003.
INSTITUTO DE ECONOMIA AGRCOLA. Defensivos agrcolas: preos em queda. 2006. Disponvel
em: <http://www.iea.sp.gov.br/out/verTexto.php?codTexto=7597>. Acesso em: 01 dez. 2007.
JACOMINI, A.E. Estudo da presena de herbicida ametrina em guas, sedimentos e moluscos, nas
bacias hidrogrcas do Estado de So Paulo. 2006. 113 p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filoso-
a, Cincias e Letras de Ribeiro Preto, Universidade de So Paulo, Ribeiro Preto, 2006.
MARMONIER, P. et al. Distribution of dissolved organic carbon and bacteria at the interface be-
REMOO E TRANSFORMAO DE AGROTXICOS 249
tween the Rhne River and its alluvial aquifer. J. N. Am. Benthol. Soc., v. 14, n. 3, p. 2-392, 1995.
MASSMANN, G. et al. Seasonal and spatial distribution of redox during lake bank ltration in
Berlin, Germany. Environ. Geol., v. 54, p. 53-65, 2008.
MENEZES, C.T.; HELLER, H. Proposta de metodologia para priorizao de sistemas de abasteci-
mento de gua para a vigilncia da presena de agrotxico. In: 23
CONGRESSO BRASILEIRO DE
ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL, set. 2005, Campo Grande.
MITCH, W.A. et al. (2003). Nitrosodimethylamine (NDMA) as a drinking water contaminant: a
review. Environmental Engineering Science, v. 20, n. 5, p. 389-404. 01 set. 2003.
MOREIRA, A.S. Avaliao da inuncia da agricultura na presena de metais pesados nas guas
do baixo Rio Pardo. 2001. 103 p.Dissertao (Mestrado) - Escola de Engenharia de So Carlos,
Universidade de So Paulo, So Carlos, 2001.
NAJM, I.N. et al. Using powdered activated carbon: a critical review. J. Am. Water Works Assoc.,
v. 83, p. 65-76, 1991.
PASCHOALATO, C.F.P.R. (2005). Efeito da pr-oxidao, coagulao, ltrao e ps-clorao na
formao de subprodutos orgnicos halogenados em guas contendo substncias hmicas.
2005. 154 p. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de So Carlos, Universidade de So Paulo,
So Carlos, 2005.
PESSOA, M.C.P.Y.; SCRAMIN, S; CHAIM, A. Avaliao do potencial de transporte de agrotxicos
usados no Brasil por modelos screening e planilha eletrnica. Jaguarina: Embrapa Meio Ambien-
te, Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 41, 2007.
PETRIE, A.J. et al. The effectiveness of water treatment process for removal of herbicides. The
Science of the Total Environment., v. 117, n. 1, p. 80-100, 1993.
PETRIE, A.J. et al. The effectiveness of water treatment processes for removal of herbicides, The
Science of the Total Environment, v. 135, p. 161-169, 1993.
PIZA, A.V.T. Estudo da capacidade de adsoro dos herbicidas diuron e hexazinona em carves
ativados. 2008. Dissertao (Mestrado em Tecnologia Ambiental) - Universidade de Ribeiro Pre-
to, 2008.
RIO DAS LONTRAS. Disponvel em: <http://rppnriodaslontras.blogspot.com/2007_08_01_archive.
html>. Acesso em: fev. 2009.
RODRIGUES, C. Plantar agrotxicos. 2003. Disponvel em: <http://www.seculodiario.com/
arquivo/2003/noticiario/meio_ambiente/17_02_07b.htm>. Acesso em: ?
ROSA, I.D.A. Remoo dos herbicidas diuron e hexazinona de gua supercial por ciclo completo
e adsoro em carvo ativado granular. 2008. Dissertao (Mestrado em Tecnologia Ambiental)
- Universidade de Ribeiro Preto, 2008.
ROSALM, S.F. Estudo de identicao e quanticao de trihalometanos em gua de abasteci-
mento. Dissertao (Mestrado) - Universidade Federal do Esprito Santo, Vitria, 2007.
SCHMIDT, C.K. et al. Assessing the fate of organic micropollutants during Riverbank ltration utiliz-
GUAS 250
ing eld studies and laboratory test systems. Geophysical Research Abstracts, v. 5, p. 85-95, 2003.
SENS, M.L.; DALSASSO, R.L.; HASSEMER, M.E.N. Utilizao de oznio em guas contaminadas com
agrotxicos. Saneamento Ambiental, n. 101, p. 36-40, 2004.
SENS, M.L. et al. Contribuio ao estudo da remoo de cianobactrias e microcontaminantes
orgnicos por meio de tcnicas de tratamento de gua para consumo humano. Cap. 5 - ltrao
em margem. Rio de Janeiro: ABES, 2006.
SILVA, C.L. (2004). Anlise da vulnerabilidade ambiental aos principais pesticidas recomendados
para os sistemas de produo de algodo, arroz, caf, cana-de-acar, citros, milho e soja. 2004,
135 f. Dissertao (Mestrado em Engenharia Agrcola) - Faculdade de Engenharia Agrcola, Uni-
versidade Estadual de Campinas, 2004.
SOMASUNDARAN, L.; COATS, R.J. Pesticide transformation products in the environment. USA:
1991. p. 2-7.
TRIMAILOVAS, M.R. et al. Avaliao da toxicidade e da mutagenicidade de guas contaminadas
com os herbicidas diuron e hexazinona. In: XXXI CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERIA
SANITARIA Y AMBIENTAL. 2008, Santiago. Anais... Santiago: 2008.
USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Edition of the drinking water
standards and health advisories. Washington DC, USA: US Environmental Protection Agency,
2006. EPA822-R-06-013. Disponvel em: <http://www.epa.gov/waterscience/criteria/drinking/
standards/dwstandards.pdf> Acesso em: ?
______. Determination of nitrogen and phosphorus containing pesticides in water by gs chro-
matography with a nitrogen-phosphorus detector. 1995. Method 507, Revision 2.1. Ohio, USA.
_____. Determination of chlorination disinfection byproducts, chlorinated solvents, and haloge-
nated pesticides/herbicides in drinking water by liquid-liquid extracion and gas chromatografhy
with electron-capture detection. Method 551.1, Reviso 1. set. 1995. Ohio, USA. CD-ROM
Referncias bibliogrcas citadas em apud
SPETH, T.F. Glyphosate removal from drinking water. J.Envir. Engrg., v. 119, n. 6, 1p. 139-1157,
1993.
7.1 Introduo
Conforme discutido no captulo 2, alguns compostos orgnicos, sejam eles de origem
natural ou sinttica, so denominados desreguladores endcrinos (DE) devido sua
capacidade de afetar a sade, principalmente nos aspectos relacionados ao equil-
brio hormonal de organismos superiores, contribuindo para a infertilidade e podendo
ainda aumentar a taxa de cncer nos rgos reprodutores. O termo desregulador en-
dcrino ser utilizado nesse texto como sinnimo de perturbadores endcrinos, dis-
ruptores endcrinos, interferentes endcrinos e agentes hormonalmente ativos, que
na literatura internacional corresponde aos endocrine disrupting chemicals (EDC), cuja
denio foi apresentada no captulo 2.
Grande parte do interesse pblico no tema desreguladores endcrinos surgiu com a
publicao do livro Our stolen future de Colburn, Dumanoski e Meyers (1996) e, desde
ento, vrias pesquisas relacionadas aos efeitos de tais poluentes em organismos vi-
vos, sua prevalncia ambiental (monitoramento de guas superciais, subterrneas,
esgotos in natura e tratados e sedimentos), e s tcnicas para sua deteco e quan-
ticao, bem como para seu tratamento e remoo, tm sido feitas, principalmente
nos pases desenvolvidos.
Dos vrios contaminantes orgnicos considerados desreguladores endcrinos, os com-
postos nonilfenol (4-NP), estradiol (E2) e etinilestradiol (EE2) se destacam do ponto
7Remoo de Desreguladores
Endcrinos
Jos Carlos Mierzwa, Srgio Francisco de Aquino,
Luciana Rodrigues Valadares Veras
GUAS 252
Na Portaria n 518/2004 esto contempladas substncias inorgnicas e orgnicas, es-
pecicamente os agrotxicos, sendo que os limites de qualidade foram baseados nas
diretrizes denidas pela Organizao Mundial da Sade (OMS). De maneira similar ao
que ocorre na Resoluo Conama n 357/2005, na portaria tambm no so denidos
limites de qualidade para as substncias atualmente enquadradas com base no seu
potencial estrognico, mas sim de toxicidade.
Em relao incluso de novas variveis para a denio dos padres de qualidade da
gua potvel, na Portaria n 518/2004 prevista a sua reviso no prazo de cinco anos ou,
ento, mediante solicitao justicada de rgos governamentais ou no-governamen-
tais de reconhecida capacidade tcnica, visando garantir o seu aperfeioamento.
Com base nas premissas existentes nas duas principais normas que tratam da qualidade
da gua no territrio nacional e a partir de estudos desenvolvidos em vrios pases sobre
os efeitos dos desreguladores endcrinos em organismos aquticos e efeitos potenciais na
sade humana, alm do monitoramento destas substncias nos corpos hdricos em algu-
mas regies especicas do pas, possvel prever que, no futuro, tais substncias podero
vir a ser contempladas nas legislaes existentes ou, ento, em normas especcas.
7.3 Desreguladores endcrinos de interesse
para o tratamento de gua de abastecimento
Do ponto de vista de sade pblica, a relevncia de qualquer contaminante para o
controle da qualidade da gua de abastecimento deve considerar trs questes bsicas
(WHO, 2006):
probabilidade de exposio;
concentrao que pode resultar em efeitos adversos sade;
evidncias de efeitos adversos sade em decorrncia da exposio pelo
consumo de gua potvel.
Das trs questes apresentadas, a mais relevante diz respeito s evidncias de efeitos
adversos sade atravs do consumo de gua potvel.
Como ocorre para a maioria dos contaminantes qumicos contemplados nas diretri-
zes da OMS para gua potvel, as evidncias sobre os efeitos potenciais adversos
sade humana, decorrente da exposio aos contaminantes qumicos, so obtidas por
meio da extrapolao dos resultados obtidos em estudos epidemiolgicos, que so
realizados com animais ou outros organismos vivos. Assim, para que seja possvel
identicar os desreguladores endcrinos de interesse para o tratamento de gua de
abastecimento, necessrio, em um primeiro momento, lanar mo da ferramenta de
de vista de qualidade de gua e sade pblica, seja devido elevada estrogenicidade,
s concentraes e grande frequncia de deteco no meio aqutico, ou s mltiplas
fontes de contaminao. Desta forma, este captulo abordar especicamente tais
compostos, apresentando uma sistematizao de dados apresentados na literatura
referentes aos aspectos de legislao e ao monitoramento ambiental de nonilfenol,
estradiol e etinilestradiol, bem como as contribuies do Prosab sobre o tema.
7.2 Os desreguladores endcrinos e a legislao brasileira
Para que seja possvel discutir esta nova classe de contaminantes em relao legisla-
o, deve-se inicialmente avaliar os tipos de normas que se aplicam ao tema gua. No
Brasil, devem ser consideradas, basicamente, as normas que tratam da classicao
dos corpos dgua em funo dos usos preponderantes e do estabelecimento de pa-
dres de qualidade da gua para consumo humano. Estas normas esto mais direta-
mente relacionadas questo da relevncia da presena de desreguladores endcrinos
no ambiente e, consequentemente, na gua.
Em relao classicao dos corpos dgua em funo dos usos preponderantes,
deve-se destacar a Resoluo Conama n 357, de 17 de maro de 2005 (CONAMA,
2005). Por esta resoluo, os corpos dgua devem apresentar padres de qualidade
compatveis com os usos previstos, tendo sido denidos limites de concentrao para
diversas substncias qumicas, levando-se em considerao o uso mais restritivo.
Na relao de variveis de qualidade contempladas na Resoluo Conama n 357/2005,
encontrada uma grande variedade de substncias e compostos qumicos, orgnicos e
inorgnicos, algas e microrganismos, alm de propriedades fsicas da gua. No grupo
de variveis qumicas so contempladas 54 substncias e compostos, principalmente
agroqumicos e solventes orgnicos, alguns dos quais com potencial de interferncia no
sistema endcrino, embora no sejam contempladas substncias e compostos qumicos
que, na atualidade, encontram-se na categoria de desreguladores endcrinos, como por
exemplo, hormnios naturais e sintticos, plasticantes e tensoativos.
Cabe ressaltar, no entanto, que a Resoluo Conama n 357/2005 abre precedentes
para incluir na relao de variveis de qualidade da gua qualquer substncia que
possa comprometer o uso da gua para os ns previstos, dependendo de condies
especcas locais ou, ento, mediante fundamentao tcnica.
No caso da norma que estabelece os padres de qualidade da gua para abastecimen-
to pblico, Portaria do Ministrio da Sade n 518, de 25 de maro de 2004 (BRASIL,
2004), so denidos os padres de qualidade para a gua potvel, considerando-se os
riscos associados presena de microrganismos e substncias qumicas.
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 253
Na Portaria n 518/2004 esto contempladas substncias inorgnicas e orgnicas, es-
pecicamente os agrotxicos, sendo que os limites de qualidade foram baseados nas
diretrizes denidas pela Organizao Mundial da Sade (OMS). De maneira similar ao
que ocorre na Resoluo Conama n 357/2005, na portaria tambm no so denidos
limites de qualidade para as substncias atualmente enquadradas com base no seu
potencial estrognico, mas sim de toxicidade.
Em relao incluso de novas variveis para a denio dos padres de qualidade da
gua potvel, na Portaria n 518/2004 prevista a sua reviso no prazo de cinco anos ou,
ento, mediante solicitao justicada de rgos governamentais ou no-governamen-
tais de reconhecida capacidade tcnica, visando garantir o seu aperfeioamento.
Com base nas premissas existentes nas duas principais normas que tratam da qualidade
da gua no territrio nacional e a partir de estudos desenvolvidos em vrios pases sobre
os efeitos dos desreguladores endcrinos em organismos aquticos e efeitos potenciais na
sade humana, alm do monitoramento destas substncias nos corpos hdricos em algu-
mas regies especicas do pas, possvel prever que, no futuro, tais substncias podero
vir a ser contempladas nas legislaes existentes ou, ento, em normas especcas.
7.3 Desreguladores endcrinos de interesse
para o tratamento de gua de abastecimento
Do ponto de vista de sade pblica, a relevncia de qualquer contaminante para o
controle da qualidade da gua de abastecimento deve considerar trs questes bsicas
(WHO, 2006):
probabilidade de exposio;
concentrao que pode resultar em efeitos adversos sade;
evidncias de efeitos adversos sade em decorrncia da exposio pelo
consumo de gua potvel.
Das trs questes apresentadas, a mais relevante diz respeito s evidncias de efeitos
adversos sade atravs do consumo de gua potvel.
Como ocorre para a maioria dos contaminantes qumicos contemplados nas diretri-
zes da OMS para gua potvel, as evidncias sobre os efeitos potenciais adversos
sade humana, decorrente da exposio aos contaminantes qumicos, so obtidas por
meio da extrapolao dos resultados obtidos em estudos epidemiolgicos, que so
realizados com animais ou outros organismos vivos. Assim, para que seja possvel
identicar os desreguladores endcrinos de interesse para o tratamento de gua de
abastecimento, necessrio, em um primeiro momento, lanar mo da ferramenta de
GUAS 254
avaliao de risco ambiental, levando-se em considerao os efeitos potenciais em
organismos aquticos. A partir destes resultados, estudos mais detalhados com rela-
o aos efeitos potenciais nos seres humanos e sobre a presena de desreguladores
endcrinos em mananciais de abastecimento devem ser conduzidos.
7.3.1 Efeito dos desreguladores endcrinos nos organismos vivos
Originalmente, concebeu-se que o sistema hormonal consistia apenas de glndulas
que excretavam hormnios na corrente sangunea para produzir aes especcas em
rgos ou tecidos. Atualmente, este conceito foi ampliado com a descoberta de regu-
ladores qumicos excretados pelos neurnios, algumas vezes denominados de neuro-
hormnios, que tambm atuam no sistema endcrino (WHO, 2002).
O sistema endcrino muito complexo e seria muito difcil descrev-lo completamen-
te, destacando-se trs eixos endcrinos principais, os quais funcionam de maneira
muito similar (WHO, 2002):
hipotlamo-pituitrio-adrenal, ligado ao metabolismo de carboidratos, prote-
nas e gorduras, efeito antiinamatrio e modulao de respostas ao estresse;
hipotlamo-pituitrio-gonodal, ligado ao sistema reprodutivo;
hipotlamo-pituitrio-tiroidal, ligado atividade metablica como um todo.
A funo principal do sistema endcrino manter a homeostase dos organismos vivos,
de maneira a evitar variaes bruscas nos nveis de hormnios/respostas em decorrn-
cia de sinais, internos ou externos ao organismo, com base no princpio da gangorra,
conforme demonstrado na Figura 7.1.
Quando se analisa os impactos potenciais dos desreguladores endcrinos nas funes
corporais, devem ser considerados os seguintes pontos crticos (WHO, 2002):
a exposio na fase adulta pode ser compensada pelos mecanismos de home-
ostase, de maneira a no resultar em efeitos signicativos ou detectveis;
a exposio durante a fase de programao do sistema endcrino pode
resultar em uma mudana permanente da funo ou sensibilidade para os
sinais de estmulo ou inibio;
a exposio a um mesmo nvel de sinal endcrino em diferentes estgios
do desenvolvimento, ou estaes do ano no caso de animais, pode produzir
efeitos variados;
em decorrncia da comunicao entre os diferentes sistemas endcrinos,
os efeitos da exposio podem ocorrer de maneira imprevisvel e em um
sistema diferente daquele que recebeu o sinal;
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 255
em decorrncia da imprevisibilidade dos efeitos associados aos desregulado-
res endcrinos, necessrio ter cuidado na extrapolao de resultados de ava-
liaes in vitro da atividade hormonal das substncias para a condio in vivo.
A grande maioria das disfunes hormonais ou endcrinas atribuda ao funcio-
namento das gnadas, responsveis pelas caractersticas sexuais secundrias e pelo
desenvolvimento e funcionamento dos rgos sexuais, em especial na fase de de-
senvolvimento (WHO, 2002). Isto pode ser constatado pela avaliao dos resultados
de diversos estudos que relacionam a poluio ambiental das guas naturais com
anomalias no sistema reprodutivo e no desenvolvimento sexual de diferentes espcies
de animais. Como exemplo, a exposio aos desreguladores endcrinos pode ser res-
ponsvel pela feminilizao de certas espcies de peixes, induo do nascimento de
fmeas em certas espcies de rpteis, induo ao hermafroditismo, inibio no desen-
volvimento das gnadas e declnio na reproduo. Essas e outras anomalias relatadas
em vrias espcies de animais so apresentadas na Tabela 7.1.
Vrios grupos de pesquisas acreditam que grande parte da populao masculina sofre
com o decrscimo na qualidade do smen nas ltimas dcadas e que isso parece estar
relacionado presena de estradiis nas guas (WHO, 2002). Alm disso, devido capa-
cidade dos desreguladores endcrinos modular ou alterar a intensidade dos hormnios
circulantes, tais substncias tm o potencial de afetar as funes do sistema reprodu-
tivo feminino. Como o desenvolvimento e as funes do sistema reprodutivo feminino
Figura 7.1
Representao do funcionamento do sistema endcrino
com base no princpio da gangorra
GUAS 256
dependem do balano e das concentraes dos hormnios circulantes (estrognios, an-
drgenos e tireoidianos), uma disfuno no sistema endcrino pode resultar em algu-
mas anomalias, tais como: irregularidades no ciclo menstrual, prejuzos na fertilidade ou
formao de ovrios policsticos. O uso de dietilestilbestrol (DES) em mulheres grvidas
na dcada de 1970 parece ser um exemplo de que isso pode de fato ocorrer. Uma das
consequncias do DES foram anomalias do sistema reprodutivo feminino (cncer vagi-
nal, gravidez anormal e reduo na fertilidade) de crianas nascidas a partir de mes que
zeram uso desse medicamento (WHO, 2002). Este fato , sem dvida, uma evidncia dos
efeitos exposio crnica aos desreguladores endcrinos.
O relatrio Global assessment of the state of the science of endocrine disrupters, ela-
borado sob a coordenao do Programa Internacional sobre Segurana Qumica (IPCS)
(WHO, 2002), adverte que os poucos dados disponveis de exposio humana a des-
reguladores endcrinos no permitem concluir, de forma categrica, que a sade re-
produtiva humana tenha sido adversamente afetada pelos desreguladores endcrinos.
Contudo, o relatrio salienta que a plausibilidade biolgica de dano reproduo
humana resultante da exposio aos desreguladores endcrinos parece forte, consi-
derando: (i) o histrico conhecido de inuncias de hormnios endgenos e exgenos
sobre muitos processos; (ii) a evidncia de efeitos adversos no sistema reprodutivo da
fauna silvestre e em animais de laboratrio expostos aos desreguladores endcrinos.
Tais aspectos so, de acordo com o relatrio da IPCS, sucientes para gerar preocupa-
o e fazer desta rea uma prioridade de pesquisa.
Com base em evidncias sobre os problemas associados aos DE e a preocupao do p-
blico com este tema, a Comisso Europia desenvolveu uma estratgia normativa para
desreguladores endcrinos. O documento de trabalho dos membros da comisso sobre
a implantao da estratgia para desreguladores endcrinos (CEC, 2007) menciona que
entre 2000 e 2006 foram contratados trs estudos para identicao e avaliao de subs-
tncias capazes de interferir no sistema endcrino, com uma lista inicial de 553 substn-
cias. Destas, 428 foram listadas, considerando-se a classicao a seguir (CEC, 2007):
Categoria 1 substncias com clara evidncia de serem desreguladores
endcrinos (194 substncias);
Categoria 2 substncias que mostraram evidncias potenciais de serem
desreguladores endcrinos (125 substncias);
Categora 3 (a ou b) substncias sem base cientca ou com dados insu-
cientes para serem consideradas desreguladores endcrinos (109 substncias).
Entre as substncias enquadradas na categoria 1, e que j apresentam regulamenta-
o especca, encontram-se o 4-nonilfenol e o 4-nonilfenoldietoxilado, ambos sub-
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 257
produtos da degradao dos alquilfenis polietoxilados. Alm dessas substncias, um
estudo anterior concluiu que a estrona, o estradiol e o etinilestradiol evidentemente
causavam interferncia na reproduo e desenvolvimento de peixes (CEC, 2004).
Tabela 7.1 > Exemplos de efeitos atribudos aos desreguladores endcrinos em animais
ESPCIE CONTAMINANTE EFEITOS REFERNCIA
Peixe
Euente de ETE
Feminilizao de peixes;
declnio da reproduo; aumento
na sntese de vitelogenina (VTG)
Robinson et al. (2003);
Sol et al. (2000, 2003)
Estradiol
Feminizao de peixes; declnio
da reproduo; aumento na sntese
de VTG; alterao nas gnadas;
hermafroditismo; incidncia
de testculo-vulos nas gnadas;
mortalidade elevada da prole
Knorr e Braunbeck (2002);
Panter, Thompson e Sumpter
(2000); Routledge et al. (1998);
Shioda e Wakabayashi (2000)
Etinilestradiol
Declnio da reproduo;
induo da sntese de VTG;
mortalidade da espcie
Robinson et al. (2003);
Schimid et al. (2002)
Estrona Induo da sntese de VTG Routledge et al. (1998)
Alquilfenis
(octilfenol,
nonilfenol,
butilfenol) e
bisfenol A
Feminizao de peixes;
declnio da reproduo;
induo da sntese de VTG;
mortalidade elevada da prole
Knorr e Braunbeck (2002);
Routledge et al. (1998);
Shioda e Wakabayashi (2000)
Mamfero
Bisfenol A
Anomalia no sistema
reprodutivo de ratos
Markey et al. (2002)
PCB Alta mortalidade de golnhos Aguilar e Borrell (1994)
Rptil
DDT e DDE
Concentraes anormais de horm-
nios sexuais no plasma e anomalias
morfolgicas nas gnadas
Guillette et al. (1999);
Milnes et al. (2002)
Estradiol
Induo da sntese de VTG; alteraes
na produo de ovos
Irwin, Gray e Oberdorster (2001)
Ave DDT e DDE
Feminizao de gaivotas machos;
reduo na espessura
da casca de ovos;
anomalia no sistema reprodutivo
Fry e Toone (1981)
Anfbio Euente de ETE
Induo sntese de VTG;
hermafroditismo
Bogi et al. (2003)
GUAS 258
na necessidade de maior investigao sobre a presena e quanticao desta nova
classe de contaminantes.
Mesmo com as diculdades analticas e de infra-estrutura necessrias para a determi-
nao de desreguladores endcrinos, salienta-se que o monitoramento de tais subs-
tncias em mananciais brasileiros importante tendo em vista a escassez de dados
publicados e ao grave quadro sanitrio do nosso pas. A identicao dos principais
desreguladores presentes nas guas que recebem despejos industriais e domsticos,
bem como a determinao de sua concentrao contribuiria para anlise de risco e
identicao de pontos crticos associados utilizao de mananciais contaminados
para produo de gua para abastecimento pblico.
7.4 reas potencialmente crticas no Brasil
Os meios de exposio aos desreguladores endcrinos podem ser as guas superciais
e subterrneas, os esgotos domsticos, euentes de ETE, sedimentos marinhos, solo e
lodo biolgico (BILA; DEZOTII, 2007). Esta exposio pode ocorrer sob diferentes formas
e as mais comuns so por meio da ingesto de gua ou de alimentos contaminados e
atravs do contato com o solo. Nas guas superciais, muito utilizadas para o abas-
tecimento pblico no Brasil, a presena desses contaminantes pode estar relacionada
ao lanamento de esgotos domsticos, drenagem de reas agrcolas e ao despejo
de euentes industriais nos corpos receptores. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE
(2005), o lanamento de esgotos domsticos constitui o principal problema de polui-
o nos mananciais do pas. Alm disso, a criao de animais, o uso de agrotxicos e
fertilizantes e a disposio inadequada de resduos slidos no ambiente tambm so
fontes expressivas de contaminao das guas. A Figura 7.2 ilustra a ocorrncia dos
diferentes tipos de poluio dos corpos dgua, de acordo com cada regio do pas.
Uma anlise geral sobre a qualidade da gua nas bacias hidrogrcas brasileiras apon-
tou algumas reas crticas, que se localizam nas proximidades das principais regies
metropolitanas. Merecem destaque as seguintes bacias e suas respectivas cidades
principais (PNRH, 2006):
Regio Hidrogrca do Paran: bacias do Alto Iguau (Curitiba), alto Tiet
(So Paulo), Piracicaba (Campinas), Meia Ponte (Goinia), Rio Preto (So Jos
do Rio Preto);
Regio Hidrogrca do So Francisco: bacia do rio das Velhas, Par e Para-
opeba (Belo Horizonte);
Regio Hidrogrca Atlntico Leste: bacia dos rios Joanes e Ipitanga (Salvador);
7.3.2 Ocorrncia de desreguladores endcrinos em sistemas aquticos
A principal fonte de contaminao de guas superciais por desreguladores endcrinos
o lanamento de esgotos domsticos tratados ou in natura. Vrios estudos mostram
que as guas receptoras de euentes de estaes de tratamento de esgoto domstico
(ETE) foram estrognicas para peixes
e que a proporo da intersexualidade nos peixes
estava correlacionada com a quantidade dos euentes lanados nas guas dos rios es-
tudados (SOL et al., 2003; VAN DEN BELT et al., 2004). Isso ocorre porque os desregula-
dores endcrinos so apenas parcialmente removidos nas ETE (WANG et al., 2005; ALUM
et al., 2004; RUDDER et al., 2004; JEANNOT et al., 2002). Alm das emisses pontuais de
euentes domsticos e industriais, emisses difusas, associadas chuva e ao escoamen-
to que dela resulta, chegam aos corpos de gua e podem contribuir para o aporte de
desreguladores endcrinos, a exemplo dos agrotxicos clorados.
Dentre os desreguladores endcrinos presentes no esgoto in natura e tratado, desta-
cam-se o nonilfenol (4-NP), o estradiol (E2) e o etinilestradiol (EE2), devido elevada
estrogenicidade e/ou grande ocorrncia (KOH et al., 2008; BARONTI et al., 2000). O
4-NP um subproduto da degradao dos alquilfenis polietoxilados (APEO
n
), que so
utilizados na formulao de alguns produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal
comumente utilizados em domiclios, ao passo que o E2 um hormnio sintetizado e
excretado naturalmente por mulheres, enquanto o EE2 um constituinte das plulas
anticoncepcionais (JEANNOT et al., 2002; BARONTI et al., 2000).
A reviso da literatura (Tabela 7.2) sobre a ocorrncia de 4-NP, E2 e EE2 em guas su-
perciais mostra que a concentrao de tais desreguladores endcrinos altamente
varivel. A Tabela 7.2 mostra que, para amostras de rios e mananciais, o estradiol (E2) e o
nonilfenol (NP) so mais frequentemente detectados, sendo o etinilestradiol (EE2) sem-
pre presente em menor quantidade. De acordo com a Tabela 7.2, tambm pode ser obser-
vado que as maiores concentraes de desreguladores endcrinos foram reportadas em
trabalhos feitos no continente americano e asitico, valores mdios acima de 100 ng/L
para o NP e E2, enquanto nos estudos realizados na Europa, as concentraes mdias
de estradiol e de etinilestradiol em gua supercial so de 13,9 ng/L e 17,9 ng/L, res-
pectivamente. Dos trabalhos feitos na Europa, destaca-se o de Azevedo et al. (2001), em
Portugal, onde se vericou a presena de nonilfenol em concentraes de at 1 mg/L.
Os poucos trabalhos realizados no Brasil (GHISELLI, 2006; RAIMUNDO, 2007) mos-
tram uma quantidade de estradiol e etinilestradiol muito superior quela relatada
em estudos desenvolvidos em outros pases. Cabe destacar que, alm dos estrognios
E2 e EE2, os trabalhos de Ghiselli (2006) e Raimundo (2007) tambm detectaram
em guas brasileiras o estrognio natural progesterona, o estrognio sinttico levo-
norgestrel e os xenoestrognios dietilftalato, dibutilftalato e octilfenol. Isto implica
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 259
na necessidade de maior investigao sobre a presena e quanticao desta nova
classe de contaminantes.
Mesmo com as diculdades analticas e de infra-estrutura necessrias para a determi-
nao de desreguladores endcrinos, salienta-se que o monitoramento de tais subs-
tncias em mananciais brasileiros importante tendo em vista a escassez de dados
publicados e ao grave quadro sanitrio do nosso pas. A identicao dos principais
desreguladores presentes nas guas que recebem despejos industriais e domsticos,
bem como a determinao de sua concentrao contribuiria para anlise de risco e
identicao de pontos crticos associados utilizao de mananciais contaminados
para produo de gua para abastecimento pblico.
7.4 reas potencialmente crticas no Brasil
Os meios de exposio aos desreguladores endcrinos podem ser as guas superciais
e subterrneas, os esgotos domsticos, euentes de ETE, sedimentos marinhos, solo e
lodo biolgico (BILA; DEZOTII, 2007). Esta exposio pode ocorrer sob diferentes formas
e as mais comuns so por meio da ingesto de gua ou de alimentos contaminados e
atravs do contato com o solo. Nas guas superciais, muito utilizadas para o abas-
tecimento pblico no Brasil, a presena desses contaminantes pode estar relacionada
ao lanamento de esgotos domsticos, drenagem de reas agrcolas e ao despejo
de euentes industriais nos corpos receptores. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE
(2005), o lanamento de esgotos domsticos constitui o principal problema de polui-
o nos mananciais do pas. Alm disso, a criao de animais, o uso de agrotxicos e
fertilizantes e a disposio inadequada de resduos slidos no ambiente tambm so
fontes expressivas de contaminao das guas. A Figura 7.2 ilustra a ocorrncia dos
diferentes tipos de poluio dos corpos dgua, de acordo com cada regio do pas.
Uma anlise geral sobre a qualidade da gua nas bacias hidrogrcas brasileiras apon-
tou algumas reas crticas, que se localizam nas proximidades das principais regies
metropolitanas. Merecem destaque as seguintes bacias e suas respectivas cidades
principais (PNRH, 2006):
Regio Hidrogrca do Paran: bacias do Alto Iguau (Curitiba), alto Tiet
(So Paulo), Piracicaba (Campinas), Meia Ponte (Goinia), Rio Preto (So Jos
do Rio Preto);
Regio Hidrogrca do So Francisco: bacia do rio das Velhas, Par e Para-
opeba (Belo Horizonte);
Regio Hidrogrca Atlntico Leste: bacia dos rios Joanes e Ipitanga (Salvador);
GUAS 260
Regio Hidrogrca Atlntico Sul: bacia dos rios dos Sinos e Gravata (Porto
Alegre);
Regio Hidrogrca Atlntico Sudeste: bacia do rio Paraba do Sul (Juiz de
Fora), bacia do rio Jucu (Vitria);
Regio Hidrogrca do Paraguai: bacia do rio Miranda (Aquidauama).
Em termos gerais, a deteriorao da qualidade das guas dos mananciais prximos aos
grandes centros urbanos um processo que ocorre ao longo dos anos e que acompa-
nha uma ocupao urbana desordenada, principalmente em se tratando de reas nas
proximidades de represas e reservatrios. Em geral, apenas parte das moradias nesses
locais regularizada e conta com os servios de saneamento bsico.
Alm dos problemas associados s reas urbanas, o uso de defensivos nas distintas
regies de produo agrcola vem causando preocupao, sendo a segunda principal
causa de poluio dos mananciais.
Apesar do risco potencial associado presena dos desreguladores endcrinos na gua,
seu monitoramento ainda uma prtica pouco aplicada no Brasil, o que no permite
uma avaliao mais precisa das condies dos mananciais para abastecimento. Con-
tudo, os dados relativos produo de frmacos, fertilizantes, produtos veterinrios,
produtos de higiene pessoal e defensivos agrcolas, associados expanso das reas
urbanas, com a criao de megalpoles, resultando na ocupao de reas prximas aos
mananciais utilizados para abastecimento pblico e aos baixos ndices de tratamento de
esgotos no pas, demonstram a relevncia deste tema para as grandes regies metropo-
litanas. Alm disso, deve-se considerar que a intensicao das atividades industriais e
agropecurias faz com que as regies onde estas atividades so desenvolvidas tambm
sejam consideradas crticas com relao aos desreguladores endcrinos. Pases desen-
volvidos geralmente tm programas de monitoramento de tais contaminantes em guas
superciais e euentes de estaes de tratamento de esgoto (STAVRAKAKIS et al., 2008;
PICKERING; STUMPTER, 2003; CEC, 2004), reconhecendo assim a importncia do tema
sob o ponto de vista de contaminao do meio ambiente ou risco sade pblica. Pases
em desenvolvimento, como o Brasil, tambm devem colocar os contaminantes orgnicos
presentes em microquantidades, em especial os desreguladores endcrinos, na agenda
de discusso da qualidade de gua de mananciais. A relevncia destas questes para o
pas pode ser constatada pelo trabalho desenvolvido no Tema gua, do Edital n 5 do
Prosab, cujos principais resultados so apresentados nos itens a seguir.
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 261
T
a
b
e
l
a
7
.
2
>
C
o
m
p
i
l
a
o
d
e
d
a
d
o
s
d
e
m
o
n
i
t
o
r
a
m
e
n
t
o
d
e
4
-
n
o
n
i
l
f
e
n
o
l
,
e
s
t
r
a
d
i
o
l
e
e
t
i
n
i
l
e
s
t
r
a
d
i
o
l
e
m
s
i
s
t
e
m
a
s
a
q
u
t
i
c
o
s
R
E
F
E
R
N
C
I
A
L
O
C
A
L
F
O
N
T
E
D
E
G
U
A
M
T
O
D
O
D
E
E
X
T
R
A
O
M
T
O
D
O
D
E
D
E
T
E
C
O
R
E
A
G
E
N
T
E
D
E
D
E
R
I
V
A
T
I
Z
A
O
C
O
N
C
E
N
T
R
A
O
(
n
g
/
L
)
N
o
n
i
l
f
e
n
o
l
(
4
-
N
P
)
E
s
t
r
a
d
i
o
l
(
E
2
)
E
t
i
n
i
l
e
s
t
r
a
d
i
o
l
(
E
E
2
)
A
z
e
v
e
d
o
e
t
a
l
.
(
2
0
0
1
)
P
o
r
t
u
g
a
l
R
i
o
S
P
E
(
O
a
s
i
s
H
L
B
)
C
G
-
M
S
-
(
0
,
0
1
a
1
0
)
1
0
6
N
A
N
A
B
e
c
k
e
t
a
l
.
(
2
0
0
5
)
A
l
e
m
a
n
h
a
(
M
a
r
B
l
t
i
c
o
)
E
s
t
u
r
i
o
S
P
E
(
O
a
s
i
s
H
L
B
)
L
C
-
M
S
/
M
S
-
3
,
1
a
6
,
3
<
4
2
,
1
a
1
7
,
9
F
a
r
r
e
t
a
l
.
(
2
0
0
7
)
E
s
p
a
n
h
a
R
i
o
S
P
E
(
C
1
8
e
N
H
2
)
L
C
-
M
S
/
M
S
e
E
L
I
S
A
-
N
A
0
,
5
a
1
,
1
<
1
G
h
i
s
e
l
l
i
(
2
0
0
6
)
B
r
a
s
i
l
(
C
a
m
p
i
n
a
s
)
R
i
o
S
P
E
(
O
s
i
s
H
L
B
)
C
G
-
M
S
M
T
B
S
T
F
A
(
1
,
1
a
1
,
8
)
1
0
3
(
1
,
8
a
6
)
1
0
3
(
1
,
3
a
3
,
5
)
1
0
3
G
i
b
s
o
n
e
t
a
l
.
(
2
0
0
7
)
M
x
i
c
o
R
i
o
S
P
E
(
C
1
8
o
u
O
a
s
i
s
H
L
B
)
C
G
-
M
S
/
M
S
B
S
T
F
A
+
P
i
r
i
d
i
n
a
1
,
8
a
8
0
,
0
1
a
0
,
0
2
0
,
0
4
a
0
,
0
8
H
u
,
Z
h
a
n
g
e
C
h
a
n
g
(
2
0
0
5
)
C
h
i
n
a
(
P
e
q
u
i
m
)
R
i
o
S
P
E
(
C
1
8
)
L
C
-
M
S
/
M
S
-
N
A
<
0
,
1
<
0
,
1
K
u
c
h
e
B
a
l
l
s
c
h
m
i
t
e
r
(
2
0
0
1
)
A
l
e
m
a
n
h
a
R
i
o
S
P
E
(
L
i
C
h
r
o
l
u
t
E
N
)
C
G
-
M
S
C
l
o
r
e
t
o
d
e
p
e
n
t
a
-
u
o
r
b
e
n
z
o
l
a
6
,
7
a
1
3
4
0
,
1
5
a
3
,
6
0
,
1
0
a
5
,
1
L
a
g
a
n
a
e
t
a
l
.
(
2
0
0
4
)
I
t
l
i
a
(
R
o
m
a
)
R
i
o
S
P
E
(
O
s
i
s
H
L
B
)
L
C
-
M
S
/
M
S
-
(
1
,
3
a
1
,
5
)
1
0
3
2
a
6
<
L
D
L
i
u
e
t
a
l
.
(
2
0
0
4
a
)
R
e
i
n
o
U
n
i
d
o
(
E
a
s
t
S
u
s
s
e
x
)
S
e
d
i
m
e
n
t
o
d
e
r
i
o
M
i
c
r
o
o
n
d
a
s
e
s
i
l
i
c
a
g
e
l
C
G
-
M
S
B
S
T
F
A
2
,
9
a
7
,
5
1
,
3
a
5
,
5
2
a
7
,
6
L
i
u
,
Z
h
o
u
e
W
i
l
d
i
n
g
(
2
0
0
4
B
)
R
e
i
n
o
U
n
i
d
o
(
E
a
s
t
e
W
e
s
t
S
u
s
s
e
x
)
R
i
o
S
P
E
(
O
a
s
i
s
H
L
B
)
C
G
-
M
S
B
S
T
F
A
<
0
,
8
1
4
a
1
7
<
0
,
8
M
a
t
s
u
m
o
t
o
e
t
a
l
.
(
2
0
0
2
)
J
a
p
o
R
i
o
S
P
E
(
C
1
8
)
L
C
-
F
l
u
o
r
e
s
-
c
n
c
i
a
C
D
P
P
N
A
<
0
,
6
5
<
0
,
6
5
N
A
O
A
N
A
L
I
S
A
D
O
O
U
N
O
D
I
S
P
O
N
V
E
L
;
L
D
L
I
M
I
T
E
D
E
D
E
T
E
C
O
GUAS 262
7.5 Contribuio do Prosab no estudo
da identicao e remoo
Devido escassez de dados relativos ocorrncia de desreguladores endcrinos em
mananciais de abastecimento brasileiros, um dos objetivos desse item apresentar re-
sultados de monitoramento de 4-NP, E2 e EE2 em trs mananciais de gua para abas-
tecimento da Regio Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e em trs mananciais
da Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP). Outro objetivo apresentar resultados
sobre a ecincia de algumas tcnicas de tratamento (convencional, ltrao direta,
oxidao com cloro e ultraltrao) na remoo de desreguladores endcrinos e do
desempenho de uma unidade piloto de ultraltrao para tratamento de gua do
Reservatrio Guarapiranga.
O estudo apresentado foi desenvolvido por pesquisadores e alunos das Universidades Fe-
derais de Minas Gerais e Ouro Preto, para a avaliao dos mananciais da RMBH, e da Esco-
la Politcnica da Universidade de So Paulo, para a avaliao dos mananciais da RMSP.
7.5.1 Monitoramento de desreguladores endcrinos
em mananciais superciais
O monitoramento de desreguladores endcrinos em guas superciais da RMBH foi
feito por meio da anlise de amostras coletadas mensalmente, de fevereiro de 2007
a janeiro de 2008. Os mananciais avaliados foram Vargem das Flores (VF), Morro Re-
dondo (MR) e Rio das Velhas (RV). As amostras foram coletadas no canal de entrada
ou torneira de gua bruta das respectivas estaes de tratamento de gua (ETA), que
T
a
b
e
l
a
7
.
2
>
C
o
m
p
i
l
a
o
d
e
d
a
d
o
s
d
e
m
o
n
i
t
o
r
a
m
e
n
t
o
d
e
4
-
n
o
n
i
l
f
e
n
o
l
,
e
s
t
r
a
d
i
o
l
e
e
t
i
n
i
l
e
s
t
r
a
d
i
o
l
e
m
s
i
s
t
e
m
a
s
a
q
u
t
i
c
o
s
(
c
o
n
t
i
n
u
a
o
)
R
E
F
E
R
N
C
I
A
L
O
C
A
L
F
O
N
T
E
D
E
G
U
A
M
T
O
D
O
D
E
E
X
T
R
A
O
M
T
O
D
O
D
E
D
E
T
E
C
O
R
E
A
G
E
N
T
E
D
E
D
E
R
I
V
A
T
I
Z
A
O
C
O
N
C
E
N
T
R
A
O
(
n
g
.
L
-
1
)
N
o
n
i
l
f
e
n
o
l
(
4
-
N
P
)
E
s
t
r
a
d
i
o
l
(
E
2
)
E
t
i
n
i
l
e
s
t
r
a
d
i
o
l
(
E
E
2
)
M
i
b
u
e
t
a
l
.
(
2
0
0
4
)
J
a
p
o
R
i
o
S
P
E
(
O
a
s
i
s
H
L
B
)
L
C
-
M
S
/
M
S
-
(
0
,
1
0
a
0
,
2
5
)
1
0
3
N
A
N
A
M
o
l
,
S
u
n
a
r
t
o
e
S
t
e
i
j
g
e
r
(
2
0
0
0
)
H
o
l
a
n
d
a
R
i
o
S
P
E
(
C
1
8
)
C
G
-
M
S
M
T
B
S
T
F
A
<
4
<
3
0
0
<
5
0
Q
u
i
n
t
a
n
a
e
t
a
l
.
(
2
0
0
4
)
E
s
p
a
n
h
a
R
i
o
S
P
E
(
O
a
s
i
s
H
L
B
)
C
G
-
M
S
/
M
S
M
S
T
F
A
N
A
3
-
1
3
,
9
<
5
R
a
i
m
u
n
d
o
(
2
0
0
7
)
B
r
a
s
i
l
(
C
a
m
p
i
n
a
s
)
R
i
o
S
P
E
(
O
a
s
i
s
H
L
B
)
L
C
-
D
A
D
e
L
C
-
F
l
u
o
r
e
s
c
n
c
i
a
-
(
0
,
0
1
7
a
0
,
2
2
)
1
0
3
(
0
,
0
4
5
a
1
,
3
1
)
1
0
3
(
0
,
0
1
6
a
0
,
7
3
)
1
0
3
S
n
y
d
e
r
e
t
a
l
.
(
1
9
9
9
)
E
s
t
a
d
o
s
U
n
i
d
o
s
d
a
A
m
r
i
c
a
R
i
o
S
P
E
(
P
F
A
)
L
C
-
F
l
u
o
r
e
s
c
n
c
i
a
e
E
L
I
S
A
-
0
,
1
6
a
1
,
1
7
0
,
2
7
a
2
,
8
2
0
,
2
5
a
0
,
5
5
S
o
l
e
t
a
l
.
(
2
0
0
0
)
E
s
p
a
n
h
a
R
i
o
S
P
E
(
C
1
8
)
L
C
-
D
A
D
-
M
S
-
(
0
,
0
2
a
0
,
6
4
)
1
0
3
N
A
N
A
W
a
n
g
e
t
a
l
.
(
2
0
0
5
)
C
h
i
n
a
(
T
i
a
n
j
i
n
)
R
i
o
S
P
E
(
l
t
r
o
c
i
g
a
r
r
o
e
C
1
8
)
L
C
-
U
V
-
N
A
(
1
,
3
a
1
,
5
)
1
0
3
N
A
Y
a
n
g
,
L
u
a
n
e
L
a
n
(
2
0
0
6
)
C
h
i
n
a
(
G
u
a
n
g
d
o
n
g
)
R
i
o
S
P
M
E
C
G
-
M
S
M
S
T
F
A
(
4
,
0
a
5
,
3
)
1
0
3
9
8
a
1
0
2
N
A
Z
h
a
n
g
,
H
i
b
b
e
r
d
e
Z
h
o
u
(
2
0
0
8
)
R
e
i
n
o
U
n
i
d
o
R
i
o
S
P
E
(
O
s
i
s
H
L
B
)
C
G
-
M
S
N
o
i
n
f
o
r
m
a
d
o
N
A
1
1
,
8
N
A
N
A
O
A
N
A
L
I
S
A
D
O
O
U
N
O
D
I
S
P
O
N
V
E
L
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 263
FONTE: IBGE (2005).
Figura 7.2
Proporo de municpios com ocorrncia de poluio do recurso gua,
por tipo de causas mais apontadas, segundo as regies, em 2002
7.5 Contribuio do Prosab no estudo
da identicao e remoo
Devido escassez de dados relativos ocorrncia de desreguladores endcrinos em
mananciais de abastecimento brasileiros, um dos objetivos desse item apresentar re-
sultados de monitoramento de 4-NP, E2 e EE2 em trs mananciais de gua para abas-
tecimento da Regio Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e em trs mananciais
da Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP). Outro objetivo apresentar resultados
sobre a ecincia de algumas tcnicas de tratamento (convencional, ltrao direta,
oxidao com cloro e ultraltrao) na remoo de desreguladores endcrinos e do
desempenho de uma unidade piloto de ultraltrao para tratamento de gua do
Reservatrio Guarapiranga.
O estudo apresentado foi desenvolvido por pesquisadores e alunos das Universidades Fe-
derais de Minas Gerais e Ouro Preto, para a avaliao dos mananciais da RMBH, e da Esco-
la Politcnica da Universidade de So Paulo, para a avaliao dos mananciais da RMSP.
7.5.1 Monitoramento de desreguladores endcrinos
em mananciais superciais
O monitoramento de desreguladores endcrinos em guas superciais da RMBH foi
feito por meio da anlise de amostras coletadas mensalmente, de fevereiro de 2007
a janeiro de 2008. Os mananciais avaliados foram Vargem das Flores (VF), Morro Re-
dondo (MR) e Rio das Velhas (RV). As amostras foram coletadas no canal de entrada
ou torneira de gua bruta das respectivas estaes de tratamento de gua (ETA), que
GUAS 264
FONTE: MOREIRA (2008).
Figura 7.3
Variao da concentrao de nonilfenol (4-NP) nos trs mananciais
da RMBH monitorados de fevereiro de 2007 a janeiro de 2008
empregavam tratamento convencional, exceto a ETE-Vargem das Flores, que empre-
gava a tecnologia de ltrao direta descendente.
Para avaliar a ecincia dos processos de pr-desinfeco, coagulao, sedimentao
e ltrao na remoo dos desreguladores endcrinos investigados, amostras de gua
parcialmente tratada (euente do ltro de areia) foram coletadas a partir de junho de
2007. O protocolo detalhado das etapas de coleta, extrao, concentrao e anlise
dos desreguladores endcrinos por espectrometria de massas pode ser obtido de ou-
tras publicaes (MOREIRA, 2008).
No caso dos mananciais da RMSP, foram feitas coletas pontuais de amostras de gua do
Reservatrio Guarapiranga, Reservatrio Billings e Rio Cotia, a montante da Estao de
Tratamento Baixo Cotia, pertencente companhia estadual de abastecimento de gua.
As anlises dos desreguladores endcrinos foram realizadas pelo mtodo de imunosor-
bente e enzima conjugada (ELISA), utilizando-se kits da Abraxis, PN 590071 para estro-
gnios (Estrona, Estradiol e Estriol), PN 590051 para etinilestradiol e PN 590012 para
nonilfenol. Para concentrao de amostras, foram seguidos os procedimentos indicados
nos kits, sendo as anlises feitas em leitora Quick Elisa da empresa Drake.
Nos mananciais da RMBH foi detectada a presena dos trs desreguladores endcrinos
monitorados, em concentraes que variaram de 40 a 1.918 ng/L para o nonilfenol,
1,5 a 36,8 ng/L
-1
para o estradiol e de 3 a 54 ng/L para o etinilestradiol. As Figuras 7.3
a 7.5 apresentam os resultados do monitoramento realizado.
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 265
FONTE: MOREIRA (2008).
Figura 7.4
Variao da concentrao de estradiol (E2) nos trs mananciais
da RMBH monitorados de fevereiro de 2007 a janeiro de 2008
Em relao aos mananciais da RMSP, foi detectada a presena de estrognios naturais
e do nonilfenol, com maior frequncia no Rio Cotia e Reservatrio Billings, enquanto
no Reservatrio Guarapiranga em apenas uma das amostras foi possvel detectar a
presena de estrognios. A concentrao de nonilfenol variou de 51 ng/L a 2.185 ng/L,
enquanto a concentrao de estrognios variou de 0,72 a 17,1 ng/L. A concentrao
de etinilestradiol, nos trs mananciais, sempre esteve abaixo do limite de deteco do
mtodo, que com o processo de extrao em fase slida chega a 0,5 ng/L. Os resulta-
dos obtidos nas anlises esto apresentados nas Tabelas 7.3 e 7.4.
Comparando-se os resultados do monitoramento do nonilfenol nos mananciais da RMBH
e da RMSP, verica-se uma coerncia entre os mesmos, com as concentraes mnimas e
mximas na mesma faixa de valores. No caso especco da RMBH, verica-se que houve
pouca variao nos valores de concentrao de nonilfenol entre os diferentes mananciais,
sugerindo que a taxa de acmulo (aporte menos degradao) de tal desregulador end-
crino seja semelhante nos trs sistemas investigados. A faixa de concentrao de 4-NP
determinada neste estudo similar aos valores reportados por Raimundo (2007), Mibu et
al. (2004) e Sol et al. (2000), mas menor que a faixa de concentrao reportada por La-
gana et al. (2004); Ghiselli (2006) e Yang et al. (2006), conforme detalhado na Tabela 7.2.
Em relao a analise do estradiol (RMBH) e estrognios (RMSP), observa-se uma me-
nor frequncia de deteco, principalmente nos mananciais da RMBH. J em relao
ao etinilestradiol, sua deteco ocorreu apenas nos mananciais da RMBH, tambm
com uma frequncia muito menor em comparao do nonilfenol.
GUAS 266
FONTE: MOREIRA (2008).
Figura 7.5
Variao da concentrao de etinilestradiol (EE2) nos trs mananciais
da RMBH monitorados de fevereiro de 2007 a janeiro de 2008
Os valores de concentrao obtidos para o estradiol e estrognios esto de acordo com os
valores relatados na maioria dos trabalhos apresentados na Tabela 7.2, mas diferem-se, de
maneira signicativa, dos valores apresentados por Wang et al. (2005) e Ghiselle (2006),
que relatam concentraes na faixa de 1.300 a 6.000 ng/L. A mesma considerao pode
ser feita para o etinilestradiol que normalmente de difcil deteco e est presente sem-
pre em menor concentrao quando comparado com o estradiol e estrognios.
Tabela 7.3 > Resultados do monitoramento de nonilfenol nos mananciais da RMSP
DATA UNIDADE BILLINGS BAIXO COTIA
10/1/2008 ng/L < 50 < 50
15/1/2008 ng/L 115 51
22/2/2008 ng/L 96 < 50
29/2/2008 ng/L 114 841
9/5/2008 ng/L 1057 NA
26/5/2008 ng/L 295 982
10/6/2008 ng/L 1168 1719
1/7/2008 ng/L 1767 2185
Mnimo
ng/L
< 50 < 50
Mdia 659 1156
Mximo 1767 2185
Desvio Padro 669 826
NA - NO ANALISADO
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 267
Tabela 7.4 > Resultados do monitoramento de estrognios nos mananciais da RMSP
DATA UNIDADE BILLINGS BAIXO COTIA
12/11/2007 ng/L 0,83 2,28
14/1/2008 ng/L < 0,5 < 0,5
22/1/2008 ng/L 1,47 1,71
29/1/2008 ng/L 1,11 1,17
9/5/2008 ng/L < 0,5 < 0,5
26/5/2008 ng/L 0,80 < 0,5
10/6/2008 ng/L < 0,5 < 0,6
1/7/2008 ng/L 17,1 6,6
Mnimo
ng/L
< 0,5 < 0,5
Mdia 6,56 3,16
Mximo 17,1 6,6
Desvio Padro 9,1 3
NA NO ANALISADO
7.5.2. Avaliao da ecincia de remoo de desreguladores
endcrinos em estaes de tratamento de gua, por oxidao
com cloro e em unidade piloto de ultraltrao
Em complementao ao estudo de monitoramento da presena de desreguladores
endcrinos em mananciais, tambm foi feita a avaliao da ecincia de remoo do
nonilfenol pelo tratamento parcial de gua (exceto etapa de desinfeco) nas ETA, que
tratam a gua dos trs mananciais da RMBH. Alm disso, foi avaliada a remoo dos
trs desreguladores endcrinos contemplados no estudo, pelo processo de ultraltra-
o, em uma unidade piloto instalada junto ao Reservatrio Guarapiranga.
As ETAs da RMBH, Morro Redondo e Rio das Velhas, utilizam tratamento convencional
(pr-clorao, coagulao/oculao, decantao, ltrao em areia, desinfeco com
cloro e uoretao), e a ETA Vargem das Flores emprega o processo de ltrao direta
descendente (pr-clorao, coagulao, ltrao em areia, desinfeco com cloro e
uoretao). As ecincias de remoo foram calculadas a partir dos valores de con-
centrao de 4-NP medidos na gua bruta e no euente do ltro de areia, ou seja, as
ecincias de remoo reportadas no consideram a etapa de desinfeco.
Com o propsito de obter melhor compreenso do desempenho dos processos de
coagulao e oculao e da oxidao com cloro em relao aos desreguladores en-
dcrinos, foram feitos na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em escala de
GUAS 268
bancada, ensaios para avaliar a remoo do EE2, utilizando-se uma soluo sinttica,
preparada a partir da adio do composto puro e de um anticoncepcional comercial
(Neovlar, Shering). Todos os ensaios foram desenvolvidos utilizando-se aparelho de
jarteste, com base no procedimento descrito por Bianchetti (2008). Nos ensaios de
oxidao, foi utilizada uma soluo de hipoclorito de sdio em dosagens variadas,
e nos ensaios de coagulao e oculao foram utilizados o sulfato de alumnio e o
cloreto frrico padro analtico, alm de caulim em p para atribuir turbidez gua.
As anlises das amostras para determinao da concentrao de EE2 foram realizadas
por cromatograa lquida/espectrometria de massa.
No ensaio de oxidao, foi preparada uma soluo com concentrao de EE2 prxima
de 7,1 g/L e as dosagens de cloro, para amostras em duplicata, foram de 1 e 3 mg/L,
e tempo de oxidao de 60 minutos, 6, 12 e 24 horas. No ensaio, foi utilizado um con-
trole, sem a dosagem de hipoclorito de sdio. Tambm foram realizados ensaios para
amostras de gua com adio de caulim, simulando valores de turbidez de 10 e 100 uT,
mantendo-se a dosagem de hipoclorito de sdio, porm com o uso do padro de EE2
puro, resultando em uma concentrao de 1 g/L, e tempos de oxidao de 5, 30 e 60
minutos e 4, 6 e 12 horas.
Nos ensaios de coagulao e oculao, foram utilizadas solues com turbidez de 10
e 100 uT, concentrao de EE2 de 1 g/L, utilizando-se sulfato de alumnio e cloreto
frrico como agentes de coagulao, com amostras em triplicata, a partir das dosa-
gens pr-denidas (BIANCHETTI, 2008).
Para a avaliao da remoo dos desreguladores endcrinos pelo processo de ultral-
trao, foram realizados trs ensaios com a adio de concentraes conhecidas dos
desreguladores endcrinos a partir de solues preparadas com padres de 4-Nonil-
fenol (Riedel-de Han 99,9%) e 17-beta-Estradiol (Sigma-Aldrich 97%), cedidos
pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e com um anticoncepcional comercial,
contendo 21 drgeas com 35 g de etinilestradiol por drgea (Diane 35 - Schering),
adquirido em farmcia.
Em todos os ensaios, procurou-se produzir solues que resultassem nas concentra-
es de 150 g/L de 4-nonilfenol, e 1,5 g/L de 17-beta-estradiol e de etinilestradiol.
Para a realizao dos ensaios, foi preparada uma soluo com a mistura dos trs des-
reguladores em um balo volumtrico de 1 litro com gua puricada, para posterior
adio ao tanque de alimentao da unidade piloto, de 500 litros, previamente pre-
enchido com a gua bruta do Reservatrio Guarapiranga. Cada teste teve a durao
aproximada de duas horas, tendo sido coletadas uma amostra da gua bruta e cinco
amostras de permeado e de concentrado em cada teste. A membrana de ultraltrao
utilizada foi a PW-4040F, da GE-Osmonics, que apresenta peso molecular de corte de
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 269
10.000 g.mol
-1
e o sistema foi operado com uma presso de 150 kPa, vazo mdia de
permeado prxima de 150 L/h a 25C e taxa global de recuperao de gua de 90%. As
anlises das amostras foram feitas pelo mtodo ELISA, sem concentrao, sendo que
algumas amostras foram analisadas por cromatograa lquida de alto desempenho na
UFOP, sem que fosse feita a extrao em fase slida.
A Figura 7.6 mostra a ecincia de remoo de 4-NP nas ETA dos trs mananciais da
RMBH monitorados. A ecincia mdia de remoo de 4-NP foi baixa nas trs ETAs,
sendo de 39% e 41% para as ETAs Morro Redondo e Vargem das Flores, que empregam
tratamento convencional, e ligeiramente menor (33%) para a ETA Vargem das Flores,
que emprega a tecnologia de ltrao direta. Para as ETAs Morro Redondo e Vargem
das Flores, as maiores ecincias de remoo foram observadas em junho e agosto,
quando a concentrao de 4-NP na gua bruta era de aproximadamente 300 ng/L e
1.000 ng/L, respectivamente. Para a ETA Rio das Velhas, a maior ecincia de 4-NP foi
observada em outubro, quando a concentrao de 4-NP na gua bruta era de apro-
ximadamente 400 ng/L, sendo a menor ecincia de remoo observada durante a
estao de chuvas, quando a concentrao de 4-NP na gua bruta era relativamente
alta. Esses resultados indicam que as ecincias de remoo de 4-NP no se correla-
cionaram com a sua concentrao na gua bruta.
FONTE: MOREIRA (2008).
Figura 7.6
Ecincia de remoo de 4-NP da gua bruta aps as etapas de pr-clorao,
oculao/sedimentao e ltrao, nas trs ETAs monitoradas da RMBH
GUAS 270
Os resultados de ecincia de remoo de 4-NP devem ser analisados com cautela,
tendo em vista que a coleta das amostras foi feita de forma pontual e no respeitou
o tempo de deteno hidrulica (TDH) nas unidades consideradas (da pr-clorao
ao ltro de areia) que, segundo informaes dos operadores das ETAs, variava de 2
a 4 horas. Dessa forma, eventuais mudanas na concentrao dos desreguladores
endcrinos na gua bruta nesse intervalo de tempo no foram capturadas.
Os resultados, ainda que preliminares, mostram que a etapa de pr-clorao (con-
centrao de cloro residual entre 1,5 a 2 mg/L e tempo de contato entre 2 e 4 ho-
ras), empregada em todas as trs ETAs, no foi capaz de remover completamente o
4-NP presente. Isso pode ter acontecido devido competio, pelo cloro, com outros
contaminantes orgnicos (substncias hmicas e flvicas) e/ou inorgnicas (ferro
e mangans). O uso de cloro na etapa de desinfeco (no avaliada nesse estudo)
provavelmente leva formao de nonilfenol clorado, devido reao do cloro com
a parte aromtica da molcula de 4-NP, o que resultaria na reduo da concentrao
de 4-NP quando analisado por espectrometria de massas. A clorao do nonilfenol
no signica, stricto sensu, em sua remoo, uma vez que a molcula de 4-NP no
mineralizada a CO
2
e H
2
O pelo cloro. Como h estudos controversos na literatura,
uns constatando que a clorao resulta na reduo da estrogenicidade da gua (LEE
et al., 2004), e outros armando que o uso de cloro leva formao de subprodutos
de maior estrogenicidade (TABATA et al. 2003), preciso cautela na interpretao
desses resultados.
A baixa prevalncia de E2 e EE2 na gua bruta dicultou a avaliao da ecincia de
remoo de tais compostos nas ETAs, mas a anlise dos dados tambm indicou que a
ecincia de remoo foi bastante varivel e, aparentemente, independente da con-
centrao de desreguladores endcrinos na gua bruta. necessrio destacar que
foi detectada a presena de E2 e EE2 em algumas amostras do euente do ltro de
areia, mesmo no tendo sido detectada presena de tais desreguladores endcrinos
na gua bruta coletada no mesmo dia e horrio. Tais resultados indicam que a com-
posio da amostra muda em um intervalo de tempo relativamente pequeno (TDH
de 1 a 4 horas, entre a entrada na pr-clorao e sada do ltro de areia), apontando
a necessidade de se compor amostras de gua bruta e tratada para que resultados
mais representativos possam ser obtidos.
Na Tabela 7.5 so apresentados os resultados obtidos pela UFMG nos ensaios de
oxidao do EE2 comercial.
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 271
Tabela 7.5 > Resultados das anlises de EE2 nos ensaios de oxidao com cloro
para o produto comercial
AMOSTRA BRANCO 1 BRANCO 2 AMOSTRA 1A AMOSTRA 1B AMOSTRA 2A AMOSTRA 2B
Cloro (mg/L) 0 0 1 1 3 3
Coletas EE2 remanescente (g/L)
1 (5min) 4,751 4,029 3,441 2,313 0,203 0,218
2 (30min) 4,365 5,941 0,454 0,432 0,152 0,167
3 (60min) 4,028 3,785 0,134 0,164 0,768 < LD
4 (6h) 5,253 5,163 0,195 0,228 0,943 0,450
5 (12h) 4,806 4,900 0,209 0,279 2,543 0,169
6 (24h) 4,607 4,668 0,396 0,604 0,694 1,382
FONTE: BIANCHETTI (2008).
Pelos resultados da Tabela 7.5, observa-se uma reduo na concentrao de EE2 em funo
da dosagem de cloro e do tempo de contato. Verica-se uma variabilidade nos resultados,
inclusive com o aumento da concentrao de EE2 nas amostras a partir da sexta hora de
contato. Ressalta-se que o valor obtido na amostra sinttica foi inferior ao inicialmente
previsto, mas que se manteve praticamente constante ao longo de todo o ensaio.
Nas Tabelas 7.6 e 7.7 so apresentados os resultados obtidos para os ensaios de oxidao
das amostras com o padro puro de EE2 e adio de caulim para simular a turbidez.
Tabela 7.6 > Resultados das anlises de EE2 para a amostra com turbidez de 10 uT,
utilizando o padro puro de EE2
AMOSTRA BRANCO 1 BRANCO 2 BRANCO 3 AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3
Dosagem de Cloro
(mg/L)
0 0 0 3 3 3
Coletas EE2 remanescente (g/L)
1 (5min) 0,073 0,723 0,411 < 0,050 0,073 0,923
2 (30min) 0,657 0,666 0,569 < 0,050 0,068 < 0,050
3 (60min) 0,526 0,711 0,677 < 0,050 - (1) < 0,050
4 (4h) 0,605 0,623 0,569 < 0,050 < 0,050 < 0,050
5 (8h) 0,719 0,666 0,698 0,091 < 0,050 0,097
6 (12h) 0,744 0,607 0,736 < 0,050 < 0,050 < 0,050
PROBLEMAS NA PREPARAO DA AMOSTRA PARA ANLISE
FONTE: BIANCHETTI (2008).
GUAS 272
Tabela 7.7 > Resultados das anlises de EE2 para a amostra com turbidez de 100 uT,
utilizando o padro puro de EE2
AMOSTRA BRANCO 1A BRANCO 2A BRANCO 3A AMOSTRA 1A AMOSTRA 2A AMOSTRA 3A
Dosagem de Cloro
(mg/L)
0 0 0 3 3 3
Coletas EE2 remanescente (g/L)
1 (5min) 0,903 0,394 0,755 < 0,050(1) 0,099 0,137
2 (30min) 0,825 0,920 0,972 < 0,050) 0,090(1) < 0,050
3 (60min) 0,677 0,975 0,915 < 0,050 < 0,050 < 0,050
4 (4h) 0,830 0,870 0,796 0,128 < 0,050 0,264
5 (8h) 0,693 0,830 0,723 < 0,050 < 0,050 < 0,050
6 (12h) 0,804 0,795 0,709 < 0,050 < 0,050 < 0,050
PROBLEMAS NA PREPARAO DA AMOSTRA PARA ANLISE
FONTE: BIANCHETTI (2008).
Os resultados obtidos nos ensaios de oxidao mostram que, a partir de 30 minutos de
contato, obtm-se reduo signicativa na concentrao do EE2, no sendo observa-
do o aumento da sua concentrao a partir da quarta hora, como observado no ensaio
com o EE2 comercial.
Com os resultados dos ensaios de oxidao, possvel concluir que o cloro altera a
estrutura do EE2, embora no seja possvel armar que esta substncia seja eciente
para remoo de desreguladores endcrinos, tendo em vista que no foi feita anlise
dos subprodutos gerados no processo, uma vez que o EE2 pode ter sido apenas con-
vertido em outra forma, mantendo o seu potencial estrognico.
Em relao aos processos de coagulao, oculao e decantao, na Tabela 7.8 so
apresentados os resultados de remoo de EE2 de amostras com turbidez de 10 e
100 uT, obtidas a partir da adio de caulim.
Analisando-se os dados da Tabela 7.8, observa-se que o EE2 no foi afetado pelo
processo de coagulao e oculao, o que conrma os resultados observados no mo-
nitoramento das ETAs da RMBH, indicando a necessidade de estudos para a avaliao
de outras tecnologias de tratamento para a remoo de tais compostos.
Os resultados obtidos nos ensaios de remoo de desreguladores endcrinos pelo pro-
cesso de ultraltrao no Reservatrio Guarapiranga esto apresentados nas Tabelas
7.9 a 7.11. Analisando-se os dados apresentados, pode ser observada uma discrepncia
entre os resultados obtidos tanto pelo mtodo ELISA como por cromatograa lquida/
espectrometria de massas. No caso especco do 4-NP, em funo do padro utilizado,
os resultados pelo mtodo ELISA j eram esperados, pois nas ocasies em que se tentou
uma intercalibrao com o mtodo de cromatograa, utilizando-se o mesmo padro,
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 273
foi vericado que o kit utilizado no era sensvel a este composto, ao contrrio do que
ocorreu quando da anlise de amostras naturais. Contudo, mesmo para os resultados
por cromatograa lquida/espectrometria de massas, observa-se uma discrepncia nos
resultados, que pode estar associado ao fato da adio do contaminante em gua
natural e no ter sido realizado o procedimento de limpeza da amostra e extrao.
O valor esperado para a concentrao de 4-NP na gua bruta era de 150 g.L.
Tabela 7.8 > Resultados dos ensaios para remoo de EE2
utilizando os processos de coagulao e oculao
COAGU-
LANTE
GUA CONCENTRAO DE EE2 (g/L)
B1 B2 B3 A-1A A-1B A-1C A-2A A-2B A-2C
Sulfato
de
alumnio
10 uT 0,669 1,006 1,190 0,970 0,895 0,898 0,898 0,974 0,862
100
uT
0,804 0,875 0,215 0,944 0,810 0,751 0,648 0,452 0,852
Cloreto
frrico
10 uT 0,316 0,199 0,299 0,550 0,209 0,311 0,320 0,392 0,420
100
uT
0,707
0,643
(1)
0,728 0,076 0,390 0,620 0,736 0,886 0,652
OBSERVAO: OS VALORES DESTACADOS REFEREM-SE AOS RESULTADOS ONDE OCORRERAM PROBLEMAS NO PROCESSO DE PREPARAO DA
AMOSTRA PARA ANLISE.
FONTE: BIANCHETTI (2008).
Tabela 7.9 > Resultados das anlises de 4-nonilfenol
DATA TEMPO APS O INCIO DO
ENSAIO (MINUTOS)
CONCENTRAES (g/L)
Permeado Concentrado Bruta
EPUSP UFOP EPUSP UFOP EPUSP UFOP
24/7/2008
20 < 5 63,7 < 5 64,5
< 5 67
40 < 5 NA < 5 NA
60 < 5 56,2 < 5 51
80 < 5 NA < 5 NA
100 < 5 36,4 < 5 65,3
28/7/2008
20 < 5 54,2 < 5 53,5
< 5 0,38
40 < 5 NA < 5 NA
60 < 5 48,3 < 5 51,5
80 < 5 NA < 5 NA
100 < 5 44,8 < 5 41,4
30/7/2008
20 < 5 43,1 < 5 43,2
< 5 31,4
40 < 5 NA < 5 NA
60 < 5 25,2 < 5 44,7
80 < 5 NA < 5 NA
100 < 5 59,7 < 5 44,7
NA NO ANALISADO
GUAS 274
Tabela 7.10 > Resultados das anlises de estrognio (17-beta-estradiol)
DATA TEMPO APS O INCIO
DO ENSAIO (MINUTOS)
CONCENTRAES (g/L)
Permeado Concentrado Bruta
EPUSP UFOP EPUSP UFOP EPUSP UFOP
24/7/2008
20 < 0,05 < LD < 0,05 < LD
< 0,05 64,5
40 < 0,05 NA < 0,05 NA
60 < 0,05 53,8 < 0,05 48,9
80 < 0,05 NA < 0,05 NA
100 < 0,05 < LD < 0,05 < LD
28/7/2008
20 < 0,05 < LD 0,42 < LD
1,14 < LD
40 < 0,05 NA 0,27 NA
60 < 0,05 46,5 0,68 49,5
80 < 0,05 NA 0,27 NA
100 < 0,05 42,9 0,31 < LD
30/7/2008
20 < 0,05 41,2 < 0,05 41,5
0,2 < LD
40 < 0,05 NA < 0,05 NA
60 < 0,05 23,9 < 0,05 42,9
80 < 0,05 NA < 0,05 NA
100 < 0,05 57,3 < 0,05 42,9
LD - LIMITE DE DETECO (1,5 g/L)
NA NO ANALISADO
Em relao aos resultados para estrognios, neste caso estradiol, observa-se que a
discrepncia entre os resultados da Epusp e Ufop foi muito maior. A concentrao
esperada deste contaminante na gua bruta era de 1,5 g/L. Por m, verica-se que
os resultados das anlises de etiniestradiol foram os que apresentaram menor di-
vergncia, porm ela ainda foi signicativa. Da mesma forma que para o estradiol, a
concentrao esperada de etinilestradiol na gua bruta era de 1,5 g/L.
Apenas para efeito de uma avaliao preliminar, tomando-se como base os resultados da
Epusp, para as anlises de estradiol e etinilestradiol do dia 28 de julho, uma vez que os valo-
res de concentrao na gua bruta estiveram prximos ao valor esperado, vericou-se que
a unidade de ultraltrao foi capaz de remover tais desreguladores endcrinos, mesmo
com o concentrado apresentando valores de concentrao, na maioria das amostras, infe-
riores alimentao. Tomando-se como base os valores encontrados no permeado e a con-
centrao na gua bruta, obtm-se ecincias mdias de remoo de 95,6% e 94,2% para
o 17-beta-estradiol e para o etinilestradiol, respectivamente. Um aspecto a ser observado
que os valores utilizados nos ensaios so signicativamente superiores aos encontrados
naturalmente nos mananciais, exigindo cautela na sua interpretao dos resultados.
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 275
Tabela 7.11 > Resultados das anlises de etinilestradiol
DATA TEMPO APS O INCIO
DO ENSAIO (MINUTOS)
CONCENTRAES (g/L)
Permeado Concentrado Bruta
EPUSP UFOP EPUSP UFOP EPUSP UFOP
24/7/2008
20 0,11 0,77 0,07 1,38
< 0,05 0,77
40 0,17 NA 0,14 NA
60 < 0,05 0,59 0,18 0,8
80 < 0,05 NA 0,15 NA
100 < 0,05 1,13 0,29 0,54
28/7/2008
20 0,24 0,45 0,98 2,99
1,80 < LQ
40 < 0,05 NA 1,76 NA
60 0,07 < LQ 2,82 0,93
80 0,11 NA 1,18 NA
100 < 0,05 0,41 1,36 0,49
30/7/2008
20 < 0,05 0,82 0,24 0,89
0,31 0,69
40 < 0,05 NA 1,15 NA
60 < 0,05 1,15 0,18 0,37
80 0,32 NA < 0,05 NA
100 < 0,05 3,67 < 0,05 1,19
LQ LIMITE DE QUANTIFICAO (5 g/L)
NA NO ANALISADO
importante destacar que as ecincias de remoo obtidas, com base em apenas um dos
testes realizados, do indcios do potencial do processo de ultraltrao para a remoo
de desreguladores endcrinos, indicando a necessidade da continuidade dos estudos.
Outra questo importante a ser observada o fato do peso molecular tanto do 17-
beta-estradiol (272,2 g/mol
-1
) quanto do etinilestradiol (296,2 g/mol
-1
) serem muito
inferiores ao peso molecular de corte da membrana utilizada, indicando que um
processo indireto de remoo pode ter ocorrido, ou seja, a adsoro, possivelmente
no material em suspenso e na matria orgnica natural presentes na gua, sendo
retidos indiretamente pela membrana. Esta hiptese pode ser reforada quando se
avaliam as propriedades fsico-qumicas destes compostos, principalmente o coe-
ciente de partio octanol e gua (K
OW
) e o coeciente de partio gua e carbono
orgnico (K
OC
). A Tabela 7.12 apresenta algumas propriedades do 17-beta-estradiol
e do etinilestradiol.
Analisando-se os dados da Tabela 7.12 e considerando-se os valores mais elevados
para K
OW
e K
OC
, verica-se que a hiptese de remoo do 17-beta-estradiol e do etini-
lestradiol, de maneira indireta, reforada, j que valores do log K
OW
prximos de qua-
GUAS 276
tro indicam que a substncia apresenta carter hidrofbico, o que conrmado pelos
valores do log K
OC
, o que poderia justicar os elevados valores de remoo obtidos.
Tabela 7.12 > Propriedades fsico-qumicas do 17-beta-estradiol e do etinilestradiol
PROPRIEDADE17-beta-estradiol Etinilestradiol
Presso de vapor (Pa) 3x10-08 6x10-09
log KOW 2,69 a 4 3,67 a 4,2
log KOC 2,78 a 3,8 3,8
Solubilidade na gua (mg/L) 13 19
t (biodegradao na gua (dias) < 3 a 4 17 a 42
t (degradao por fotlise na gua (dias) 10 a 12 10 a 12
FONTE: YOUNG ET AL. (2004).
7.5.3 Desempenho do sistema de ultraltrao
para tratamento de gua para abastecimento
Com o objetivo de avaliar a ecincia de um sistema de ultraltrao para a remoo
de desreguladores endcrinos eventualmente presentes no Reservatrio Guarapiran-
ga, na RMSP, foi instalada uma unidade piloto junto estao elevatria de gua do
Sistema Alto Boa Vista, operado pela Companhia de Saneamento Bsico do Estado de
So Paulo (Sabesp). Este estudo teve como objetivo consolidar os dados sobre o de-
sempenho do processo de ultraltrao relativos ao projeto desenvolvido no mbito
do Edital-4 do Prosab.
A Figura 7.7 apresenta o uxograma de processo da unidade, contemplando os prin-
cipais componentes.
As linhas grossas na Figura 7.7 indicam o uxo de gua na operao normal do siste-
ma; as linhas nas, o uxo na limpeza qumica; e as tracejadas, o uxo para a contra-
lavagem do ltro de areia.
Neste estudo, o sistema de ultraltrao operou continuamente de agosto de 2007 a
dezembro de 2008, totalizando mais de 10.500 horas de operao. A coleta de dados
de desempenho, presso, perda de carga no ltro de areia e na membrana, vazo de
permeado e de recirculao, temperatura e turbidez do permeado foi feita por um
sistema de aquisio de dados Field Logger, da Novus Produtos Eletrnicos Ltda., pro-
gramado para fazer aquisies dos dados a cada minuto no incio dos testes e depois a
cada trs minutos. A membrana utilizada foi a PW-4040F, da GE-Osmonics, e o sistema
operou com descarga peridica de concentrado, atravs de controle por temporizador
e vlvula solenide, com uma descarga de 10 segundos a cada 10 minutos. A medida
da vazo de concentrado foi feita com base na medida do volume descartado e o n-
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 277
FONTE: MOREIRA, 2008
Figura 7.7 Fluxograma simplicado da unidade piloto de ultraltrao
mero de descartes em uma hora. Alm desta operao, o sistema foi programado para
realizar interrupes em seu funcionamento a cada 24 horas, e, em seguida, descargas
com durao de 2 minutos, com o auxlio de um temporizador (paradas peridicas).
A utilizao deste procedimento se mostrou eciente, conforme ser constatado pela
anlise dos resultados de desempenho. Sempre que necessrio, a operao do sistema
era interrompida para o processo de limpeza qumica, utilizando-se uma soluo de
hidrxido de sdio e detergente para limpeza e cido peractico para a sanitizao.
A avaliao da ecincia de remoo de contaminantes foi feita por meio da anlise
em laboratrio de amostras peridicas da gua bruta, permeado e concentrado, as
quais foram realizadas no Laboratrio de Saneamento da Escola Politcnica. As vari-
veis avaliadas foram:
absoro de Radiao UV em 254 nm;
alcalinidade;
carbono orgnico dissolvido;
coliformes totais;
condutividade eltrica;
cor aparente;
GUAS 278
dureza;
Escherichia Coli ;
pH;
turbidez.
Alm das variveis relacionadas, tambm foram realizadas anlises dos desreguladores
endcrinos estrognios, etinilestradiol e nonilfenol. As anlises foram realizadas utilizan-
do-se kits ELISA, baseado no mtodo de imunosorbente, conforme descrito no item 7.5.2.
Os resultados iniciais dos ensaios, considerando-se condies de operao distintas,
permitiram constatar que o desempenho do sistema pode ser signicativamente me-
lhorado com a dosagem de hipoclorito de sdio na alimentao, que minimiza a for-
mao de biolme, e tambm pelas paradas peridicas, que elimina da superfcie da
membrana os slidos eventualmente depositados, conforme constatado pela anlise
das Figuras 7.8 a 7.10.
Na Tabela 7.13, so apresentados os dados relativos s operaes de parada para lim-
peza qumica e outras informaes sobre o modo de operao do sistema.
Figura 7.8
Desempenho da unidade piloto no perodo de 3 a 10 de setembro de 2007, sem a
dosagem de hipoclorito de sdio, mas com o procedimento de paradas peridicas
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 279
Figura 7.9
Desempenho da unidade piloto no perodo de 11 a 22 de outubro de 2007,
com a dosagem de hipoclorito de sdio e paradas peridicas
Figura 7.10
Desempenho da unidade piloto no perodo de 05 a 18 de dezembro de 2007,
sem a realizao das paradas peridica
GUAS 280
Tabela 7.13 > Dados relativos s operaes de limpeza qumica da membrana
na unidade piloto e procedimentos operacionais adotados
PERODO DE OPERAO DATA DA
LIMPEZA
TEMPO DE
OPERAO ENTRE
LIMPEZAS (HORAS)
OBSERVAES
29/8 a 03/9/2007 3/set 114,6
Medidor de temperatura
e turbidmetro inoperantes.
03/9 a 10/9/2007 10/set 163,3
11/9 a 14/9/2007 14/set 67,3
Medidor de temperatura inoperante.
14/9 a 20/9/2007 20/set 142
21/9 a 28/9/2007 28/set 167
Sanitizao do sistema com cido
peractico aps limpeza qumica
28/9 a 31/10/2007 31/out 768,4
Incio da dosagem de hipoclorito de sdio
na alimentao em 28/09/2007.
31/10 a 16/11/2007 16/nov 401,6
Os dados relativos ao perodo de 07
a 16/11/2007 foram perdidos,
mas o sistema operou continuamente.
16/11 a 05/12/2007 5/dez 454,1
Interrupo das paradas peridicas
em 16/11/2007, para avaliar a inuncia
desta operao sobre o desempenho do
sistema. Em 30/11 foi realizada uma
operao de limpeza qumica emergencial.
05/12 a 18/12/2007 18/dez 306,4
A operao do sistema foi mantida
sem as paradas peridicas no perodo.
18/12/2007 a 14/01/2008 14/jan 650,5
Retorno das paradas peridicas do sistema
em 18/12/2007. Problemas com a dosagem
de hipoclorito na alimentao.
14/1 a 16/1/2008 16/out 43,9
16/1 a 28/1/2008 28/jan 279,3
Devido ao baixo desempenho do sistema
foi feita uma limpeza qumica mais enrgica.
29/1 a 18/3/2008 18/mar 592,6
Neste perodo ocorreram diversas falhas
eltricas no sistema, que ocasionaram a
interrupo da operao da unidade.
18/3 a 27/3/2008 27/mar 215,2
Limpeza qumica mais enrgica,
devido problemas na dosagem de cloro
no perodo anterior.
28/3 a 24/4/2008 24/abr 640,3
25/4 a 07/5/2008 7/mai 312
Houve problemas na coleta dos dados
da unidade.
08/5 a 10/7/2008 10/jul 1510,9 Limpeza qumica enrgica.
11/7 a 02/9/2008 2/set 1254,4
03/9 a 07/10/2008 7/out 815,1
08/10 a 19/11/2008 19/nov 1007,7
21/11 a 22/12/2008 22/dez 717,4
Problemas na dosagem de cloro aps
a limpeza qumica realizada em 19/11,
com perda de desempenho do sistema.
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 281
Observa-se pelos dados da Tabela 7.13 que, aps o restabelecimento da dosagem de
hipoclorito de sdio na alimentao e retorno das paradas peridicas, o perodo entre
as operaes de limpeza qumica aumentou signicativamente. Contudo, em decor-
rncia dos problemas ocorridos e condies severas utilizadas nos testes realizados,
a produo de permeado foi reduzida em relao ao incio de operao da unidade,
observando-se que a mesma foi sendo recuperada gradativamente.
Aps 184 dias de operao, encerrados os testes para a avaliao dos procedimentos
operacionais sobre o desempenho do sistema, foi possvel manter a operao do siste-
ma em condies mais estveis, aumentando signicativamente o perodo de opera-
o entre paradas para limpezas qumicas. Verica-se que, entre 28 de maro a 22 de
dezembro de 2008 (259 dias de operao contnua), foram realizadas sete operaes
de limpeza qumica, resultando em um intervalo mdio entre limpezas de 1,23 meses.
A Tabela 7.14 mostra, de maneira mais completa, os dados operacionais da unidade
piloto de ultraltrao, inclusive com os valores de turbidez do permeado ao longo
do teste. Ressalta-se que os dados apresentados na tabela foram obtidos a partir dos
valores mdios dos parmetros monitorados, com medidas sendo realizadas em inter-
valos de um a trs minutos.
Um dado relevante sobre a operao de sistemas de separao por membranas, obti-
do durante o desenvolvimento do projeto, foi que o procedimento de limpeza qumica
tem efeito signicativo sobre o seu desempenho. Ressalta-se que durante o perodo de
operao do sistema no foi feita uma avaliao mais detalhada do procedimento de
limpeza qumica para a obteno dos melhores resultados em relao recuperao de
produo de permeado. Enfatiza-se que este um item fundamental a ser considerado
no desenvolvimento de projetos e implantao de sistemas com base nesta tecnologia.
A avaliao da ecincia de remoo de contaminantes pela unidade de ultraltrao
foi feita com base na coleta e anlise de amostras de gua bruta, permeado e concen-
trado. Nas Tabelas 7.15 a 7.17, so apresentados os resultados obtidos na anlise das
variveis controladas, no perodo de 21/09/2007 a 16/10/2008. As anlises foram rea-
lizadas com base no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
(APHA; AWWA; WEF, 1998).
Analisando-se os dados apresentados nas tabelas, verica-se que o sistema de ultral-
trao apresentou bom desempenho em relao remoo das variveis monitoradas,
obtendo-se valores de 100% para indicadores de organismos patognicos e superiores
a 90% para a remoo de cor e turbidez. Um ponto que merece destaque a remoo
de carbono orgnico dissolvido (COD), que atingiu valor mdio de 60,7%, indicando a
capacidade para separao de molculas orgnicas dissolvidas.
GUAS 282
T
a
b
e
l
a
7
.
1
4
>
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s
d
e
d
e
s
e
m
p
e
n
h
o
d
a
u
n
i
d
a
d
e
p
i
l
o
t
o
i
n
s
t
a
l
a
d
a
n
a
R
e
p
r
e
s
a
G
u
a
r
a
p
i
r
a
n
g
a
P
E
R
O
D
O
T
E
M
P
O
D
E
O
P
E
R
A
-
O
N
O
P
E
R
O
D
O
(
H
)
T
E
M
P
O
D
E
O
P
E
-
R
A
O
A
C
U
M
U
-
L
A
D
O
(
H
)
V
A
Z
E
S
(
L
/
h
)
V
A
Z
E
S
(
M
3
/
h
)
R
E
C
U
P
E
R
A
O
(
%
)
T
A
X
A
D
E
F
L
U
X
O
(
L
.
d
-
1
.
m
-
2
.
k
P
a
)
T
U
R
B
I
D
E
Z
(
U
T
)
P
e
r
m
e
a
d
o
C
o
n
c
e
n
t
r
a
d
o
R
e
c
i
r
c
u
l
a
o
M
n
i
m
a
M
d
i
a
M
x
i
-
m
a
M
n
i
m
a
M
-
d
i
a
M
x
i
-
m
a
M
n
i
-
m
a
M
-
d
i
a
M
x
i
-
m
a
M
n
i
m
a
M
-
d
i
a
M
x
i
-
m
a
M
n
i
m
a
M
-
d
i
a
M
-
x
i
m
a
M
n
i
-
m
a
M
d
i
a
M
x
i
-
m
a
2
9
/
8
a
0
3
/
9
/
2
0
0
7
1
1
4
,
6
1
1
4
,
6
1
7
9
2
3
4
3
5
7
,
8
2
,
9
3
,
5
5
,
7
7
9
,
2
1
5
,
3
0
3
/
9
a
1
0
/
9
/
2
0
0
7
1
6
3
,
3
2
7
7
,
9
9
7
,
7
2
1
0
,
3
3
0
1
,
8
2
,
3
3
,
5
3
,
6
3
,
2
7
1
0
,
6
1
1
/
9
a
1
4
/
9
/
2
0
0
7
6
7
,
3
3
4
5
,
2
1
3
3
1
9
2
4
9
7
,
1
1
2
,
4
3
4
,
7
7
,
7
9
,
9
0
,
0
2
0
0
,
0
3
1
0
,
3
8
0
1
4
/
9
a
2
0
/
9
/
2
0
0
7
1
4
2
4
8
7
,
2
1
2
6
,
8
1
9
7
4
1
3
,
1
1
2
,
7
3
,
3
2
,
1
5
,
1
1
0
,
6
0
,
0
1
9
0
,
0
2
2
1
2
1
/
9
a
2
8
/
9
/
2
0
0
7
1
6
7
6
5
4
,
2
1
1
3
1
5
9
2
7
3
,
5
1
1
1
2
,
7
1
3
,
8
1
,
8
2
,
6
3
,
2
8
9
,
1
9
2
,
5
9
5
,
4
4
,
8
5
,
8
7
,
2
0
,
0
2
0
0
,
0
8
6
1
2
8
/
9
a
0
5
/
1
0
/
2
0
0
7
1
6
3
8
1
7
,
2
7
0
,
8
2
2
6
,
6
2
6
9
,
3
0
1
0
,
2
1
3
,
8
1
2
,
5
2
,
9
8
3
,
9
9
5
,
8
1
0
0
2
,
6
5
,
6
8
,
1
0
0
,
0
2
2
1
0
5
/
1
0
a
1
1
/
1
0
/
2
0
0
7
1
4
6
,
8
9
6
4
1
3
0
,
2
2
1
5
,
5
2
4
2
,
8
1
1
,
2
1
2
,
3
1
3
,
2
1
,
5
2
,
4
2
,
6
9
1
,
2
9
4
,
6
9
5
,
3
4
5
,
6
8
,
2
0
,
0
0
1
0
,
0
2
2
0
,
5
8
6
1
1
/
1
0
a
2
2
/
1
0
/
2
0
0
7
2
6
3
1
2
2
7
1
3
0
,
5
2
1
1
,
8
2
7
0
,
3
1
1
,
2
1
2
,
3
1
3
,
5
1
,
7
2
,
5
2
,
9
9
1
,
3
9
4
,
5
9
5
,
4
3
,
8
4
,
9
5
,
8
0
,
0
0
1
0
,
0
1
7
0
,
7
0
1
2
2
/
1
0
a
3
1
/
1
0
/
2
0
0
7
1
9
2
1
4
1
9
1
4
7
,
1
2
3
9
,
6
2
8
6
,
8
1
1
,
4
1
2
,
5
1
3
,
2
2
,
1
2
,
9
3
,
2
9
2
,
2
9
5
,
0
9
5
,
8
4
,
7
6
7
,
3
0
,
0
2
1
0
,
0
2
4
0
,
7
7
9
3
1
/
1
0
a
0
7
/
1
1
/
2
0
0
7
1
6
1
,
6
1
5
8
0
,
6
1
4
3
,
3
1
7
1
,
5
2
4
9
,
6
1
1
,
4
1
2
,
3
1
2
,
9
2
2
,
7
2
,
9
9
2
9
3
,
3
9
5
,
5
5
,
3
6
,
2
9
,
2
0
,
0
2
1
0
,
0
2
5
0
,
9
9
5
1
6
/
1
1
a
2
7
/
1
1
/
2
0
0
7
2
6
4
,
7
1
8
4
5
,
3
9
1
1
3
8
,
1
1
6
3
,
6
1
0
,
8
1
2
,
1
1
3
,
8
1
,
7
2
,
5
2
,
9
8
7
,
6
9
1
,
9
9
2
,
6
2
,
2
3
,
3
5
0
,
0
2
3
0
,
0
4
1
0
,
1
7
1
2
7
/
1
1
a
0
5
/
1
2
/
2
0
0
7
1
8
9
,
4
2
0
3
4
,
7
6
0
,
4
1
1
4
,
7
1
9
8
,
9
1
1
1
2
1
3
,
2
1
,
5
2
,
1
2
,
3
8
4
,
1
9
0
,
1
9
3
,
9
2
3
,
7
6
,
3
0
,
0
2
1
0
,
0
2
4
0
,
1
2
0
0
5
/
1
2
a
1
8
/
1
2
/
2
0
0
7
3
0
6
,
4
2
3
4
1
,
1
6
8
,
8
9
9
,
7
1
2
1
,
8
1
0
,
4
1
1
,
6
1
2
,
9
1
,
7
2
,
5
2
,
9
8
6
,
1
8
9
,
6
9
1
,
1
1
,
9
3
4
0
,
0
2
4
0
,
0
5
5
0
,
2
8
5
1
8
/
1
2
/
2
0
0
7
a
0
4
/
1
/
2
0
0
8
4
0
8
,
2
2
7
4
9
,
3
6
9
,
1
1
3
9
,
3
2
6
3
,
2
1
5
,
6
1
7
,
4
1
9
,
4
1
,
3
2
2
,
2
8
0
,
4
8
8
,
8
9
3
,
1
1
,
5
3
,
1
6
,
7
0
,
0
2
0
0
,
0
3
0
0
,
9
1
5
0
4
/
1
a
1
4
/
1
/
2
0
0
8
2
4
2
,
3
2
9
9
1
,
6
6
4
,
5
8
0
,
8
9
7
1
6
,
2
1
6
,
8
1
7
,
5
1
,
7
1
,
9
2
,
2
7
9
,
9
8
2
,
3
8
4
,
7
1
,
2
2
,
1
3
,
1
0
,
0
2
9
0
,
0
3
1
0
,
0
3
2
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 283
1
4
/
1
a
1
6
/
1
/
2
0
0
8
4
3
,
9
3
0
3
5
,
5
8
3
,
3
1
1
1
,
2
1
5
9
,
6
1
5
,
9
1
7
,
3
1
8
,
2
1
,
3
1
,
8
1
,
9
8
3
,
2
8
6
,
5
8
9
,
8
2
,
3
3
,
1
4
,
5
0
,
0
2
2
0
,
0
3
0
0
,
8
3
8
1
6
/
1
a
2
8
/
1
/
2
0
0
8
2
7
9
,
3
3
3
1
4
,
8
7
1
,
2
1
0
2
,
7
1
4
0
,
5
1
5
,
9
1
8
2
1
,
1
1
,
2
2
2
,
3
8
0
,
3
8
5
8
9
,
8
2
,
3
3
4
,
4
0
,
0
2
2
0
,
0
3
6
1
2
9
/
1
a
0
7
/
2
/
2
0
0
8
2
0
7
,
9
3
5
2
2
,
7
9
0
,
8
1
4
2
1
7
8
,
5
1
6
,
5
1
8
2
0
,
7
1
,
6
2
,
3
2
,
5
8
3
,
3
8
8
,
7
9
0
,
6
2
,
7
3
,
2
5
,
2
0
7
/
2
a
0
8
/
2
/
2
0
0
8
2
3
,
5
3
5
4
6
,
2
1
3
1
,
6
1
3
9
,
5
1
5
1
1
7
,
2
1
8
1
8
,
6
1
,
9
2
,
4
2
,
4
8
7
,
8
8
8
,
6
8
9
,
4
3
,
1
3
,
3
3
,
7
1
2
/
2
a
1
9
/
2
/
2
0
0
8
1
6
6
,
3
3
7
1
2
,
5
8
5
,
4
1
3
3
,
9
1
5
2
1
5
,
9
1
7
,
3
1
8
,
6
1
,
7
2
,
3
2
,
6
8
3
,
7
8
8
,
6
8
9
,
7
2
,
2
3
,
4
4
1
9
/
2
a
2
1
/
2
/
2
0
0
8
5
3
,
6
3
7
6
6
,
1
9
1
,
9
1
2
9
,
1
1
4
4
,
8
1
6
,
5
1
7
,
4
1
8
,
2
1
,
7
2
,
4
2
,
6
8
4
8
8
,
1
8
9
,
4
2
,
4
3
,
3
4
,
1
2
6
/
2
a
0
6
/
3
/
2
0
0
8
1
4
1
,
3
3
9
0
7
,
4
6
3
,
6
9
7
,
3
1
4
1
,
7
1
5
,
9
1
7
,
3
1
9
1
,
2
1
,
9
2
,
5
7
8
,
9
8
4
,
9
8
8
,
6
2
,
3
3
,
3
4
0
6
/
3
a
1
8
/
3
/
2
0
0
8
2
8
5
,
8
4
1
9
3
,
2
6
5
,
7
8
7
,
4
1
2
1
,
4
1
5
,
9
1
7
,
6
1
9
,
4
1
,
3
1
,
9
2
,
3
7
9
8
3
,
2
8
7
,
2
1
,
8
2
,
3
3
,
5
0
,
0
2
7
0
,
0
5
8
1
1
8
/
3
a
2
7
/
3
/
2
0
0
8
2
1
5
,
2
4
4
0
8
,
4
9
0
1
0
5
,
3
1
2
8
1
6
,
2
1
7
,
4
1
8
,
6
1
,
3
2
2
,
3
8
3
,
9
8
5
,
8
8
8
,
0
2
,
5
3
,
5
4
,
1
0
,
0
2
2
0
,
0
3
1
1
2
8
/
3
a
0
3
/
4
/
2
0
0
8
1
4
2
,
1
4
5
5
0
,
5
1
0
0
,
1
1
2
5
2
4
2
1
5
,
9
1
7
,
4
1
9
1
,
7
2
,
5
2
,
7
8
5
,
5
8
7
,
7
9
3
,
1
2
,
5
3
,
7
5
,
8
0
,
0
2
3
0
,
0
3
0
1
0
3
/
4
a
0
8
/
4
/
2
0
0
8
1
1
9
4
6
6
9
,
5
9
5
,
8
1
1
2
,
2
1
4
3
,
4
1
5
1
5
,
9
2
0
,
1
1
,
4
2
,
6
3
,
1
8
4
,
8
8
7
,
5
8
9
,
1
2
,
8
3
,
4
4
,
2
0
,
0
2
3
0
,
0
3
2
1
0
8
/
4
a
2
4
/
4
/
2
0
0
8
3
7
9
,
2
5
0
4
8
,
6
8
6
,
5
1
1
1
,
6
1
7
8
,
9
1
4
,
1
1
5
,
6
1
8
,
4
1
,
6
2
,
4
2
,
9
8
4
8
7
,
7
9
2
,
1
2
,
4
3
,
2
3
,
6
0
,
0
2
5
0
,
0
2
7
0
,
0
5
5
2
5
/
4
a
0
7
/
5
/
2
0
0
8
3
1
2
5
3
6
0
,
6
0
8
/
5
a
2
1
/
5
/
2
0
0
8
3
1
2
,
3
5
6
7
2
,
9
9
3
,
3
1
2
1
,
5
3
1
7
1
5
,
2
1
6
,
8
1
8
,
8
0
,
1
2
,
7
3
,
2
8
5
,
2
8
7
,
7
9
5
,
1
2
3
,
6
6
,
4
0
,
0
2
4
0
,
0
2
6
0
,
0
7
3
2
1
/
5
a
0
7
/
6
/
2
0
0
8
4
0
4
,
6
6
0
7
7
,
5
1
0
0
,
6
1
2
6
3
5
3
,
6
1
5
,
2
1
6
,
9
2
0
,
6
0
,
1
2
,
8
3
,
4
8
6
8
8
,
1
9
5
,
5
1
,
9
3
,
7
8
,
2
0
,
0
2
4
0
,
0
2
7
0
,
0
7
2
0
7
/
6
a
1
6
/
6
/
2
0
0
8
2
2
2
6
2
9
9
,
4
1
0
2
,
5
1
2
4
3
1
9
,
8
1
5
,
5
1
6
,
7
1
9
,
6
0
,
3
2
,
9
3
,
5
8
6
,
4
8
8
,
1
9
5
,
1
2
,
4
3
,
6
6
,
3
0
,
0
2
4
0
,
0
2
8
0
,
2
0
2
1
6
/
6
a
1
0
/
7
/
2
0
0
8
5
7
5
,
1
6
8
7
4
,
5
8
2
,
6
1
1
9
,
8
3
1
7
,
3
1
5
,
9
1
7
,
4
2
0
,
1
0
,
3
3
3
,
6
8
2
,
9
8
7
,
2
9
5
1
,
8
3
,
4
6
,
7
0
,
0
2
4
0
,
0
2
8
0
,
0
8
9
1
1
/
7
a
2
4
/
7
/
2
0
0
8
3
0
7
,
9
7
1
8
2
,
4
9
9
,
3
1
2
4
,
7
3
3
5
1
1
,
3
1
2
,
5
1
4
,
7
0
,
2
2
,
8
3
,
2
8
9
,
6
9
0
,
8
9
6
,
2
2
,
4
4
,
1
7
,
1
0
,
0
2
4
0
,
0
3
8
1
2
4
/
7
a
0
7
/
8
/
2
0
0
8
3
3
3
,
3
7
5
1
5
,
7
1
0
1
,
4
1
3
1
,
1
3
0
4
,
6
1
1
,
3
1
2
,
4
1
4
,
7
0
,
2
2
,
7
3
,
2
8
9
,
6
9
1
,
3
9
6
2
,
3
3
,
7
6
,
4
0
,
0
2
4
0
,
0
3
4
0
,
7
1
3
0
7
/
8
a
1
9
/
8
/
2
0
0
8
2
9
1
,
2
7
8
0
6
,
9
1
0
7
,
1
1
3
7
,
5
3
1
8
,
4
1
1
,
1
1
2
,
4
1
4
,
3
0
,
3
2
,
9
3
,
3
9
0
9
1
,
7
9
6
,
4
2
,
2
3
,
7
7
0
,
0
2
5
0
,
0
3
1
0
,
1
2
1
GUAS 284
1
9
/
8
a
0
2
/
9
/
2
0
0
8
3
2
2
8
1
2
8
,
9
8
4
,
9
1
3
8
,
2
3
1
6
,
5
1
1
,
1
1
2
,
2
1
3
,
7
0
,
3
2
,
8
3
,
2
8
8
9
1
,
8
9
6
,
4
1
,
7
3
,
6
5
0
,
0
2
5
0
,
0
3
1
0
,
1
1
8
0
5
/
9
a
1
6
/
9
/
2
0
0
8
2
6
3
,
8
8
3
9
2
,
7
1
0
7
,
1
1
6
6
,
8
3
6
5
,
1
1
1
,
1
1
2
,
1
1
5
0
,
1
2
,
7
3
,
3
9
0
,
1
9
3
,
2
9
6
,
8
2
,
1
4
,
4
7
,
5
0
,
0
0
1
0
,
0
2
9
0
,
2
2
9
1
6
/
9
a
2
2
/
9
/
2
0
0
8
1
4
5
,
5
8
5
3
8
,
1
1
2
8
,
9
1
6
0
,
5
3
7
3
1
1
,
6
1
2
,
8
1
4
,
3
0
,
1
2
,
8
3
,
2
9
1
,
4
9
2
,
6
9
6
,
7
2
4
,
3
6
,
7
0
,
0
2
4
0
,
0
2
7
0
,
1
6
6
2
2
/
9
a
0
2
/
1
0
/
2
0
0
8
2
3
6
,
7
8
7
7
4
,
8
1
2
7
,
6
1
5
2
,
6
3
2
6
,
1
1
1
,
1
1
2
,
6
1
4
0
,
1
2
,
7
3
,
1
9
1
,
2
9
2
,
4
9
6
,
4
2
,
5
4
,
1
5
,
7
0
,
0
2
4
0
,
0
3
1
0
,
3
0
9
0
2
/
1
0
a
0
7
/
1
0
/
2
0
0
8
1
2
1
,
2
8
8
9
6
1
1
0
,
7
1
2
7
,
0
2
6
2
,
3
1
1
,
1
1
2
,
2
1
3
,
7
0
,
1
2
,
3
2
,
6
9
0
9
1
,
2
9
5
,
6
2
,
1
3
,
5
4
0
,
0
2
5
0
,
0
2
9
0
,
0
6
2
0
8
/
1
0
a
1
4
/
1
0
/
2
0
0
8
1
4
5
,
7
9
0
4
1
,
7
1
2
4
,
7
1
4
4
,
8
3
2
2
,
4
1
1
,
7
1
3
,
2
1
4
,
7
0
,
1
2
,
5
2
,
7
9
0
,
6
9
1
,
6
9
5
,
9
2
,
6
4
,
6
7
,
5
0
,
0
2
5
0
,
0
4
8
1
1
4
/
1
0
a
2
2
/
1
0
/
2
0
0
8
1
8
8
9
2
2
9
,
7
1
0
8
,
6
1
5
5
,
1
3
4
6
,
2
1
3
,
7
1
5
,
2
1
7
,
2
0
,
1
2
,
7
3
,
1
8
7
,
5
9
1
9
6
2
,
4
4
,
1
6
,
2
0
,
0
2
6
0
,
0
2
7
0
,
0
9
2
2
3
/
1
0
a
2
9
/
1
0
/
2
0
0
8
1
7
0
,
1
9
3
9
9
,
8
1
1
8
,
5
1
4
4
,
2
2
9
7
1
3
,
7
1
4
,
7
1
6
,
5
0
,
2
2
,
5
2
,
8
8
9
9
0
,
7
9
5
,
4
2
,
6
3
,
8
6
,
8
0
,
0
2
6
0
,
0
3
0
0
,
1
1
9
2
9
/
1
0
a
0
3
/
1
1
/
2
0
0
8
1
1
9
,
5
9
5
1
9
,
3
1
0
2
,
9
1
3
3
,
0
2
8
9
,
5
1
3
,
7
1
5
,
1
1
6
,
5
0
,
2
2
,
5
2
,
7
8
7
,
6
8
9
,
8
9
4
,
9
2
,
1
3
,
6
4
,
3
0
,
0
2
6
0
,
0
3
2
0
,
3
8
3
0
3
/
1
1
a
1
9
/
1
1
/
2
0
0
8
3
8
4
,
4
9
9
0
3
,
7
8
0
,
9
1
1
6
,
6
2
5
7
,
2
1
3
,
2
1
4
,
8
1
6
,
8
0
,
1
2
,
4
2
,
8
8
5
,
2
8
8
,
7
9
4
,
6
1
,
7
3
,
2
6
,
4
0
,
0
2
6
0
,
0
3
1
0
,
1
2
7
2
1
/
1
1
a
0
4
/
1
2
/
2
0
0
8
3
0
9
,
5
1
0
2
1
3
,
2
8
5
,
7
1
2
6
,
2
3
8
5
1
3
,
2
1
4
,
8
1
6
,
8
0
,
1
2
,
4
3
,
1
8
4
,
7
8
9
,
4
9
6
,
4
1
,
8
3
,
5
9
,
5
0
,
0
2
8
0
,
0
3
3
1
0
5
/
1
2
a
2
2
/
1
2
/
2
0
0
8
4
0
7
,
9
1
0
6
2
1
,
1
7
3
,
6
1
1
4
,
2
2
6
2
,
3
1
3
1
4
,
6
1
6
,
8
0
,
1
1
,
9
2
,
4
8
4
,
3
8
8
,
6
9
4
,
8
2
,
1
3
,
3
6
,
8
0
,
0
2
5
0
,
0
3
3
0
,
4
8
3
M
d
i
a
s
9
8
,
9
1
4
5
,
3
2
5
9
,
9
1
3
,
2
1
4
,
7
1
6
,
6
1
,
0
2
,
5
2
,
9
8
6
,
3
8
9
,
7
9
3
,
5
2
,
6
4
,
1
6
,
4
0
,
0
2
1
0
,
0
3
2
0
,
5
1
8
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 285
Tabela 7.15 > Resultados das anlises de amostras da gua bruta
VARIVEL NMERO
DE
AMOSTRAS
a
UNIDADE MNIMO MDIA MXIMO DESVIO
PADRO
Absoro de Radiao UV
254
20 cm
-1
0,063 0,108 0,307 0,065
Alcalinidade 11 mg CaCO
3
.L
-1
37,74 40,89 48,96 3,46
Carbono Orgnico Total (COT) 19 mg C.L
-1
3,3 5,37 14,63 3,07
Coliformes Totais 14 NMP/100 mL 63 824 2420 974
Condutividade Eltrica 20
S.cm
-1
136 188 687 119
Cor Aparente 17 uC 25 65 190 41
Dureza 11 mg CaCO
3
.L
-1
39 47 52 3,7
Escherichia Coli 16 NMP/100 mL 0 49 306 81
pH 21 Unidade de pH 7 7,8 11,5 0,9
Turbidez 20 uT 1 3,6 11,2 3,1
a - AMOSTRAS COLETAS SEMANALMENTE OU QUINZENALMENTE.
Tabela 7.16 > Resultados das anlises do permeado e respectivas ecincias de remoo
VARIVEL
NMERO
DE
AMOSTRAS
a
UNIDADE MNIMO MDIA MXIMO DESVIO
PADRO
EFICINCIA DE
REMOO MDIA
(%)
Absoro de Radiao UV
254
20 cm
-1
0,020 0,054 0,115 0,019 50
Alcalinidade 11
mg
CaCO
3
.L
-1
33,66 40,80 53,04 5,64 0,2
Carbono Orgnico Total (COT) 19 mg C.L
-1
1,9 3,3 5,3 0,81 38,5
Coliformes Totais 14
NMP/100
mL
0 0 2 0,6 100
Condutividade Eltrica 20
S.cm
-1
140 186 479 71 1,1
Cor Verdadeira 17 uC 2 5 13 3 92,3
Dureza 11
mg
CaCO
3
.L
-1
42 49 65 6,4 0
Escherichia Coli 16
NMP/100
mL
0 0 0 0 100
pH 21
Unidade
de pH
7 7,4 8 0,2 x
Turbidez 20 uT 0,1 0,2 0,8 0,2 94,4
a - AMOSTRAS COLETAS SEMANALMENTE OU QUINZENALMENTE.
O monitoramento dos desreguladores endcrinos mostrou que as concentraes des-
tes, na gua bruta, estiveram sempre abaixo dos limites de deteco dos mtodos
utilizados, com exceo da amostra do dia 1 de julho de 2008, onde foi detectada
a presena de estrognios. Por se tratar de uma amostra isolada, no possvel fa-
GUAS 286
7.6 Concluses
Como resultado do monitoramento dos desreguladores endcrinos nos mananciais
avaliados, foi constatada a presena, com maior frequncia, do 4-nonilfenol, com con-
centraes variando de 40 a 2.185 ng/L; do estrognio natural, 17-beta-estradiol, com
concentraes variando de 1,5 a 36,8 ng/L, tanto nos mananciais da RMBH como da
RMSP. A presena de estinilestradiol foi detectada, com menor frequncia, em con-
centraes variando de 3 a 54 ng/L somente nos mananciais da RMBH. Tais resultados
encontram-se nas faixas de valores reportados nos estudos desenvolvidos em outros
pases.
O monitoramento do comportamento dos desreguladores endcrinos identicados em
estaes de tratamento convencional, realizado nas estaes da RMBH, mostrou que a
ecincia de remoo baixa e varivel, podendo resultar na potencial exposio dos
consumidores nais da gua tratada a estes contaminantes. Ressalta-se que os resul-
tados so preliminares, o que exige a continuidade do estudo sobre este tema.
Os ensaios de bancada desenvolvidos na UFMG mostraram que a oxidao com cloro
afeta o EE2, obtendo redues elevadas de sua concentrao. Contudo, no foi poss-
vel assegurar a eliminao do potencial estrognico da gua pelo fato de no ter sido
avaliada a formao de subprodutos.
Tambm foi constatado pelos ensaios de bancada que os processos de coagulao,
oculao e sedimentao no afetam o EE2, conrmando os resultados obtidos no
monitoramento das ETAs da RMBH.
Testes em uma unidade de ultraltrao, utilizando membrana com peso molecular
de corte de 10.000 g/mol
-1
, resultaram em ecincia de remoo de 94,2% para o
etinilestradiol, ressaltando-se que este foi o resultado de um teste isolado e que uma
avaliao mais aprofundada deve ser realizada. Em relao ao desempenho do sistema
piloto de ultraltrao para tratamento de gua para abastecimento, foi vericado
que a utilizao de condies adequadas permite a obteno de gua com elevado
grau de qualidade, removendo, inclusive, compostos orgnicos dissolvidos com eci-
ncia de at 60%, mantendo a produo de permeado dentro limites aceitveis por um
perodo de tempo prolongado.
Condies de operao, como a realizao de paradas peridicas e a adio de cloro
gua de alimentao, permitem aumentar a produtividade do sistema, principalmente
pela reduo da frequncia das operaes de limpeza qumica.
zer qualquer comentrio sobre este resultado. Em relao ao nonilfenol, embora no
tenha sido detectada a sua presena na gua bruta da Represa Guarapiranga, trs
amostras de concentrado, uma coletada em janeiro e duas em fevereiro, apresentaram
concentraes entre 100 e 200 ng/L (Tabela 7.18), podendo indicar que a membrana
de ultraltrao foi capaz de reter e concentrar este contaminante.
Tabela 7.17 > Resultados das anlises das amostras de concentrado
VARIVEL NMERO
DE
AMOSTRAS
a
UNIDADE MNIMO MDIA MXIMO DESVIO
PADRO
Absoro de Radiao UV
254
20 cm
-1
0,085 0,218 0,479 0,093
Alcalinidade 11 mg CaCO
3
.L
-1
42,84 49,52 62,22 5,35
Carbono Orgnico Total (COT) 19 mg C.L
-1
4,10 12,23 24,60 4,82
Coliformes Totais 14 NMP/100 mL 0 327 2420 659
Condutividade Eltrica 20
S.cm
-
1 103 212 501 73
Cor Aparente 17 uC 103 175 358 71
Dureza 11 mg CaCO
3
.L
-1
56 59 64 2,9
Escherichia Coli 16 NMP/100 mL 0 5 20 7
pH 21 Unidade de pH 7,2 7,5 7,9 0,2
Turbidez 20 uT 2 14,9 45,8 13,8
a - AMOSTRAS COLETAS SEMANALMENTE OU QUINZENALMENTE.
Tabela 7.18 > Resultados do monitoramento do nonilfenol na unidade piloto de ultraltrao
DATA UNIDADE PILOTO GUARAPIRANGA
Bruta Permeado Concentrado
10/1/2008 ng/L < 50 < 50 < 50
15/1/2008 ng/L < 50 < 50 136
22/2/2008 ng/L < 50 < 50 113
29/2/2008 ng/L < 50 < 50 175
9/5/2008 ng/L < 50 < 50 < 50
26/5/2008 ng/L < 50 < 50 < 50
10/6/2008 ng/L < 50 < 50 < 50
1/7/2008 ng/L < 50 < 50 < 50
Mnimo
ng/L
< 50 < 50 < 50
Mdia < 50 < 50 141
Mximo < 50 < 50 175
Desvio Padro ND ND 31
ND NO DETERMINADO
LIMITE DE DETECO DO MTODO COM EXTRAO EM FASE SLIDA IGUAL A 50 ng/L.
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 287
7.6 Concluses
Como resultado do monitoramento dos desreguladores endcrinos nos mananciais
avaliados, foi constatada a presena, com maior frequncia, do 4-nonilfenol, com con-
centraes variando de 40 a 2.185 ng/L; do estrognio natural, 17-beta-estradiol, com
concentraes variando de 1,5 a 36,8 ng/L, tanto nos mananciais da RMBH como da
RMSP. A presena de estinilestradiol foi detectada, com menor frequncia, em con-
centraes variando de 3 a 54 ng/L somente nos mananciais da RMBH. Tais resultados
encontram-se nas faixas de valores reportados nos estudos desenvolvidos em outros
pases.
O monitoramento do comportamento dos desreguladores endcrinos identicados em
estaes de tratamento convencional, realizado nas estaes da RMBH, mostrou que a
ecincia de remoo baixa e varivel, podendo resultar na potencial exposio dos
consumidores nais da gua tratada a estes contaminantes. Ressalta-se que os resul-
tados so preliminares, o que exige a continuidade do estudo sobre este tema.
Os ensaios de bancada desenvolvidos na UFMG mostraram que a oxidao com cloro
afeta o EE2, obtendo redues elevadas de sua concentrao. Contudo, no foi poss-
vel assegurar a eliminao do potencial estrognico da gua pelo fato de no ter sido
avaliada a formao de subprodutos.
Tambm foi constatado pelos ensaios de bancada que os processos de coagulao,
oculao e sedimentao no afetam o EE2, conrmando os resultados obtidos no
monitoramento das ETAs da RMBH.
Testes em uma unidade de ultraltrao, utilizando membrana com peso molecular
de corte de 10.000 g/mol
-1
, resultaram em ecincia de remoo de 94,2% para o
etinilestradiol, ressaltando-se que este foi o resultado de um teste isolado e que uma
avaliao mais aprofundada deve ser realizada. Em relao ao desempenho do sistema
piloto de ultraltrao para tratamento de gua para abastecimento, foi vericado
que a utilizao de condies adequadas permite a obteno de gua com elevado
grau de qualidade, removendo, inclusive, compostos orgnicos dissolvidos com eci-
ncia de at 60%, mantendo a produo de permeado dentro limites aceitveis por um
perodo de tempo prolongado.
Condies de operao, como a realizao de paradas peridicas e a adio de cloro
gua de alimentao, permitem aumentar a produtividade do sistema, principalmente
pela reduo da frequncia das operaes de limpeza qumica.
GUAS 288
Referncias bibliogrcas
AGUILAR, A.; BORRELL, A. Abnormally high polychlorinated biphenyl levels in striped dolphins
(Stenella coeruleoalba) affected by the 1990-1992 Mediterranean epizootic. The Science of The
Total Environment, v. 154, n. 2-3, p. 237-247, 1994.
ALUM, A. et al. Oxidation of bisphenol A, 17 beta-estradiol, and 17 alpha-ethynyl estradiol and
byproduct estrogenicity. Environmental Toxicology, v. 19, n. 3, p. 257-264, 2004.
APHA; AWWA; WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 20. ed.
Washington: APHA/AWWA/WEF, 1998.
AZEVEDO D.A. et al. Occurrence of nonylphenol and bisphenol-A in surface waters from Portugal.
Journal Brazilian Chemistry Society, v. 12, n. 4, p. 532-537, 2001.
BARONTI, C. et al. Monitoring natural and synthetic estrogens at activated sludge sewage treat-
ment plants and in a receiving river water. Environmental Science & Technology, v. 34, n. 24, p.
5059-5066, 2000.
BECK, I.C. et al. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis of estrogenic com-
pounds in coastal surface water of the Baltic Sea. Journal of Chromatography A, v. 1090, n. 1-2,
p. 98-106, 2005.
BIANCHETTI, F.J. Remoo do agente hormonalmente ativo etinilestradiol por pr-oxidao e co-
agulao: estudo em escala de bancada. 2008. 82 p. Dissertao (Mestrado) - Programa de Ps-
Graduao em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hdricos, Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 2008.
BILA, D.M.; DEZOTTI, M. Desreguladores endcrinos no meio ambiente: efeitos e consequncias.
Qumica Nova, v. 30, n. 3, p. 651-666, 2007.
BOGI, C. et al. Endocrine effects of environmental pollution on Xenopus laevis and Rana tempo-
raria. Environmental Research, v. 93, n. 2, p. 195-201, 2003.
BRASIL (Leis). Ministrio da Sade. Portaria n 518. Braslia: Dirio Ocial da Unio, 25 mar.
2004.
CEC - COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Commission Staff Working Document
on implementation of the Community Strategy for Endocrine Disrupters: a range of substances
suspected of interfering with the hormone systems of humans and wildlife (COM (1999) 706),
(COM (2001) 262) and (SEC (2004) 1372). SEC (2007) 1635. Bruxelas: 30 nov. 2007.
______. Commission Staff Working Document on implementation of the Community Strategy for
Endocrine Disrupters: a range of substances suspected of interfering with the hormone systems
of humans and wildlife (COM (1999) 706). SEC (2004) 1372. Bruxelas: 28 out. 2004.
COLBUM, T.; DUMANOSKI, D.; MEYERS, J.P. Our stolen future: are we threatening our fertility, in-
telligence and survival - a scientic detective story. Nova Iorque: Dutton Publishing, 1996.
CONAMA - CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. Ministrio do Meio Ambiente. Resoluo
n
o
357, de 17 mar. 2005.
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 289
FRY, D.M.; TOONE, C.K. DDT-induced feminization of gull embryos. Science, v. 213, n. 4510, p.
922-924, 1981.
GHISELLI, G. Avaliao da qualidade das guas destinadas ao abastecimento pblico na regio de
Campinas: ocorrncia da determinao dos interferentes endcrinos (IE) e produtos farmacuti-
cos e de higiene pessoal (PFHP). 2006. 190 p. Tese (Doutorado) - Instituto de Qumica, Universi-
dade Estadual de Campinas, Campinas, 2006.
GIBSON, R. et al. Determination of acidic pharmaceuticals and potential endocrine disrupting
compounds in wastewaters and spring waters by selective elution and analysis by gas chromato-
graphy-mass spectrometry. Journal of Chromatography A, v. 1169, n. 1-2, p. 31-39, 2007.
GUILLETTE, L.J. et al. Plasma steroid concentrations and male phallus size in juvenile alligators from
Seven Florida Lakes. General and Comparative Endocrinology, v. 116, n. 3, p. 356-372, 1999.
HU, J.; ZHANG, H.; CHANG, H. Improved method for analyzing estrogens in water by liquid chro-
matography-electrospray mass spectrometry. Journal of Chromatography A, v. 1070, n. 1-2, p.
221-224, 2005.
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA. Pesquisa de informaes bsicas
municipais. Perl dos municpios brasileiros: meio ambiente. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. Dispon-
vel em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perlmunic/meio_ambiente_2002/
default.shtm> . Acesso em: 9 jan. 2008.
IRWIN, L.K.; GRAY, S.; OBERDORSTER, E. Vitellogenin induction in painted turtle, Chrysemys picta,
as a biomarker of exposure to environmental levels of estradiol. Aquatic Toxicology, v. 55, n. 1-2,
p. 49-60, 2001.
JEANNOT, R. et al. Determination of endocrine-disrupting compounds in environmental samples
using gas and liquid chromatography with mass spectrometry. Journal of Chromatography A, v.
974, n. 1, p. 143159, 2002.
KNORR, S.; BRAUNBECK, T. Decline in reproductive success, sex reversal, and developmental alte-
rations in Japanese medaka (Oryzias latipes) after continuous exposure to octylphenol. Ecotoxi-
cology and Environmental Safety, v. 51, n. 3, p. 187-196, 2002.
KOH, Y.K.K. et al. Treatment and removal strategies for estrogens from wastewater. Environmen-
tal Technology, v. 29, n. 3, p. 245-267, 2008.
KUCH, H.M.; BALLSCMITER, K. Determination of endocrine-disrupting phenolic compounds and
estrogens in surface and drinking water by HRGC-(NCI)-MS in the picogram per liter range. En-
vironmental Science & Technology, v. 35, n. 15, p. 3201-3206, 2001.
LAGANA, A. et al. Analytical methodologies for determining the occurrence of endocrine disrup-
ting chemicals in sewage treatment plants and natural waters. Analytica Chimica Acta, v. 501,
n. 1, p. 79-88, 2004.
LEE, B.C. et al. Effects of chlorine on the decrease of estrogenic chemicals. Water Research, v. 38,
p. 733-739, 2004.
LIU, R.; ZHOU, J.L.; WILDING, A. Microwave-assisted extraction followed by gas chromatography-
GUAS 290
mass spectrometry for the determination of endocrine disrupting chemicals in river sediments.
Journal of Chromatography A, v. 1038, n. 1-2, p. 19-26, 2004A.
______. Simultaneous determination of endocrine disrupting phenolic compounds and steroids
in water by solid-phase extractiongas chromatographymass spectrometry. Journal of Chroma-
tography A, v. 1022, p. 179189, 2004B.
MARKEY, C.M. et al. Endocrine disruptors: from wingspread to environmental developmental bio-
logy. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, v. 83, n. 1-5, p. 235-244, 2002.
MATSUMOTO, K. et al. Highly sensitive time-resolved uorometric determination of estrogens by
high-performance liquid chromatography using a beta-diketonate europium chelate. Journal of
Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, v. 773, n. 2, p.
135-142, 2002.
MIBU, K. et al. Distribution of estrogen, nonylphenol and its derivatives in the sediments of a
shallow lake. Water Science and Technology, v. 50, n. 5, p. 173-179, 2004.
MILNES, M.R. et al. Plasma steroid concentrations in relation to size and age in juvenile alligators
from two Florida lakes. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A. Molecular & Integra-
tive Physiology, v. 131, n. 4, p. 923-930, 2002.
MOL, H.G.J.; SUNARTO, S.; STEIJGER, O.M. Determination of endocrine disruptors in water after de-
rivatization with N-methyl-N-(tert.-butyldimethyltriuoroacetamide) using gas chromatography
with mass spectrometric detection. Journal of Chromatography A, v. 879, n. 1, p. 97-112, 2000.
MOREIRA, D.S. Desenvolvimento de metodologia analtica por cromatograa/espectrometria de
massas para avaliao da ocorrncia de perturbadores endcrinos em mananciais de abasteci-
mento da Regio Metropolitana de Belo Horizonte. 2008. Dissertao (Mestrado em Engenharia
Ambiental) - Programa de Ps-Graduao em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de
Ouro Preto, 2008.
PANTER, G.H.; THOMPSON, R.S.; SUMPTER, J.P. Intermittent exposure of sh to estradiol. Environ-
mental Science & Technology, v. 34, p. 2756-2760, 2000.
PICKERING, A.D.; STUMPTER, J.P. Comprehending endocrine disruptors in aquatic environments.
Environ. Sci. Tech., v. 37, p. 331-336, 2003.
PNRH - PLANO NACIONAL DE RECURSOS HDRICOS. Panorama e estado dos recursos hdricos do Bra-
sil. Volume I. Ministrio do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hdricos. Braslia: MMA, 2006.
QUINTANA, J.B. et al. Determination of natural and synthetic estrogens in water by gas chroma-
tography with mass spectrometric detection. Journal of Chromatography A, v. 1024, n. 1-2, p.
177-185, 2004.
RAIMUNDO, C.C.M. Ocorrncia de interferentes endcrinos e produtos farmacuticos nas guas
superciais da bacia do rio Atibaia. 2007. 138 p. Dissertao (Mestrado) - Instituto de Qumica,
Universidade Estadual de Campinas, 2007.
ROBINSON, C.D. et al. Effects of sewage efuent and ethynyl oestradiol upon molecular markers
of oestrogenic exposure, maturation and reproductive success in the sand goby (Pomatoschistus
REMOO DE DESREGULADORES ENDCRINOS 291
minutus, Pallas). Aquatic Toxicology, v. 62, p. 119-134, 2003.
ROUTLEGDE, E.J. et al. Identication of estrogenic chemicals in STW efuent. 2. In: Vivo Respon-
ses in Trout and Roach. Environmental Science & Technology, v. 32, n. 11, p. 1559-1565, 1998.
RUDDER, J.D. et al. Advanced water treatment with manganese oxide for the removal of
17[alpha]-ethynylestradiol (EE2). Water Research, v. 38, n. 1, p. 184-192, 2004.
SHIODA, T.; WAKABAYASHI, M. Effect of certain chemicals on the reproduction of medaka (Oryzias
latipes). Chemosphere, v. 40, n. 3, p. 239-243, 2000.
SNYDER, S.A. et al. Analytical methods for detection of selected estrogenic compounds in aqueous
mixtures. Environmental Science & Technology, v. 33, n. 16, p. 2814-2820, 1999.
SOL, M. et al. Estrogenicity determination in sewage treatment plants and surface waters from
the Catalonian area (NE Spain). Environmental Science & Technology, v. 34, p. 5076-5083, 2000.
SOL, M. et al. Long-term exposure effects in vitellogenin, sex hormones, and biotransformation
enzymes in female carp in relation to a sewage treatment works. Ecotoxicology and Environmen-
tal Safety, v. 56, p. 373380, 2003.
STAVRAKAKIS, C. et al. Analysis of endocrine disrupting compounds in wastewater and drinking
water treatment plants at the nanogram per litre level. Environ. Tech., v. 29, n. 3, p. 279-286, 2008.
TABATA, A. et al. The effect of chlorination of estrogenic chemicals on the level of serum vitellogenin
of Japanese medaka (Oryzias latipes). Water Science and Technology, v. 47, n. 9, p. 51-57, 2003.
VAN DEN BELT, K. et al. Comparative study on the in vitro/in vivo estrogenic potencies of
17-beta-estradiol, estrone, 17-alpha-ethynylestradiol and nonylphenol. Aquatic Toxicology,
v. 66, p. 183-195, 2004.
WANG, Y. et al. Occurrence of endocrine-disrupting compounds in reclaimed water from Tianjin,
China. Anal. Bioanal. Chem., v. 383, p.857863, 2005.
WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for drinking-water quality: rst addendum to
third edition. Volume 1. Recommendations. WHO, 2006. 595 p.
______. Global assessment of the state-of-the-science of endocrine disruptors. Edited by Terri
Damstra, Sue Barlow, Aake Bergman, Robert Kavlock, Glen Van Der Kraak. International Program-
me on Chemical Safety, 2002.
YANG, L.; LUAN, T.; LAN, C. Solid-phase microextraction with on-ber silylation for simultaneous
determinations of endocrine disrupting chemicals and steroid hormones by gas chromatogra-
phymass spectrometry. Journal of Chromatography A, v. 1104, p. 23-32, 2006.
YOUNG, W.F. et al. Proposed predicted-no-effect-concentrations (PNECs) for natural and synthe-
tic steroid oestrogens in surface waters. R&D Technical Report P2-T04/1. Environment Agency,
Bristol, 2004.
ZHANG, Z.; HIBBERD, A.; ZHOU, J.L. Analysis of emerging contaminants in sewage efuent and
river water: comparison between spot and passive sampling. Anal. Chim. Acta, v. 607, n. 1, p.
37-44, 2008.
8.1 Introduo
Consumidores avaliam a qualidade da gua potvel distribuda por concessionrias de
saneamento por meio das percepes sensoriais de gosto, odor e cor. Uma gua que
apresenta caractersticas qumicas e biolgicas seguras em relao sade ser repro-
vada pelos consumidores se sua aparncia for insatisfatria (McGUIRE, 1995).
Nos ltimos anos tem havido um aumento no consumo de gua engarrafada para uso
como bebida, em detrimento da gua distribuda pela rede pblica. Este fenmeno
est ocorrendo mesmo que o custo da gua da rede de distribuio seja vrias ve-
zes inferior ao custo da gua envasada. Isto decorre principalmente da desconana
dos consumidores com a qualidade da gua potvel distribuda. Este sentimento no
ocorre apenas no Brasil, mas tambm em outros pases. Por exemplo, Jardine, Gibson
e Hrudey (1999) relatam que na regio de Toronto, Canad, 40% das residncias usam
fontes alternativas gua distribuda pela rede pblica.
A preocupao com a presena de substncias que causam gosto, odor e cor gua
potvel no nova (PERSSON, 1995). Este tema abordado por livros da rea sanitria
que remontam a vrias dcadas, podendo-se citar, por exemplo, Thresh, Beale e Su-
ckling (1933), Ehlers e Steel (1943), Hardenbergh (1945), McKinney (1962) e Fair, Geyer
e Okun (1971). Porm, a intensidade dos episdios de gosto e odor tm se acentuado
nos ltimos anos devido ao crescimento das cidades, do nmero de indstrias, da rea
8Remoo de Gosto e Odor em
Processos de Tratamento de gua
Antnio D. Benetti, Srgio J. De Luca, Luiz Fernando Cybis
de cultivo agrcola e da criao intensiva de animais. A falta de tratamento e de uma
disposio adequada para os rejeitos originados destas atividades resulta no descarte,
nos mananciais de gua, de substncias que favorecem, direta ou indiretamente, a
produo de compostos odorferos. A construo de reservatrios de gua tambm
contribui para o aumento da incidncia de episdios de gosto e odor devido s condi-
es ambientais favorveis que se desenvolvem ao crescimento de organismos planc-
tnicos na superfcie e produo de gases no fundo do lago formado.
Assim, o tema continua atual, sendo objeto de ateno por parte de publicaes vol-
tadas tanto para operadores de estaes de tratamento de gua (SARAI, 2006) como
para projetistas (MWH, 2005) e prossionais em geral (LETTERMAN, 1999). Avanos no
conhecimento relativos medio, controle e tratamento de gosto e odor tm sido
reportados em simpsios especializados (WATSON et al., 2007) e publicao conjunta
da American Water Works Association e Lyonnaise ds Eaux (SUFFET; MALLEVIALLE;
KAWCZYNSKI, 1995). Segundo Young et al. (1996), gosto e odor na gua tratada uma
das principais causas de reclamaes, por partes de consumidores, s companhias
de saneamento. No Brasil, relatos de gosto e odor na gua potvel e mananciais de
abastecimento tm sido reportados, por exemplo, por Ferreira Filho e Alves (2006) e
Bendati et al. (2005).
8.2 Origem e tipos de gosto e odor
Gosto e odor na gua potvel podem ter origem no manancial de abastecimento, no tra-
tamento e no sistema de distribuio da gua potvel (THOMPSON et al., 2007). No ma-
nancial, a origem pode ser natural ou antropognica. No tratamento e na distribuio,
compostos que conferem gosto e odor a gua podem ser introduzidos ou formados.
Muitos compostos qumicos de origem industrial podem contribuir diretamente para
gosto e odor na gua. Por outro lado, esgotos domsticos, euentes industriais e guas
de drenagem urbana e agrcola contm nutrientes que estimulam o crescimento de
organismos planctnicos e outras formas de matria orgnica. Produtos metablitos
de microrganismos e decomposio de matria orgnica presentes em mananciais de
abastecimento so fontes comuns de compostos causadores de gosto e odor na gua
potvel. Cianobactrias, microalgas e actinomicetos produzem substncias qumicas
como trans-1,10-dimetil-trans-9-decalol (geosmina) e 2-metilisoborneol (2-MIB) que
apresentam limiares de deteco da ordem de ng/L. Geosmina e 2-MIB esto entre os
principais responsveis pela presena de odores de terra e mofo em gua potvel. Na
Figura 8.1 so apresentadas as estruturas moleculares destes compostos. A Figura 8.2
mostra uma representao conceitual do processo de gerao de 2-MIB e geosmina
em guas naturais em decorrncia da poluio ambiental.
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 293
de cultivo agrcola e da criao intensiva de animais. A falta de tratamento e de uma
disposio adequada para os rejeitos originados destas atividades resulta no descarte,
nos mananciais de gua, de substncias que favorecem, direta ou indiretamente, a
produo de compostos odorferos. A construo de reservatrios de gua tambm
contribui para o aumento da incidncia de episdios de gosto e odor devido s condi-
es ambientais favorveis que se desenvolvem ao crescimento de organismos planc-
tnicos na superfcie e produo de gases no fundo do lago formado.
Assim, o tema continua atual, sendo objeto de ateno por parte de publicaes vol-
tadas tanto para operadores de estaes de tratamento de gua (SARAI, 2006) como
para projetistas (MWH, 2005) e prossionais em geral (LETTERMAN, 1999). Avanos no
conhecimento relativos medio, controle e tratamento de gosto e odor tm sido
reportados em simpsios especializados (WATSON et al., 2007) e publicao conjunta
da American Water Works Association e Lyonnaise ds Eaux (SUFFET; MALLEVIALLE;
KAWCZYNSKI, 1995). Segundo Young et al. (1996), gosto e odor na gua tratada uma
das principais causas de reclamaes, por partes de consumidores, s companhias
de saneamento. No Brasil, relatos de gosto e odor na gua potvel e mananciais de
abastecimento tm sido reportados, por exemplo, por Ferreira Filho e Alves (2006) e
Bendati et al. (2005).
8.2 Origem e tipos de gosto e odor
Gosto e odor na gua potvel podem ter origem no manancial de abastecimento, no tra-
tamento e no sistema de distribuio da gua potvel (THOMPSON et al., 2007). No ma-
nancial, a origem pode ser natural ou antropognica. No tratamento e na distribuio,
compostos que conferem gosto e odor a gua podem ser introduzidos ou formados.
Muitos compostos qumicos de origem industrial podem contribuir diretamente para
gosto e odor na gua. Por outro lado, esgotos domsticos, euentes industriais e guas
de drenagem urbana e agrcola contm nutrientes que estimulam o crescimento de
organismos planctnicos e outras formas de matria orgnica. Produtos metablitos
de microrganismos e decomposio de matria orgnica presentes em mananciais de
abastecimento so fontes comuns de compostos causadores de gosto e odor na gua
potvel. Cianobactrias, microalgas e actinomicetos produzem substncias qumicas
como trans-1,10-dimetil-trans-9-decalol (geosmina) e 2-metilisoborneol (2-MIB) que
apresentam limiares de deteco da ordem de ng/L. Geosmina e 2-MIB esto entre os
principais responsveis pela presena de odores de terra e mofo em gua potvel. Na
Figura 8.1 so apresentadas as estruturas moleculares destes compostos. A Figura 8.2
mostra uma representao conceitual do processo de gerao de 2-MIB e geosmina
em guas naturais em decorrncia da poluio ambiental.
GUAS 294
No hipolmnio de reservatrios e em guas subterrneas onde prevalecem condies ana-
erbias, bactrias obtm energia em reaes de reduo de sulfatos ( ) a sulfeto de
hidrognio (H
2
S), composto que confere gosto de ovo podre gua. O ambiente redutor
tambm favorece a ocorrncia das formas reduzidas (solveis) de ferro, mangans e nitro-
gnio (amnia), as quais tambm contribuem para a ocorrncia de gosto e odor na gua.
Compostos qumicos adicionados ou formados no tratamento e na rede de distribui-
o de gua tambm podem originar alteraes nas caractersticas organolpticas da
gua. Os compostos classicam-se em trs categorias (THOMPSON et al., 2007):
FONTE: MWH (2005).
Figura 8.1 Estrutura molecular da geosmina e 2-metilisoborneol
FONTE: ADAPTADO DE FREITAS; SIRTORI; PERALTA-ZAMORA (2008).
Figura 8.2
Representao conceitual de um processo de gerao de gosto e odor
em guas de abastecimento
SO
4
2
substncias que resultam da adio de compostos qumicos usados para
coagulao e desinfeco da gua, conferindo gosto e odor diretamente ou
atravs de formao de subprodutos;
desinfetantes adicionados para garantir um residual at os pontos de con-
sumo, podendo haver, tambm, formao de subprodutos;
substncias lixiviadas de materiais usados na rede de distribuio ou que
resultam da corroso de metais.
Duguet et al. (1995) relatam como os desinfetantes cloro, oznio, dixido de cloro e
cloroaminas e seus subprodutos podem contribuir para gosto e odor na gua potvel.
Burlingame e Anselme (1995) visualizam a rede de distribuio de gua como um rea-
tor no qual processos fsicos, qumicos e biolgicos ocorrem, com reexos na qualida-
de da gua. Corroso, formao de biolmes, deteriorao de revestimentos internos,
reservao da gua e permeabilidade das canalizaes difuso de contaminantes
externos so processos pelos quais a qualidade da gua pode ser alterada.
Suffet, Khiari e Bruchet (1999) enquadraram os compostos qumicos em funo dos
tipos de gosto e odor produzidos. Estes autores classicaram oito tipos de gosto e odor,
descritos como: (1) terra, mofo e bolor; (2) fragrncia: vegetais, frutas e ores; (3) grama,
feno, palha e madeira; (4) peixe; (5) pntano, sulfuroso, vegetao em decomposio e
sptico; (6) medicinal; (7) qumico, hidrocarboneto e miscelneo; (8) cloro, oznio.
8.3 Efeitos na sade
Em geral, a presena de gosto e odor na gua potvel considerada um problema
esttico, no trazendo, necessariamente, riscos sade da populao. Este enfoque se
reete nos padres de potabilidade para gosto e odor estabelecidos por vrios pases e
pela Organizao Mundial da Sade (OMS) (ver seo 8.4). Contudo, alguns contami-
nantes podem ser, ao mesmo tempo, txicos e causarem gosto e odor.
8.3.1 Efeitos diretos na sade
A OMS considera que a aceitabilidade de uma gua potvel geralmente comprome-
tida por aspectos organolpticos antes que ela apresente concentraes txicas que
possam colocar em risco a sade dos consumidores (WHO, 2004).
Alguns autores contestam a ideia de que a presena de gosto e odor na gua seja con-
siderada somente um problema esttico. Young et al. (1996) avaliaram os limiares de
deteco de gosto e de odor de 59 compostos orgnicos em testes sensoriais. Os limiares
foram comparados com os padres recomendados para gua potvel pela Agncia de
Proteo Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) e OMS. Entre os 59 compostos testados,
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 295
substncias que resultam da adio de compostos qumicos usados para
coagulao e desinfeco da gua, conferindo gosto e odor diretamente ou
atravs de formao de subprodutos;
desinfetantes adicionados para garantir um residual at os pontos de con-
sumo, podendo haver, tambm, formao de subprodutos;
substncias lixiviadas de materiais usados na rede de distribuio ou que
resultam da corroso de metais.
Duguet et al. (1995) relatam como os desinfetantes cloro, oznio, dixido de cloro e
cloroaminas e seus subprodutos podem contribuir para gosto e odor na gua potvel.
Burlingame e Anselme (1995) visualizam a rede de distribuio de gua como um rea-
tor no qual processos fsicos, qumicos e biolgicos ocorrem, com reexos na qualida-
de da gua. Corroso, formao de biolmes, deteriorao de revestimentos internos,
reservao da gua e permeabilidade das canalizaes difuso de contaminantes
externos so processos pelos quais a qualidade da gua pode ser alterada.
Suffet, Khiari e Bruchet (1999) enquadraram os compostos qumicos em funo dos
tipos de gosto e odor produzidos. Estes autores classicaram oito tipos de gosto e odor,
descritos como: (1) terra, mofo e bolor; (2) fragrncia: vegetais, frutas e ores; (3) grama,
feno, palha e madeira; (4) peixe; (5) pntano, sulfuroso, vegetao em decomposio e
sptico; (6) medicinal; (7) qumico, hidrocarboneto e miscelneo; (8) cloro, oznio.
8.3 Efeitos na sade
Em geral, a presena de gosto e odor na gua potvel considerada um problema
esttico, no trazendo, necessariamente, riscos sade da populao. Este enfoque se
reete nos padres de potabilidade para gosto e odor estabelecidos por vrios pases e
pela Organizao Mundial da Sade (OMS) (ver seo 8.4). Contudo, alguns contami-
nantes podem ser, ao mesmo tempo, txicos e causarem gosto e odor.
8.3.1 Efeitos diretos na sade
A OMS considera que a aceitabilidade de uma gua potvel geralmente comprome-
tida por aspectos organolpticos antes que ela apresente concentraes txicas que
possam colocar em risco a sade dos consumidores (WHO, 2004).
Alguns autores contestam a ideia de que a presena de gosto e odor na gua seja con-
siderada somente um problema esttico. Young et al. (1996) avaliaram os limiares de
deteco de gosto e de odor de 59 compostos orgnicos em testes sensoriais. Os limiares
foram comparados com os padres recomendados para gua potvel pela Agncia de
Proteo Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) e OMS. Entre os 59 compostos testados,
GUAS 296
21 eram pesticidas; destes, 11 tinham recomendaes de concentraes mximas, pela
EPA, pela OMS ou por ambas. Os limiares de odor de 10 dos 11 pesticidas apresentaram
concentraes superiores quelas recomendadas baseadas em proteo a sade. Alm
destes pesticidas, os compostos pentaclorofenol, 2,4,6-triclorofenol, benzeno, clorofr-
mio, 2-clorotolueno, tolueno e 1,1,1-tricloroetano tambm apresentaram limiares de
deteco de gosto ou odor acima das concentraes de proteo sade.
Observa-se que os compostos cujos limiares de deteco resultaram acima do re-
comendado baseado na sade so compostos industrializados. Segundo Izaguirre e
Devall (1995), nesta rea que as preocupaes com efeitos txicos e gosto e odor
mais se interpem. De acordo com estes autores, h muitos compostos txicos e can-
cergenos que tambm tornam a gua inaceitvel do ponto de vista organolptico.
De acordo com Jardine, Gibson e Hrudey (1999), h evidncias de que a presena de
odores anormais na gua potvel seja um indicador tambm da presena de substn-
cias que podem trazer riscos sade dos consumidores. Estes autores acreditam que
no h uma base convel para se assumir que a deteco de odores ocorrer sempre
a nveis inferiores aos de proteo sade. Desta forma, a deteco de odores na gua
potvel deve ser considerada como evidncia da presena de compostos indesejveis.
A concluso de que no h riscos sade somente poder ser feita aps a identica-
o dos compostos responsveis.
A orientao da OMS (WHO, 2004) que ocorrncias de gosto e odor na gua potvel
sejam investigadas, porque elas podem indicar a presena de alguma forma de po-
luio ou mal-funcionamento das operaes de tratamento e distribuio da gua,
podendo ser indicativo da presena potencial de compostos prejudiciais sade.
8.3.2 Efeitos indiretos na sade
Uma gua que apresente cor, gosto e odor rejeitada pelos consumidores mesmo
que as concentraes das substncias que originam estes problemas estejam abaixo
das concentraes com riscos sade. Em situaes crticas, a populao recorrer
a fontes que podem no ser seguras do ponto de vista sanitrio (THOMPSON et al.,
2007; WHO, 2004). No perodo de janeiro a abril de 2004, o lago Guaba, manancial
de abastecimento de gua da cidade de Porto Alegre, experimentou um episdio de
orao da cianobactria Planktothrix mougeotii. (BENDATI et al., 2005). A contagem
de cianobactrias atingiu valores prximos a 2,5 x 10
6
clulas/mL, tendo sido medidas
concentraes de 2-MIB de at 1.985 ng/L na gua bruta e 838 ng/L na gua tratada.
Considerando que o limiar de deteco de 2-MIB da ordem de 10 ng/L (FALCONER
et al., 1999), a gua distribuda apresentava gosto e odor fortes. O descontentamento
com a qualidade da gua distribuda na cidade foi abordado pela mdia, que canalizou
a insatisfao da populao (p. ex., MAGALHES, 2004). Durante o episdio, houve
aumento no uso de fontes alternativas de gua, embora no houvesse comprovao
de sua qualidade sanitria atravs de monitoramento (FONTES DE GUA, 2004).
A rejeio gua potvel apresenta um efeito indireto sobre a sade, pois os indivdu-
os podem reduzir a quantidade ingerida a um valor menor do que o necessrio para a
satisfao das suas necessidades siolgicas. Para elaborao das guias de qualidade
da gua, a OMS considera um consumo mdio de dois litros de gua por dia, por
adulto (WHO, 2004). Tambm, uma gua que contenha odores e gosto ofensivos ori-
gina efeitos psicossomticos, como dores de cabea, estresse e distrbios estomacais
(JARDINE; GIBSON; HRUDEY, 1999). Estes efeitos afetam de maneira especial certos
grupos de pessoas dentro do conjunto da populao, no devendo ser minimizados
pelas autoridades responsveis pela sade pblica.
8.4 Padres de potabilidade
Os padres nacionais e internacionais de potabilidade da gua reetem o fato de gos-
to e odor, assim como cor e aparncia, serem associados aceitabilidade da gua, no
a possveis efeitos txicos sade dos consumidores.
8.4.1 Brasil
A qualidade da gua potvel no Brasil regulada pela Portaria MS n 518/2004
(BRASIL, 2004). Esta portaria estabelece padres microbiolgicos, de turbidez, de po-
tabilidade para substncias qumicas que apresentam risco sade, de radioatividade
e de aceitao para consumo humano. Gosto e odor esto enquadrados na categoria
de padres de aceitao, sendo seus valores mximos permitidos (VMP) representados
pela expresso no objetvel, de acordo com o critrio de referncia. Todavia, este
critrio de referncia no estabelecido pela portaria. A expresso no objetvel pode
ter diferentes interpretaes, uma vez que os limiares de deteco de gosto e odor
variam entre as pessoas (APHA; AWWA; WEF, 2005).
8.4.2 Padres internacionais
A OMS no apresenta recomendaes quantitativas para constituintes que causem gos-
to e odor na gua sem que haja comprovao de efeitos diretos adversos sobre a sade.
Nos Estados Unidos, indicadores que apresentam efeitos classicados como estticos
(gosto e odor, cor e formao de espumas), cosmticos (descolorao de pele e dentes) e
tcnicos (corroso, deposio e incrustao) so recomendados como padres secund-
rios de qualidade da gua (USEPA, 1992). Isto signica que os contaminantes relaciona-
dos a estes efeitos tm seus padres atendidos de maneira voluntria.
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 297
a insatisfao da populao (p. ex., MAGALHES, 2004). Durante o episdio, houve
aumento no uso de fontes alternativas de gua, embora no houvesse comprovao
de sua qualidade sanitria atravs de monitoramento (FONTES DE GUA, 2004).
A rejeio gua potvel apresenta um efeito indireto sobre a sade, pois os indivdu-
os podem reduzir a quantidade ingerida a um valor menor do que o necessrio para a
satisfao das suas necessidades siolgicas. Para elaborao das guias de qualidade
da gua, a OMS considera um consumo mdio de dois litros de gua por dia, por
adulto (WHO, 2004). Tambm, uma gua que contenha odores e gosto ofensivos ori-
gina efeitos psicossomticos, como dores de cabea, estresse e distrbios estomacais
(JARDINE; GIBSON; HRUDEY, 1999). Estes efeitos afetam de maneira especial certos
grupos de pessoas dentro do conjunto da populao, no devendo ser minimizados
pelas autoridades responsveis pela sade pblica.
8.4 Padres de potabilidade
Os padres nacionais e internacionais de potabilidade da gua reetem o fato de gos-
to e odor, assim como cor e aparncia, serem associados aceitabilidade da gua, no
a possveis efeitos txicos sade dos consumidores.
8.4.1 Brasil
A qualidade da gua potvel no Brasil regulada pela Portaria MS n 518/2004
(BRASIL, 2004). Esta portaria estabelece padres microbiolgicos, de turbidez, de po-
tabilidade para substncias qumicas que apresentam risco sade, de radioatividade
e de aceitao para consumo humano. Gosto e odor esto enquadrados na categoria
de padres de aceitao, sendo seus valores mximos permitidos (VMP) representados
pela expresso no objetvel, de acordo com o critrio de referncia. Todavia, este
critrio de referncia no estabelecido pela portaria. A expresso no objetvel pode
ter diferentes interpretaes, uma vez que os limiares de deteco de gosto e odor
variam entre as pessoas (APHA; AWWA; WEF, 2005).
8.4.2 Padres internacionais
A OMS no apresenta recomendaes quantitativas para constituintes que causem gos-
to e odor na gua sem que haja comprovao de efeitos diretos adversos sobre a sade.
Nos Estados Unidos, indicadores que apresentam efeitos classicados como estticos
(gosto e odor, cor e formao de espumas), cosmticos (descolorao de pele e dentes) e
tcnicos (corroso, deposio e incrustao) so recomendados como padres secund-
rios de qualidade da gua (USEPA, 1992). Isto signica que os contaminantes relaciona-
dos a estes efeitos tm seus padres atendidos de maneira voluntria.
GUAS 298
Uma varivel frequentemente usada nas legislaes o Nmero Limiar de Odor, re-
presentado pela sigla NLO (a nomenclatura original do ingls TON - Threshold Odor
Number). O valor de NLO calculado de acordo com a Equao 8.1.
Equao 8.1
Sendo: A: volume de amostra (mL) B: volume de gua livre de odores (ml)
O NLO expressa a maior taxa de diluio na qual o odor inicialmente perceptvel. O tes-
te se baseia na diluio da amostra com gua sem nenhum odor. O menor NLO que pode
ocorrer 1, para o caso de uma amostra sem diluio. Neste caso, o resultado reporta-
do como nenhum odor observado. De acordo com Hoehn e Mallevialle (1995), um NLO
igual ou menor que 3 muito difcil de ser alcanado em locais com problemas crnicos
de gosto e odor na gua potvel. Todavia, este o valor recomendado por Suffet et al.
(1995) para garantir aceitabilidade pblica da gua distribuda. Um valor de NLO menor
ou igual a 3 o padro secundrio recomendado pela agncia americana de proteo
ambiental assim como Nova Zelndia (NEW ZELAND, 2005). A Comunidade Europia
sugere valores mximos de 2 e 3, para temperaturas de 12C e 25C, respectivamente
(SUFFET et al., 1995). A legislao japonesa no xa valores para o NLO, mas estabelece
concentraes mximas de 10 ng/L de 2-MIB e geosmina na gua potvel.
8.5 Controle na fonte atravs da proteo de mananciais
Problemas de gosto e odor podem ter origem no manancial de abastecimento de gua.
Fontes comuns so os compostos metablitos emitidos por microrganismos como
cianobactrias, gases formados pela decomposio anaerbia de matria orgnica e
contaminantes industriais descartados na bacia hidrogrca. Para a denio da linha
de atuao de um programa de preveno e atenuao da intensidade de ocorrncia
de episdios de gosto e odor, importante que se conhea as principais fontes na
bacia que possam contribuir para o problema.
8.5.1 Requisitos para programas de controle
Izaguirre e Devall (1995) sugerem quatro componentes para o controle na fonte de
problemas de gosto e odor.
Denio do problema: nesta etapa investiga-se se o problema tem origem na
fonte de abastecimento, na estao de tratamento ou no sistema de distribui-
o. Tambm, se o gosto e odor so de origem biolgica ou podem estar relacio-
nados a despejos industriais. Procura-se identicar o composto envolvido.
NLO= A+B
A
Inspeo sanitria: a inspeo sanitria na rea de drenagem do manancial
de abastecimento de gua tem a nalidade de identicar fontes de emisso
de contaminantes que possam contribuir, direta ou indiretamente, para a
ocorrncia de episdios de gosto e odor.
Estratgias de controle: este componente do programa envolve a denio
de medidas a serem tomadas para o controle das causas de gosto e odor.
Monitoramento: um programa de monitoramento regular essencial para
acompanhamento da qualidade da gua, para avaliao das medidas de con-
trole e para alertar com antecedncia sobre o surgimento de condies pro-
pcias para o desenvolvimento de episdios de gosto e odor.
8.5.2 Estratgias de controle de nutrientes
Em geral, programas de controle de fontes de poluio tambm tero efeitos positi-
vos em relao a gosto e odor. Em uma bacia hidrogrca, os principais nutrientes,
nitrognio e fsforo, esto presentes em fontes pontuais e difusas. Muitas ciano-
bactrias possuem a capacidade de xar nitrognio; desta forma, podem crescer em
ambientes aquticos com decincia deste nutriente. Fsforo tem propenso a se
adsorver a sedimentos e se depositar com eles no fundo de reservatrios. Sob con-
dies anaerbias que se desenvolvem no hipolmnio, este fsforo solubilizado e
poder chegar superfcie do lago ou reservatrio quando ocorrer a desestraticao
da coluna de gua.
Tcnicas de manejo para controle de ambientes eutrozados so apresentados em
detalhe, em captulo especco da publicao do Prosab 4 (GOMES; AZEVEDO, 2006).
8.6 Remoo de gosto e odor
em processos de tratamento de gua
Os processos de tratamento usados para remoo de gosto e odor se classicam em duas
categorias: (1) os que destroem ou modicam os compostos responsveis pelo problema,
e (2) os que removem os compostos da gua (HOEHN; MALLEAVILLE, 1995). Processos
de oxidao enquadram-se no primeiro grupo, enquanto aerao e adsoro em carvo
ativado pertencem ao segundo. Processos biolgicos incluem mecanismos que envolvem
transformao e remoo, desta forma classicam-se em ambas as categorias.
A escolha dos processos mais adequados, assim como os pontos de adio de produtos
qumicos, otimizada por meio de ensaios em planta piloto e jartestes, uma vez que
as caractersticas da gua de abastecimento tem grande inuncia na efetividade dos
processos de tratamento (Di BERNARDO; DANTAS, 2005).
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 299
Inspeo sanitria: a inspeo sanitria na rea de drenagem do manancial
de abastecimento de gua tem a nalidade de identicar fontes de emisso
de contaminantes que possam contribuir, direta ou indiretamente, para a
ocorrncia de episdios de gosto e odor.
Estratgias de controle: este componente do programa envolve a denio
de medidas a serem tomadas para o controle das causas de gosto e odor.
Monitoramento: um programa de monitoramento regular essencial para
acompanhamento da qualidade da gua, para avaliao das medidas de con-
trole e para alertar com antecedncia sobre o surgimento de condies pro-
pcias para o desenvolvimento de episdios de gosto e odor.
8.5.2 Estratgias de controle de nutrientes
Em geral, programas de controle de fontes de poluio tambm tero efeitos positi-
vos em relao a gosto e odor. Em uma bacia hidrogrca, os principais nutrientes,
nitrognio e fsforo, esto presentes em fontes pontuais e difusas. Muitas ciano-
bactrias possuem a capacidade de xar nitrognio; desta forma, podem crescer em
ambientes aquticos com decincia deste nutriente. Fsforo tem propenso a se
adsorver a sedimentos e se depositar com eles no fundo de reservatrios. Sob con-
dies anaerbias que se desenvolvem no hipolmnio, este fsforo solubilizado e
poder chegar superfcie do lago ou reservatrio quando ocorrer a desestraticao
da coluna de gua.
Tcnicas de manejo para controle de ambientes eutrozados so apresentados em
detalhe, em captulo especco da publicao do Prosab 4 (GOMES; AZEVEDO, 2006).
8.6 Remoo de gosto e odor
em processos de tratamento de gua
Os processos de tratamento usados para remoo de gosto e odor se classicam em duas
categorias: (1) os que destroem ou modicam os compostos responsveis pelo problema,
e (2) os que removem os compostos da gua (HOEHN; MALLEAVILLE, 1995). Processos
de oxidao enquadram-se no primeiro grupo, enquanto aerao e adsoro em carvo
ativado pertencem ao segundo. Processos biolgicos incluem mecanismos que envolvem
transformao e remoo, desta forma classicam-se em ambas as categorias.
A escolha dos processos mais adequados, assim como os pontos de adio de produtos
qumicos, otimizada por meio de ensaios em planta piloto e jartestes, uma vez que
as caractersticas da gua de abastecimento tem grande inuncia na efetividade dos
processos de tratamento (Di BERNARDO; DANTAS, 2005).
GUAS 300
A Tabela 8.1 apresenta processos de tratamento que so considerados geralmente
ecientes na remoo de compostos que causam problemas estticos, entre os quais,
gosto e odor.
8.6.1 Coagulao, oculao, decantao, otao
Os processos de tratamento constitudos por coagulao, oculao, decantao, l-
trao e ps-clorao so pouco ecientes na remoo de muitos compostos que
causam gosto e odor na gua (HOEHN; MALLEAVIALLE, 1995; DUGUET et al., 1995;
WESTERHOFF et al., 2005; MOORE; WATSON, 2007).
Em relao otao por ar dissolvido (FAD), Hargesheimer e Watson (1996) obser-
varam que a ecincia de remoo de carbono orgnico total (COT) deste processo foi
equivalente a da sedimentao gravitacional convencional durante perodos regulares
de qualidade de gua. Contudo, durante episdios de orao de toplncton, a FAD
atingiu remoes signicativamente maiores que a sedimentao convencional. Nes-
tes perodos, a maior parte do COT esteve associada frao particulada, a qual teve
maior remoo por otao que sedimentao convencional.
8.6.2 Filtrao granular
A ltrao em meio granular objetiva remover material particulado da gua, tais como
precipitados de alumnio ou ferro usados na coagulao, partculas de argila, silte
e microrganismos (CLEASBY; LOGSDON, 1999). Desta forma, compostos dissolvidos
odorferos tm remoo apenas residual na ltrao granular. No caso particular de
ltros lentos de areia, desenvolve-se, junto superfcie, uma camada biolgica que
pode contribuir para a oxidao de compostos odorferos. Rittmann, Gantzer e Montiel
(1995) observaram que os NLOs da gua do rio Seine, em Paris, eram reduzidos de 8 a
10 para 2 a 4 aps passar, em sequncia, por ltros rpido e lento de areia.
8.6.3 Oxidao qumica e biolgica
Os processos de oxidao qumica e biolgica objetivam a converso de compostos
indesejveis presentes na gua, em outros de caractersticas mais aceitveis.
8.6.3.1 Oxidao qumica
Os agentes oxidantes usados no tratamento de gua incluem, dentre outros, cloro e
cloroaminas, dixido de cloro, permanganato de potssio e oznio. Nos ltimos anos, a
potencial utilizao de Processos Oxidativos Avanados (POA) no tratamento de gua
tem sido objeto de pesquisa.
1) Cloro e cloroaminas: cloro e cloroaminas possuem a capacidade de remover certos
compostos que causam gosto e odor, mas, ao mesmo tempo, so capazes de produzir
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 301
T
a
b
e
l
a
8
.
1
>
E
f
e
t
i
v
i
d
a
d
e
d
e
p
r
o
c
e
s
s
o
s
d
e
t
r
a
t
a
m
e
n
t
o
p
a
r
a
r
e
m
o
o
d
e
c
o
m
p
o
s
t
o
s
s
o
l
v
e
i
s
q
u
e
a
f
e
t
a
m
a
a
c
e
i
t
a
b
i
l
i
d
a
d
e
d
a
g
u
a
p
a
r
a
c
o
n
s
u
m
o
h
u
m
a
n
o
C
O
N
T
A
M
I
N
A
N
T
E
P
R
O
C
E
S
S
O
S
D
E
M
E
M
B
R
A
N
A
T
R
O
C
A
I
N
I
C
A
A
D
S
O
R
O
A e r a o e d e s s o r o
C o a g u l a o , s e d i m e n t a o
o u o t a o , l t r a o
F i l t r o d e t e r r a d i a t o m c e a
A b r a n d a m e n t o c o m c a l
O x i d a o q u m i c a e d e s i n f e c o
N a n o l t r a o
O s m o s e r e v e r s a
E l e t r o d i l i s e
n i o n
C t i o n
C a r v o a t i v a d o g r a n u l a r
C a r v o a t i v a d o e m p
A l u m i n a a t i v a d a
D
u
r
e
z
a
X
X
X
X
X
F
e
r
r
o
X
O
X
O
X
X
M
a
n
g
a
n
s
X
O
X
O
X
X
S
l
i
d
o
s
d
i
s
s
o
l
v
i
d
o
s
t
o
t
a
i
s
X
X
C
l
o
r
e
t
o
s
X
X
S
u
l
f
a
t
o
X
X
X
Z
i
n
c
o
X
X
X
X
C
o
r
X
X
X
X
X
X
G
o
s
t
o
e
o
d
o
r
X
X
X
X
X
O
P
R
O
C
E
S
S
O
A
P
R
O
P
R
I
A
D
O
Q
U
A
N
D
O
U
S
A
D
O
E
M
C
O
N
J
U
N
T
O
C
O
M
O
X
I
D
A
O
.
F
O
N
T
E
:
L
O
G
S
D
O
N
;
H
E
S
S
;
H
O
R
S
L
E
Y
(
1
9
9
9
)
.
GUAS 302
compostos por reaes com a matria orgnica de guas de abastecimento. Estudos
realizados por Bartels, Brady e Suffet (1989) apud MWH (2005) demonstraram que o
cloro eciente na remoo de odores caractersticos de ambientes anaerbios (spti-
co, vegetao em decomposio, pantanoso e similares a peixes). Porm, ineciente
na remoo de compostos causadores de odores de terra e mofo, caractersticos das
substncias 2-MIB e geosmina. O cloro pode tambm formar subprodutos como alde-
dos, clorofenis e trihalometanos. Muitos destes subprodutos so odorantes, como o
iodofrmio e o bromofrmio, ambos com odores caractersticos medicinais.
2) Dixido de cloro: dixido de cloro um gs voltil que escapa da gua quando
esta agitada. No ar, ClO
2
prontamente detectado. Na gua potvel, concentraes
abaixo de 0,2 ppm no so percebidas. Hoehn et al. (1990) descobriram que o dixido
de cloro pode formar, em ambientes fechados, compostos com cheiro de querosene e
de urina de gato. Este problema pode ocorrer, por exemplo, quando o dixido de cloro,
ao ser liberado da gua pela abertura de uma torneira, encontra compostos orgnicos
volteis no ar ambiente, como os emitidos por carpetes e solventes de limpeza.
Em geral, o dixido de cloro considerado pouco eciente na remoo de lcoois
e aldedos causadores de gosto e odor no tratamento de gua. O uso de dixido de
cloro tem aumentado devido s restries relativas formao de trihalometanos
na desinfeco com cloro. Todavia, formam-se, como subprodutos, os ons clorito
( ) e clorato ( ). Na rede de distribuio de gua, o on clorito reage com
cloro residual livre para formar novamente dixido de cloro (HOEHN et al., 1990;
SARAI, 2006).
3) Permanganato de potssio: as principais aplicaes de permanganato de pots-
sio no tratamento de gua so: (1) oxidao de ferro e mangans, (2) oxidao de
compostos que causam gosto e odor, (3) controle do crescimento de microalgas e
biolmes nas estruturas de captao de gua, e (4) controle da formao de trihalo-
metanos e outros subprodutos da desinfeco (MWH, 2005). Em relao oxidao
de 2-MIB e geosmina, o permanganato de potssio pouco eciente, porm capaz
de remover compostos que conferem odores de peixe e grama a gua, tais como
sulfetos de metila. O grande uso de permanganato no tratamento de gua na oxi-
dao de mangans solvel, caracterstico de ambientes redutores como hipolmnio
de reservatrios e guas subterrneas.
4) Oznio: as principais aplicaes de oznio no tratamento de gua so: (1) desinfec-
o, (2) oxidao de ferro e mangans, (3) oxidao de sulfetos, (4) oxidao de com-
postos causadores de gosto e odor, (5) oxidao de microcontaminantes orgnicos,
(6) remoo de cor, (7) controle de precursores de subprodutos da desinfeco, e (8)
reduo da demanda de cloro atravs da oxidao (MWH, 2005).
ClO
2
ClO
3
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 303
A oxidao com oznio forma subprodutos como aldedos, cetonas e cidos carboxli-
cos. Em especial, aldedos conferem gosto e odor gua potvel, com caractersticas
descritas como frutoso (GRAMITH, 1995).
5) Processos oxidativos avanados: os radicais hidroxila formados nas reaes de pro-
cessos oxidativos avanados (POA) permitem, em muitos casos, a completa degradao
de compostos causadores de gosto e odor, orgnicos volteis e pesticidas. Freitas, Sitori
e Peralta-Zamora (2008) realizaram experimentos de degradao de 2-MIB e geosmina
utilizando processos oxidativos avanados, obtendo remoes de at 80%.
8.6.3.2 Oxidao biolgica
A utilizao de microrganismos para oxidao de matria orgnica biodegradvel em
processos de tratamento de gua geralmente ocorre em reatores de biomassa aderida,
em leito xo ou uidizado. Exemplos incluem os ltros lentos de areia, carvo ativado
granular e reatores de manta de lodo.
A oxidao da matria orgnica biodegradvel e dos compostos inorgnicos produz
uma gua que biologicamente estvel. Esta condio muito favorvel, pois elimina
os substratos que propiciam o crescimento de biolmes nas redes de distribuio de
gua. Estes biolmes esto associados ao surgimento de problemas de qualidade da
gua que podem chegar torneira dos consumidores, como aumento de turbidez,
corroso, gosto, odor e presena de coliformes.
8.6.4 Adsoro em carvo ativado
Adsoro em carvo ativado em p (CAP) ou granular (CAG) consistentemente ci-
tada como um dos processos indicados para a remoo de compostos causadores
de gosto e odor na gua (HOEHN; MALLEVIALLE, 1995; SNOEYINK; SUMMERS, 1999;
WHO, 2004; MWH, 2005). Adsoro envolve a acumulao de uma substncia que se
encontra dissolvida na gua na interface com o slido.
MWH (2005) cita as vantagens e desvantagens da adio de carvo ativado em p em
quatro pontos do sistema de tratamento de gua: (1) junto tomada de gua, (2) no
tanque de mistura rpida, (3) na entrada do ltro, e (4) em reator de contato entre
a suspenso de carvo em p e gua bruta, precedendo a mistura rpida. Destes, o
menos indicado a entrada do ltro, pois h a possibilidade de passagem do carvo
pelo meio granular, comprometendo a qualidade do euente. Baseados em estudos
realizados, Graham et al. (2000) apud MWH (2005) recomendam que a aplicao de
CAP seja feita antes da coagulao.
A performance da ltrao em carvo ativado granular inuenciada pela distribuio
do tamanho de partculas, pela lavagem em contra-corrente e pela carga hidrulica. O
GUAS 304
tamanho de partculas inuencia a taxa de adsoro e a perda de carga no ltro. A la-
vagem de ltros de carvo diminui sua ecincia e desintegra a zona de transferncia
de massa do ltro (ZTM a extenso do leito granular necessria para a transferncia
do contaminante do lquido para o carvo). A carga hidrulica afeta a perda de carga
no ltro. O CAG deve ser usado aps a ltrao granular convencional, devendo rece-
ber somente guas de baixa turbidez.
8.6.5 Aerao e dessoro gasosa
Aerao e dessoro gasosa so processos fsicos aplicados com as nalidades de ab-
soro ou remoo de gases para/ou da gua. Estes processos tm vrias aplicaes no
tratamento de gua, tais como a absoro de O
3
e Cl
2
e a dessoro de CO
2
e H
2
S.
Os processos de aerao e dessoro baseiam-se na repartio de equilbrio do con-
taminante entre as fases gasosa e aquosa (Equao 8.2). A repartio de equilbrio de
um gs ou contaminante orgnico voltil entre o ar e a gua descrito pela Lei de
Henry (Equao 8.3).
Equao 8.2
Equao 8.3
Sendo:
k
eq
: constante de Henry {A}
ar
: atividade do composto A na fase gasosa (ar)
{A}
aq
: atividade do componente A na fase aquosa
A atividade de um gs no ar pode ser aproximada pela presso parcial do gs. Na gua, a
concentrao ativa dada pelo produto entre o coeciente de atividade e a concentrao
molar do composto. Em solues diludas, o coeciente de atividade aproximado para 1.
Equao 8.4
Sendo:
P
A
: presso parcial do gs [atm]
[atm]: coeciente de atividade de A [-]
[A]: concentrao molar de A na fase aquosa [mol/L]
A constante de equilbrio k
eq
denominada constante de Henry. Na forma da Equao
8.4, as unidades da constante de Henry so atm/M, ou atmL/mol. Valores da constan-
te de Henry para compostos orgnicos volteis e gases so encontrados, por exemplo,
em Hand, Hokansom e Crittenden (1999) e Nazaroff e Alvarez-Cohen (2001).
A
aq
A
gas
K
eq
= {A}
gas
{A}
aq
K
eq
= P
A
g
A
x [ A ]
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 305
Aerao um processo simples que pode ser usado para remoo de compostos como
sulfeto de hidrognio. O sistema de aerao pode ser instalado antes da coagulao
qumica, com as nalidades de remoo de H
2
S e compostos orgnicos volteis e, ao
mesmo tempo, saturar a gua com oxignio.
8.6.6 Filtrao em membranas
A tecnologia de separao por membranas e suas aplicaes no tratamento de
gua apresentada por Mierzwa (2006). Dependendo da capacidade e da forma
de separao dos contaminantes, e do tipo e intensidade da fora motriz utiliza-
da, os processos so classificados em microfiltrao, ultrafiltrao, nanofiltrao,
osmose reversa e eletrodilise. Nos quatro primeiros, a presso hidrulica fora a
passagem do lquido pelas membranas, ficando retidas partculas com tamanhos
que excedam o dimetro dos poros. Na eletrodilise, a fora motriz de separao
a corrente eltrica.
A aplicao de sistemas de membranas ao tratamento de gua teve incio no comeo
da dcada de 1960, com o uso de osmose reversa para dessalinizao de gua do mar.
Nas dcadas seguintes, iniciaram-se aplicaes da nanoltrao para remoo de du-
reza de guas subterrneas no Estado da Flrida, EUA, e remoo de cor de guas de
abastecimento originadas de regies de turfas, na Noruega.
Os processos de membrana que utilizam presso hidrulica podem ser classicados
em funo do tamanho de seus poros e tipos de compostos removidos (Tabela 8.2).
Tabela 8.2 > Tipos de ltrao por membranas usadas no tratamento de gua
(1)
TIPO DE FILTRAO TAMANHO DE POROS (M) EXEMPLOS DE COMPOSTOS RETIDOS
Microltrao 0,15
Partculas, sedimentos, bactrias,
protozorios, algas
Ultraltrao 0,0010,1 Pequenos colides, vrus
Nanoltrao < 0,001
Matria orgnica dissolvida,
ons divalentes (Ca
+2
, Mg
+2
)
Osmose reversa < 0,001 ons monovalentes (Na
+
, Cl
-
)
(1) MEMBRANAS QUE UTILIZAM PRESSO HIDRULICA COMO FORA MOTRIZ.
FONTE: MIERZWA (2006); MWH (2005).
8.6.7 Recomendaes
Em relao remoo de compostos orgnicos responsveis pela presena de gosto
e odor na gua potvel, os processos de aerao, adsoro em carvo ativado (p ou
granular) e oxidao com oznio so geralmente efetivos (WHO, 2004).
GUAS 306
Hoehn e Mallevialle (1995) avaliam que, para os casos mais problemticos de gosto
e odor, as melhores tcnicas para remoo so a oxidao com oznio e a adsoro
em colunas de carvo ativado granular. Estas tcnicas podem ser precedidas pelo ar-
mazenamento da gua em aquferos. Todavia, estes processos esto fora da rotina da
maioria de estaes de tratamento de gua. Para estes casos, os autores apresentam
algumas generalizaes para servirem de guias para a soluo de problemas de gosto
e odor. Algumas destas recomendaes so:
propiciar o maior tempo de contato possvel do oxidante (p. ex.: cloro, di-
xido de cloro, permanganato) e de carvo ativado em p com a gua;
a matria orgnica natural, mesmo que no contribua diretamente para
gosto e odor, interfere com o tratamento, pelo aumento na demanda de
cloro, pela reduo da capacidade do carvo em remover compostos odo-
rferos e pela possvel formao de odores que no estavam originalmente
presentes na gua;
os oxidantes no devem ser adicionados gua ao mesmo tempo em que
o carvo ativado em p, pois haver oxidao da superfcie do CAP, reduzin-
do sua capacidade adsortiva. Por sua vez, o oxidante ter sua concentrao
reduzida ou eliminada devido reao com o carvo;
carvo ativado em p deve ser adicionado o mais cedo possvel ao trata-
mento, mesmo havendo reduo em sua capacidade adsortiva pela matria
orgnica original presente na gua;
decantadores de manta de lodo permitem o acmulo de carvo ativado em
p a concentraes que so vrias vezes aquela adicionada a gua, possi-
bilitando um tempo de contato muito maior que aquele proporcionado por
decantadores convencionais.
8.7 Procedimentos em situaes de crise
Em algumas ocasies a fonte de abastecimento poder experimentar alteraes intensas
na qualidade da gua. A intensidade e a frequncia destes episdios devem ser cuida-
dosamente estudadas, reportadas e armazenadas pela concessionria dos servios de
saneamento, pois ajudaro nas decises futuras quando estes eventos se repetirem.
A variao na qualidade da gua do manancial poder se estender ou no gua po-
tvel, dependendo da capacidade dos processos de tratamento existentes em remover
os contaminantes ao nvel considerado seguro para consumo. No caso de episdios de
gosto e odor causados por compostos como 2-MIB e geosmina, o mais usual que a
gua seja rejeitada mais por razes estticas do que pela presena de compostos que
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 307
tragam risco imediato sade. Desta forma, muito importante que os servios de
saneamento estabeleam planos de emergncia para os perodos crticos de qualidade
da gua do manancial. Estes planos devem conter protocolos para avaliao e diag-
nstico da qualidade da gua para subsidiarem tomadas de deciso com o objetivo de
controlar o problema. Estas medidas devem se inserir no contexto do Plano de Segu-
rana da gua do sistema de abastecimento.
A variao de qualidade da gua do manancial poder ser devida a compostos origi-
nados do metabolismo dos microrganismos ou por compostos qumicos especcos
descartados de maneira irregular por indstrias. Tambm possvel que haja aciden-
tes que causem derramamentos de substncias indesejveis na gua. Estes acidentes
podem ocorrer em plantas industriais, em estaes de tratamento de guas residu-
rias ou em vias de transporte rodovirio, ferrovirio e hidrovirio. Boleda et al. (2007)
relatam episdios de contaminao de fontes de gua supercial e subterrnea da
cidade de Barcelona, na Espanha, por despejos de creosoto, 2-EDD, diacetil e diciclo-
pentadienos. Estudos cromatogrcos permitiram identicar a origem dos despejos
como sendo de indstrias de preservao de madeira, de resinas qumicas, de papel e
descarte de gasolina no solo, respectivamente.
A determinao da causa do evento de gosto e odor importante, pois muitas subs-
tncias, alm de conferirem estas caractersticas gua, tambm so txicas. No caso
de substncias txicas estarem presentes em concentraes que colocam em risco
sade da populao, dever ser tomada uma deciso de interromper o suprimento
de gua potvel de modo temporrio at que o corpo dgua volte a apresentar qua-
lidade segura. Para o caso de compostos que causem rejeio gua, mas que no
sejam txicos aos nveis presentes no manancial, as concessionrias devero encon-
trar alternativas para minimizar os transtornos trazidos pela situao, sem que haja a
descontinuidade do servio de abastecimento de gua potvel.
8.7.1 Gosto e odor com origem na qualidade da gua do manancial
Neste caso, podem ser usadas alternativas para evitar a captao de gua que se en-
contra contaminada e/ou aplicar tcnicas de tratamento de gua que possam remover
os compostos causadores de gosto e odor.
8.7.1.1 Alternativas baseadas na captao de gua
Estas alternativas incluem: (1) manejo da gua em lagos e reservatrios, (2) diluio da
gua contendo compostos odorferos com guas sem a presena destes compostos, e
(3) derivao de gua de outra fonte.
O manejo da gua no reservatrio pode se dar de diversas maneiras. Uma a toma-
da seletiva de gua em nveis onde ela apresenta melhor qualidade. Outro enfoque
GUAS 308
objetiva desfazer a desestraticao das camadas de gua de modo a proporcionar
a mistura de guas de melhor qualidade com outras mais crticas, onde poder estar
a tomada de gua, dentro do mesmo manancial. A tcnica de aerao do hipolmnio
busca oxigenar a camada mais funda do reservatrio, eliminando odores devidos
presena de sulfeto de hidrognio, amnia, ferro e mangans. Libnio et al. (2005)
relatam o caso em que a aplicao da tcnica de injeo de ar junto a tomada de gua
de um curso dgua eutrozado permitiu a reduo em mais de 70% da dosagem de
carvo ativado em p requerida para remover gosto e odor da gua potvel.
A diluio de guas, na qual uma fonte contendo compostos odorferos misturada
com outra, sem a presena destes compostos, resulta em uma gua diluda que poder
ter nveis aceitveis de substncias que causam gosto e odor. A terceira opo igual-
mente pressupe a existncia de manancial alternativo, possibilitando que a fonte afe-
tada por um episdio agudo de gosto e odor seja temporariamente posta fora de uso.
8.7.1.2 Alternativas baseadas em processos de tratamento da gua
A deciso sobre qual mtodo mais apropriado para debelar um episdio de gosto e
odor envolve ensaios de laboratrio e testes em plantas piloto (MATIA, 1995). Eles so
muito teis porque podem simular episdios de gosto e odor fazendo uso da mesma
gua que ser tratada na estao de tratamento em escala real.
Em uma publicao destinada a operadores de estaes de tratamento de gua, Sarai
(2006) recomenda os mtodos de aerao, oxidao e adsoro. Os oxidantes citados
so permanganato de potssio, cloro, dixido de cloro e oznio. Este autor apresenta
uma tabela onde, a partir do problema detectado, sugere possveis causas e solues.
A tabela representa a experincia acumulada na operao do sistema de abastecimen-
to de gua da regio do autor. Cada concessionria poder preparar sua prpria tabela
baseada no histrico dos eventos de gosto e odor da regio onde atua.
Um enfoque usando mltiplas barreiras foi implantado na regio de Phoenix, Arizona
(EUA), visando reduzir problemas crnicos de gosto e odor na rea (BAKER; WES-
TERHOFF; SOMMERFELD, 2006). Dezoito medidas de controle foram avaliadas com
relao viabilidade tcnica, limitaes econmicas, legais e institucionais e potencial
global. Estas alternativas incluram: (1) controle de nutrientes na bacia hidrogrca,
(2) manejo da gua nos reservatrios, (3) manejo da gua nos canais adutores de gua,
e (4) manejo na estao de tratamento de gua.
Em todos os casos, importante que se busque a experincia adquirida por outras
concessionrias que tenham enfrentado problemas severos de gosto e odor na gua
potvel, assim como auxlio junto a agncias governamentais de suporte tcnico e
universidades. Na regio de Ontrio, Canad, uma sequncia de episdios graves de
gosto e odor na gua potvel trouxe preocupaes generalizadas por parte da popu-
lao sobre a qualidade da gua que estava sendo distribuda. A partir destes eventos,
organizou-se um consrcio entre as municipalidades afetadas, agncias governamen-
tais e universidades locais com a nalidade de facilitar a troca de experincias, supor-
tar pesquisas e melhorar a comunicao com os consumidores. A experincia deste
consrcio tem sido descrita como muito positiva (MOORE; WATSON, 2007).
8.7.2 Gosto e odor com origem
no sistema de distribuio de gua potvel
Gosto e odor podem ter origem no sistema de abastecimento de gua potvel. V-
rios fatores podem contribuir para isto, como corroso, desenvolvimento de biolmes
e difuso de contaminantes pelas paredes das canalizaes. Burlingame e Anselme
(1995) apresentam tabelas onde so descritas causas de episdios de gosto e odor nos
sistemas de distribuio e sugerem possveis solues.
Uma ferramenta prtica para uso na soluo de problemas de gosto e odor na gua
potvel foi desenvolvida por McGuire, Hund e Burlingame (2005). A ferramenta ba-
seia-se em uma rvore de deciso que, atravs de um protocolo, guia o prossional no
sentido de descrever o gosto e o odor, determinar sua origem, proceder a investigao
e identicar possveis solues.
8.8 Contribuio do Prosab em estudos de remoo
de gosto e odor no tratamento de gua
O Instituto de Pesquisas Hidrulicas (IPH), da Universidade Federal d Rio Grande do Sul
(UFRGS), realizou experimentos nos quais foram testados seis operaes e processos
unitrios para a remoo de gosto e odor de guas de abastecimento. As operaes e
processos estudados foram aerao e dessoro por ar, separao por membrana de
nanoltrao, adsoro em carvo ativado e oxidao qumica e biolgica. Os estu-
dos se concentraram nos contaminantes 2-metilisoborneol e geosmina, comuns em
eventos de orao que ocorrem sazonalmente nos mananciais de gua da cidade
de Porto Alegre (BENDATI et al., 2005; STEFENS; ZAT; BENETTI, 2008). A metodologia
de anlise de 2-MIB e geosmina foi a de Microextrao em Fase Slida (SPME) com
identicao e quanticao em Cromatgrafo Gs com Espectrmetro de Massa
(CGEM). As condies de implementao da metodologia encontram-se descritas na
seo de anexo desta publicao.
Prottipos dos sistemas de aerao, dessoro gasosa e separao por membrana de na-
noltrao foram construdos na ETA Lomba do Sabo, de propriedade do Departamento
Municipal de gua e Esgotos de Porto Alegre. Os experimentos com oxidao e adsoro
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 309
gosto e odor na gua potvel trouxe preocupaes generalizadas por parte da popu-
lao sobre a qualidade da gua que estava sendo distribuda. A partir destes eventos,
organizou-se um consrcio entre as municipalidades afetadas, agncias governamen-
tais e universidades locais com a nalidade de facilitar a troca de experincias, supor-
tar pesquisas e melhorar a comunicao com os consumidores. A experincia deste
consrcio tem sido descrita como muito positiva (MOORE; WATSON, 2007).
8.7.2 Gosto e odor com origem
no sistema de distribuio de gua potvel
Gosto e odor podem ter origem no sistema de abastecimento de gua potvel. V-
rios fatores podem contribuir para isto, como corroso, desenvolvimento de biolmes
e difuso de contaminantes pelas paredes das canalizaes. Burlingame e Anselme
(1995) apresentam tabelas onde so descritas causas de episdios de gosto e odor nos
sistemas de distribuio e sugerem possveis solues.
Uma ferramenta prtica para uso na soluo de problemas de gosto e odor na gua
potvel foi desenvolvida por McGuire, Hund e Burlingame (2005). A ferramenta ba-
seia-se em uma rvore de deciso que, atravs de um protocolo, guia o prossional no
sentido de descrever o gosto e o odor, determinar sua origem, proceder a investigao
e identicar possveis solues.
8.8 Contribuio do Prosab em estudos de remoo
de gosto e odor no tratamento de gua
O Instituto de Pesquisas Hidrulicas (IPH), da Universidade Federal d Rio Grande do Sul
(UFRGS), realizou experimentos nos quais foram testados seis operaes e processos
unitrios para a remoo de gosto e odor de guas de abastecimento. As operaes e
processos estudados foram aerao e dessoro por ar, separao por membrana de
nanoltrao, adsoro em carvo ativado e oxidao qumica e biolgica. Os estu-
dos se concentraram nos contaminantes 2-metilisoborneol e geosmina, comuns em
eventos de orao que ocorrem sazonalmente nos mananciais de gua da cidade
de Porto Alegre (BENDATI et al., 2005; STEFENS; ZAT; BENETTI, 2008). A metodologia
de anlise de 2-MIB e geosmina foi a de Microextrao em Fase Slida (SPME) com
identicao e quanticao em Cromatgrafo Gs com Espectrmetro de Massa
(CGEM). As condies de implementao da metodologia encontram-se descritas na
seo de anexo desta publicao.
Prottipos dos sistemas de aerao, dessoro gasosa e separao por membrana de na-
noltrao foram construdos na ETA Lomba do Sabo, de propriedade do Departamento
Municipal de gua e Esgotos de Porto Alegre. Os experimentos com oxidao e adsoro
GUAS 310
por carvo foram realizados no Labora-
trio de Saneamento Ambiental do IPH.
8.8.1 Aerao
Foi utilizado um sistema de aerao
do tipo cascata constitudo por qua-
tro plataformas circulares de acrlico
com dimetros entre 0,20 e 1,20 m.
As plataformas eram separadas pela
altura de 0,25 m (Figura 8.3). Neste
sistema, cria-se uma turbulncia com
aumento signicativo da interface ar-
gua. Atravs desta interface, gases
e compostos volteis dissolvidos na
gua se transferem para o ar. Tambm
possvel a oxidao de compostos na
forma reduzida que se encontram dis-
solvidos na gua.
A gua auente ao aerador era tomada
junto captao da ETA, sendo condu-
zida por recalque at um reservatrio de 2.500 L. No seu caminho, a gua passava por
um ltro de areia do tipo piscina com rea de 0,19 m e um ltro tipo Y para reteno
de partculas maiores que 100 m. A gua do reservatrio era contaminada individu-
almente com cerca de 1.200 ng/L de 2-MIB e geosmina. Por bombeamento, a gua
seguia ao aerador em cascata, sendo o euente coletado em reservatrio. O aerador
em cascata foi operado com taxas de aplicao superciais de 5,1, 7,7 e 10,2 m
3
/m
2
d,
temperatura ambiente.
Nas Tabelas 8.3 e 8.4, so apresentadas as concentraes de 2-MIB e geosmina me-
didas no auente e euente ao sistema de cascata em dez experimentos realizados
ao longo de 35 dias. As remoes mdias de 2-MIB e geosmina variaram entre 25% e
28% e 29% e 34%, respectivamente.
8.8.2 Dessoro por ar
O prottipo constitudo por uma torre construda em acrlico, com dimetro e altura
de 0,20 e 2 m, respectivamente. A torre foi preenchida com anis de plstico Pall Rings
com dimetro de 16 mm (5/8). O sistema operava em regime de contra-corrente, com
a gua contaminada com 2-MIB e geosmina entrando na parte superior da torre e o ar
ingressando em sua parte inferior. A gua auente tinha a mesma origem do sistema
FONTE: ZAT (2008).
Figura 8.3 Prottipo de aerador tipo cascata
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 311
de cascata. As vazes de ar e gua eram medidas em rotmetros, sendo o ar introdu-
zido por meio de um compressor operando a presso de 2 bar. A Figura 8.4 ilustra o
prottipo da torre de dessoro gasosa.
Tabela 8.3 > Concentraes de 2-MIB no auente e euente do sistema de aerao em cascata
CONCENTRAO
(ng/L)
TAXA DE APLICAO SUPERFICIAL (m
3
/m
2
d)
5,1 7,7 10,2
Auente Euente Auente Euente Auente Euente
Mdia 1173 879 1160 846 1166 836
DP 28 43 57 75 37 71
Mnimo 1102 808 1125 734 1119 708
Mximo 1215 981 1297 1030 1234 984
n 10 10 10 10 10 10
DP = DESVIO PADRO. N = NMERO DE REPETIES DOS EXPERIMENTOS.
FONTE: ADAPTADO DE ZAT (2008).
FONTE: ZAT (2008).
Figura 8.4 Prottipo da torre de dessoro por ar
GUAS 312
Tabela 8.4 > Concentraes de geosmina no auente e euente do sistema de aerao em cascata
CONCENTRAO
(ng/L)
TAXA DE APLICAO SUPERFICIAL (m
3
/m
2
d)
5,1 7,7 10,2
Auente Euente Auente Euente Auente Euente
Mdia 1091 778 1106 749 1092 716
DP 33 25 65 64 42 44
Mnimo 1056 752 1040 670 1064 624
Mximo 1167 829 1237 908 1208 807
n 10 10 9 9 10 10
FONTE: ADAPTADO DE ZAT (2008).
O prottipo de dessoro foi operado com razes volume de ar: gua de 5,9; 7,9 e
11,9 m
3
/m
3
. Nas Tabelas 8.5 e 8.6 so mostradas as concentraes de 2-MIB e geos-
mina medidas no auente e euente do sistema de dessoro em dez experimentos
realizados ao longo de 25 dias. As remoes mdias de 2-MIB e geosmina variaram
entre 10% e 25% e 18% a 35%, respectivamente.
Tabela 8.5 > Concentraes de 2-MIB no auente e euente da torre de dessoro gasosa
CONCENTRAO
(NG/L)
AFLUENTE EFLUENTE
Razo ar : gua
5,9 7,9 11,9
Mdia 1163 878 984 1044
DP 78 42 101 60
Mnimo 1008 839 863 922
Mximo 1297 983 1222 1107
n 10 10 10 10
FONTE: ADAPTADO DE ZAT (2008).
Tabela 8.6 > Concentraes de geosmina no auente e euente da torre de dessoro gasosa
CONCENTRAO (ng/L) AFLUENTE EFLUENTE
Razo ar : gua
5,9 7,9 11,9
Mdia 1163 756 868 958
DP 78 40 91 71
Mnimo 1008 687 732 830
Mximo 1297 825 1072 1048
n 10 10 10 10
FONTE: ADAPTADO DE ZAT (2008).
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 313
Observa-se, dos resultados obtidos em um nmero limitado de experimentos, que os
processos de aerao e dessoro apresentaram remoes relativamente baixas de
2-MIB e geosmina. Isto pode ser compreendido considerando-se que as constantes
de Henry para estes compostos so, respectivamente, 5,76 x 10
-5
atmm
3
/mol e 6,66 x
10
-5
atmm
3
/mol (WESTERHOFF et al., 2005). Em geral, considera-se que os processos
de aerao e dessoro so mais efetivos para compostos com constantes de Henry
maiores que 10
-4
atmm
3
/mol (NAZAROFF; ALVAREZ-COHEN, 2001) (10
-3
atmm
3
/mol,
de acordo com LALEZARY et al., 1984). Mesmo apresentando remoes baixas, durante
os testes observou-se forte odor caracterstico de 2-MIB e geosmina no ar. Isto sugere
que estes compostos, se presentes na gua potvel, podero ser sentidos tambm na
abertura de aparelhos sanitrios como chuveiros, vasos sanitrios e torneiras.
8.8.3 Separao em membrana de nanoltrao
A opo pelo uso de um sistema com membrana de nanoltrao deveu-se sua
capacidade de remover matria orgnica dissolvida (MIERZWA, 2006; MWH, 2005;
SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001). A membrana de nanoltrao utilizada era da mar-
ca Osmonics, tipo DK4040F, enrolada em espiral e com peso molecular de corte de
aproximadamente 150-300 Daltons. A membrana armazenada no interior de um
vaso de presso. Constitui ainda o prottipo, uma bomba centrfuga multiestgio,
FONTE: ZAT (2008).
Figura 8.5 Prottipo do sistema de membrana de nanoltrao
GUAS 314
manmetros, vlvula solenide com controlador digital para limpeza do sistema, me-
didores de vazes do permeado e concentrado, painel eltrico e conexes, tubulaes
e vlvulas. A Figura 8.5 ilustra o prottipo instalado.
O prottipo de membranas operou em batelada durante um perodo de 30 dias, ao longo dos
quais foram tomadas 11 amostras do auente e euente. O sistema operou com vazo de
4,0 L/min, correspondendo a uma taxa de 28 L/hm
2
e presso de 8 a 9 psi. O auente ao sis-
tema era o mesmo dos prottipos de aerao e dessoro. Os resultados medidos so apre-
sentados na Tabela 8.7. Observa-se que a nanoltrao obteve consistentes remoes de
2-MIB (97%) e geosmina (96%). Tambm os desvios padres foram relativamente baixos.
Tabela 8.7 > Concentraes de 2-MIB e geosmina medidos nos experimentos de nanoltrao
CONCENTRAO (ng/L) MIB GEOSMINA
Auente Euente Auente Euente
Mdia 1184 31 1146 49
DP 19 6 27 9
Mximo 1197 43 1168 59
Mnimo 1138 23 1087 32
n 11 11 11 11
FONTE: ADAPTADO DE ZAT (2008).
8.8.4 Adsoro em carvo ativado
Os ensaios de adsoro foram realizados com carves de osso, madeira e coco, escolhidos
de acordo com a experincia do grupo no trabalho desenvolvido no Prosab 4 (BRANDO;
SILVA, 2006). Os carves foram caracterizados em relao a granulometria, ao nmero de
iodo, rea supercial BET e distribuio de tamanho de poros (Tabela 8.8). Nestes ensaios,
os carves de madeira e osso apresentaram as caractersticas mais favorveis.
Tabela 8.8 > Caracterizao dos carves utilizados nos ensaios de adsoro
MATRIA-
PRIMA
GRANULOMETRIA
(# 325)
1
NMERO DE
IODO
(mgl2/g)
2
SUPERFCIE
BET
(m2/g)
DISTRIBUIO DO VOLUME DE POROS
Microporos
(% prim.)
Mesoporos Macroporos
Madeira 98,3 902,6 718 86 (80) 12 2
Coco 98,1 947 1315 82 (77) 16 2
Osso 64 127,1 131 22 (19) 52 26
1
PERCENTUAL QUE PASSA NA PENEIRA DE 325 MESH DE ACORDO COM PROCEDIMENTO DA MB3412 (ABNT, 1991A).
2
ENSAIO REALIZADO DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DA MB3410 (ABNT, 1991B).
FONTE: JULIANO (2008).
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 315
FONTE: JULIANO (2008).
FONTE: JULIANO (2008).
Figura 8.6 Tempo de equilbrio dos carves utilizados
Figura 8.7 Concentraes residuais de 2-MIB aps tempo de equilbrio dos carves
C
o
n
c
e
n
t
r
a
o
(
n
g
/
L
)
R
e
s
i
d
u
a
l
d
e
M
I
B
(
n
g
/
L
)
Tempo de contato (h)
Dose de carvo ativado (mg/L)
GUAS 316
Seguindo-se a caracterizao dos carves, foram realizados ensaios com o objetivo de
determinar os respectivos tempos de equilbrio em relao adsoro dos compostos
2-MIB e geosmina. Os resultados so mostrados na Figura 8.6. Observa-se que as
condies de equilbrio foram alcanadas no tempo de duas horas para os carves de
madeira e coco, e 12 horas para o de osso.
Os ensaios de adsoro foram realizados usando-se os tempos de equilbrio medidos
para cada carvo, concentraes de 2-MIB e geosmina de 1.200 ng/L e dosagens de
carvo ativado de zero a 50 mg/L. As amostras foram preparadas em gua destilada.
A Tabela 8.9 mostra as concentraes remanescentes dos compostos nos tempos de
equilbrio dos respectivos carves. As concentraes de 10 ng/L so alcanadas pelos
carves de madeira (2-MIB) e coco (geosmina), com doses de 50 mg/L. Dez ng/L so
aproximadamente os limiares de deteco dos compostos. A Figura 8.7 ilustra o resi-
dual de 2-MIB em funo da dose de carvo ativado.
Devem ser considerados dois fatores nestes resultados. O primeiro que os testes
foram realizados usando gua destilada. guas captadas em fontes de abastecimento
possuem matria orgnica dissolvida que competiro com 2-MIB e geosmina pelos
stios de adsoro, aumentando as dosagens requeridas de carvo ativado para alcan-
ar as concentraes desejadas daqueles compostos. O segundo fator que deve ser
destacado que nem toda a remoo de 2-MIB e geosmina necessariamente tem que
recair sobre o carvo ativado. Outros processos dentro da ETA podem contribuir para
esta remoo, embora a nveis menores.
Tabela 8.9 > Concentraes residuais de equilbrio de 2-MIB e geosmina aps tempo de equilbrio
DOSE (mg/L)
MADEIRA COCO OSSO
2-MIB Geosmina 2-MIB Geosmina 2-MIB Geosmina
0 1157 1105 1155 1089 1162 1084
5 203 156 220 85 295 287
10 137 101 79 51 114 101
15 78 64 47 24 72 70
20 35 56 39 18 68 66
30 18 48 36 18 65 63
50 10 32 15 10 62 67
FONTE: JULIANO (2008).
8.8.5 Oxidao qumica
Testes de oxidao qumica dos compostos 2-MIB e geosmina foram realizados com
os oxidantes permanganato de potssio (KMnO
4
), hipoclorito de sdio (NaOCl) e di-
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 317
cloroisocianurato de sdio (NaDCC). Os testes em reatores de uxo contnuo foram
realizados em dois reatores de chicanas, de 1.000 L cada, com vazo constante de
10 L/min. O auente ao primeiro reator, gua de torneira, era contaminada com 2-MIB
e geosmina; ao entrar no segundo reator, a gua contaminada recebia a adio do
oxidante. Foram realizadas quatro repeties de ensaios para cada oxidante. Os testes
tiveram durao de 7 horas cada, sendo coletadas amostras nos tempos 4 e 7 horas.
A Figura 8.8 ilustra os reatores usados nos testes de oxidao, enquanto que a Tabela
8.10 mostra as condies de realizao dos ensaios.
Tabela 8.10 > Condies de realizao dos testes de oxidao qumica no reator de uxo contnuo
ENSAIO OXIDANTE (mg/L) CONTAMINANTE (ng/L)
Permanganato
de potssio
Hipoclorito
de sdio
Dicloroisocia-nurato
de sdio
2-MIB Geosmina
1 1 - - 24 24
2 1 - - 80 80
3 1 - - 80 80
4 1 - - 120 120
5 - 1 - 24 24
6 - 1 - 80 80
7 - 1 - 80 80
8 - 1 - 120 120
9 - - 1 24 24
10 - - 1 80 80
11 - - 1 80 80
12 - - 1 120 120
FONTE: STEFENS (2008).
Figura 8.8 Ilustrao da estao piloto para os testes com oxidao qumica
FONTE: STEFENS (2008).
GUAS 318
Nas Tabelas 8.11 e 8.12 so mostradas as concentraes de 2-MIB e geosmina nos
euentes do reator de uxo contnuo, assim como as remoes percentuais. Constata-
se que a oxidao destes compostos pelos oxidantes permanganato de potssio, hi-
poclorito de sdio e dicloroisocianurato de sdio foi reduzida, variando de 2% a 35%
para 2-MIB e 6% a 52% para geosmina. Chama a ateno a grande variabilidade nos
resultados obtidos. Geosmina e 2-MIB so lcoois tercirios, os quais se caracterizam
por serem resistentes a oxidao. Dos ensaios realizados, conclui-se que h necessida-
de de compostos com maior potencial de oxidao que os usados nestes experimentos
para que o processo tenha maior ecincia.
Tabela 8.11 > Remoes e concentraes de 2-MIB no euente de reator de uxo contnuo
EXPERIMENTO CONCENTRAO (ng/L) REMOO (%)
Auente Euente
4 h 7 h 4 h 7 h
1 24 21 16 15 35
2 80 77 68 4 15
3 80 79 73 2 9
4 120 118 112 2 7
5 24 22 18 10 25
6 80 76 71 5 12
7 80 76 70 5 13
8 120 116 112 4 7
9 24 22 18 8 25
10 80 74 69 8 14
11 80 73 69 9 14
12 120 116 110 4 9
FONTE: ADAPTADO DE STEFENS (2008).
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 319
Tabela 8.12 > Remoes e concentraes de geosmina no euente de reator de uxo contnuo
EXPERIMENTO CONCENTRAO (ng/L) REMOO (%)
Auente Euente
4 h 7 h 4 h 7 h
1 24 16 12 33 52
2 80 72 62 10 23
3 80 74 68 8 15
4 120 113 107 6 11
5 24 18 15 27 40
6 80 75 67 7 16
7 80 74 67 8 16
8 120 111 106 8 12
9 24 17 13 29 46
10 80 72 66 11 18
11 80 68 65 16 19
12 120 111 105 8 13
FONTE: ADAPTADO DE STEFENS (2008).
Alm dos ensaios de uxo contnuo, foram tambm realizados testes em reatores est-
ticos (jartestes). Os resultados conrmaram a reduzida oxidao de 2-MIB e geosmina
com os oxidantes testados.
8.8.6 Oxidao biolgica
Nesta etapa da pesquisa, foram isoladas culturas de bactrias capazes de utilizar
2-MIB e geosmina como fonte de carbono nos seus metabolismos, de acordo com o
procedimento descrito por Lauderdale, Aldrich e Lindner (2004). A seguir, as culturas
isoladas foram caracterizadas quanto s suas formas, colorao Gram e provas bio-
qumicas diversas. Na Tabela 8.13 so apresentadas as formas e colorao Gram das
bactrias isoladas.
Finalmente, foram realizados ensaios de oxidao biolgica, onde 2-MIB e geosmi-
na foram utilizados como substratos nicos para as bactrias isoladas. O tempo de
durao dos ensaios foi de 48 horas. A Figura 8.9 mostra os resultados dos testes de
biodegradao realizados com as bactrias isoladas. Em todos os casos, as bactrias
removeram entre 58% a 86% de 2-MIB e geosmina. Os isolados 1 e 5 removeram mais
de 80% dos compostos em 48 horas.
GUAS 320
Tabela 8.13 > Caracterizao das sete bactrias capazes de degradar 2-MIB e geosmina,
isoladas do lago Guaba
BACTRIAS FORMA DAS CLULAS COLORAO DE GRAM
M1 bacilo curto +
M2 bacilo curto +
M3 bacilo +
M4 bacilo com cpsula +
M5 bacilo curto +
M6 bacilo com endosporo +
M7 bacilo com endosporo +
FONTE: ADAPTADO DE JULIANO (2008).
Os resultados obtidos nestes experimentos sugerem que existe um potencial para o
uso de bactrias na biodegradao de 2-MIB e geosmina no tratamento de gua con-
taminada com estes compostos. Em realidade, no ambiente, estas bactrias j atuam
na decomposio daqueles compostos durante os eventos sazonais de oraes de
cianobactrias.
8.8.7 Concluses principais dos experimentos
realizados pelo IPH-UFRGS
As principais concluses em relao ao potencial dos processos estudados para a remo-
o dos compostos odorferos 2-metilisoborneol e geosmina so apresentados a seguir.
FONTE: JULIANO (2008).
Figura 8.9
Percentagem de remoo de 2-MIB e geosmina pelas bactrias isoladas
do lago Guaba, em 48 horas
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 321
Aerao em aerador tipo cascata e torre de dessoro gasosa
Os resultados dos experimentos no foram satisfatrios no sentido de se alcanar uma
reduo substancial de 2-MIB e geosmina da gua. Isto se deve ao fato destes com-
postos serem semivolteis, de acordo com os valores de suas constantes de Henry. No
entanto, houve a percepo, por olfato, da presena destes compostos no ar ao longo
dos experimentos. Isto signica que uma gua contendo 2-MIB e geosmina poder ser
sentida pelos usurios, por exemplo, durante banhos de chuveiros.
Outra observao com relao aos sistemas de aerao que eles, embora limitados
na remoo de 2-MIB e geosmina, podero ser ecientes para a reduo de compostos
como o sulfeto de hidrognio. Outros compostos que podero ser beneciados por ae-
rao so os ctions divalentes, principalmente o ferro, o qual pode ser oxidado a sua
forma insolvel Fe(III), vindo a ser removido da gua por sedimentao e ltrao.
Filtrao em membrana de nanoltrao
Este sistema foi operado por um perodo limitado de tempo, aproximadamente um
ms. Isto signica que h necessidade de ensaios mais extensivos com esta tecno-
logia, visando coletar mais informaes referentes a frequncia de lavagens, volume
de rejeitos, presso de operao e outras variveis operacionais. Nos experimentos
realizados, a ltrao em membrana de nanoltrao produziu excelentes resultados
no que diz respeito remoo de 2-MIB e geosmina, com ecincias superiores a 95%.
Outros compostos orgnicos dissolvidos tambm podero se beneciar da nanoltra-
o, considerando o baixo peso molecular de corte das membranas.
Oxidao qumica
Os trs oxidantes testados, permanganato de potssio, hipoclorito de sdio e diclo-
roisocianurato de sdio apresentaram capacidade bastante limitada para oxidao de
2-MIB e geosmina. Por serem lcoois tercirios, estes compostos apresentam uma re-
lativa resistncia oxidao. H referncias relatando a oxidao de 2-MIB e geosmina
por compostos com maior potencial de oxidao, como o oznio e outros compostos
usados em processos oxidativos avanados. Contudo, testes com estes oxidantes no
foram realizados nesta pesquisa.
Adsoro em carvo atiado
Carvo ativado mostrou-se capaz de reduzir concentraes de 2-MIB e geosmina de
1.200 ng/L para abaixo do limiar de deteco, 10 ng/L. O tempo requerido para se
alcanar tal reduo foi de duas horas, que foi tambm o tempo de equilbrio dos car-
ves testados com maior capacidade adsortiva. Ressalte-se, no entanto, alguns aspec-
tos. O primeiro que os testes foram realizados com gua destilada contaminada com
2-MIB e geosmina, isto , no havia competidores pelos stios de adsoro. O segundo
GUAS 322
aspecto que nem todos os carves possuem as mesmas capacidades de adsoro e
tempo de equilbrio. Assim, o tipo de carvo a ser utilizado dever ser determinado a
partir de ensaios de laboratrio. Tambm, o tempo de contato uma varivel que afeta
o grau com que as substncias sero removidas da soluo.
Carvo ativado muito utilizado pelas companhias de saneamento em perodos em que
as guas de abastecimento apresentam qualidade mais crtica. uma tcnica robusta,
no sentido de que eciente na remoo de muitos compostos orgnicos indesejveis
da gua. Contudo, seu uso deve ser precedido de testes de adsoro e tempo de contato
para haver segurana de que um lote de uma determinada marca de carvo ativado ir
realmente funcionar para os contaminantes presentes numa gua especca.
Oxidao biolgica de MIB e geosmina
Nesta pesquisa foram identicadas sete culturas de bactrias, isoladas do lago Guaba,
com capacidade para usarem 2-MIB e geosmina como nicas fontes de substrato no
metabolismo. Algumas destas bactrias removeram mais de 80% da concentrao ini-
cial de 2-MIB e geosmina em um perodo de 48 horas. Isto sugere um potencial de uti-
lizao da oxidao biolgica, por exemplo, associada adsoro em carvo ativado.
Um aspecto importante a ser considerado com relao a esta tecnologia a preferncia
das bactrias pelos substratos. Por exemplo, havendo outras fontes de carbono orgnico,
preferiro as bactrias o uso de 2-MIB e geosmina ou tero preferncia por estes outros
compostos? Isto no foi respondido com os testes realizados nesta pesquisa, que subme-
teu as culturas puras a 2-MIB e geosmina como nicas fontes de carbono.
Claramente, h maior necessidade de pesquisa com esta tecnologia, mas ela guarda
um potencial importante no sentido de que se possa aumentar a remoo de carbono
orgnico da gua dentro da estao de tratamento. Isto possibilitaria minimizar a
formao de biolmes nos sistemas de distribuio de gua que, por si prprios, so
fontes causadoras de problemas de gosto e odor na gua potvel.
Referncias bibliogrcas
APHA/AWWA/WEF - AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION; AMERICAN WATER WORKS AS-
SOCIATION; WATER ENVIRONMENT FEDERATION. Standard methods for the examination of water
and wastewater. 21 ed. Washington, D.C., 2005. (2150 B. Threshold Odor Test; 2160 B. Flavor
Threshold Test).
ABNT - ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. MB 3412: carvo ativado pulverizado
determinao granulomtrica. Mtodo de ensaio. Rio de Janeiro, 1991A.
______. MB 3410: carvo ativado pulverizado determinao do Nmero de Iodo. Mtodo de
ensaio. Rio de Janeiro, 1991B.
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 323
BAKER, L.A.; WESTERHOFF, P.; SOMMERFELD, M. Adaptive management using multiple barriers to
control tastes and odors. Journal American Water Works Association, v. 98, n. 6, p. 113-126, 2006.
BENDATI, M.M. et al. Ocorrncia de orao de cianobactria Planktothrix mougeotii no lago
Guaba em 2004: atuao do DMAE no abastecimento pblico. In: 23 CONGRESSO BRASILEIRO
DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL. 2005, Campo Grande. Anais... Rio de Janeiro: ABES,
2005. CD.
BOLEDA, M.R. et al. A review of taste and odour events in Barcelonas drinking water area (1990
2004). Water Science and Technology, v. 55, n. 5, p. 217-221, 2007.
BRANDO, C.C.S.; SILVA, A.S. Remoo de cianotoxinas por adsoro em carvo ativado. In: P-
DUA, V.L. (coord.) Contribuio ao estudo da remoo de cianobactrias e microcontaminantes
orgnicos por meio de tcnicas de tratamento de gua para consumo humano. Rio de Janeiro:
ABES, 2006. p. 415-465.
BRASIL. MINISTRIO DA SADE. Portaria MS n 518. Estabelece os procedimentos e responsa-
bilidades relativos ao controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo humano e seu
padro de potabilidade, e d outras providncias. Dirio Ocial da Unio, 26 mar. 2004.
BURLINGAME, G.A.; ANSELME, C. Distribution system tastes and odors. In: SUFFET, I.H.; MALLE-
VILLE, J.; KAWCZYNSKI, E. (eds.) Advances in taste-and-odor treatment and control. Denver: Ame-
rican Water Works Association Research Foundation and Lyonnaise des Eaux, 1995. p. 281-319.
CLEASBY, J.L.; LOGSDON, G.S. Granular bed and precoat ltration. In: LETTERMAN, R.D. (ed.). Wa-
ter quality and treatment: a handbook of community water supplies. 5. ed. New York: McGraw-
Hill/AWWA, 1999. p. 8.1-8.99.
DI BERNARDO, L.; DANTAS, A.D.B. Mtodos e tcnicas de tratamento de gua. 2. ed. So Carlos:
RiMA, 2005.
DUGUET, J.-P. et al. Oxidation processes: chlorine and chloramines. In: SUFFET, I.H.; MALLEVILLE,
J.; KAWCZYNSKI, E. (eds.) Advances in taste-and-odor treatment and control. Denver: American
Water Works Association Research Foundation and Lyonnaise des Eaux; 1995. p. 75-107.
EHLERS, V.M.; STEEL, E.W. Municipal and rural sanitation. 3. ed. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1943.
FAIR, G.M.; GEYER, J.C.; OKUN, D.A. Elements of water supply and wastewater disposal. 2. ed.
Nova Iorque: John Wiley, 1971.
FALCONER, I. et al. Safe levels and safe practices. In: CHORUS, I.; BARTRAM, J. (ed.). Toxic cya-
nobacteria in water: a guide to their public health consequences, monitoring and management.
Londres: Taylor & Francis/WHO, 1999. p. 155-178.
FERREIRA FILHO, S.S.; ALVES, R. Tcnicas de avaliao de gosto e odor em guas de abastecimen-
to: mtodo analtico, anlise sensorial e percepo dos consumidores. Engenharia Sanitria e
Ambiental, v. 11, n. 4, p. 362-370, out./dez. 2006.
FONTES DE GUA atraem las na Capital. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, p. 32, 18 mar. 2004.
FREITAS, A.M.; SIRTORI, C.; PERALTA-ZAMORA, P.G. Avaliao do potencial de processos oxidati-
vos avanados para remediao de guas contaminadas com geosmina e 2-MIB. Qumica Nova,
GUAS 324
v. 31, n. 1, p. 75-78, 2008.
GOMES, L.N.L.; AZEVEDO, S.M.F.O. Tcnicas de manejo e pr-tratamento no manancial. In: PDUA,
V.L. (coord.). Contribuio ao estudo da remoo de cianobactrias e microcontaminantes org-
nicos por meio de tcnicas de tratamento de gua para consumo humano. Rio de Janeiro: ABES,
2006. p. 141-171.
GRAMITH, J.T. Oxidation processes: ozone. In: SUFFET, I.H.; MALLEVILLE, J.; KAWCZYNSKI, E. (eds.)
Advances in taste-and-odor treatment and control. Denver: American Water Works Association
Research Foundation and Lyonnaise des Eaux, 1995. p. 123-144.
HAND, D.W.; HOKANSOM, D.R.; CRITTENDEN, J.C. Air stripping and aeration. In: LETTERMAN, R.D.
(ed.). Water quality and treatment: a handbook of community water supplies. 5. ed. Nova Iorque:
McGraw-Hill/AWWA, 1999. p. 5.1-5-68.
HARDENBERGH, W.A. Water supply and purication. 2. ed. Scranton: International Textbook, 1945.
HARGESHEIMER, E.E.; WATSON, S.B. Drinking water treatment options for taste and odor control.
Water Research, v. 30, n. 6, p. 1423-1430, 1996.
HOEHN, R.C. et al. Household odors associated with the use of chlorine dioxide. Journal American
Water Works Association, v. 82, n. 4, p. 166-172, 1990.
HOEHN, R.; MALLEVIALLE, J. Treatment trains. In: SUFFET, I.H.; MALLEVIALLE, J.; KAWCZYNSKI, E.
(eds.) Advances in taste-and-odor treatment and control. Denver: American Water Works Asso-
ciation Research Foundation and Lyonnaise des Eaux, 1995. p. 351-385.
IZAGUIRRE, G.; DEVALL, J. Resource control for management of taste-and-odor problems. In:
SUFFET, I.H.; MALLEVILLE, J.; KAWCZYNSKI, E. (eds.). Advances in taste-and-odor treatment and
control. Denver: American Water Works Association Research Foundation and Lyonnaise des
Eaux, 1995. p. 23-74.
JARDINE, C.G.; GIBSON, N.; HRUDEY, S.E. Detection of odour and health risk perception of drinking
water. Water Science and Technology, v. 40, n. 6, p. 91-98, 1999.
JULIANO, V.B. Relatrio nal de atividades do sub-projeto remoo de substncias que causam
gosto e odor (2-metilisoborneol e geosmina) em gua atravs de carvo ativado e oxidao biol-
gica. Porto Alegre: IPH/UFRGS, 2008.
LALEZARY, S. et al. Air stripping of taste and odor compounds from water. Journal American
Water Works Association, v. 76, n. 3, p. 83-87, 2004.
LAUDERDALE, C.V., ALDRICH, H.C., LINDNER, A.S. Isolation and characterization of a bacterium
capable of removing taste and odor causing 2-methylisoborneol from water. Water Research, v.
38, n. 19, p. 4135-4142, 2004.
LETTERMAN, R.D. (ed.) Water quality and treatment: a handbook of community water supplies. 5.
ed. Nova Iorque: McGraw-Hill/AWWA, 1999.
LIBNIO, M. et al. Avaliao do impacto da presena de sabor e odor no custo operacional de
estao de tratamento de gua. In: 23 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E
AMBIENTAL. 2005, Campo Grande. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2005. CD.
REMOO DE GOSTO E ODOR EM PROCESSOS DE TRATAMENTO DE GUA 325
LOGSDON, G.; HESS, A.; HORSLEY, M. Guide to selection of water treatment processes. In: LET-
TERMAN, R.D. (Ed.). Water quality and treatment: a handbook of community water supplies. 5. ed.
Nova Iorque: McGraw-Hill/AWWA, 1999. p. 3.1-3.26.
MAGALHES, C. Aumenta descontentamento com gosto da gua. Jornal Zero Hora, Porto Alegre,
p. 38, 16 mar. 2004.
MATIA, L. Treatment of tastes in drinking water: causes and control. In: SUFFET, I.H.; MALLEVILLE,
J.; KAWCZYNSKI, E. (eds.). Advances in taste-and-odor treatment and control. Denver: American
Water Works Association Research Foundation and Lyonnaise des Eaux, 1995. p. 247-279.
McGUIRE, M. Off-avor as the consumers measure of drinking water safety. Water Science and
Technology, v. 31, n. 11, p.1-8, 1995.
McGUIRE, M.J.; HUND, R.; BURLINGAME, G. A practical decision tree tool that water utilities can
use to solve taste and odor problems. Journal of Water Supply, Research and Technology AQUA,
v. 54, n. 5, p. 321-327, 2005.
McKINNEY, R.E. Microbiology for sanitary engineers. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1962.
MIERZWA, J.C. Processos de separao por membranas para tratamento de gua. In: PDUA, V.L.
(coord.). Contribuio ao estudo da remoo de cianobactrias e microcontaminantes orgnicos
por meio de tcnicas de tratamento de gua para consumo humano. Rio de Janeiro: ABES, 2006.
p. 335-380.
MOORE, L.F. WATSON, S.B. The Ontario Water Works Consortium: a functional model of source water
management and understanding. Water Science and Technology, v. 55, n. 5, p. 195-201, 2007.
MWH MONTGOMERY WATSON HARZA. Water treatment: principles and design. 2. ed. Hoboken,
NJ: Wiley, 2005.
NAZAROFF, W.W.; ALVAREZ-COHEN, L. Environmental engineering science. Nova Iorque: Wiley, 2001.
NEW ZELAND. Ministry of Health. Drinking water standards for New Zeland. Wellington, 2005.
Disponvel em: <http://www.moh.govt.nz> Acesso em: 10 jul. 2008.
PERSSON, P.-E. 19th century and early 20th century studies on aquatic off-avors: a historical
review. Water Science and Technology, v. 31, n. 11, p. 9-13, 1995.
RITTMANN, B.E.; GANTZER, C.J.; MONTIEL, A. Biological treatment to control taste-and-odor
compounds in drinking water treatment. In: SUFFET, I.H.; MALLEVILLE, J.; KAWCZYNSKI, E. (eds.)
Advances in taste-and-odor treatment and control. Denver: American Water Works Association
Research Foundation and Lyonnaise des Eaux, 1995. p. 209-246.
SARAI, D.S. Water treatment made simple for operators. Hoboken, NJ: Wiley, 2006.
SCHNEIDER, R.P.; TSUTIYA, M.T. Membranas ltrantes para o tratamento de gua, esgoto e gua
de reuso. So Paulo: ABES, 2001.
SNOEYINK, V.L.; SUMMERS, R.S. Adsorption of organic compounds. In: LETTERMAN, R.D. (ed.)
Water quality and treatment: a handbook of community water supplies. 5. ed. Nova Iorque:
McGraw-Hill/AWWA, 1999. p. 13.1-13.83.
GUAS 326
STEFENS, J.L. Relatrio de atividades: remoo de gosto e odor em processos de tratamento de
gua. Porto Alegre: IPH/UFRGS, 2008.
STEFENS, J.L.; ZAT, M.; BENETTI. A.D. Aplicao de metodologia analtica empregando microextra-
o em fase slida e cromatograa para determinao de compostos odorferos em mananciais
de abastecimento de gua. In: 31 CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERA SANITARIA Y
AMBIENTAL. 2008, Santiago, Chile. Anais... Santiago: AIDIS, 2008. CD.
SUFFET, I.H. et al. Taste-and-odor problems observed during drinking water treatment. In: SUFFET, I.H.;
MALLEVIALLE, J.; KAWCZYNSKI, E. (eds.) Advances in taste-and-odor treatment and control. Denver:
American Water Works Association Research Foundation and Lyonnaise des Eaux, 1995. p. 1-21.
SUFFET, I.H.; KHIARI, D.; BRUCHET, A. The drinking water taste and odor wheel for the millennium:
beyond geosmin and 2-methylisoborneol. Water Science and Technology, v. 40, n. 6, p.1-13, 1999.
SUFFET, I.H.; MALLEVIALLE, J.; KAWCZYNSKI, E. Advances in taste-and-odor treatment and control.
Denver: American Water Works Association Research Foundation and Lyonnaise des Eaux. 1995.
THOMPSON, T. et al. Chemical safety of drinking water: assessing priorities for risk management.
Genebra: WHO, 2007.
THRESH, J.C.; BEALE, J.F.; SUCKLING, E.V. The examination of waters and water supplies. 4. ed.
Filadla: P. Blakistons Son, 1933.
USEPA - US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Secondary drinking water regulations: gui-
dance for nuisance chemicals, 1992. Disponvel em: <http://www.epa.gov/safewater/mcl.html>
Acesso em: 10 jul. 2008.
WATSON, S.B. et al. (eds.) Off-avors in the aquatic environment VII. Selected proceedings of the
7
th
International Symposium on Off-Flavors. Cornwall, Ontrio, Canad, 2-7 out. 2007.
WESTERHOFF, P. et al. Seasonal occurrence and degradation of 2-methylisoborneol in water sup-
ply reservoirs. Water Research, v. 39, n. 20, p. 4899-4912, 2005.
WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for drinking-water quality. 3. ed. Genebra,
2004. p. 210-220.
YOUNG, W.F. et al. Taste and odour threshold concentrations of potential potable water contami-
nants. Water Research, v. 30, n. 2, p. 331-340, 1996.
ZAT, M. Relatrio nal de pesquisa: bolsa CNPq DTI-III. Porto Alegre: IPH/UFRGS, 2008.
Referncias bibliogrcas citadas em apud
BARTELS, J.H.M.; BRADY, B.M.; SUFFET, I.H. Study of the interaction between odorous compounds.
In: Taste and odor in drinking water supplies: Phase I & II. Denver: AWWA Research Foundation
e AWWA, 1989.
GRAHAM, M. et al. Optimization of powdered activated carbon application for geosmin and MIB
removal. Denver: AWWA, 2000.
9.1 Aspectos introdutrios e contextualizao do problema
A produo de gua segura
1
para consumo humano passa atualmente por uma reviso
de seus paradigmas, devido, por um lado, s chamadas questes ou contaminantes
emergentes (qumicos e biolgicos)
2
e, por outro, ao reconhecimento das limitaes
das chamadas tcnicas convencionais de tratamento e do controle laboratorial da
qualidade da gua.
A primeira questo evidenciada pela descrio de diversos surtos de doenas envol-
vendo a gua tratada, principalmente a partir da dcada de 1990. Dentre os micror-
ganismos frequentemente relacionados com tais surtos destacam-se os protozorios
Giardia spp. e Cryptosporidium spp., sendo um exemplo notrio o surto de criptos-
poridiose ocorrido em 1993, na cidade de Milwaukee (EUA), onde 403.000 pessoas
foram acometidas (Mac KENZIE et al., 1994). Outros exemplos de questes emergentes
so a ocorrncia de orao de cianobactrias (consequentemente de liberao de
cianotoxinas) e de desreguladores endcrinos em mananciais de abastecimento (ver
captulos 3 e 7).
Em relao ao controle laboratorial, destacam-se as limitaes de ordem analtica ou
nanceira e a inexistncia de indicadores da qualidade da gua de emprego universal,
as limitaes inerentes ao princpio amostral e a diculdade ou mesmo impossibilida-
de de monitoramento em tempo real (BASTOS; BEZERRA; BEVILACQUA, 2007).
9Anlise de Risco Aplicada
ao Abastecimento de gua
para Consumo Humano
Rafael Kopschitz Xavier Bastos, Paula Dias Bevilacqua,
Jos Carlos Mierzwa
GUAS 328
Essas questes impuseram, principalmente a partir da ltima dcada, a necessidade
de desenvolvimento de pesquisas em todo o mundo, inclusive no Brasil, direcionadas
inovao e otimizao das tcnicas de tratamento de gua e busca de indicadores
adequados da qualidade da gua para consumo humano. Como alternativa ou com-
plementao da abordagem centrada na avaliao do produto nal, a rea relaciona-
da ao abastecimento da gua para consumo humano tem incorporado recentemente
conceitos e ferramentas j adotados h algum tempo em outros setores produtivos.
Essas transformaes implicam no entendimento e na aceitao de que o recurso das
ferramentas de avaliao e gerenciamento de risco, aplicadas de modo abrangente e
integrada, desde a captao at o consumo, a forma mais efetiva de garantir a segu-
rana da qualidade da gua para consumo humano (WHO, 2006).
A Avaliao de Risco (AR) tem se apresentado como uma ferramenta importante e
possvel de ser utilizada para auxiliar e orientar o processo decisrio para o controle e
a preveno da exposio de populaes e indivduos a diversos agentes ou situaes
perigosas sade. Essa metodologia faz parte de uma abordagem maior, denominada
Anlise de Risco, a qual compreende trs procedimentos desenvolvidos normalmente
de forma sequencial e integrada: Avaliao de Risco, Gerenciamento de Risco e Co-
municao de Risco.
A Anlise de Risco se fundamenta em vrios conceitos e pressupostos que a caracteri-
zam como uma metodologia exvel e passvel de ser aplicada em diferentes reas do
conhecimento e adaptada a situaes diversas, considerando, inclusive, vrios possveis
desfechos/eventos os quais se quer prevenir ou controlar. De forma genrica, essa me-
todologia permite, a partir do conhecimento e descrio de possveis fatores, agentes ou
situaes que possam determinar a ocorrncia de eventos indesejveis, propor medidas
e intervenes que possam evit-los ou control-los, envolvendo a participao da po-
pulao ou grupo que sofrer as consequncias advindas dos eventos indesejveis, ainda
que a participao signique apenas a disponibilizao de informao.
Considerando ento os procedimentos que integram a Anlise de Risco, o conhecimento
e descrio de fatores, agentes ou situaes que podem determinar a ocorrncia de
eventos indesejveis correspondem etapa de AR. O Gerenciamento de Risco envolve
o estabelecimento de medidas e intervenes corretivas ou preventivas de modo a mi-
nimizar ou evitar os impactos relacionados aos eventos indesejveis. Finalmente, a Co-
municao de Risco corresponde etapa de informao da populao ou grupo exposto
aos fatores, agentes ou situaes, de forma a garantir no apenas o direito informao,
mas tambm o estabelecimento de medidas de proteo individual, dentre outras.
Essa metodologia encontra, assim, grande possibilidade de aplicao na rea da sade,
uma vez que permite, conforme j assinalado, subsidiar a tomada de deciso envol-
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 329
vendo aes de proteo da sade e preveno e controle de agravos em grupos po-
pulacionais. No campo da Sade Ambiental
3
, a Anlise de Risco tem sido amplamente
utilizada, uma vez que permite a abordagem dos fatores, agentes ou situaes, rela-
cionados s exposies humanas e a ambientes adversos. Nesse contexto, a metodo-
logia tem sido aplicada aos fatores biolgicos, fsicos e qumicos, de origem natural ou
antrpica, que determinam, condicionam e inuenciam a sade humana. A aplicao
dessa metodologia j amplamente utilizada em outras reas, a exemplo da econo-
mia, aeronutica, militar e espacial, considerando, inclusive, outros eventos, desfe-
chos ou resultados indesejveis, diferentes daqueles de relevncia sade humana ou
ambiental. Sua aplicao no campo da sade recente, sendo inicialmente utilizada
no gerenciamento dos riscos relacionados s atividades industriais, em particular nas
indstrias qumica e petroqumica, ou seja, envolvendo os contaminantes qumicos
(acidentes com liberaes de substncias txicas); posteriormente, com aperfeioa-
mentos e adaptaes gradativos, a metodologia tambm passou a ser aplicada em
situaes de risco fsico, como incndios e exploses.
Em se tratando da rea do abastecimento de gua para consumo humano, a aplicao
dessa metodologia tem encontrado terreno frtil e promissor de utilizao. O evento
exposio considerado nesse contexto o consumo de gua; os fatores, agentes ou
situaes mais tradicionalmente estudados so os contaminantes biolgicos (micror-
ganismos patognicos) e qumicos (produtos txicos) e os eventos adversos, objeto
de controle ou preveno, so os agravos sade associados ao consumo de gua
(doenas infecto-contagiosas e doenas crnicas no-transmissveis).
A partir do exposto, reforam-se dois importantes aspectos que caracterizam a me-
todologia de Anlise de Risco, seu carter holstico, ou seja, so considerados todos
os elementos que integram as diferentes etapas que devem ser realizadas ou cumpri-
das para se atingir um determinado objetivo, e o seu carter preventivo. Traduzindo
essa ideia para o abastecimento de gua para consumo humano, ter-se-ia que esse
processo considerado em uma perspectiva ampla e integrada, do manancial ao
consumidor. Supera-se, assim, a avaliao da conformidade da qualidade da gua
destinada ao consumo centrada no produto nal (gua tratada) ou a ateno lo-
calizada em uma nica etapa do processo. Do ponto de vista preventivo, na medi-
da em que o sistema de abastecimento descrito, analisadas as vulnerabilidades e
identicados os principais perigos, possvel a tomada de deciso em relao aos
riscos mais relevantes, os quais podem ser eliminados, minimizados ou simplesmente
assumidos como tolerveis.
Recentemente, a Organizao Mundial da Sade (OMS) traduziu e sistematizou os
fundamentos e a abordagem que caracterizam a Anlise de Risco aplicada ao abas-
GUAS 330
9.2 Aspectos conceituais aplicados ao abastecimento de gua
para consumo humano
Ainda considerando uma abordagem introdutria da metodologia de Anlise de Risco,
dois conceitos so importantes de serem bem compreendidos: perigo e risco. O concei-
to de risco, em epidemiologia, pode ser traduzido como a possibilidade de um evento
ocorrer, sendo traduzido estatisticamente como a possibilidade de prever determina-
das situaes ou eventos por meio do conhecimento, ou da possibilidade de conhe-
cimento, dos parmetros de uma distribuio de probabilidades de acontecimentos
(FREITAS; GOMEZ, 1997), relacionando o conceito de risco a uma medida numrica.
Entretanto, antes de poder ser quanticada e, assim, representar a probabilidade de
ocorrer, a ideia de risco indica a existncia de uma associao entre uma exposio e
um determinado efeito que, em sade, poderia ser entendido como: infeco, doena/
agravo/desordem, incapacidade, bito; ou seja, a ideia de risco traz em si um compo-
nente qualitativo.
O conceito de perigo compreendido como as propriedades inerentes de um agente
(biolgico, qumico ou fsico) que, em uma condio de exposio, possam implicar
algum efeito adverso sade, esse ltimo traduzido no conceito de risco (FREITAS;
PORTO; MOREIRA, 2002). Os agentes, para serem caracterizados como perigosos, de-
vem apresentar caractersticas inerentes de toxicidade (qumicos), infectividade e pa-
togenicidade (microbiano) ou radioatividade (fsico), que podem vir a causar efeitos
adversos sade de indivduos/populaes. Ampliando o conceito de perigo, situaes
que possam levar a introduzir perigos tambm podem ser analisadas sob essa tica,
caracterizando os eventos perigosos.
Esses elementos, perigo e risco, esto associados no de uma maneira inexorvel, pois
para o perigo de fato se traduzir em risco preciso que uma srie de condies se
cumpra, por exemplo, considerando as doenas transmissveis: exposio (o consumo
de gua), dose-infectante (quantidade de organismos que so necessrios para causar
a infeco), estado imunolgico do hospedeiro, dentre outros.
Outro aspecto conceitual importante de ser introduzido ou problematizado o es-
tabelecimento de metas de sade, como componente fundamental na garantia da
segurana de gua para consumo humano, e pano de fundo de normas de qualidade
da gua e dos prprios PSAs.
Metas de sade podem ser estabelecidas por meio de um ou mais critrios ou recursos,
tais como: (i) evidncias epidemiolgicas; (ii) avaliao quantitativa de risco qumico
e microbiolgico; (iii) estabelecimento de nvel de risco ou carga de doena tolervel;
(iv) avaliao da qualidade da gua; e/ou (v) avaliao de desempenho do sistema
tecimento de gua para consumo humano nos denominados Planos de Segurana
da gua (PSAs). Esses planos so denidos como um instrumento que identica e
prioriza perigos e riscos em um sistema de abastecimento de gua, desde o manan-
cial at o consumidor, visando estabelecer medidas de controle para reduzi-los ou
elimin-los e estabelecer processos para vericao da ecincia da gesto dos sis-
temas de controle e da qualidade da gua produzida. Adicionalmente, promovem um
sistema estruturado e organizado visando minimizar a ocorrncia de falhas e ainda
permitem o desenvolvimento de planos de contingncia para responder s falhas no
sistema ou eventos de perigo imprevistos (WHO, 2005; 2006).
Os elementos bsicos do PSA esto baseados nos princpios e conceitos de mltiplas
barreiras, Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controle (APPCC), avaliao e ge-
renciamento de risco e gesto de qualidade (normas de certicao ISO) (BARTRAM;
FEWTRELL; STENSTRM, 2001; AS/NZ, 2004; WHO, 2005; WHO, 2006A).
Visando segurana da gua para consumo humano, os PSAs inserem-se em uma
estrutura mais ampla, a qual inclui, de forma interativa, outros componentes im-
portantes: a denio de metas de sade a serem alcanadas ou resguardadas em
determinado contexto socioeconmico (e, por conseguinte, perl epidemiolgico) e a
necessidade de controle externo (auditoria, regulao, vigilncia) (WHO, 2005).
Considerando os elementos que integram a metodologia de Anlise de Risco, o que
tem sido mais explorado em termos cientcos e traduzido como ferramenta apli-
cvel na prtica a AR, a qual ser aprofundada nos itens seguintes desse captulo.
O conceito de risco, traduzido como a probabilidade de um evento ocorrer, pode ser
utilizado considerando seu aspecto quantitativo ou apenas o qualitativo. No que
tange AR, isso signica que o risco poder ser apenas identicado e caracterizado,
referindo-se ento ao seu aspecto qualitativo, ou poder ser quanticado, signi-
cando que a associao entre uma determinada exposio e um efeito adverso
sade poder ser expressa em termos numricos, podendo ser apresentada em
bases populacional e temporal; por exemplo, um caso anual de doena ou agravo em
cada 10.000 pessoas. No desenvolvimento desse captulo, particular ateno dada
Avaliao Quantitativa de Risco (AQR), Qumico (AQRQ) ou Microbiolgico (AQRM)
e seu potencial de aplicao ao abastecimento de gua para consumo humano, como
subsdio formulao de normas de qualidade da gua ou como ferramenta de ava-
liao dos riscos associados ao funcionamento de um sistema de abastecimento e
produo de gua com determinada qualidade.
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 331
9.2 Aspectos conceituais aplicados ao abastecimento de gua
para consumo humano
Ainda considerando uma abordagem introdutria da metodologia de Anlise de Risco,
dois conceitos so importantes de serem bem compreendidos: perigo e risco. O concei-
to de risco, em epidemiologia, pode ser traduzido como a possibilidade de um evento
ocorrer, sendo traduzido estatisticamente como a possibilidade de prever determina-
das situaes ou eventos por meio do conhecimento, ou da possibilidade de conhe-
cimento, dos parmetros de uma distribuio de probabilidades de acontecimentos
(FREITAS; GOMEZ, 1997), relacionando o conceito de risco a uma medida numrica.
Entretanto, antes de poder ser quanticada e, assim, representar a probabilidade de
ocorrer, a ideia de risco indica a existncia de uma associao entre uma exposio e
um determinado efeito que, em sade, poderia ser entendido como: infeco, doena/
agravo/desordem, incapacidade, bito; ou seja, a ideia de risco traz em si um compo-
nente qualitativo.
O conceito de perigo compreendido como as propriedades inerentes de um agente
(biolgico, qumico ou fsico) que, em uma condio de exposio, possam implicar
algum efeito adverso sade, esse ltimo traduzido no conceito de risco (FREITAS;
PORTO; MOREIRA, 2002). Os agentes, para serem caracterizados como perigosos, de-
vem apresentar caractersticas inerentes de toxicidade (qumicos), infectividade e pa-
togenicidade (microbiano) ou radioatividade (fsico), que podem vir a causar efeitos
adversos sade de indivduos/populaes. Ampliando o conceito de perigo, situaes
que possam levar a introduzir perigos tambm podem ser analisadas sob essa tica,
caracterizando os eventos perigosos.
Esses elementos, perigo e risco, esto associados no de uma maneira inexorvel, pois
para o perigo de fato se traduzir em risco preciso que uma srie de condies se
cumpra, por exemplo, considerando as doenas transmissveis: exposio (o consumo
de gua), dose-infectante (quantidade de organismos que so necessrios para causar
a infeco), estado imunolgico do hospedeiro, dentre outros.
Outro aspecto conceitual importante de ser introduzido ou problematizado o es-
tabelecimento de metas de sade, como componente fundamental na garantia da
segurana de gua para consumo humano, e pano de fundo de normas de qualidade
da gua e dos prprios PSAs.
Metas de sade podem ser estabelecidas por meio de um ou mais critrios ou recursos,
tais como: (i) evidncias epidemiolgicas; (ii) avaliao quantitativa de risco qumico
e microbiolgico; (iii) estabelecimento de nvel de risco ou carga de doena tolervel;
(iv) avaliao da qualidade da gua; e/ou (v) avaliao de desempenho do sistema
GUAS 332
no de doena, alm de considerar a populao exposta como homognea. Em tal
abordagem, assume-se que o primeiro aspecto (risco de infeco com um parmetro
conservador) serviria como margem de segurana para o segundo, j que, de fato, a
populao exposta tende a ser heterognea, incorporando grupos mais susceptveis,
tais como crianas, idosos, gestantes e imunocomprometidos (MACLER; REGLI, 1993;
HAAS; EISENBERG, 2001).
9.3 Avaliao Quantitativa de Risco
A Avaliao Quantitativa de Risco (AQR) consiste na estimativa numrica de potenciais
efeitos adversos sade devido exposio de indivduos e populaes a perigos. Essa
metodologia , h algum tempo, o paradigma central de estudos sobre danos sa-
de decorrentes da exposio a substncias qumicas (Avaliao Quantitativa de Risco
Qumico - AQRQ) (USEPA, 1991, 1997, 2005) e tem sido adaptada, mais recentemente,
exposio a organismos patognicos (Avaliao Quantitativa de Risco Microbiolgi-
co - AQRM), incluindo o consumo de gua e servido de base formulao de diretrizes
e normas de qualidade da gua para consumo humano. (HAAS; ROSE; GERBA, 1999;
HAVELLAR; MELSE, 2003; USEPA, 2006B; WHO, 2006A).
Genericamente, a metodologia de AQR pressupe quatro etapas fundamentais, resu-
midas a seguir:
i) Identicao do perigo: essa etapa compreende uma avaliao do co-
nhecimento disponvel e a descrio de efeitos adversos sade, crnicos ou
agudos, associados a um determinado agente (fsico, qumico, microbiano)
(perigo) ou situao (evento perigoso). A compreenso da origem do perigo
e de como este pode ser introduzido na cadeia produtiva tambm integra
essa etapa. Esse conhecimento ser importante para o planejamento dos
procedimentos de Gerenciamento de Risco.
A presena de organismos patognicos ou substncias qumicas na gua para consu-
mo humano seria exemplo de um perigo. O consumo da gua (exposio) pode levar
ocorrncia de efeitos adversos na populao consumidora, signicando o risco. A exis-
tncia de explorao agrcola na bacia de contribuio do manancial, a descarga de
esgotos sanitrios ou euentes de agroindstrias no manancial de gua bruta, falhas
no tratamento da gua e rupturas na rede de distribuio so exemplos de eventos
perigosos, os quais podem introduzir perigos que podem estar associados a efeitos
adversos na populao consumidora.
ii) Avaliao da dose-reposta: avaliao do potencial que tem o agente de
causar resposta em diversos nveis de exposio. Para determinados agen-
de tratamento. A conjugao de alguns desses critrios permite identicar, por vezes
quanticar, medidas de proteo da fonte de abastecimento e o tipo de tratamento
necessrio para o alcance de determinado nvel de risco denido como tolervel, alm
de permitir a avaliao do impacto de medidas de controle.
A denio de metas de sade deve, portanto, fazer parte de polticas de sade pblica
e inclui a difcil tarefa de denio do que venha constituir risco tolervel
4
, respeitando
aspectos econmicos, ambientais, sociais e culturais, recursos nanceiros tcnicos e ins-
titucionais em determinada realidade (BARTRAM; FEWTRELL; STENSTRM, 2001; WHO,
2005). Essas metas devem levar em considerao, por exemplo, a situao geral de sade
pblica e a contribuio do abastecimento de gua para consumo humano em termos de
risco qumico e microbiolgico em determinado contexto ou perl epidemiolgico.
Como risco nulo no existe (HUNTER; FEWTRELL, 2001), alguns autores sugerem que
a denio do que seja risco tolervel pode se basear em avaliaes do binmio risco/
benefcio, no entendimento de que a aceitao do risco aumenta com a percepo
dos benefcios da atividade que o gera. Hunter e Fewtrell (2001) sugerem que deter-
minado nvel de risco pode ser considerado tolervel quando: (i) encontra-se abaixo
de um limite denido arbitrariamente; (ii) encontra-se abaixo do nvel j existente ou
tolerado; (iii) encontra-se abaixo de uma frao arbitrria do total da carga de doena
na comunidade; (iv) o custo de reduo do risco excederia o valor economizado; (vi)
o custo de oportunidade da preveno do risco seria mais bem gasto em outras aes
de promoo da sade pblica; (vii) prossionais de sade dizem que aceitvel; (viii)
responsveis por formulao de polticas pblicas dizem que aceitvel; e/ou (ix) o
pblico em geral diz que aceitvel (ou no diz que inaceitvel).
Para substncias carcinognicas na gua para consumo humano, a USEPA adota nveis
de risco tolerveis entre 10
-4
e 10
-6
(um caso de cncer por 10.000 a 1.000.000 pessoas
ao longo de 70 anos); a OMS assume risco tolervel de 10
-5
para substncias carcino-
gnicas genotxicas (USEPA, 2005; USEPA, 2006C; WHO, 2006A). Nos EUA, admite-se
risco anual de infeco de 1:10.000 (10
-4
) para os diversos organismos patognicos
transmissveis via abastecimento de gua para consumo humano (MACLER; REGLI,
1993). Assumindo, a ttulo de exerccio, razo doena: infeco de 50% para Giardia, o
risco anual correspondente de doena (giardiose) seria de 1:20.000; assumindo ainda
taxa de letalidade de 0,1%, isso resultaria em risco anual de bito de 1:20.000.000
e de aproximadamente 5 x 10
-6
em toda a vida ( 70 anos), o que se aproxima dos
riscos assumidos como tolerveis para substncias qumicas carcinognicas (HUNTER;
FEWTRELL, 2001).
Como ser visto em itens a seguir, a estimativa de risco microbiolgico, e mesmo a
denio de risco tolervel, tem sido estabelecida em termos de risco de infeco, e
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 333
no de doena, alm de considerar a populao exposta como homognea. Em tal
abordagem, assume-se que o primeiro aspecto (risco de infeco com um parmetro
conservador) serviria como margem de segurana para o segundo, j que, de fato, a
populao exposta tende a ser heterognea, incorporando grupos mais susceptveis,
tais como crianas, idosos, gestantes e imunocomprometidos (MACLER; REGLI, 1993;
HAAS; EISENBERG, 2001).
9.3 Avaliao Quantitativa de Risco
A Avaliao Quantitativa de Risco (AQR) consiste na estimativa numrica de potenciais
efeitos adversos sade devido exposio de indivduos e populaes a perigos. Essa
metodologia , h algum tempo, o paradigma central de estudos sobre danos sa-
de decorrentes da exposio a substncias qumicas (Avaliao Quantitativa de Risco
Qumico - AQRQ) (USEPA, 1991, 1997, 2005) e tem sido adaptada, mais recentemente,
exposio a organismos patognicos (Avaliao Quantitativa de Risco Microbiolgi-
co - AQRM), incluindo o consumo de gua e servido de base formulao de diretrizes
e normas de qualidade da gua para consumo humano. (HAAS; ROSE; GERBA, 1999;
HAVELLAR; MELSE, 2003; USEPA, 2006B; WHO, 2006A).
Genericamente, a metodologia de AQR pressupe quatro etapas fundamentais, resu-
midas a seguir:
i) Identicao do perigo: essa etapa compreende uma avaliao do co-
nhecimento disponvel e a descrio de efeitos adversos sade, crnicos ou
agudos, associados a um determinado agente (fsico, qumico, microbiano)
(perigo) ou situao (evento perigoso). A compreenso da origem do perigo
e de como este pode ser introduzido na cadeia produtiva tambm integra
essa etapa. Esse conhecimento ser importante para o planejamento dos
procedimentos de Gerenciamento de Risco.
A presena de organismos patognicos ou substncias qumicas na gua para consu-
mo humano seria exemplo de um perigo. O consumo da gua (exposio) pode levar
ocorrncia de efeitos adversos na populao consumidora, signicando o risco. A exis-
tncia de explorao agrcola na bacia de contribuio do manancial, a descarga de
esgotos sanitrios ou euentes de agroindstrias no manancial de gua bruta, falhas
no tratamento da gua e rupturas na rede de distribuio so exemplos de eventos
perigosos, os quais podem introduzir perigos que podem estar associados a efeitos
adversos na populao consumidora.
ii) Avaliao da dose-reposta: avaliao do potencial que tem o agente de
causar resposta em diversos nveis de exposio. Para determinados agen-
GUAS 334
tes, a denio da dose que causa efeito adverso estabelecida a partir de
estudos experimentais (com voluntrios humanos ou, principalmente, em
ensaios de laboratrio com cobaias). Em outros casos, so utilizadas infor-
maes de estudos epidemiolgicos (desenvolvidos em situaes de exposi-
es acidentais ou no).
iii) Avaliao da exposio: compreende a caracterizao da populao ex-
posta, a quantidade ingerida do agente, a frequncia, a durao e as prov-
veis vias de exposio. No caso em questo, envolveria o conhecimento ou
estimativa da qualidade da gua, de um padro de consumo de gua (L/d)
e da contribuio relativa do fator consumo de gua frente a outras vias de
exposio como, por exemplo, ar e alimentos.
iv) Caracterizao do risco: de posse das informaes obtidas nas etapas
anteriores, por meio de modelos matemticos ou relaes diretas entre a
dose-resposta e exposio, pode-se estimar o risco associado ao perigo iden-
ticado.
Essas etapas sero desenvolvidas a seguir, considerando particularidades inerentes
adaptao da metodologia aos riscos microbiolgicos e os riscos qumicos associados
ao abastecimento de gua para consumo humano, com maior ou menor nvel de de-
talhamento.
9.3.1 Avaliao Quantitativa de Risco Qumico (AQRQ)
aplicada ao desenvolvimento de normas e critrios de qualidade
da gua para consumo humano
Substncias qumicas podem ser incorporadas gua por fontes naturais (dependen-
do de fatores geomorfolgicos e climticos), atividades agrcolas, industriais e urbanas
(ex.: fertilizantes, agrotxicos, euentes industriais, esgotos domsticos e drenagem
urbana) durante as etapas de tratamento e distribuio da gua (ex.: coagulantes, pro-
dutos secundrios da desinfeco, contato com material constituinte da infraestru-
tura fsica reservatrios, rede de distribuio etc.) e/ou decorrente de metabolismo
microbiano (ex. cianotoxinas).
No mundo contemporneo, o uso de substncias qumicas cada vez mais intenso,
como, por exemplo, o de agrotxicos, frmacos e produtos de limpeza, dando lugar
ocorrncia potencial das mais diversas substncias em mananciais de abastecimento
de gua, incluindo os desreguladores endcrinos (ver captulos 2 e 7) e demais qu-
micos emergentes. Entretanto, salvo situaes de existncia de fontes sistemticas de
contaminao ou de acidentes, um mesmo manancial no tende a apresentar subs-
tncias qumicas em grande variedade e/ou elevadas concentraes. Por outro lado,
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 335
preciso considerar que os efeitos sade, decorrentes da ingesto de substncias
qumicas via consumo de gua, so crnicos, isto , fazem-se sentir como efeito de
exposio prolongada (vrios anos ou dcadas) determinada dose, por vezes muito
baixas. preciso ainda ponderar que os efeitos sade associados a vrias substncias
qumicas so ainda desconhecidos ou cercados de incertezas.
Portanto, na formulao de normas de qualidade da gua para consumo humano, ou
em programas de monitoramento, preciso priorizar substncias qumicas, para o que,
em geral, parte-se do entendimento de que o risco associado a determinada substncia
resultado do efeito conjugado da toxicidade inerente substncia (avaliada, por exem-
plo, por sua capacidade de provocar efeitos sade em doses baixas e/ou pela gravidade
desses efeitos) e da intensidade da exposio (no caso, decorrente da concentrao da
substncia na gua, do padro de consumo de gua e da contribuio relativa do consu-
mo de gua vis--vis outras vias de exposio), conforme ilustrado na Figura 9.1.
AQRQ a metodologia empregada no desenvolvimento do padro de potabilidade para
substncias qumicas (ou seja, a seleo das substncias para compor o padro e a de-
terminao dos respectivos valores mximos permitidos VMP) em diversos pases,
tais como os EUA (USEPA, 2006C) e Canad (HEALTH CANADA, 1995A), bem como nas
diretrizes da OMS (WHO, 2006A). Em geral, so adotadas abordagens distintas, uma
para substncias txicas no-carcinognicas, outra para substncias carcinognicas;
porm, em ambas, a formulao do problema segue os postulados gerais e etapas da
AR descritos anteriormente: (i) identicao do perigo; (ii) avaliao da dose-resposta;
(iii) avaliao da exposio; e (iv) caracterizao do risco.
Figura 9.1
Nvel de risco associado a substncias qumicas de acordo com
o efeito conjunto do grau de exposio e da toxicidade
GUAS 336
Na etapa de identicao do perigo, so selecionadas as substncias a serem consi-
deradas, usualmente em funo de sua toxicidade (da disponibilidade e conabilida-
de das informaes), de seu padro de ocorrncia em mananciais e de sua dinmica
ambiental, incluindo aspectos tais como: fontes dos contaminantes, persistncia e
mobilidade em diferentes matrizes ambientais (ex.: solo e gua) e remoo por meio
do tratamento da gua.
A Agncia Internacional de Pesquisas sobre o Cncer (IARC) avalia a carcinogenicidade
potencial das substncias qumicas baseada em estudos realizados com animais, dis-
pondo tambm, ainda que menos frequentemente, de informaes sobre carcinogeni-
cidade para os seres humanos procedente de estudos epidemiolgicos sobre exposio
ocupacional ou acidental. A partir dos dados disponveis, as substncias qumicas so
classicadas em cinco categorias de acordo com o risco potencial: (i) Grupo 1 - o
agente carcinognico para os seres humanos; (ii) Grupo 2A - o agente provavel-
mente carcinognico para os seres humanos; (iii) Grupo 2B - o agente possivelmente
carcinognico para os seres humanos; (iv) Grupo 3 - o agente no classicvel com
base em sua carcinogenicidade para os seres humanos; e (v) Grupo 4 - o agente prova-
velmente no carcinognico (WHO, 2006A). Classicaes semelhantes so adotadas
nos EUA (USEPA, 2006A) e no Canad (HEALTH CANADA,1995A).
Como antecipado no captulo 1, nos EUA (USEPA, 2006C), e de forma bem similar no
Canad (HEALTH CANADA, 1994; 1995A), os contaminantes que potencialmente deman-
dam regulao so identicados levando em considerao, alm dos aspectos acima
mencionados: (i) fatores de exposio e de riscos sade da populao em geral e de
grupos vulnerveis; (ii) disponibilidade de mtodos analticos de deteco; (iii) factibili-
dade tcnica e analtica de atendimento eventual VMP; e/ou (iv) impactos econmicos
e de sade pblica da regulamentao (USEPA, 2006C). Periodicamente atualizada uma
lista de contaminantes (National Drinking Water Contaminant Candidate List) que ainda
no constituam objeto de regulamentao, que apresentem riscos potenciais sade e/
ou que, reconhecidamente, ocorram ou potencialmente possam ocorrer em sistemas de
abastecimento de gua; so estabelecidas, ento, prioridades para: (i) regulamentao,
(ii) pesquisa de riscos e efeitos sade, e/ou (iii) construo de banco de dados sobre a
ocorrncia em mananciais de abastecimento e gua tratada (USEPA, 2008).
As informaes de dose-resposta podem advir de estudos toxicolgicos humanos e/
ou epidemiolgicos, mas so preponderantemente obtidas de ensaios de laboratrio
com animais.
Tambm como antecipado no captulo 1, para substncias ou compostos carcino-
gnicos, os dados experimentais (dose-resposta) so extrapolados de doses elevadas
(como, em geral, so utilizadas nos experimentos) para doses mais baixas, por meio
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 337
de modelos matemticos (em geral lineares), com base nos quais se estabelece a dose
correspondente a risco adicional de cncer de 10
-4
-10
-6
(para a maioria das substn-
cias, 10
-5
) (HEALTH CANADA, 1994; HEALTH CANADA, 1995A; USEPA, 2005; USEPA,
2006C; WHO, 2006A).
Para substncias txicas no-carcinognicas, dos estudos de toxicidade crnica so
extrados os seguintes valores: NOAEL (No Observed Adverse Effect Level); NOEL (No
Observed Effect Level), LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level), ou LOEL (Lowest
Observed Effect Level), expressos em mg/kg de massa corporal.
5
A partir da comprovao da existncia de toxicidade crnica e do estabelecimento
do NOAEL (ou congneres) para as espcies estudadas em ensaios de laboratrio e
a m de denir um nvel de exposio seguro para seres humanos, so aplicados
fatores de incerteza (FI), considerando: variaes interespcie (animal e seres huma-
nos), variaes intraespcie (visando proteger grupos ou indivduos mais sensveis ou
suscetveis), a conabilidade dos estudos ou da base de dados e/ou a natureza ou
severidade dos efeitos adversos. Esses aspectos so considerados conjuntamente, de
forma produtria. Em geral, aos valores de NOAEL, determinados para os efeitos ad-
versos observados em animais, aplicado um fator de incerteza de 100, considerando
as variaes interespcie (10) e as variaes entre indivduos de populaes humanas
(10) (WHO, 2006A).
Com esses dados, possvel determinar a Dose Diria Aceitvel (DDA) ou a Ingesto
Diria Tolervel (IDT)
6
(Equao 9.1), ou seja, a quantidade de um agente abaixo da
qual as pessoas poderiam estar expostas sem que ocorresse efeito adverso sade. Em
outras palavras, a DDA ou a IDT uma estimativa da quantidade de uma substncia
presente nas diversas formas de exposio que se pode ingerir diariamente ao longo
de toda a vida (em geral, assumindo 70 anos) sem risco considervel para a sade (mg/
kg de massa corporal).
IDT = NOAEL / FI Equao 9.1
Sendo:
IDT: ingesto diria tolervel (mg/kgmc.d)
NOAEL: dose para efeito adverso no observado
FI: fator de incerteza
Note-se que na IDT est embutida larga margem de segurana e, assim, a ingesto
eventual de doses mais elevadas (em exposies de curto prazo) no necessariamente
implicaria risco (ou danos) sade (WHO, 2006A).
Na etapa de avaliao da exposio procura-se estimar a contribuio relativa ao
consumo de gua. Em uma abordagem integrada de avaliao de risco, devem ser
GUAS 338
consideradas, em conjunto, a exposio via consumo de alimentos e de gua, ingesto
acidental de solo, a inalao e a absoro pela pele (HEALTH CANADA, 1994; USEPA,
1997; USEPA, 1999; WHO, 2006A). A caracterizao da exposio via alimentos base-
ada no monitoramento de resduos e em estatsticas de aplicao de agrotxicos e de
consumo dos mais diversos produtos alimentcios, enquanto a exposio pela inalao
avaliada com base na concentrao no ar e na taxa de respirao. A exposio rela-
tiva ao consumo de gua considera as estatsticas de consumo per capita e dados de
monitoramento da qualidade da gua; entretanto, como a grande maioria das infor-
maes refere-se gua bruta, deve-se ainda considerar a inuncia do processo de
tratamento da gua na remoo dos contaminantes (HEALTH CANADA, 1994; USEPA,
1997; USEPA, 1999; USEPA, 2001).
A nalizao do procedimento, que envolve a combinao dos perigos identicados, a
avaliao da dose-resposta e a caracterizao da exposio combinada, permite a quanti-
cao do risco global, por meio do cmputo da Dose Total Diria ou da Ingesto Total Di-
ria, dependendo das vias de exposio consideradas. Na Equao 9.2, esse procedimento
mostra-se de forma simplicada (HEALTH CANADA, 1994; USEPA, 1997, USEPA, 1999).
DTD ou ITD = (C
con
x T
ia
) / mc Equao 9.2
Sendo:
DTD: Dose Total Diria (mg/kgmc.d)
ITD: Ingesto Total Diria (mg/kgmc.d)
Ccon: concentrao do contaminante em determinada matriz (ar, solo, gua, alimento)
(massa/massa ou massa/volume).
Tia: Taxa de ingesto/inalao/absoro, de acordo com a via de exposio (massa/tem-
po ou volume/tempo e massa/rea supercial de pele, no caso da absoro)
mc: massa corporal
Naturalmente, para efeito de proteo sade, a DTD ou a IDT devem ser iguais ou
inferiores DDA ou IDT, dependendo das vias de exposio consideradas.
A etapa de caracterizao da exposio utilizada tambm para a denio de Limites
Mximos de Resduos (LMRs) ou Valores Mximos Permitidos (VMPs)
7
para os fatores de
risco alimentos e gua, os quais sero ponderados para a quanticao do risco global.
Claro est que a soma dos produtos dos LMRs ou VMPs pela estimativa de consumo (gua
e alimentos - culturas e produtos animais) no pode superar a IDT e, ainda, eventualmen-
te, permitir margem para outras exposies, tais como inalao e absoro pela pele.
A concentrao limite para uma substncia (VMP) na gua calculada considerando
as seguintes variveis: massa corporal, frao da IDT atribuda ao consumo de gua,
consumo dirio de gua (Equao 9.3).
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 339
VMP = (IDT x mc x F
a
) / C Equao 9.3
Sendo:
VMP: valor mximo permitido (mg/L)
IDT: Ingesto Diria Tolervel (mg/kgmc.d)
mc: massa corporal mdia (kg)
Fa: Frao da IDT atribuda ao consumo de gua
C: consumo dirio de gua (L/d)
A OMS adota os seguintes valores mdios para adultos: mc = 60 kg; F
a
= 0,1; C = 2 L
(WHO, 2006A). O Canad, por sua vez, adota os seguintes parmetros: mc = 70 kg;
F
a
= 0,2; C = 1,5 L (HEALTH CANADA, 1995). Nos EUA, os valores de referncia so:
mc = 70 kg; F
a
= 0,1-0,2; C = 2 L (USEPA, 2006A).
Os valores acima so os adotados para o estabelecimento dos VMPs da maioria das subs-
tncias qumicas. Porm, em circunstncias especcas, o VMP pode ser estabelecido to-
mando como referncia subgrupos populacionais mais sensveis; por exemplo, no caso de
substncias para as quais se considera que crianas possam ser particularmente vulne-
rveis, a OMS adota os seguintes valores: (i) crianas: mc = 10 kg; C = 1 L; (ii) lactentes
(amamentao articial): mc = 5 kg; C = 0,75 L (WHO, 2006A). De forma anloga, a frao
da IDT atribuda ao consumo de gua pode variar em faixas bastante amplas (10-80%), de-
pendendo das informaes disponveis sobre a contribuio relativa de diferentes vias de
exposio; entretanto, na maioria dos casos considera-se que a frao atribuda ao con-
sumo de gua (analisada em conjunto com o consumo de alimentos), deixa margem de
segurana relativamente elevada para acomodar eventuais exposies adicionais, como a
inalao e a absoro pela pele (HEALTH CANADA, 1995A; WHO, 2006A).
As seguir, a ttulo de exemplo, so apresentados dois exerccios exploratrios de aplicao
de AQR na interpretao de dados sobre qualidade da gua para consumo humano.
Com base em resultados de estudos de toxicidade com cobaias, as seguintes institui-
es ou organizaes estimam a IDA
(1)
para o glifosato.
A FAO e a OMS (FAO/WHO, 2005) e, no Brasil, a Agncia Nacional de Vigilncia Sani-
tria (Anvisa) estabelecem, respectivamente, referncias internacionais e nacionais
para Limites Mximos de Resduos (LMR) em alimentos. A ttulo de comparao, so
apresentados a seguir valores de LMR para o glifosato em para algumas culturas.
GUAS 340
Exemplo 1: Consideraes sobre o VMP para glifosato na Portaria MS n
o
518/2004
INSTITUIO/PAS
DOSE PARA EFEITO NO OBSERVADO
(mg/kgmc)
FI
IDA
(mg/kgmc)
VMP
(mg/L)
FAO / OMS 100 (2) 100 1 (2) 3 (6)
USEPA / EUA 10 (3) 100 0,1 (3) 0,7 (7)
Health Canada / Canad 3 (4) 100 0,03 (4) 0,28 (8)
ANVISA / MS / Brasil 0,042 (5) 0,5 (9)
(1) AQUI SER UTILIZADA A EXPRESSO ACEITVEL E NO TOLERVEL, PARA EFEITO DE FIDELIDADE A ALGUMAS DAS FONTES UTILIZADAS, COM
REFERNCIA UTILIZAO DE AGROTXICOS EM ALIMENTOS. (2) NOAEL, UM ESTUDO AO LONGO DE UM ANO E OUTRO COM DUAS GERAES,
AMBOS COM RATOS (FAO/WHO, 2004; WHO, 2006B). (3) NOEL, ESTUDO DE TOXICIDADE REPRODUTIVA COM TRS GERAES DE RATOS (FONTE:
WWW.EPA.GOV/IRIS/GLYPHOSATE). (4) NOAEL, REDUO DE GANHO DE PESO EM ESTUDOS DE DOIS ANOS COM RATOS; IDN (INGESTO DIRIA
NEGLIGVEL), ADOTADO PARA AGROTXICOS PARA OS QUAIS SE JULGA QUE NO H INFORMAES SUFICIENTES OU SUFICIENTEMENTE CON-
FIVEIS PARA O ESTABELECIMENTO DE IDA (HEALTH CANADA, 1995A; 1995B). (5) FONTE: HTTP://WWW.ANVISA.GOV.BR/TOXICOLOGIA/MONOGRA-
FIAS/G01.PDF. (6) DE ACORDO COM OS PARMETROS ADOTADOS PELA FAO/OMS (IDA=1 MG/KG PC; MC=60 KG; FA=0,1; C=2 L/D), ENTRETANTO,
NO ENTENDIMENTO DA OMS, UMA VEZ QUE ESTE VALOR BEM SUPERIOR AO USUALMENTE ENCONTRADO NA GUA PARA CONSUMO HUMANO,
SERIA DESNECESSRIO EXPLICITAR UM VALOR-GUIA (VG) (WHO, 2006A). (7) NOS EUA, COMO ORIENTAES, SO AINDA OBSERVADAS AS
SEGUINTES SITUAES: (I) 20 MG/L: CONCENTRAO NA GUA PARA A QUAL ESTIMA-SE QUE NO CAUSE QUALQUER EFEITO ADVERSO NO-
CARCINOGNICO EM AT 10 DIAS DE EXPOSIO; ESTE VALOR VISA PROTEO DE CRIANAS (10 KG PC) COM CONSUMO DE GUA DE 1 L/D
(USEPA, 2006A); (II) 4 MG/L: CONCENTRAO PARA A QUAL ESTIMA-SE QUE NO OCORRAM EFEITOS ADVERSOS NO-CANCERGENOS AO LONGO
DE UMA VIDA DE EXPOSIO, ASSUMINDO QUE TODA A EXPOSIO SE REFIRA AO CONSUMO DE GUA. (8) VALOR PROVISRIO (IMAC - INTERIM
MAXIMUM ACCEPTABLE CONCENTRATION, SIMILAR AO MCLG DOS EUA E AO VALOR-GUIA PROVISRIO DA OMS, VER CAPTULO 1) (HEALTH
CANADA, 1995A; 2008). (9) PORTARIA 518/2004 (BRASIL, 2004).
CULTURA
LMR (mg/kg)
FAO / OMS ANVISA (*)
Banana 0,05 0,02
Feijo 2 0,05
Milho 5 0,1
Soja 20 10
Cana de acar 2 1
Caf - 1
(*)
FONTE: HTTP://WWW.ANVISA.GOV.BR/TOXICOLOGIA/MONOGRAFIAS/G01.PDF.
O VMP para glifosato na Portaria MS n
o
518/2004 foi estabelecido tomando como
referncia publicaes mais antigas da OMS, as quais sugeriam um valor de NOAEL de
175 mg/kg
mc
e, portanto, VG de 5 mg/L (WHO/IPCS, 1994; WHO, 1998). Por medida de
precauo, dada a intensa utilizao desse produto no pas, foi adotado um VMP dez
vezes menor (0,5 mg/L). Tal valor responderia por cerca de 40% da IDA denida pela
Anvisa (0,042 mg/kg
mc
.d), como se demonstra a seguir.
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 341
IDA = 0,042 mg/kg
m
c x 60 kg (massa corprea mdia para adultos) = 2,52 mg/d
Ingesto Total Diria (mxima terica) (ITD) = 0,5 mg/L x 2 L/d = 1 mg/d
ITD
gua
/ IDA = 39,7%
Considerando a exposio terica mxima conjunta (gua + alimentos) a ITD corres-
ponderia a:
ITD = ITD
gua
+ ITD
alimentos
= 0,4 + 0,26
8
= 0,66
Com todo o rigor dos valores estabelecidos no pas para IDA, LMR em alimentos e, de
certa forma, do VMP na gua (comparados a critrios empregados por organismos
internacionais), a estimativa da ingesto total diria via consumo de gua e alimentos
ainda deixaria margem de segurana (cerca de 40%) para exposio por outras vias,
por exemplo, por inalao ou absoro pela pele.
No Canad, a ingesto diria de glifosato via consumo de alimentos era, em 1986, calcula-
da em torno de 2,7 g/kg
mc
, o que corresponderia a 9% da IDA (HEALTH CANADA, 1995B).
A FAO e a OMS, a partir da reviso de um amplo banco de dados sobre o monitoramento
de resduos de glifosato em mais de 30 tipos de alimentos e dos respectivos consumos
mdios dirios, estimaram a Ingesto Total Diria (ITD) em vrias partes do mundo; para
a Amrica Latina, dados de 2004 sugerem um valor de ITD de 106 g/pessoa, o qual, para
um peso corporal mdio de adultos de 60 kg, equivaleria a 0,2% da IDA (IDA = 1 mg/kg
mc
).
Com base nos dados disponveis, a FAO e a OMS inferem que o consumo de alimentos
no deve trazer problemas de sade pblica de longo prazo (FAO/WHO, 2005). A Unio
Europia considera que, com base na estimativa da dieta humana (de adultos com peso
mdio de 60 kg), a ingesto terica mxima diria de glifosato via consumo de alimentos
(excluindo o consumo de produtos de origem animal e de gua) corresponda cerca de
15% da IDA e que a ingesto adicional via consumo de gua e de produtos de origem
animal no tende a acrescentar riscos considerveis (EC, 2002).
Exemplo 2: Concentrao de desreguladores endcrinos em mananciais de abas-
tecimento da RMBH e RMSP aplicao de AQR como subsdio formulao de
critrios de qualidade da gua para consumo humano e de medidas de controle
Uma publicao da OMS (WHO, 2002) apresenta as seguintes faixas de doses de des-
reguladores endcrinos (DE) que resultaram em efeitos adversos em cobaias utilizadas
em testes de toxicidade (LOEL), pela exposio intraperitoneal para o nonilfenol (4-NP)
e oral para o estradiol (E2) e etinilestradiol (EE2): (i) 4-NP - 0,8 a 8 mg/kg
mc
.
d; (ii) E2 -
0,82 a 4,12 mg/kg
mc
.d; (iii) EE2 - 0,02 a 2 mg/kg
mc
d.
GUAS 342
Com base nas Equaes 9.1 e 9.3, ou seja, a partir de estimativas de valores de IDT
foram realizados exerccios de clculo de valores mximos desejveis (VMD) em gua
para consumo humano. Optou-se pelo uso de VMD (para efeito adverso no observa-
do) em lugar de VMP, uma vez que este ltimo referir-se-ia a valores de concentrao
mxima estabelecidos em norma como padro de potabilidade. Para tanto, foram uti-
lizados os seguintes dados: (i) massa corporal (mc): 60 kg (adultos), 10 kg (crianas),
5 kg (lactentes - amamentao articial); (ii) consumo de gua (C): 2 L/d (adultos),
1 L/d (crianas), 0,75 L/d (lactentes - amamentao articial); (iii) frao da IDT atri-
buda ao consumo de gua (F
a
): 0,1-1,0; (iv) fator de incerteza (FI): 100; (v) os menores
valores de dose para efeito adverso dentre as faixas acima citadas.
F
A
4-NP (ng/L) E2 (ng/L) EE2 (ng/L)
LAC CRI ADU LAC CRI ADU LAC CRI ADU
0,1 5,33 8 24 5,47 8,20 24,60 0,13 0,20 0,60
0,2 10,67 16 48 10,93 16,40 49,20 0,27 0,40 1,20
0,3 16 24 72 16,40 24,60 73,80 0,40 0,60 1,80
0,4 21,33 32 96 21,87 32,80 98,40 0,53 0,80 2,40
0,5 26,67 40 120 27,33 41 123 0,67 1 3
0,6 32 48 144 32,80 49,20 147,60 0,80 1,20 3,60
0,7 37,33 56 168 38,27 57,40 172,20 0,93 1,40 4,20
0,8 42,67 64 192 43,73 65.60 196,80 1,07 1,60 4,80
0,9 48 72 216 49,20 73,80 221,40 1,20 1,80 5,40
1 53,33 80 240 54,67 82 246 1,33 2 6
LAC: LACTENTES; CRI: CRIANAS; ADU: ADULTOS.
Percebe-se que na eventual denio de padres de potabilidade para os DE estuda-
dos, este poderia ser estabelecido em limites prximos entre si para E2 e 4-NP, mas em
patamares bem mais rigorosos para EE2; isso porque ensaios de toxicidade revelam
efeitos adversos em doses bem mais baixas de EE2 do que dos outros dois DE.
Nota-se tambm que, naturalmente, s menores fraes da IDT atribudas ao consumo
de gua corresponderiam VMDs mais rigorosos, pois, nesse caso, dever-se-ia limitar a
exposio substncias pelo consumo de gua, visto que haveria outras vias de expo-
sio importantes; no outro extremo (F
a
=100%), poderiam ser consideradas concen-
traes mais elevadas na gua, pois esta seria a nica via de exposio considerada.
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 343
Adicionalmente, cabe notar que, assim como para qualquer outra substncia, se hou-
ver justicativa suciente para considerar crianas (ou eventualmente outros sub-
grupos da populao) como particularmente susceptveis ou vulnerveis, os padres
teriam de ser estabelecidos em limites mais rigorosos.
A seguir, com base nos valores mais elevados de concentrao dos desreguladores en-
dcrinos encontrados nos mananciais estudados nas Regies Metropolitanas de Belo
Horizonte (RMBH) e de So Paulo (RMSP) (ver captulo 7), foram construdos cenrios
de risco decorrentes da relao concentrao na gua bruta/VMD na gua tratada.
Fa
4-NP E2 EE2
LAC CRI ADU LAC CRI ADU LAC CRI ADU
0,1 0,41 0,27 0,09 < 0,01 < 0,01 < 0,01 405 270 90
0,2 0,20 0,14 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 202,50 135 45
0,3 0,14 0,09 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 135 90 30
0,4 0,10 0,07 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 101,50 67,50 22,50
0,5 0,08 0,05 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 81 54 18
0,6 0,07 0,05 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 67,50 45 15
0,7 0,06 0,04 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 57,86 38,57 12,86
0,8 0,05 0,03 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 50,63 33,57 11,25
0,9 0,05 0,03 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 45 30 10
1 0,04 0,03 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 40,50 27 9
C: LACTENTES; CRI: CRIANAS; ADU: ADULTOS.
CONCENTRAO CONSIDERADA NA GUA BRUTA: 2.185 ng/L (4-NP); 36,8 ng/L (E2); 54 ng/L (EE2).
Com base neste exerccio, poder-se-ia inferir que as concentraes de 4-Nonilfenol
e, principalmente, de 17-beta-Estradiol, encontradas nos mananciais em questo no
imporiam maiores riscos sade, pois mantiveram-se sempre abaixo dos valores es-
timados como limites a serem assegurados na gua tratada, mesmo para os cenrios
de exposio mais desfavorveis.
Por sua vez, a presena de Etinilestradiol suscitaria ateno, particularmente se consi-
derados como crticos os cenrios de crianas (principalmente na fase de amamenta-
o articial) expostas variadas vias de exposio e, portanto, com menores fraes
da IDT atribudas gua. Para esse DE, seria necessrio que se contasse com remoo
por meio do tratamento da gua e/ou minimizao da contaminao dos mananciais,
por vezes bem elevadas, dependendo do cenrio de exposio que se considere.
GUAS 344
9.3.2 Avaliao Quantitativa de Risco Microbiolgico (AQRM) aplicada
ao controle da qualidade da gua para consumo humano
A Avaliao Quantitativa de Risco Microbiolgico (AQRM) incorpora as etapas classi-
camente utilizadas na avaliao de risco qumico, quais sejam: identicao do perigo,
avaliao da exposio, avaliao da dose-resposta e caracterizao do risco.
A fase de identicao de perigos tem recebido uma abordagem mais ampla, deno-
minada formulao do problema, envolvendo o planejamento sistemtico das etapas da
avaliao de risco, qual seja: uma caracterizao inicial da exposio e dos efeitos adver-
sos com a elaborao de um modelo conceitual que descreva o bioagente patognico ou
o ambiente de interesse, denindo populao e cenrios de exposio (WHO, 2006A).
Nessa etapa, todos os perigos e eventos perigosos devem ser identicados e mapeados,
em todos os componentes do sistema de abastecimento, da fonte ao consumidor. Devem
ser mapeadas as fontes de contaminao, identicados os organismos patognicos de
maior ocorrncia ou importncia, o potencial de remoo no sistema de tratamento,
bem como o de reintroduo de perigos, por exemplo, via recirculao de gua de lava-
gem de ltros ou recontaminao na rede de distribuio. Na identicao de perigos,
naturalmente, devem ser considerados todos os patgenos possveis de ocorrer, mas a
OMS sugere que patgenos referncia sejam identicados, no entendimento de que o
controle desses asseguraria o dos demais, e recomenda a considerao de pelos menos
um tipo de vrus, bactria e protozorios patognicos (WHO, 2006A)
9
.
Na etapa de avaliao da exposio, fundamentalmente, o que se busca a estima-
tiva do nmero de organismos patognicos ingeridos por indivduos ou populaes a
cada evento de exposio ou em exposio continuada (isto , em base temporal, por
exemplo, ao longo de um ano). O cenrio de exposio ao fator de risco consumo de
gua no to complexo de ser formulado quanto em outras aplicaes de AQRM (por
exemplo, o reso da gua (PETTERSON; ASHBOLT, 2002; BASTOS; BEVILACQUA, 2006)
e, essencialmente, consiste no conhecimento ou estimativa do nmero de organismos
presentes na gua de consumo e do volume de gua consumido. Entretanto, a mensu-
rao da concentrao de patgenos na gua, principalmente em gua tratada (baixas
concentraes), est sujeita a limitaes analticas. Alternativamente, pode-se recorrer
ao conhecimento da ocorrncia na gua bruta e do potencial de remoo por meio do
tratamento, mas ambas as medidas ou estimativas podem estar sujeitas a amplas va-
riaes. Por sua vez, o prprio padro de consumo de gua tambm apresenta fatores
de incerteza e variabilidade.
Na etapa de caracterizao do risco, as informaes sobre o perl da exposio e a do-
se-resposta so analisadas conjuntamente para o clculo das probabilidades de infeco
(risco) para um cenrio de exposio de uma populao a um organismo patognico.
.
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 345
Vrios estudos experimentais com humanos fornecem informaes sobre dose-resposta
para diversos microrganismos, as quais permitiram o ajuste de dois modelos matem-
ticos para expressar a probabilidade de infeco resultante da ingesto de um nmero
conhecido de organismos: modelo exponencial (Equao 9.4) e modelo beta-Poisson
(Equao 9.5). Ambos estimam o risco de infeco associado a uma nica exposio,
sendo que o modelo beta-Poisson expressa maior heterogeneidade na interao micror-
ganismo-hospedeiro (HAAS; ROSE; GERBA, 1999; HAAS; EISENBERG, 2001).
P
I
(d) = 1 exp (-d/k) Equao 9.4
P
I
(d) = 1 - [(1 + d/N
50
) (2
1/
- 1)])
-
Equao 9.5
Sendo:
PI: probabilidade de infeco para uma nica exposio
d: nmero de organismos ingeridos por exposio (dose)
N50: dose infectante mdia (Tabela 9.1)
e k: parmetros caractersticos da interao agente-hospedeiro (Tabela 9.1)
Tabela 9.1 > Parmetros caractersticos da interao agente-hospedeiro
para os modelos exponencial e beta-Poisson de probabilidade de infeco
MICRORGANISMO k N
50
Poliovrus I 109,87
Rotavrus 6,17 0,2531
Adenovrus 4 2,397
Echovrus 12 78,3
Vrus Coksackie 69,1
Salmonella
(1)
23.600 0,3126
Salmonella typhosa 3,6 x 10
6
0,1086
Shigella
(2)
1.120 0,2100
Escherichia coli
(3)
8,6 x 10
7
0,1778
Campylobacter jejuni 896 0,145
Vibrio cholera 243 0,25
Entamoeba coli 341 0,1008
Cryptosporidium parvum 238
Giardia lamblia 50,23
NOTAS: (1) MLTIPLAS CEPAS, EXCLUDAS S. TYPHOSA E S. PULLORUM. (2) S. FLEXINERII E S. DYSENTERIAE EM CONJUNTO. (3) CEPAS NO
ENTEROHEMORRGICAS (EXCLUDA E. COLI O111).
FONTE: HAAS; EISENBERG (2001).
GUAS 346
Com a Equao 9.6, pode-se estimar o risco para perodos de tempo maiores (por
exemplo, anual), ou seja, para mltiplas exposies mesma dose:
P
I
(A)
(d) = 1 [1 - P
I
(d)]
n
Equao 9.6
Sendo:
PI (A): probabilidade anual de infeco decorrente de n exposies mesma dose (d)
PI: probabilidade de infeco para uma nica exposio
n: nmero de exposies por ano
Exemplica-se, portanto, uma das aplicaes da AQRM no controle da qualidade da
gua para consumo humano: a estimativa de risco a partir do conhecimento da con-
centrao de determinado organismo na gua e assumido um padro de consumo de
gua (L/d). Esse procedimento pode ser feito com base em dados pontuais de entrada
nos modelos probabilsticos (por exemplo, medidas de tendncia central de bancos de
dados de qualidade da gua, valores xos dos parmetros de dose-resposta), o que re-
sultaria, tambm, em estimativas de risco em valores nicos. Alternativamente, e mais
recomendvel, seria considerar variaes em torno dos dados de entrada, de acordo
com uma dada distribuio (por exemplo, por meio de simulao de Monte Carlo),
obtendo como resultado estimativas de risco tambm segundo determinada distribui-
o, ou seja, levando em considerao fatores de incerteza e variabilidade (heteroge-
neidade entre grupos expostos, devida, por exemplo, exposio ou sensibilidades
diferenciadas) (HAAS; ROSE; GERBA, 1999; HAAS; EISENBERG, 2001).
Em que pese a grande utilidade dessa ferramenta, algumas limitaes inerentes aos
pressupostos e bases dos modelos de AQRM devem ser levantadas, alm daquelas j
mencionadas no pargrafo anterior (incertezas e variabilidade). Por exemplo, o empre-
go de modelos estticos de estimativa do risco individual como resultado da exposio
a certa concentrao de patgenos, mesmo que continuada, mas de forma indepen-
dente (o mesmo paradigma da AQRQ), no leva em considerao particularidades das
doenas infeccionas, como, por exemplo, a possibilidade de transmisso secundria
(pessoa-pessoa) e de aquisio de imunidade, ou seja, por denio, risco se manifesta
em base populacional e de forma dinmica. Tambm pode ser questionado o pressu-
posto assumido nos modelos de AQRM de que probabilidade de ocorrncia de mi-
crorganismos na gua obedece distribuio aleatria de Poisson (REGLI et al., 1991).
Por m, h tambm que se relevar o fato de que as informaes de dose-resposta
utilizadas na formulao dos modelos matemticos foram obtidas de estudos com in-
divduos adultos sadios e, portanto, no esto considerados grupos populacionais par-
ticularmente mais susceptveis (HAAS; ROSE; GERBA, 1999; HAAS; EISENBERG, 2001).
Os modelos de AQRM podem ainda ser aplicados de forma inversa no controle da qua-
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 347
lidade da gua para consumo humano, ou seja, estabelecido o risco tolervel; pode-se
estimar a concentrao admissvel de organismos patognicos no euente tratado e,
por conseguinte, o grau de tratamento requerido (usualmente expresso em termos de
unidades logartmicas de remoo). Na Figura 9.2, so apresentadas combinaes de
concentraes de oocistos de Cryptosporidium na gua bruta e os respectivos reque-
rimentos de remoo, de forma a se observar risco tolervel de 10
-4
.
9.3.3. Carga de doena
Na metodologia de AQR, a estimativa do risco no leva em considerao caracters-
ticas particulares de cada agente (qumico ou microbiolgico) e, consequentemente,
dos efeitos adversos produzidos (por exemplo, cncer ou diarreia, supondo-se que
efeitos mais graves e duradouros devam ser mais signicativos e prioritrios). Tam-
bm no so considerados o fator idade e o estado de sade anterior ocorrncia da
doena ou bito. Assim, o risco tolervel para uma determinada infeco ou doena
pode ser bem diferente do de outra. Por exemplo, tem-se assumido como risco tole-
rvel anual 10
-4
(um caso em cada 10.000 indivduos em um ano) para a exposio a
microrganismos patognicos (diarreia) e, em geral, 10
-5
quando o efeito considerado
o cncer (um caso em cada 100.000 indivduos em 70 anos) (USEPA, 2005; USEPA,
2006C; WHO, 2006A).
Portanto, a estimativa da carga de doena (burden of disease), medida pelo parmetro
anos de vida perdidos ajustados por incapacidade (da sigla inglesa DALY Disability
Figura 9.2
Remoo necessria de oocistos de Cryptosporidium para risco tolervel
de 10
-4
de acordo com a concentrao na gua bruta
FONTE: HAAS ET AL., (1996 - ADAPTADO).
GUAS 348
Adjusted Life Years), tem sido entendida como uma abordagem mais completa. Esse
indicador leva em considerao a probabilidade da doena resultar em bito e/ou
em efeitos adversos de carter agudo (imediatos) ou crnico (durao prolongada
de efeitos). A abordagem utilizada em sua construo envolve a transformao de
uma incapacidade vivenciada (por exemplo, trs dias com diarreia ou bito devido
diarreia) em anos de vida saudveis perdidos. Dessa forma, expressando-se a carga de
doena com um nico indicador e tendo o tempo como medida, possvel comparar o
impacto de diferentes agentes (qumicos e/ou microbiolgicos) na sade da populao
(CHAN, 1997; PETTERSON; ASHBOLT, 2002; HAVELAAR; MELSE, 2003).
De forma simplicada, a carga de doena pode ser calculada a partir da Equao 9.7
10
.
DALY = N.D.S Equao 9.7
Sendo:
N: nmero de pessoas afetadas (obtido a partir de registros mdicos,
estudos epidemiolgicos, sistemas de noticao de agravos ou estimativas
feitas utilizando modelos de dose-reposta)
D: durao mdia do efeito adverso (no caso de doena, crnica ou aguda,
a informao obtida a partir de consulta a especialistas, dados hospitalares
ou de estudos epidemiolgicos; no caso de bito ou de incapacidade permanente,
avalia-se a mdia de anos perdidos devido ao gravo, tendo-se como referncia,
por exemplo, a expectativa de vida da populao)
S: peso atribudo gravidade do efeito de interesse (variando de 0 a 1,
sendo que 0 signica o indivduo saudvel e 1 bito).
Quando o efeito adverso de interesse o bito, a medida utilizada anos de vida
perdidos devido ao bito prematuro (years of life lost - YLL) e quando o efeito de inte-
resse a doena (aguda ou crnica) ou uma sequela, a medida utilizada anos vividos
com a incapacidade (years lived with a disability - YLD); quando os dois efeitos so
importantes, utilizam-se ambas as medidas (CHAN, 1997; PRSS; HAVELAAR, 2001;
PETTERSON; ASHBOLT, 2002; HAVELAAR; MELSE, 2003).
Como exemplo, para calcular o DALY total de uma determinada condio (diarreia aquosa,
por exemplo), somam-se o nmero de anos perdidos em bitos prematuros por essa causa
e o total de anos vividos com incapacidades de conhecida severidade e durao, pelos
sobreviventes da doena. Na Tabela 9.2, so apresentados exemplos de valores assumidos
em estudos na Holanda para o clculo da carga de doena relacionada infeco por Cryp-
tosporidium parvum, Campylobacter ssp., Escherichia coli O157 e rotavrus.
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 349
Tabela 9.2 > Valores e pesos atribudos gravidade, durao mdia do efeito adverso
infeco por Cryptosporidium parvum, Campylobacter spp. Escherichia coli O157 e rotavrus
ORGANISMO EFEITO GRAVIDADE (S)
DURAO
(ANOS)
(D)
CARGA DE DOENA
(DALY) POR CASO
(YLD OU YLL)
(1)
CARGA DE
DOENA (DALY)
POR 1.000 CASOS
DE DOENA
(2)
Cryptosporidium
parvum
Diarreia aquosa 0,067 0,02 0,0013 1,34
bito 1 13,2 13,2 0,13
Total - - - 1,47
Campylobacter
spp.
Gastroenterite 0,067 0,014 0,00094 0,94
bito 1 13,2 13,2 1,32
Total - - - 2,26
Escherichia coli
O157
Diarreia aquosa 0,067 0,0093 0,0006 0,3
(3)
Diarreia
sanguinolenta
0,39 0,015 0,006 2,8
(4)
bito 1 13,2 13,2 3,5
(5)
Total - - - 6,6
Rotavrus
(6)
Diarreia leve 0,10 0,0027 0,002 1,8
Diarreia grave 0,23 0,0027 0,004 3,5
bito 1 80 80 480
(7)
Total - - - 485,3
NOTAS: (1) YLD OU YLL EXPRESSOS A PARTIR DO PRODUTO S*D. (2) DALY = N*D*S; EX.: 1.000 X 0,02 X 0,067 = 1,34; 1.000 X 10
-5
(LETALIDADE) X
13,2 = 0,13. (3) 1.000 X 53% (DIARREIA AQUOSA) X 0,0093 X 0,067 = 0,3. (4) 1.000 X 47% (DIARREIA SANGUINOLENTA) X 0,015 X 0,39 = 2,8. (5) 1.000 X
2,7 X 10
-4
(LETALIDADE) X 13,2 = 3,5. (6) CLCULO REALIZADO PARA PASES EM DESENVOLVIMENTO. (7) 1.000 X 0,6% (LETALIDADE) X 1 X 80 = 480.
FONTE: HAVELAAR; MELSE (2003 - ADAPTADO).
Interpretando os dados na Tabela 9.2, a partir do valor de carga de doena por caso (YLD)
para Cryptosporidium parvum e considerando a ocorrncia de apenas um episdio de
diarreia por pessoa por ano, cada indivduo teria 0,0013 anos perdidos devido diarreia,
o que equivaleria a 0,47 dias por ano ou 11,4 horas por ano. Quando os valores so extra-
polados para base populacional (1.000 casos de diarreia por Cryptosporidium parvum),
a carga de doena (YLD) seria igual a 1,32, signicando que essa populao apresenta
1,32 anos perdidos por ano devidos diarreia. Para a letalidade, a quantidade de anos
perdidos por pessoa por ano devido ao bito por Cryptosporidium parvum (YLL) seria de
13,2; equivalente a 4,818 dias. Considerando a taxa de letalidade de 10
-5
e a ocorrncia
de 1.000 casos de diarreia por Cryptosporidium parvum, a carga de doena (YLL) seria
de 0,13; equivalente a 47,45 dias por ano. Assim, o DALY total (YLD + YLL) considerando
eventos de diarreia (morbidade) e bito (letalidade) seria expresso por 1,47.
Um dos primeiros estudos adaptados ao contexto brasileiro foi realizado pela Escola
Nacional de Sade Pblica/Fundao Osvaldo Cruz, sendo o indicador DALY por 1.000
habitantes calculado para cada grupo de causas de doenas denida pelo Ministrio
GUAS 350
da Sade. Os resultados evidenciaram DALY total de 37.518.239 anos de vida perdidos
por incapacidade (232/100.000 hab.), sendo 18.031.271 decorrentes da parcela (YLL)
de mortalidade (111/100.000 hab.) e 19.486.968 decorrentes de incapacidade (YLD)
(120/100.000 hab.). O estudo avaliou ainda que os grupos de doenas com maiores
contribuies (DALYS) foram: IIE doenas neuropsiquitricas (43), IIG - doenas car-
diovasculares (31), IA - doenas infecciosas e parasitrias (21) e IIH - doenas respira-
trias crnicas (19) (ENSP/FIOCRUZ, 2002).
A mesma problematizao dirigida ao conceito de risco tolervel no item 9.2 aplica-se
denio do que seria DALY tolervel, inevitavelmente permeada por aspectos polticos,
sociais e econmicos. Porm, uma vez denido o valor de DALY tolervel, esse pode ser
convertido em termos de risco tolervel anual de doena, de acordo com a Equao 9.8.
Tolervel de doena pppa = DALYs tolervel pppa / DALYs pcd Equao 9.8
Sendo:
pppa: por pessoa por ano
pcd: por caso de doena
Como j mencionado, para substncias carcinognicas na gua para consumo huma-
no, a OMS adota 10
-5
como valor para risco tolervel (um caso de cncer por 100.000
pessoas ao longo de 70 anos) (WHO, 2006). A carga de doena correspondente a esse
nvel de risco (ajustada para a gravidade da doena) de aproximadamente 1 x 10
-6
DALY (1 DALY) por pessoa por ano. A carga de doena estimada para diarreias leves
(por exemplo, com mortalidade de 1 x 10
-5
), com risco anual de doena de 10
-3
(ou risco
para toda a vida de uma em dez pessoas), tambm de 1 DALY pppa (WHO, 2006).
Esse o valor assumido pela OMS como carga de doena tolervel, tanto para o con-
sumo de gua quanto para a exposio utilizao de esgotos sanitrios na agricultu-
ra, o qual representa um elevado nvel de proteo sade (WHO, 2006A; 2006B).
A partir do valor do risco tolervel de doena, conhecendo-se ou estimando-se a razo
doena : infeco, possvel determinar o risco tolervel de infeco, por meio da
Equao 9.9.
Risco tolervel de infeco (pppa) = Risco de doena / razo doena : infeco Equa-
o 9.9. Na Tabela 9.3, so apresentados dados de razo doena : infeco e a trans-
formao de risco tolervel de doena para risco tolervel de infeco.
Portanto, assim como exposto no caso da estimativa de risco, denido DALY tolervel,
pode-se estimar os requisitos de remoo de patgenos por meio do tratamento, a
partir do conhecimento de sua concentrao na gua bruta (Figura 9.3). Na Tabela 9.4,
apresenta-se de forma sistematizada esse procedimento, integrando os conceitos de
risco e carga de doena.
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 351
Tabela 9.3 > DALYs por caso de doena, risco de doena, razo de doena : infeco
e risco tolervel anual de infeco por pessoa por Cryptosporidium, Campylobacter e rotavrus)
ORGANISMO DALY PCD
(1)
RISCO DE DOENA
EQUIVALENTE 10
-6
DALY PPPA
(2
)
RAZO
DOENA : INFECO
(3)
RISCO TOLERVEL
DE INFECO
PPPA
(4)
Cryptosporidium 1,5 x 10
-3
6,7 x 10
-4
0,3 2,2 x 10
-3
Campylobacter spp 4,6 x 10
-3
2,2 x 10
-4
0,7 3,1 x 10
-4
Rotavrus pases
desenvolvidos
1,4 x 10
-2
7,1 x 10
-5
0,05 1,4 x 10-3
Rotavrus pases em
desenvolvimento
2,6 x 10
-2
3,8 x 10
-4
0,05 7,7 x 10
-4
NOTAS: (1) E (3)
HAVELAAR E MELSE (2003). (2) RISCO TOLERVEL DE DOENA = 10
-6
DALY PPPA / DALY PCD.
(4) RISCO TOLERVEL DE INFECO PPPA = RISCO DE DOENA / RAZO DOENA : INFECO.
FONTE: WHO (2006A).
Figura 9.3
Remoo necessria de oocistos de Cryptosporidium, Campylobacter e rotavrus
para DALY tolervel de 10
-6
pppa, de acordo com a concentrao na gua bruta
(*)
PASES EM DESENVOLVIMENTO;
(**)
PASES INDUSTRIALIZADOS.
FONTE: WHO (2006A - ADAPTADO).
GUAS 352
Tabela 9.4 > Exemplos de associao entre carga de doena
e ocorrncia de patgenos na gua bruta
PARMETROS UNIDADE CRYPTOSPORIDIUM CAMPYLOBACTER ROTAVRUS
Concentrao na gua bruta (CAB) Organismos / L 10 100 10
Ecincia do tratamento para o
nvel de risco tolervel (ET)
Remoo (%) 99,994 99,99987 99,99968
Qualidade da gua tratada (QAT)
(1)
Organismos / L 6,3 x 10
-4
1,3 x 10
-4
3,2 x 10
-5
Consumo dirio de gua (V)
(2)
L 1 1 1
Exposio (consumo de gua) (E)
(3)
Organismos / dia 6,3 x 10
-4
1,3 x 10
-4
3,2 x 10
-5
Dose-resposta (r)
(4)
Probabilidade de
infeco / org.
4,0 x 10
-3
1,8 x 10
-2
2,7 x 10
-1
Risco de infeco dirio (Pinf;d)
(5)
dia (d) 2,5 x 10
-6
2,3 x 10
-6
5,8 x 10
-6
Risco de infeco anual (Pinf;a)
(6)
ano (a) 9,2 x 10
-4
8,3 x 10
-4
3,1 x 10
-3
Risco de infeco por doena
diarrica (Pinf;pdd)
(7)
0,7 0,3 0,5
Risco de doena diarrica (Ppdd)
(8)
Ano (a) 6,4 x 10
-4
2,5 x 10
-4
1,6 x 10
-3
Carga de doena (cd)
(9)
DALY (pcd) 1,5 x 10
-3
4,6 x 10
-3
1,4 x 10
-2
Frao susceptvel (fs)
(10)
Populao (%) 100 100 6
Carga de doena (CD)
(11)
DALY (pppa) 1 x 10
-6
1 x 10
-6
1 x 10
-6
NOTAS: (1) Q
AT
=C
A
X (1- E
F
). (2) V= VOLUME DE GUA INGERIDO POR PESSOA/DIA (ESTIMADO OU CALCULADO). (3)
E= Q
AT
X V. (4) CONSTANTES
E MODELOS USADOS PARA CALCULAR RISCO DE INFECO. (5) P
INF;D
=E X R. (6) P
INF,A
= P
INF;D
X 365. (7) BASEADO EM ESTUDO DE HAVELAAR
E MELSE (2003). (8)
P
PDD
= P
INF,A
X P
INF;PDD
. (9) HAVELAAR E MELSE (2003). (10) A PROPORO DA POPULAO SUSCEPTVEL A DESENVOLVER
INFECO FUNO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. (11) DALY (PPPA) = P
PDD
X CD X FS.
FONTE: WHO (2006A - ADAPTADO).
9.4 Consideraes sobre os resultados do Prosab Edital 5,
Tema 1 e a norma brasileira de qualidade da gua para
consumo humano sob a perspectiva da avaliao de risco
Alguns trabalhos apontam que a legislao brasileira revestida de fundamentao
conceitual e losca bastante avanada, em plena consonncia com os princpios
da Anlise de Risco, mltiplas barreiras e boas prticas em abastecimento de gua,
ou seja, com os fundamentos dos Planos de Segurana da gua (BASTOS et al., 2001;
HELLER et al., 2005; BASTOS; BEZERRA; BEVILACQUA, 2007).
Entretanto, como destacado no captulo 1, o padro de potabilidade brasileiro carece
de enfoque mais bem fundamentado de avaliao de risco. Por exemplo, a composio
do padro de substncias qumicas que representam risco sade tem, claramente,
como referncia principal as diretrizes da OMS, porm vrias aes tpicas da etapa
de formulao do problema ou identicao de perigos merecem melhor apropriao
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 353
no contexto brasileiro como, por exemplo, a sistematizao de informaes sobre a
intensidade de uso ou de comercializao das diversas substncias qumicas no pas,
sobre sua real ocorrncia em nossos mananciais de abastecimento e sobre a remoo
por meio das diversas tcnicas de tratamento.
De forma anloga, tambm no se tem registrado no pas maiores esforos de pesquisa
ou problematizao de informaes importantes para a etapa da avaliao da exposi-
o e proposio de VMPs, tais como: estudos toxicolgicos locais, perl da populao
(e subgrupos susceptveis), dados de massa corporal, consumo dirio de gua (HELLER
et al., 2005). Tampouco se verica uma ao articulada entre os rgos responsveis
pelas diversas esferas de vigilncia em sade, de forma a propiciar a necessria abor-
dagem integrada de avaliao de riscos associados aos diversos modos de exposio
(por exemplo: gua, alimentos, ar, solo), facilitando a melhor apropriao de valores de
Dose ou Ingesto Total Diria e das fraes atribuveis a cada fator de risco.
Em relao ao padro microbiolgico, tambm j se fez referncia no captulo 1
sobre sua fragilidade em termos de fundamentao em AQRM, incluindo sugestes
de monitoramento de patgenos na gua bruta, sem, entretanto, o estabelecimento
mais explcito, detalhado ou mais bem justicado de procedimentos de vericao
de performance de tratamento, ainda que com base em parmetros indicadores,
includo aqui o padro de turbidez. Muito menos se tem no pas discusso sobre
metas de sade e risco tolervel, o que deveria estar subentendido em um padro
de potabilidade.
No presente Edital do Prosab, ainda que nem todos os resultados tenham sido siste-
matizados e interpretados sob a tica da AR, seguem exemplos de contribuies nesse
sentido, as quais constituem importante subsdio ao processo de constante atualiza-
o da norma brasileira de qualidade da gua para consumo humano.
(i) Informaes sobre remoo de agrotxicos por meio de diferentes tcnicas de tra-
tamento de gua, mais especicamente: (a) remoo de carbofuran por ltrao em
margem; (b) remoo de diuron e de hexazinona por tratamento convencional e por
oxidao; (c) remoo de glifosato e de 2,4-D por claricao, pr-oxidao e adsoro
em carvo ativado granular (ver captulo 6).
Foram realizados estudos sobre agrotxicos que compem (glifosato e 2,4-D) e que
no compem (carbofuran, diuron e hexazinona) o atual padro de potabilidade brasi-
leiro, mas que, no ltimo caso, apresentam registros de intensa utilizao e ocorrncia
em mananciais em alguns Estados do pas. Foram ainda realizados estudos toxicol-
gicos com diuron e hexazinona em experimentos com cobaias, ainda que com doses
elevadas e avaliao de efeitos agudos.
GUAS 354
Referncias bibliogrcas
AS/NZ - AUSTRALIA, NEW ZEALAND. AS/NZS 4360:2004 Risk Management Standard. 3. ed. Stan-
dards Australia and Standards New Zealand, 2004.
BARTRAM, J.; FEWTRELL, L.; STENSTRM, T.-A. Harmonised assessment of risk and risk manage-
ment for water-related infectious disease: an overview. In: FEWTRELL, L.; BARTRAM, J. (eds.)
Water quality guidelines, standards and health: assessment of risk and risk management for
water-related infectious disease. Londres: WHO/IWA Publishing, p. 1-16, 2001.
BASTOS, R.K.X.; BEVILACQUA, P.D. Normas e critrios de qualidade para reso da gua. In:
FLORNCIO, L.; BASTOS, R.K.X.; AISSE, M.M. (orgs.). Tratamento e utilizao de esgotos sanitrios.
Rio de Janeiro: ABES, 2006, p. 17-62 (Projeto Prosab).
BASTOS, R.K.X.; BEZERRA, N.R.; BEVILACQUA, P.D. Planos de segurana da gua: novos paradig-
mas em controle de qualidade da gua para consumo humano em ntida consonncia com a
legislao brasileira. In: 24 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL.
2007, Belo Horizonte. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2007 (CD ROM).
BASTOS, R.K.X. et al. Reviso da Portaria n 36 GM/90. Premissas e princpios norteadores. In: 21
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL. 2001, Joo Pessoa. Anais...
Rio de Janeiro: ABES, 2001. (CD-ROM).
BRASIL. Ministrio da Sade. Conselho Nacional de Sade. Subsdios para construo da Poltica
Nacional de Sade Ambiental. Braslia: Editora do Ministrio da Sade, 2007. 56 p. (Srie B. Textos
Bsicos de Sade).
______. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Coordenao-Geral de Vigiln-
cia em Sade Ambiental. Portaria MS n. 518. Braslia: Dirio Ocial da Unio, 26 mar. 2004.
CHAN, M.S. The global burden of intestinal nematode infections fty years on. Parasitology
Today, v. 13, n. 11, p. 438-443, 1997.
EC - EUROPEAN COMISSION. HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE - GENERAL. Re-
view report for the active substance glyphosate (6511/VI/99-nal), 2002. Disponvel em <http://
europa.eu.int/comm/food/fs/ph/>. Acesso em: ?
ENSP/FIOCRUZ - ESCOLA NACIONAL DE SADE PBLICA/FUNDAO OSWALDO CRUZ. Relatrio
nal do projeto Estimativa da Carga de Doena do Brasil - 1998. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002.
170 p. Disponvel em: <http://www.ensp.ocruz.br/projetos/carga/downloads1.htm> Acesso em:
15 dez. 2008.
FAO/WHO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS; WORLD HEALTH
ORGANIZATION. Pesticide residues in food - 2005. Report of the joint meeting of the FAO panel of
experts on pesticide residues in food and the environment and the WHO Core Assessment Group.
Genebra, Sua, 20-29 set. 2005. Roma: FAO/WHO, 2005 (FAO Plant Protection and Protection
Paper 183).
______. Pesticide residues in food - 2004. Report of the joint meeting of the FAO panel of experts
on pesticide residues in food and the environment and the WHO Core Assessment Group. Roma,
(ii) Informaes sobre ocorrncia em mananciais e potencial de remoo de desregu-
ladores endcrinos (estradiol, etinilestradiol e nonilfenol) por tcnicas convencionais
de tratamento e por separao por membranas (ver captulo 7).
Utilizando os resultados do monitoramento de mananciais de abastecimento, procu-
rou-se fazer uma avaliao preliminar de risco associado aos desreguladores endcri-
nos monitorados.
Esses estudos guardam relevncia na medida em que abordam uma das questes
emergentes na ordem do dia e abrem agendas de pesquisa e de discusso sobre sua
eventual regulamentao em normas de qualidade da gua no pas
Em conjunto, esses so exemplos de informaes a serem buscadas de forma mais
sistematizada, subsidiando etapas de identicao de perigos e avaliao da exposi-
o, com vistas formulao de padres de substncias qumicas em base cientca e
calcada na realidade nacional.
(iii) Informaes sobre a remoo de cianobactrias e cianotoxinas por meio de trata-
mento convencional (ciclo completo) e ltrao lenta e do potencial de liberao de
ciatoxinas em etapas do tratamento convencional (decantao, ltrao e desinfec-
o) (ver captulo 5).
(iv) Informaes sobre a remoo de oocistos de Cryptosporidium por meio de trata-
mento convencional (ciclo completo), ltrao direta, dupla ltrao e ltrao lenta
(ver captulo 4). Um dos projetos incluiu a avaliao de perigos associados recircula-
o de gua de lavagem de ltros (resultados no includos neste livro).
Em geral, os resultados obtidos fornecem informaes-chave em alguns dos pontos
centrais na aplicao da metodologia de AR ao controle da qualidade da gua para
consumo humano: a identicao de perigos (ou sua introduo, no caso de recircu-
lao de gua de lavagem de ltros ou da liberao de cianotoxinas durante as etapas
do tratamento), de pontos crticos de controle e de medidas de controle em diferentes
tcnicas ou etapas do tratamento da gua.
Em relao aos oocistos de Cryptosporidium, as informaes de remoo (unidades
logartmicas) nas diversas tcnicas/etapas de tratamento estudadas servem tambm
a um dos pilares da aplicao da AQRM formulao de normas e ao controle da
qualidade da gua para consumo humano: a vericao do potencial de remoo por
diversas tcnicas de tratamento e, por conseguinte, a possibilidade de estimativa da
qualidade da gua tratada, e do risco associado, em funo da qualidade da gua bru-
ta. Adicionalmente, os estudos reuniram informaes importantes em termos de sub-
sdio discusso sobre o emprego da turbidez como parmetro indicador da remoo
de oocistos de Cryptosporidium e seu valor numrico como padro de potabilidade.
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 355
Referncias bibliogrcas
AS/NZ - AUSTRALIA, NEW ZEALAND. AS/NZS 4360:2004 Risk Management Standard. 3. ed. Stan-
dards Australia and Standards New Zealand, 2004.
BARTRAM, J.; FEWTRELL, L.; STENSTRM, T.-A. Harmonised assessment of risk and risk manage-
ment for water-related infectious disease: an overview. In: FEWTRELL, L.; BARTRAM, J. (eds.)
Water quality guidelines, standards and health: assessment of risk and risk management for
water-related infectious disease. Londres: WHO/IWA Publishing, p. 1-16, 2001.
BASTOS, R.K.X.; BEVILACQUA, P.D. Normas e critrios de qualidade para reso da gua. In:
FLORNCIO, L.; BASTOS, R.K.X.; AISSE, M.M. (orgs.). Tratamento e utilizao de esgotos sanitrios.
Rio de Janeiro: ABES, 2006, p. 17-62 (Projeto Prosab).
BASTOS, R.K.X.; BEZERRA, N.R.; BEVILACQUA, P.D. Planos de segurana da gua: novos paradig-
mas em controle de qualidade da gua para consumo humano em ntida consonncia com a
legislao brasileira. In: 24 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL.
2007, Belo Horizonte. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2007 (CD ROM).
BASTOS, R.K.X. et al. Reviso da Portaria n 36 GM/90. Premissas e princpios norteadores. In: 21
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIENTAL. 2001, Joo Pessoa. Anais...
Rio de Janeiro: ABES, 2001. (CD-ROM).
BRASIL. Ministrio da Sade. Conselho Nacional de Sade. Subsdios para construo da Poltica
Nacional de Sade Ambiental. Braslia: Editora do Ministrio da Sade, 2007. 56 p. (Srie B. Textos
Bsicos de Sade).
______. Ministrio da Sade. Secretaria de Vigilncia em Sade. Coordenao-Geral de Vigiln-
cia em Sade Ambiental. Portaria MS n. 518. Braslia: Dirio Ocial da Unio, 26 mar. 2004.
CHAN, M.S. The global burden of intestinal nematode infections fty years on. Parasitology
Today, v. 13, n. 11, p. 438-443, 1997.
EC - EUROPEAN COMISSION. HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE - GENERAL. Re-
view report for the active substance glyphosate (6511/VI/99-nal), 2002. Disponvel em <http://
europa.eu.int/comm/food/fs/ph/>. Acesso em: ?
ENSP/FIOCRUZ - ESCOLA NACIONAL DE SADE PBLICA/FUNDAO OSWALDO CRUZ. Relatrio
nal do projeto Estimativa da Carga de Doena do Brasil - 1998. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002.
170 p. Disponvel em: <http://www.ensp.ocruz.br/projetos/carga/downloads1.htm> Acesso em:
15 dez. 2008.
FAO/WHO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS; WORLD HEALTH
ORGANIZATION. Pesticide residues in food - 2005. Report of the joint meeting of the FAO panel of
experts on pesticide residues in food and the environment and the WHO Core Assessment Group.
Genebra, Sua, 20-29 set. 2005. Roma: FAO/WHO, 2005 (FAO Plant Protection and Protection
Paper 183).
______. Pesticide residues in food - 2004. Report of the joint meeting of the FAO panel of experts
on pesticide residues in food and the environment and the WHO Core Assessment Group. Roma,
GUAS 356
20-29 set. 2004. Rome: FAO/WHO, 2004 (FAO Plant Protection and Protection Paper 178).
FREITAS, C.M.; GOMEZ, C.M. Anlise de riscos tecnolgicos na perspectiva das Cincias Sociais.
Histria, Cincia, Sade, v. 3, n. 3, p. 485-504, 1997.
FREITAS, C.M.; PORTO, M.F.S.; MOREIRA, J.C. Segurana qumica, sade e ambiente: perspectivas
para a governana no contexto brasileiro. Cadernos de Sade Pblica, v. 18, n. 1, p. 249-256,
2002.
HAAS, C.N. et al. Assessing the risk posed by oocysts in drinking water. Journal of American Water
Works Association, v. 88, n. 9, p. 131-1364, 1996.
HAAS, C.N.; ROSE, J.B.; GERBA, C.P. Quantitative microbial risk assessment. Nova Iorque: John
Wiley & Sons, 1999. 449 p.
HAAS, P.R.; EINSENBERG, J.N.S. Risk assessment. In: FEWTRELL, L; BARTRAM J. (eds.) Water qual-
ity guidelines, standards and health: assessment of risk and risk management for water related
infectious disease. Londres: WHO/IWA Publishing, p. 1612-183, 2001.
HAVELAAR, A.H.; MELSE, J.M. Quantifying public health risk in the WHO guidelines for drink-
ing-water quality: a burden of disease approach. Genebra: WHO, 2003. 49 p. (RIVM report
734301022/2003) Disponvel em: <http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/rivmrep.
pdf> Acesso em: 19 set. 2008.
HEALTH CANADA. FEDERAL PROVINCIAL TERRITORIAL COMMITTEE ON DRINKING WATER. Guide-
lines for Canadian drinking water quality. Summary table. Ottawa: Health Canada, 2008. Dis-
ponvel em: <http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/water-eau/
sum_guide-res_recom/summary-sommaire-eng.pdf> Acesso em: 25 jan. 2009.
______. FEDERAL PROVINCIAL TERRITORIAL COMMITTEE ON DRINKING WATER. Guidelines for
Canadian drinking water quality. Part I Approach to the derivation of drinking water guide-
lines. Ottawa: Health Canada, 1995A. Disponvel em: <http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/water/
pdf/part.1.pdf> Acesso em: 19 set. 2008.
______. Glyphosate. Ottawa: Health Canada, Food Directorate, 1995B.
______. Canadian environmental protection act. Human health risk assessment for priority sub-
stances. Ottawa: Minister of Supply and Services Canada, 1994.
HELLER, L. et al. Terceira edio dos guias da organizao mundial da sade: que impacto esperar
na Portaria 518/2004? In: 23 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITRIA E AMBIEN-
TAL. 2005, Campo Grande. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2007 (CD-ROM).
HUBBARD, A. statistical uncertainty in burden of disease estimates. In: KAY, D.; PRSS, A.; COR-
VALN, C. (org.) Methodology for assessment of environmental burden of disease. Genebra: WHO,
2000. p. 40-44.
HUNTER, P.R.; FEWTRELL, L. Acceptable risk. In: FEWTRELL, L; BARTRAM J. (eds.) Water quality
guidelines, standards and health: assessment of risk and risk management for water related
infectious disease. Londres: WHO/IWA Publishing, p. 207-227, 2001.
LAST, J.M. A dictionary of epidemiology. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 1995.
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 357
Mac KENZIE, W.R. et al. A massive outbreak in Milwaukee of Cryptosporidium infection transmitted
through the public water supply. New England Journal of Medicine, v. 331, p. 161-167, 1994.
MACLER, B.A.; REGLI, S. Use of microbial risk assessment in setting US drinking water standards.
International Journal of Food Microbiology, v. 18, n. 4, p. 245-256, 1993.
PETTERSON, S.A.; ASHBOLT, N.J. WHO Guidelines for the safe use of wastewater and excreta in
agriculture: microbial risk assessment section. Genebra: WHO, 2002. 36 p. Disponvel em: <http://
www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/mrareview.pdf> Acesso em: 23 out. 2008.
PRSS, A.; HAVELAAR, A. The global burden of disease study and applications in water, sanitation,
and hygiene. In: FEWTRELL, L.; BARTRAM, J. (eds.) Water quality guidelines, standards and health:
assessment of risk and risk management for water-related infectious disease. Londres: WHO/IWA
Publishing, 2001. p. 43-60.
REGLI, S. et al. Modeling the risk from Giardia and viruses in drinking water. Journal of American
Water Works Association, v. 83, n. 11, p. 76-84, 1991.
USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Drinking Water Contaminant
Candidate List 3 - Draft; Notice. Federal Register, Part II, v. 73, n. 35, 21 fev. 2008. Disponvel em:
<www.epa.gov/ogwdw/ccl> Acesso em: 20 jan. 2009.
______. Ofce of Water. 2006 Edition of the drinking water standards and health advisories.
Washington, D.C.: USEPA, 2006A (EPA-822-R-06-013).
______. National Primary Drinking Water. Regulations: long term 2 enhanced surface water
treatment rule - nal rule. Federal Register, Part II, 40CFR, Parts 9, 141 and 142. 5 jan. 2006B.
______. Setting standards for safe drinking water. nov. 2006C. Disponvel em: <http://www.epa.
gov/safewater/standard/setting.html>. Acesso em: 15 dez. 2008.
______. Guidelines for carcinogen risk assessment. Washington, D.C.: USEPA, 2005 (EPA/630/P-
03/001F).
______. Ofce of Pesticide Programs. The incorporation of water treatment effects on pesticide
removal and transformations in Food Quality Protection Act (FQPA) drinking water assessments.
Washington D.C.: USEPA, 2001.
______. Ofce of Pesticide Programs. EPAs risk assessment process for tolerance reassessment.
Washington D.C.: USEPA, 1999 (Staff Paper, 44).
______. National Center for Environmental Assessment. Ofce of Research and Development.
Exposure factors handbook. Washington, D.C.: USEPA, 1997.
______. Guidelines for exposure assessment. Washington, D.C.: USEPA, 1992 (EPA/600/Z-
92/001).
______. Guidelines for development toxicity risk assessment. Washington, D.C.: USEPA, 1991
(EPA/600/FR-91/001). Disponvel em: <www.epa.gov/ncea/raf/pdfs/devtox.pdf > Acesso em: 20
nov. 2008.
WORLD BANK. World development report 1993: investing in health - world development indica-
GUAS 358
tors. Nova Iorque: Oxford University Press, 1993.
WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for drinking water quality [electronic re-
source]: incorporating rst addendum. Volume 1. Recommendations. ed. Genebra: WHO, 2006A.
595 p. Disponvel em: <http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq0506.pdf> Aces-
so em: 19 ago. 2008. 3. ed.
______. Pesticide residues in food - 2004 evaluations. Part II - toxicological. Joint FAO/WHO me-
eting on pesticide residues. Roma, 20-29 set. 2004. Genebra: WHO, 2006B (WHO/IPCS/06.1)
______. Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater. Volume 2: wastewater
use in agriculture. Genebra: WHO, 2006C. 213 p.
______. Water safety plans: managing drinking-water quality from catchment to consumer.
Genebra: WHO, 2005. 244 p. Disponvel em: <https://www.who.int/wsportal/wsp/en/> Acesso
em: 23 set. 2008.
______. INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY. Global assessment of the state-
of-the-science of endocrine disruptors. Edited by Terri Damstra, Sue Barlow, Aake Bergman, Ro-
bert Kavlock, Glen Van Der Kraak. Genebra: WHO, 2002 (WHO/PCS/EDC/02.2).
______. Emerging issues in water and infectious disease. Genebra: WHO, 2003. 22 p. Disponvel
em: <https://www.who.int/wsportal/wsp/en/> Acesso em: 20 out. 2008.
______. Guidelines for drinking-water quality. 2.ed. Addendum to volume 1: Recommendations.
Genebra: WHO, 1998.
______. Division of emerging and communicable diseases surveillance and control annual report
1996. Genebra: WHO, 1997.
______. INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY. Glyphosate. Genebra: WHO, 1994
(Environmental Health Criteria 159).
Notas
1 Na denio da Organizao Mundial da Sade (OMS), gua segura para consumo humano aquela
que no represente risco signicativo sade humana durante o consumo por toda a vida, incluindo as
sensibilidades inerentes a cada estgio de vida (WHO, 2005).
2 Agravos emergentes so aqueles para os quais a ateno e/ou preocupao de mdicos, especialistas
e/ou epidemiologistas tm se voltado a partir de perodos mais ou menos recentes (em geral nos ltimos
20 anos). A evidenciao de relaes causais que expliquem seus determinantes e padres de ocorrncia
pode no estar muito bem esclarecida. Em se tratando de doenas infecciosas emergentes, o agente pa-
tognico pode ser caracterizado, de fato, como uma espcie nova ou um organismo j existente, porm
que apenas agora descobriu-se capaz de infectar e ser patognico para seres humanos (LAST, 1995; WHO,
1997; WHO, 2003).
3 Conforme Brasil (2007), Sade Ambiental denida como a rea da sade pblica, afeita ao co-
nhecimento cientco e formulao de polticas pblicas e s correspondentes intervenes (aes)
relacionadas interao entre a sade humana e os fatores do meio ambiente natural e antrpico que a
determinam, condicionam e inuenciam, com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser humano sob
o ponto de vista da sustentabilidade.
ANLISE DE RISCO APLICADA AO ABASTECIMENTO DE GUA PARA CONSUMO HUMANO 359
4 A literatura registra o emprego dos termos risco aceitvel e risco tolervel, por vezes indiscriminada-
mente, por outras destacando as nuances associadas a aceitar ou tolerar determinado nvel de risco. No
que diz respeito ao consumo de gua, a OMS tem preferido o uso de risco tolervel (HUNTER; FEWTRELL,
2001; WHO, 2006A), sendo esta a abordagem adotada neste captulo.
Essas expresses tm sido utilizadas na literatura nacional em sua forma traduzida, mas, na maioria das
vezes, mantendo as siglas do original em ingls. Sendo esta a abordagem adotada no presente captulo,
seguem denies das expresses citadas:
NOAEL: Dose para Efeito Adverso No Observado: nvel de exposio (dose ou concentrao mais elevada)
para o qual no se observam aumentos signicativos (estatsticos ou biolgicos) na frequncia ou severi-
dade de efeitos adversos entre a populao exposta e a populao-controle. Fonte: www.tera.org/iter.
NOEL: Dose para Efeito No Observado: nvel de exposio para o qual no se observam aumentos signi-
cativos (estatsticos ou biolgicos) na frequncia ou severidade de quaisquer efeitos entre a populao
exposta e a populao-controle.Fonte: www.tera.org/iter.
LOAEL: Menor Dose para Efeito Adverso Observado: nvel de exposio (dose ou concentrao mais baixa)
para o qual se observam aumentos signicativos (estatsticos ou biolgicos) na frequncia ou severidade
de efeitos adversos entre a populao exposta e a populao-controle. Fonte: www.tera.org/iter.
LOEL: Menor Dose para Efeito Observado: nvel de exposio (dose ou concentrao mais baixa) para o
qual se observam aumentos signicativos (estatsticos ou biolgicos) na frequncia ou severidade de
quaisquer efeitos entre a populao exposta e a populao-controle. Fonte: www.tera.org/iter.
Em ensaios de toxicidade crnica, efeito adverso denido como alterao bioqumica, comprometimen-
to funcional ou patologia que prejudiquem a performance ou reduzam a capacidade do organismo de
responder a desaos adicionais. Fonte: www.tera.org/iter.
5 Da expresso inglesa TDI Tolerable Daily Intake (WHO, 2006). O termo intake costuma referir-se
exposio por ingesto, de gua e alimentos (HEALTH CANADA, 1995A; WHO, 2006A), muito embora s
vezes englobe tambm a inalao. A assimilao por absoro pela pele costuma ser diferenciada com o
uso do termo uptake. Quando se considera a exposio global (ingesto, inalao e absoro), costuma-
se empregar o termo dose (USEPA, 1992; 1997).
O termo Ingesto Diria Aceitvel usualmente empregado para substncias deliberadamente incorpo-
radas na produo de alimentos (tais como agrotxicos e aditivos alimentcios), com o argumento de que
cumprem determinada funo. Como este no o caso da maioria dos contaminantes qumicos possveis
de serem encontrados na gua para consumo humano (excees seriam, por exemplo, as substncias uti-
lizadas nos processos de tratamento), tem-se preferido o termo tolervel, de forma a explicitar o sentido
de tolerncia, mais que de aceitao (HEALTH CANADA, 1995A; WHO, 2006A).
A USEPA trabalha com o conceito de Dose de Referncia (Reference Dose) (RfD) como anlogo IDT;
para a exposio por inalao, a USEPA utiliza Concentrao e Referncia (Reference concentration)
(RfC) (USEPA, 2006A).
6 Da expresso inglesa TDI Tolerable Daily Intake (WHO, 2006). O termo intake costuma referir-se
exposio por ingesto, de gua e alimentos (HEALTH CANADA, 1995A; WHO, 2006A), muito embora s
vezes englobe tambm a inalao. A assimilao por absoro pela pele costuma ser diferenciada com o
uso do termo uptake. Quando se considera a exposio global (ingesto, inalao e absoro), costuma-
se empregar o termo dose (USEPA, 1992; 1997).
O termo Ingesto Diria Aceitvel usualmente empregado para substncias deliberadamente incorpo-
radas na produo de alimentos (tais como agrotxicos e aditivos alimentcios), com o argumento de que
cumprem determinada funo. Como este no o caso da maioria dos contaminantes qumicos possveis
de serem encontrados na gua para consumo humano (excees seriam, por exemplo, as substncias uti-
GUAS 360
lizadas nos processos de tratamento), tem-se preferido o termo tolervel, de forma a explicitar o sentido
de tolerncia, mais que de aceitao (HEALTH CANADA, 1995A; WHO, 2006A).
A USEPA trabalha com o conceito de Dose de Referncia (Reference Dose) (RfD) como anlogo IDT;
para a exposio por inalao, a USEPA utiliza Concentrao e Referncia (Reference concentration)
(RfC) (USEPA, 2006A).
7 Limite Mximo de Resduos (LMR) o termo utilizado para a concentrao mxima de contaminantes
em alimentos (WHO, ANVISA). Valor Mximo Permitido o termo adotado na norma brasileira para a
concentrao mxima de contaminantes em gua para consumo humano (BRASIL, 2004), anlogo a
Maximum Contaminant Level (MCL) ou Maximum Acceptable Concentration (MAC), empregados, respec-
tivamente, nos EUA e Canad (USEPA, 2008; HEALTH CANADA, 2008). Como as diretrizes da OMS no tm
fora de norma, as concentraes mximas so apresentadas em termos de valores-guia (VG) (Guideline
Values) e no como valores mximos permitidos (VMP).
8 Valor estimado com base em estatsticas de consumo per capita anual de alimentos do IBGE (Pesquisa
Nacional de Amostragem Domiciliar PNAD) e dos LMR MRs para as culturas para as quais o uso de
glifosato encontra-se autorizado.
Fonte: Esclarecimentos sobre a Consulta Pblica n 84/03. Disponvel em: <www.vigilanciasanitaria.
sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=320&Itemid=173>.
9 A transmisso de helmintos via abastecimento de gua , em geral, considerada menos importante
do que por outros modos de transmisso, tais como a ingesto de alimentos ou o contato com solos
contaminados (WHO, 2006A)
10 Variadas publicaes informam valores de peso denidos para diferentes agravos causados por mi-
crorganismos ou substncias qumicas ou, ainda, a caracterizao de classes de incapacidades com pesos
respectivos, para a denio de pesos especcos. O estudo do Banco Mundial, Carga de Doena Global
(Global Burden of Disease) a principal fonte de informaes sobre as incgnitas durao (D) e peso (S)
para uma variedade de condies (WORLD BANK, 1993).
Pode-se ainda, na elaborao do DALY, levar em considerao diferentes caractersticas da populao que
signiquem maior suscetibilidade ao agente ou condio, como, por exemplo, idade e sexo, dentre outras,
aumentando a complexidade da Equao 9.7. Tambm, se necessrio, o processo patognico pode ser
subdividido em vrios estgios com diferentes valores de durao e gravidade (HUBBARD, 2000).
Outro aspecto fundamental no uso dessa metodologia a considerao e anlise de erros sistemti-
cos (ocorrncia de confundimento, vis de seleo) e erros aleatrios, o que alcanado utilizando-se
tratamento estatstico adequado de forma a avaliar a existncia e a magnitude da incerteza contida na
estimativa de carga de doena. Nesse sentido, a tcnica de Monte Carlo tem sido utilizada especialmente
com essa nalidade (HUBBARD, 2000).
Neste apndice apresentado um resumo das metodologias de cromatograa que
foram utilizadas na quanticao dos microcontaminantes estudados por diversas
universidades no mbito da rede do Tema 1 do Prosab, com o objetivo de orientar
o leitor na tentativa de reproduo das tcnicas analticas. A meno marcas co-
merciais no indica recomendao de uso exclusivo; elas so citadas to somente
por terem sido utilizados nos estudos realizados. Para a implementao dos mtodos
cromatogrcos, necessria a leitura de bibliograa complementar, algumas delas
citadas neste apndice.
1. Mtodo de determinao de 2,4-D e seu metablito
2,4-DCP; glifosato e seu metablito ampa
Determinao dos herbicidas 2,4-D e seu metablito 2,4-DCP e do glifosato e seu
metablito AMPA em gua por cromatograa lquida de alta ecincia. O mtodo
analtico foi adaptado segundo Faria (2004) para as anlises do 2,4-D e 2,4-DCP, e a
metodologia descrita por Le Fur et al. (2000) foi adaptada para as anlises do glifosato
e do AMPA.
Apndice
Organizao: Cristina F. P. Rosa Paschoalato
GUAS 362
1 Equipamentos, acessrios, reagentes e padres
Tabela 1 > Reagentes, padres e especicaes utilizados na determinao de 2,4-D e glifosato
PRODUTO ESPECIFICAO
Solvente puro grau cromatogrco Acetonitrila (JT Baker) ou similar
Padro de 2,4-D Sigma Aldrich ou similar
Padro 2,4-DCP Sigma Aldrich ou similar
Padro glifosato Sigma Aldrich ou similar
Padro AMPA Sigma Aldrich ou similar
Reagentes
gua ultra-pura obtida de um sistema Milli-Q
cido fosfrico
Sistema de ltrao a vcuo
para extrao em fase slida
Marca Supelco
TM
-DL Visipred ou similar
Membranas ltrantes de acetato de celulose Porosidade de 0,45 m Millipore ou similar
Membranas ltrantes para
solventes orgnicos
Porosidade de 0,22 m Millipore ou similar
Cartuchos para extrao C18 com 500 mg Marca Supelco supelclean
TM
-LC18 SPE tubes
Frascos do tipo vial de vidro de 1,5 mL, com tampa de teon; proveta graduada de vidro de 1.000 mL; frasco de
vidro mbar de 1 litro; balo volumtrico de 25 mL; balo volumtrico de 50 mL; micropipetas automticas com
volume varivel de 1 a 10 L, 10 a 100L e de 100 a 1.000uL; e ponteiras descartveis.
Tabela 2 > Discriminao de equipamentos necessrios para as anlises cromatogrcas
e condies operacionais utilizadas na quanticao do herbicida 2,4-D e seu metablito
EQUIPAMENTO ESPECIFICAES
Cromatgrafo de fase lquida
de alta ecincia
Marca Shimadzu, modelo LC-20AT
Detector
Espectrofotomtrico por arranjo de diodos, caminho tico de
10 mm, modelo SPD-M20A, Shimadzu
Coluna Marca Merck ou similar - Lichrospher 100 rp-18 5 m 250x4 mm
Fase mvel Acetonitrila : gua (70:30) (isocrtico)
Vazo da fase mvel 0,6 mL/min
-1
Temperatura do forno 40C
Intervalo de varredura 200 a 300 nm
Tempo de reteno dos analitos 2,4D: 6,60 min e 2,4 DCP: 8,65 min
Volume de injeo da amostra 10 L
APNDICES 363
Tabela 3 > Discriminao de equipamentos necessrios para a anlise cromatogrca
e condies operacionais utilizados para o herbicida glifosato e seu metablito
EQUIPAMENTO ESPECIFICAES
Cromatgrafo (fase mvel lquida) Marca Shimadzu, modelo LC-20AT
Detector Detector de uorescncia, Shimadzu
Coluna Marca Merck - Lichrospher 100 NH2 5 m 250x4 mm
Fase mvel Acetonitrila : gua (55:45) (isocrtico)
Vazo da fase mvel 0,8 mL. min-1
Temperatura do forno 30C
Comprimento de onda de excitao 260 nm
Comprimento de onda de emisso 310 nm
Tempo de reteno dos analitos glifosato : 4,60 min e AMPA : 3,57 min
Volume de injeo da amostra 4 l
2 Calibrao e linearidade
Na Tabela 4, so apresentadas as concentraes e o tempo de reteno do 2,4-D e
2,4-DCP utilizados na elaborao da curva de calibrao. As solues de trabalho fo-
ram preparadas em acetonitrila a partir da diluio de uma soluo concentrada para
cada padro a partir de uma soluo concentrada de 10 mg/L.
Tabela 4 > Exemplos de concentraes, tempo de reteno e rea dos padres analisados
de 2,4-D e do 2,4-DCP
CALIBRAO 2,4-D T = 6,6 MIN 2,4- DCP T = 8,7 MIN
g/L rea g/L rea
Ponto 1 20 85 10 450
Ponto 2 50 119 30 945
Ponto 3 100 1.725 70 3.269
Ponto 4 250 6.444 100 3.763
Ponto 5 500 12.571 250 9.522
Ponto 6 750 22.480 500 19.700
Ponto 7 1.000 30.515 750 30.086
Ponto 8 1.500 43.194 1.000 40.084
Ponto 9 2.000 60.980 1.500 52.334
Ponto 10 5.000 161.557 2.000 74.051
GUAS 364
Tabela 5 > Exemplos de concentraes, tempo de reteno
e rea dos padres analisados de glifosato e do AMPA
CALIBRAO GLIFOSATO T = 4,6 MIN AMPA T = 3,6 MIN
g/L rea g/L rea
Ponto 1 30 4.458 50 408.530
Ponto 2 50 10.530 100 820.722
Ponto 3 100 17.462 200 1.491.451
Ponto 4 250 32.308 400 2.923.207
Ponto 5 500 58.467 600 3.907.604
Ponto 6 750 132.776 800 5.224.968
Ponto 7 1.500 263.693 1.000 6.096.158
Na Tabela 6 esto apresentadas as concentraes e o tempo de reteno do glifosato
e do AMPA utilizados na elaborao da curva de calibrao. As solues foram prepa-
radas em gua destilada e deionizada a partir de uma soluo padro de 100 mg/L. As
Figuras 1 e 2 apresentam os grcos de linearidade para os compostos e seus respec-
tivos coecientes de correlao.
Figura 1 Curva de calibrao para os padres analisados: (a) 2,4-D; (b) 2,4-DCP
A
B
Y = 32,456x 2286,5
r
2
= 0,999
Y = 36,569x - 711,08
r
2
= 0,9958
APNDICES 365
3 Limite de deteco e preciso
Os limites de deteco foram determinados utilizando-se o mtodo baseado nos pa-
rmetros da curva analtica, como desvio-padro da resposta e o desvio-padro da
equao de regresso linear, calculado usando planilha Excel. Estes dados esto apre-
sentados na Tabela 6.
Tabela 6 > Faixa de trabalho, limite de deteco (LD) e limite de quanticao (LQ)
do herbicida 2,4- D composto determinados por CLAE
COMPOSTO FAIXA DE TRABALHO (G.L
-1
) LD
(G.L
-1
)
2,4-D
a
30 a 5000 15
2,4-DCP
a
10 a 2.000 -
Glifosato
b
30 a 1.500 5
AMPA
b
50 a 1.000 -
A
EMPREGANDO-SE SOLUES-PADRO DOS COMPOSTOS EM ACETONITRILA
B
EMPREGANDO-SE SOLUES-PADRO DOS COMPOSTOS EM GUA DESTILADA E DEIONIZADA
Figura 2 Curva de calibrao para os padres analisados: (a) glifosato; (b) AMPA
A
B
Y = 176,38.x 5885,3
r
2
= 0,985
Y = 6035,3x - 265912
r
2
= 0,995
GUAS 366
A preciso instrumental (do mtodo cromatogrco empregado) foi determinada em
condies de repetibilidade, isto , os resultados foram obtidos utilizando-se o mesmo
mtodo para uma mesma amostra, no mesmo laboratrio, com o mesmo equipamen-
to e mesmo operador, e em um curto intervalo de tempo (determinao feita em um
nico dia), por meio da injeo automtica em heptuplicata de duas solues-padro.
As Tabelas 7 e 8 fornecem os coecientes de variao calculados para as reas obtidos
aps sucessivas injees do padro.
Tabela 7 > Repetibilidade dos resultados obtidos para solues-padro
do herbicida 2,4-D expressa por meio do coeciente de variao (CV)
COMPOSTO COEFICIENTE DE VARIAO CV (%)
100 g/L
-1
1000 g/L
-1
2,4-D 4,6 2,1
Tabela 8 > Repetibilidade dos resultados obtidos para solues-padro
do herbicida glifosato expressa por meio do coeciente de variao (CV)
COMPOSTO COEFICIENTE DE VARIAO CV (%)
600 g/L
-1
800 g/L
-1
700 g/L
-1
Glifosato 0,8 1,2 NR
AMPA NR NR 0,9
ONDE: NR = ANLISE NO REALIZADA.
As guras abaixo mostram os cromatogramas tpicos dos padres analisados.
Figura 3 Cromatograma tpico da anlise do herbicida 2,4-D padro de 750 g/L
1
APNDICES 367
Figura 4 Cromatograma tpico da anlise do herbicida 2,4-DCP padro de 750 g/L
Figura 6 Cromatograma tpico da anlise do metablito AMPA padro de 600 g/L
Figura 5 Cromatograma tpico da anlise do herbicida glifosato padro de 600 g/L
1
1
GUAS 368
4 Extrao e recuperao
O mtodo de extrao utilizado para quanticao de 2,4-D e 2,4-DCP foi em fase
slida. Os cartuchos foram ativados com a passagem de 5 mL de acetato de etila,
5 mL acetonitrila e 5 mL de gua ultra-pura. Em seguida, 0,8 litros da amostra em pH
2 foram ltrados com uma vazo de aproximadamente 5 mL/min. Aps a passagem de
todo volume, o cartucho permaneceu sob vcuo por 10 minutos para secagem. A elui-
o foi efetuada com trs alquotas de 3 mL de acetonitrila (vazo aproximada: 2 mL/
min). Os eluatos (~10 mL) coletados nos tubos de ensaio foram ento levados a secura
temperatura ambiente e ressuspendidos com 5 mL de acetonitrila. O extrato concen-
trado foi ento transferido para vials cromatogrcos, que caram conservados a 4
o
C
at o momento da anlise cromatogrca por um perodo mximo de 20 dias.
A extrao do glifosato e do AMPA foi lquido, seguido da reao de derivatizao. Na
metodologia utilizada, foram adicionados 1 mL de tampo tetraborato (pH 2) e 1 mL
de soluo de FMOC-Cl 1 g/L, a 6 mL de soluo 30 g/L dos padres glifosato e AMPA,
respectivamente (em frascos separados). Aps 30 minutos de reao em temperatura
ambiente, a soluo foi lavada uma vez com ter dietlico (50:50 v/v). Depois de 1 hora
de decantao, a fase aquosa foi transferida para os vials para a realizao das anlises
cromatogrcas.
5 Gerenciamento de resduos gerados
As amostras lquidas contendo os herbicidas e o solvente utilizado (acetonitrila, no
caso do 2,4-D e 2,4-DCP; e gua destilada e deionizada, no caso do glifosato e do
AMPA) foram armazenadas em bombonas e sero encaminhadas para tratamento
uma empresa terceirizada, responsvel por gerenciamento de resduos.
Referncia bibliogrca
FARIA, L.J.S. Avaliao de diferentes sorventes na extrao em fase slida de pesticidas em gua.
Desenvolvimento e validao de metodologia. 2004. Dissertao (Mestrado) - Universidade de
Campinas, 2004.
LE FUR, E. et al. Determination of glyphosate herbicide and aminomethylphosphonic acid in natu-
ral waters by liquid chromatography using pre-column uorogenic labeling. Part I: Direct deter-
mination at the 0,1 mg/L level using FMOC. Frana: EDP Sciences, v. 28, p. 813-818, 2000.
2. Mtodo utilizado para determinao de carbofurano
A tcnica utilizada em normas internacionais para anlise de pesticidas N-Metil Car-
bamatos (NMC) a injeo direta em cromatograa lquida de alta ecincia com de-
tector de uorescncia (APHA, 1998). Um mtodo alternativo para anlise de NMC a
APNDICES 369
cromatograa lquida de alta ecincia com detector ultravioleta (CLAE/UV). Este tipo
de detector tem sido empregado na anlise de carbofurano (PARRILA et al., 1994).
A presena de traos de pesticidas em amostras de gua natural e potvel exige pro-
cedimento de concentrao para se obter maior sensibilidade no mtodo de anlise.
A tcnica de extrao em fase slida (SPE) tem sido empregada para concentrao de
diferentes pesticidas presentes em amostras de gua (McGARVEY, 1993; MORENO-
TOVAR; SANTOS-DELGADO, 1995; SANTOS, 2007).
A determinao dos herbicidas, cujo princpio ativo o carbofurano em gua, foi pela
cromatograa lquida de alta ecincia (CLAE) com deteco ultravioleta (UV). A meto-
dologia baseou-se em recomendaes de Parrila et al. (1994) e Santos (2007).
1 Equipamentos, acessrios, reagentes e padres
Nas Tabelas 1 e 2 so apresentados os reagentes, padres, equipamentos, acessrios e
condies operacionais utilizados no desenvolvimento de anlises de carbofurano.
Tabela 1 > Reagentes, padres e especicaes utilizados para quanticao de carbofurano
PRODUTO ESPECIFICAO
Solvente puro Acetonitrila, metanol
Padro carbofurano
Carbofuran, frasco com 10 mg ACCU P-106N, lot: 022400-
AG-AC, exp. jul 28, 2015. Marca Accustandard INC. ou similar
Reagentes cido cloroactico, gua ultra-pura
Sistema de ltrao a vcuo
para extrao em fase slida
Vacuum manifold processing station marca Agilent
Technologies. Velocidade constante de 1 mL/min
Cartuchos para extrao C18
com 500 mg para 3 mL
Accu Bond II ODS C18 188-1350
marca Agilent Technologies ou similar
TUBOS DE ENSAIOS EM VIDRO DE 5 ML; BALO VOLUMTRICO DE 5 E 10 ML; MICRO SERINGAS DE VIDRO DE 25 L E 100 L; PIPETAS AUTOMTICAS
COM VOLUME VARIVEL DE 1 A 100 UL E DE 100 A 1.000 UL; E PONTEIRAS DESCARTVEIS.
2 Coleta de amostra, conservao e estocagem
As amostras coletadas para anlise do carbofurano foram preservadas com adio de
cido cloroactico, para xar o pH entre 3,5 e 4. Em seguida, as amostras foram acon-
dicionadas em caixa de isopor com gelo e transportadas para o LIMA/ENS/UFSC para
posterior anlise. As amostras do sistema in loco tiveram volume de anlise de 1 L e as
do sistema em colunas 100 mL. Como as amostras continham impurezas e interferen-
tes, utilizou-se uma ltrao em membrana de acetato de celulose com dimetro de
47 mm e porosidade de 0,22 m. As amostras foram processadas em triplicada.
GUAS 370
Tabela 2 > Descriminao de equipamentos necessrios e condies operacionais
EQUIPAMENTO ESPECIFICAES
Cromatografo HPLC
Cromatgrafo de fase lquida de alta ecincia da Hawllet Packard TM,
modelo HP 1050
Coluna capilar
Coluna para HPLC de alta ecincia com slica ultra-pura e base desativada,
ACE 5 C18, tamanho do poro 100A, rea supercial de 300 m
2
/g, carga
de carbono 15,5%, dimenses 250 x 4,6 mm, tamanho da partcula 5 m
contendo octadecil C18. Faixa de pH entre 1,8 a 11 com teste de reprodutibi-
lidade e validao.
Detector
Detector ultravioleta Hawllet Packard TM, modelo HP1050
e comprimento de onde de 203 m
Programao Corrida de 20 min aps coluna de 3 min. Tempo total de 23 minutos.
Volume injeo 20 L amostra
Tabela 3 > Curva de calibrao, unidade e tempo de reteno do carbofurano
CALIBRAO
CARBOFURANO
(mg/L)
TEMPO RETENO: 7,48 MIN
REA
CARBOFURANO
MDIA DA REA
DO CARBOFURANO
Ponto 1 100
1.209
1.506,67 2.406
905
Ponto 2 250
5.397
5.162,67 4.947
5.144
Ponto 3 500
10.175
10.759,33 10.367
11.736
Ponto 4 1.000
22.829
55.457,33 22.864
21.679
Ponto 5 2.500
54.465
55.231,67 56.601
54.629
Ponto 6 5.000
110.623
111.638,67 110.814
112.669
APNDICES 371
3 Calibrao e linearidade
Na Tabela 3 so apresentadas s concentraes e o tempo de reteno do carbofurano
a serem utilizados na elaborao da curva de calibrao. Os padres utilizados para
elaborao da curva foram diludos em acetonitrila. Na Figura 1 apresentado o gr-
co de linearidade obtido com referido coeciente de correlao.
Para cada ponto foram feitas triplicatas e obtida as mdias.
Figura 1 Curva de calibrao do carbofurano com coeciente de correlao 1,0000
Figura 2 Cromatograma obtido de injeo do padro
GUAS 372
4 Limite de deteco, limite de quanticao e preciso
O limite de deteco do mtodo (LDM) foi avaliado injetando-se diluies dos padres
e observando-se a faixa de concentrao onde ocorreu a perda do sinal (regio de
rudo). O LDM foi determinado pela concentrao que apresentasse um pico com rea
trs vezes maior que o valor do rudo. O limite de quanticao do mtodo (LQM) foi
determinado considerando trs vezes o valor do LDM.
Carbofurano LDM: 0,05 g/L e LQM: 0,2 g/L
A preciso do mtodo foi efetuada com a injeo de um ponto da curva de calibrao,
injetado trs vezes pelo mesmo operador no mesmo dia, e o resultado mdio obtidos
para o carbofurano de 250 g/L foi de 247 3 g/L.
5 Extrao e recuperao
Antes de iniciar o processo de extrao, foi feita a ativao de microcoluna 500 mg
de octadecil-C18 com 3 mL de solvente acetonitrila. Como o C-18 apresenta baixa
polaridade, pode ser largamente utilizado em anlises de carbofurano. Assim, foi feita
a extrao da amostra em fase slida. A tcnica de extrao por fase slida consiste na
passagem da amostra por uma mini-coluna (cartucho), constituda por um solvente
apropriado para reteno de determinado analito. Alm da extrao do analito, esta
tcnica possibilita sua pr-concentrao e pr-puricao (SANTOS, 2007).
Figura 3 Sistema Manifold para extrao e puricao da amostra lquida
MINI-COLUNA
C 18
DESCARTE
DA GUA
AMOSTRAS
BOMBAS
A VCUO
APNDICES 373
Em seguida a amostra foi percolada pela mini-coluna (cartucho), que por sua vez est
conectada ao sistema de extrao Manifold junto a uma bomba a vcuo, para propor-
cionar a passagem da amostra de gua pela mini-coluna sob presso e velocidade
constante de aproximadamente 1 mL/min.
O princpio ativo carbofurano ca retido no recheio da mini-coluna, e o volume que
transpassou a mini-coluna descartado. A aplicao de uma presso muito alta pode
fazer com que o carbofurano seja descartado junto com os compostos interferentes,
por isso que limitada a presso, para que no ocorra o transpasse do carbofurano. O
sistema Manifold utilizado para extrao e puricao da amostra pode ser apresen-
tado na Figura 3.
Quanto lavagem de toda vidraria, utilizou-se uma soluo de detergente neutro, se-
guida de cinco lavagens com gua da torneira fornecida pelo abastecimento pblico,
cinco lavagens com gua destilada e por ltimo, cinco lavagens com gua ultra-pura.
6 Eluio e concentrao
Na etapa de eluio, as molculas de carbofurano so liberados da mini-coluna com
a passagem de 5 mL do solvente (acetonitrila), cujo euente a soma do carbofurano
e do solvente orgnico. O volume nal do euente obtido igual a 5 mL. Para con-
centrar ainda mais a amostra, utiliza-se
o evaporador rotativo (Figura 4), aque-
cido a 40C, com rotao lenta. Aps
a evaporao do extrato, adiciona-se
1 mL do solvente acetonitrila, obtendo
assim o volume nal de 1 mL, ou seja,
a amostra de campo concentrada em
1.000 vezes e a em colunas, 100 vezes.
7 Gerenciamento
de resduos gerados
Os resduos gerados foram descarta-
dos em um recipiente plstico de 5 li-
tros juntamente com os cartuchos C18,
devidamente etiquetados. Em seguida,
foram encaminhados para a Coordena-
doria de Gesto Ambiental da USFC, que
recebe os descartes e rejeitos qumicos
de todo o campus.
Figura 4 Evaporador rotativo
EVAPORADOR
ROTATIVO
BALO VOLUMTRICO
COM AMOSTRA
GUAS 374
Principais referncias bibliogrcas
APHA - AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard methods for the examination of wa-
ter and wastewater. 20. ed. Washington: APHA, 1998.
MCGARVEY, B.D. High-performance liquid chromatographic methods for the determination of
N-methylcarbamate pesticides in water, soil, plants and air. Journal of Chromatography, v. 642,
p. 89-105, 1993.
MORENO-TOVAR, J.; SANTOS-DELGADO, M.J. Solid phase extraction and determination of car-
bamate pesticide in water samples by reversephase CLAE. Anales de Qumica, v. 91, n. 5, p. 365-
373, 1995.
PARRILA, P. et al. Simple and rapid screening procedure for pesticides in water using SPE and
CLAE/DAD detection. Fresenius J. Anal. Chem, v. 350, p. 633-637, 1994.
SANTOS, M.G.S. Determinao de resduos de carbofurano e do metablito 3-hidroxi-carbofura-
no e do 3-hidroxi-carbofurani em guas de lavouras de arroz irrigado em Santa Catarina. 2007.
123 p. Dissertao (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Programa de Ps-Graduao em En-
genharia Ambiental, Universidade de Santa Catarina, Florianpolis, 2007.
3. Mtodo utilizado para determinao de compostos
orgnicos halogenados
A determinao de compostos orgnicos halogenados em gua foi realizada por cro-
matograa a gs com detector de captura de eltrons (DCE). A metodologia foi base-
ada nas recomendaes de USEPA 551.
1 Equipamentos, acessrios, reagentes e padres
Tabela 1 > Reagentes, padres e especicaes
PRODUTO ESPECIFICAO
Solvente puro Metanol, acetona, metil-terc-butrico-eter (MTBE)
Padro misto de trialometanos Supelco 48140-U em metanol
Padro Cloro hidrato Supelco 47335-U em acetonitrila
Padro 551 B misto
de halogenados volteis
Supelco 4-8046 em acetona
Padro interno Diclorometano
Reagentes cido ascrbico p.a. e gua deionizada
Frascos do tipo vial de vidro de 10 e 25 mL, com tampa de teon; proveta graduada de vidro de 100 mL;
frasco de vidro de 1 litro com tampa de teon; balo volumtrico de 10 mL; micro seringas de vidro de
10 L, 50 L, 100 L e 500 L; pipetas automticas com volume varivel de 1 a 100 L e de 100 a 1.000 L;
e ponteiras descartveis.
APNDICES 375
Tabela 2 - Descriminao de equipamentos necessrios e condies operacionais
EQUIPAMENTO ESPECIFICAES
Cromatgrafo a gs Marca Varian, modelo 3600CX
Coluna capilar
30 m comprimento x 0,32 mm dimetro interno x e 5 m de lme, temperatu-
ra mxima 300C VF DB-1-123-1035 J & W Scientic ou equivalente
Coluna conrmao
DB1701 com 30 m comprimento x 0,25 mm
dimetro interno x e 0,25 m de lme
Gases especiais Nitrognio 5.0, 15 psi com uxo 74 cm/s
Detector Captura de eltrons
Temperaturas Injetor 160
o
C e detector 290
o
C
Programao
40C por 1 min, aquecimento a 125C numa razo de 5C por minuto, per-
manecendo por 2 min, aquecimento a 150C numa razo de 20C por minuto,
permanecendo por 2 min - tempo total 23,25 minutos
Injeo 1 L de amostra e 1 L de ar com Splitless em 2:1
2 Coleta de amostra, conservao e estocagem
As amostras foram coletadas em frascos de vidro devidamente limpo e seco. Adicio-
nou-se 300 mg de cido ascrbico por litro de amostras para eliminao de cloro
residual. A estocagem de amostra foi a 4C, recomendada para, no mximo, 7 dias, e a
estocagem do extrato foi a 4C, recomendada para, no mximo, 14 dias.
3 Calibrao e linearidade
Na Tabela 3 so apresentadas s concentraes e o tempo de reteno dos compostos
avaliados. Os padres utilizados para elaborao da curva de calibrao foram diludos
em gua deionizada. Nas Figuras 1 e 2 esto apresentados os grcos de linearidade
obtidos com os referidos coecientes de correlao.
4 Extrao e recuperao
Na quanticao de compostos orgnicos halogenados, utilizou-se uma extrao
lquido-lquido com adio de 4 mL de metil-terc-butrico-eter (MTBE) em 10 mL de
amostra e aproximadamente 0,2 g de sulfato de sdio anidro como agente secante.
Agitou-se vigorosamente por 30 minutos, seguido de repouso por 2h em 4C. A se-
guir, 1 L do extrato da fase orgnica em MTBE foi injetado no cromatgrafo a gs
(CG DCE). Na Tabela 4 esto apresentados os resultados obtidos de recuperao e
desvio padro para cada composto avaliado.
GUAS 376
Tabela 3 > Curva de calibrao, unidade e tempo de reteno para compostos orgnicos
halogenados em g/L
COMPOSTOS ORGNICOS
HALOGENADOS
TEMPO
RETENO
(MIN)
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Diclorometano (PI) 4,54 1 1 1 1 1 1 1
Clorofrmio 7,09 20 30 40 50 60 70 80
Tricloro acetonitrila 9,28 10 15 20 25 30 35 40
Dicloroacetonitrila 9,75 10 15 20 25 30 35 40
Bromodiclorometano 10,30 20 30 40 50 60 70 80
Cloro hidrato 10,69 10 15 20 25 30 35 40
1,1-dicloropropanona 11,25 10 15 20 25 30 35 40
Cloropicrina 13,50 10 15 20 25 30 35 40
Dibromoclorometano 13,88 20 30 40 50 60 70 80
1,1,1-tricloropropanona 14,86 10 15 20 25 30 35 40
Bromocloroacetonitrila 15,92 10 15 20 25 30 35 40
Dibromoacetonitrila 17,41 10 15 20 25 30 35 40
Bromofrmio 17,60 20 30 40 50 60 70 80
PI: PADRO INTERNO
Tabela 4 > Resumo da validao do mtodo EPA 551 obtido para o ponto 5
COMPOSTOS
HALOGENADOS
TEMPO RETENO
(MIN)
EXPECTATIVA
(g/L)
RESULTADOS
(g/L)
DESVIO PADRO
(%)
Padro interno (PI) 4,54 ---- ---- 0
Clorofrmio 7,09 60 69,99 16,7
Tricloroacetonitrila 9,28 30 31,92 6,4
Dicloroacetonitrila 9,75 30 32,63 8,8
Bromodiclorometano 10,30 60 64,45 7,4
Cloro hidrato 10,69 80 91,61 14,5
1,1-Dicloropropanona 11,25 30 30,55 1,8
Cloropicrina 13,50 30 30,88 2,9
Dibromoclorometano 13,88 60 62,42 4
Bromocloroacetonitrila 14,86 30 29,19 2,7
1,1,1-tricloropropanona 15,92 30 32,57 8,6
Dibromoacetonitrila 17,41 30 31,45 4,8
Bromofrmio 17,60 60 62,50 4,2
APNDICES 377
Figura 1
Cromatograma de um ponto de calibrao de compostos orgnicos halogenados,
segundo mtodo da USEPA 551
Figura 2 Cromatograma obtido de uma mistura padro do ponto 5 da curva de calibrao
GUAS 378
5 Limite de deteco, limite de quanticao e preciso
O limite de deteco do mtodo (LDM) foi avaliado injetando-se diluies dos padres
e observando-se a faixa de concentrao onde ocorreu a perda do sinal (regio de
rudo). O LDM foi determinado pela concentrao que apresentasse um pico com rea
trs vezes o valor do rudo. O limite de quanticao do mtodo (LQM) foi determina-
do considerando cinco vezes o valor do LDM, obtendo-se: LDM: 1 g/L e LQM: 5 g/L.
6 Gerenciamento de resduos gerados
Os resduos gerados foram descartados em um recipiente plstico de 5 litros com
fundo perfurado, preenchido com uma camada de 10 cm de areia grossa e uma ca-
mada de 25 cm de carvo ativado granular. Os resduos foram percolados pelo leito de
carvo e, no nal do projeto, o carvo foi enviado para incinerao juntamente com
os demais resduos gerados na Unaerp.
Principais Referncias Bibliogrcas
USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Method 551.1. Determination of
chlorination disinfection byproducts, chlorinated solvents, and halogenated pesticides/herbicides in
drinking water by liquid-liquid extracion and gas chromatografhy with electron-capture detection.
Reviso 1. Ohio: 1 set. 1995. CD-ROM.
PASCHOALATO, C.F.P.R. Efeito da pr-oxidao, coagulao, ltrao e ps-clorao na formao
de subprodutos orgnicos halogenados em guas contendo substncias hmicas. 2005. 154 p. Tese
(Doutorado) - Escola de Engenharia de So Carlos, Universidade de So Paulo, So Carlos, 2005.
4. Mtodo utilizado para determinao de diuron
e hexazinona
As tcnicas utilizadas para determinao de diuron e hexazinona so recomendadas
pela USEPA, sendo para diuron a cromatograa lquida de alta ecincia com detector
de ultravioleta (CLAE-UV) e para hexazinona, a cromatograa a gs com detector de
nitrognio e fsforo (CG/DNF) ou, ainda, um sistema formado por cromatograa a gs
com espectrometria de massa.
Em funo da disponibilidade de equipamento, neste trabalho, os compostos diuron
e hexazinona em gua foram quanticados por cromatograa a gs com detector de
nitrognio e fsforo (CG-DNF), com a vantagem da identicao conjunta e atenden-
do os limites de deteco desejados. A metodologia foi baseada nas recomendaes
de USEPA 507, reviso 2.1 (1995).
A Embrapa (2007) vem utilizando a tcnica de CLAE-UV em pesquisas publicadas re-
centemente, o que possibilitou um exerccio de intercalibrao, onde se pode observar
APNDICES 379
que o mtodo CG/DNF apresentou maior sensibilidade quando comparado ao CLAE-
UV para os compostos investigados.
1 Equipamentos, acessrios, reagentes e padres
Tabela 1 > Reagentes, padres e especicaes utilizados na quanticao de diuron e hexazinona
PRODUTO ESPECIFICAO
Solvente puro Metanol, acetona, hexano
Padro diuron
Diuron, 250mg da Riedel-de-Han 45463,
fornecedor Sigma Aldrich ou similar
Padro hexazinona
Soluo de hexazinone em metanol 100 ng/mL,
ampola com 2 mL, da Riedel-de-Han 45864,
fornecedor Sigma Aldrich ou similar
Padro interno (opcional) Triphenyphosphate (TPP) 98% pureza
Reagentes cido clordrico p.a, tiossulfato de sdio p.a., gua deionizada
Sistema de ltrao a vcuo para
extrao em fase slida
Marca Agilent ou similar
Cartuchos para extrao C18
com 500 mg para 6 mL
Accu Bond II ODS C18 188-1356 marca Agilent ou similar
Frascos do tipo vial de vidro de 10 e 25 mL, com tampa de teon; proveta graduada de vidro de 100 mL;
frasco de vidro de 1 litro com tampa de teon; balo volumtrico de 10 mL; micro seringas de vidro de
10 L, 50 L, 100 L e 500 L; pipetas automticas com volume varivel de 1 a 100 uL e de 100 a 1.000 uL;
e ponteiras descartveis.
Tabela 2 > Descriminao de equipamentos necessrios e condies operacionais
EQUIPAMENTO ESPECIFICAES
Cromatgrafo a gs Marca Varian, modelo 3800X
Coluna capilar
30 m comprimento x 0,25 mm, dimetro interno x e 0,25 m de lme,
temperatura mxima 350C VF 5 ms Factor four Varian CP 8944
ou J&W Scientic equivalente
Coluna conrmao
DB1701 com 30 m comprimento x 0,25 mm,
dimetro interno x e 0,25 m de lme
Gases especiais Hlio 5.0 com 19 psia (arraste), ar sinttico 60 psia e hidrognio 40 psia
Detector Nitrognio e fsforo
Temperaturas Injetor 250C, detector 300C, corrente da perola 3.300 A, range 12
Programao
120C por 1 min, aquecimento a 300C numa razo de 6C por minuto
permanecendo por 2 min, tempo total 21,5 min.
Volume injeo 2 L amostra e 1 L de ar em Splitless
GUAS 380
2 Coleta de amostra, conservao e estocagem
As amostras devero ser coletadas em frascos de vidro devidamente limpo e seco.
Adicionar 800 mg de tiossulfato de sdio por litro de amostras para eliminao de
cloro residual. A estocagem de amostra deve ser a 4C, no mximo por 14 dias, e a
estocagem do extrato deve ser a 4C, no mximo por 28 dias.
3 Calibrao e linearidade
Na Tabela 3 so apresentadas as concentraes e o tempo de reteno do diuron e he-
xazinona a serem utilizados na elaborao da curva de calibrao. Os padres utilizados
para elaborao da curva foram diludos em metanol. Nas Figuras 1 e 2 esto apresenta-
dos os grcos de linearidade obtidos com referidos coecientes de correlao.
4 Limite de deteco, limite de quanticao e preciso
O limite de deteco do mtodo (LDM) foi avaliado injetando-se diluies dos padres
e observando-se a faixa de concentrao onde ocorreu a perda do sinal (regio de
rudo). O LDM foi determinado pela concentrao que apresentasse um pico com rea
trs vezes o valor do rudo. O limite de quanticao do mtodo (LQM) foi determina-
do considerando trs vezes o valor do LDM:
Diuron LDM: 0,1 g/L e LQM: 0,3 g/L
Hexazinona LDM: 0,01 g/L e LQM: 0,03 g/L
A preciso do mtodo foi efetuada com a injeo de um ponto da curva de calibrao,
injetando sete vezes, pelo mesmo operador no mesmo dia, e os seguintes resultados
mdios foram obtidos: diuron de 200 g/L obteve-se, 198 4 g/L e hexazinona de
120 g/L obteve-se 123 4 g/L.
Tabela 3 > Curva de calibrao, unidade e tempo de reteno para diuron e hexazinona
CALIBRAO DIURON
g/L T: 13,01MIN
REA
DIURON
HEXAZINONA
g/L T: 18,48
REA
HEXAZINONA
Ponto 1 100 1,66 50 0,51
Ponto 2 250 6,89 100 21,75
Ponto 3 500 16,14 250 56,01
Ponto 4 750 25,78 350 79,63
Ponto 5 1.000 39,50 500 108,85
Ponto 6 1.500 55,59 750 163,53
Ponto 7 2.000 82,38 1.000 222,23
Ponto 8 2.500 100,16 1.250 268,39
Ponto 9 3.000 126,84 1.500 341,01
APNDICES 381
5 Extrao e recuperao
O mtodo de extrao utilizado foi em fase slida, os cartuchos C18 foram ativados com
a passagem de 3 x 2 mL de hexano, 1 x 2 mL de acetona, 3 x 2 mL de metanol, 5 x 2 mL de
gua com pH < 3, ajustado com cido clordrico e 2 x 5 mL de metanol. Em seguida, um
volume conhecido de amostra de gua (aquosa) foi ltrado. Aps passagem de todo volu-
me, o cartucho permaneceu sob vcuo por 3min para secagem; a eluio foi efetuada com
um volume conhecido de metanol. Um ensaio tpico foi a ltrao de 100 mL de amostra,
eluda com 10 mL de metanol, obtendo-se uma concentrao de dez vezes superior con-
centrao original. Esta condio foi satisfatria para o estudo com gua contaminada,
no caso do monitoramento de gua subterrnea e supercial. Um volume de 1.000 mL foi
ltrado com eluio para 10 mL, obtendo-se uma concentrao de cem vezes.
Uma amostra de gua foi adicionada 10 mg/L de mistura padro do herbicida comer-
cial contendo 46,8% de diuron e 13,2% de hexazinona e foi submetida a extrao em
cartucho C18 sob vcuo, os resultados obtidos esto apresentados na Tabela 3.
Tabela 4 > Resultados de testes de recuperao
COMPOSTOS EXPECTATIVA DO RESULTADO
mg/L
RESULTADO OBTIDO
mg/L
RECUPERAO
%
Diuron 4,680 4,624 98,8
Hexazinona 1,320 1,386 105
6 Gerenciamento de resduos gerados
Os resduos gerados foram descartados em um recipiente plstico de 5 litros com
fundo perfurado, preenchido com uma camada de 10 cm de areia grossa e uma ca-
mada de 25 cm de carvo ativado granular. Os resduos foram percolados pelo leito de
carvo e, no nal do projeto, o carvo foi enviado para incinerao juntamente com
os demais resduos gerados na Unaerp.
Principais Referncias Bibliogrcas
USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Determination of nitrogen and
phosphorus containing pesticides in water by gas chromatography with a nitrogen-phosphorus
detector. Method 507. Revision 2.1. Ohio, 1995.
GUAS 382
5. Mtodo de determinao de estradiol, etinilestradiol
e nonilfenol
Diferentes mtodos analticos tm sido desenvolvidos para a determinao de pertur-
badores endcrinos em amostras ambientais. Contudo, as metodologias usadas so,
em sua maioria, tcnicas cromatogrcas que utilizam equipamentos de cromato-
graa lquida ou de cromatograa gasosa, acoplados com detectores sensveis, tais
como espectrmetro de massas (EM). Outros mtodos de anlise baseados em tcnicas
enzimticas ou bioensaios tambm tm sido estudados devido alta sensibilidade e
possibilidade de anlise simultnea de vrias amostras. A metodologia utilizada para a
determinao dos perturbadores endcrinos estradiol, etinilestradiol e nonilfenol em
gua foi por cromatograa lquida com espectrometria de massas. A metodologia foi
desenvolvida conforme detalhes apresentados em Moreira (2008).
1 Equipamentos, acessrios, reagentes e padres
Tabela 1 > Reagentes, padres e especicaes utilizados na quanticao de estradiol,
etinilestradiol e nonilfenol
PRODUTO ESPECIFICAO
Solvente puro grau cromatogrco Metanol (JT Baker) e acetato de etila (Sigma, Aldrich)
Padro de Nonilfenol
mistura tcnica
Pestanal, 1 g da Riedel-de-Han 46018,
fornecedor Sigma Aldrich, CAS 84852-15-13
Padro 4-n-Nonilfenol
Pestanal, 100 mg da Riedel-de-Han 46405,
fornecedor Sigma Aldrich, CAS 104-40-5
Padro de 17-etinilestradiol 1 g da Fluka 02463, fornecedor Sigma Aldrich, CAS 57-63-6
Padro de 17-estradiol 1 g da Fluka 75262, fornecedor Sigma Aldrich, CAS 50-28-2
Padro Interno (opcional) Soluo de fenolftalena (50 g.L
-1
)
Reagentes
gua deionizada em sistema de gua ultra pura TKA
com resistividade igual a 0,058S, cido sulfrico
Sistema de ltrao a vcuo
para extrao em fase slida
16-Port Vacuum Manifold
Membranas ltrantes de bra de vidro Porosidade de 1,2 m
Membranas ltrantes de acetato
de celulose
Porosidade de 0,45 m
Cartuchos para extrao C18
com 500 mg
UNITECH
Frascos do tipo vial de vidro de 1,5 mL, com tampa de teon; proveta graduada de vidro de 1.000 mL;
frasco de vidro mbar de 1 litro; balo volumtrico de 10 mL; balo volumtrico de 5 mL; seringas de vidro
de 5 ml; micropipetas automticas com volume varivel de 2 a 20 uL, 20 a 200 uL e de 100 a 1.000 L; e
ponteiras descartveis.
APNDICES 383
2 Coleta de amostra, conservao e estocagem
Em um frasco de vidro escuro, foi coletado 1 litro de gua de cada ponto de coleta, sendo
adicionado em cada frasco, e in loco, 5 mL de metanol para evitar o crescimento de mi-
croorganismos. As amostras foram transportadas para o laboratrio onde foram feitas
as extraes em cartucho C18. O tempo mximo de preservao foi de 48 horas.
3 Calibrao e linearidade
Na Tabela 3, so apresentadas as concentraes e o tempo de reteno do estradiol, eti-
nilestradiol e nonilfenol utilizados na elaborao da curva de calibrao. Ressalta-se que
a calibrao deve ser feita ao uso, ou seja, sempre que se for analisar uma batelada de
amostras, solues padres recm-preparadas devem ser analisadas para a construo
da curva de calibrao. As solues de trabalho foram preparadas em metanol a partir
da diluio de uma soluo concentrada contendo os padres (1 mg/L). Por sua vez, tal
soluo foi preparada a partir de uma soluo estoque de aproximadamente 1.000 mg/L
para cada composto. A Figura 1 apresenta o grco de linearidade para os compostos e
seus respectivos coecientes de correlao.
Tabela 2 > Descriminao de equipamentos necessrios e condies operacionais
EQUIPAMENTO ESPECIFICAES
Cromatgrafo
(fase mvel lquida)
Marca Shimadzu, modelo LCMS-IT-TOF
Detector Espectrmetro de massas, ion-trap-time-of-ight da Shimadzu
Coluna Supelco C18 (20 mm x 4,6 mm)
Fase mvel Metanol/gua (gradiente)
Gradiente de concentrao
(gua e metanol)
Variao de 30 a 85% de metanol em 5 minutos
Estabilizao a 85% de metanol por 3 minutos
Aumento para 100% de metanol e estabilizao por 8 minutos
Reduo para 0% de metanol e estabilizao por 2 minutos
Aumento para 30% de metanol e estabilizao por 5 minutos
Tempo total de analise: 23 minutos
Vazo da fase mvel 0,2 mL. min
-1
Gases utilizados Argnio e Nitrognio (100 kPA)
Temperatura do CDL 200C
Voltagem do detector 1,65 kV
Interface Eletronspray ionization (ESI) - modo negativo
Intervalo de varredura m/z 100 a 350
ons monitorados
Nonilfenol: m/z = 219,17
Estradiol: m/z = 271,17
Etinilestradiol: m/z = 295,17
Tempo de acumulao de ons
Nonilfenol: 30 milisegundos
Estradiol: 100 milisegundos
Etinilestradiol: 100 milisegundos
Volume de injeo da amostra 5 L
GUAS 384
Figura 1
Curva de calibrao para os padres analisados: (A) Estradiol; B) Etinilestradiol
e C) Nonilfenol (mistura tcnica de ismeros do 4-Nonilfenol)
A
B
C
APNDICES 385
Tabela 3 > Exemplos de concentraes, tempo de reteno e rea dos padres analisados
CALIBRAO E2 g/L
T: 4,8MIN
REA E2 EE2 g/L
T: 4,9MIN
REA EE2 NP g/L
T: 6,7MIN
REA NP
Ponto 4 50 50.288.661 50 38.891.355 60 55.431.681
Ponto 5 75 71.717.849 75 55.909.088 90 72.891.298
Ponto 6 90 86.937.900 90 66.203.886 150 112.306.732
Ponto 7 130 120.214.247 130 88.613.359 200 139.606.771
Ponto 8 160 145.318.071 160 110.155.533 250 163.311.774
Ponto 9 190 171.673.462 190 133.453.767 330 192.624.022
4 Limite de deteco, limite de quanticao e preciso
Os limites de deteco e quanticao foram determinados utilizando-se o mtodo
baseado nos parmetros da curva analtica, utilizando-se como desvio-padro da res-
posta (s) o desvio-padro da equao de regresso linear, calculado usando planilha
Excel. Estes dados esto apresentados na Tabela 4.
Tabela 4 > Faixa de trabalho, limite de deteco (LD) e limite de quanticao (LQ)
dos quatro compostos determinados por LCMS-IT-TOF
COMPOSTO FAIXA DE TRABALHO
a
(mg . L
-1
) LD
b
(ng . L
-1
) LQ
b
(ng . L
-1
)
4-nonilfenol c 0,030 a 0,400 25,4 76,9
Nonilfenol mistura d 0,030 a 0,400 33,7 102
17-Estradiol d 0,005 a 0,200 9,7 29,4
17-Etinilestradiol d 0,005 a 0,200 8 24,1
A
EMPREGANDO-SE SOLUES-PADRO DOS COMPOSTOS EM METANOL
B
CONSIDERANDO-SE UM FATOR DE CONCENTRAO DE 1.000 VEZES
C
UTILIZANDO PADRONIZAO EXTERNA
D
UTILIZANDO PADRONIZAO EXTERNA E INTERNA
A preciso instrumental (do mtodo cromatogrco empregado) foi determinada em
condies de repetibilidade, isto , os resultados foram obtidos utilizando-se o mesmo
mtodo para uma mesma amostra, no mesmo laboratrio, com o mesmo equipamen-
to e mesmo operador, e em um curto intervalo de tempo (determinao feita em um
nico dia), atravs da injeo automtica em heptuplicata de duas solues-padro.
A Tabela 5 fornece os coecientes de variao calculados para as reas obtidos aps
sucessivas injees do padro.
GUAS 386
Tabela 5 > Repetibilidade dos resultados obtidos para solues-padres dos trs PE
expressa por meio do coeciente de variao (CV)
COMPOSTO COEFICIENTE DE VARIAO CV (%)
E2 e EE2(20 g . L
-1
)
NP (50 g . L
-1
)
E2 e EE2(130 g . L
-1
)
NP (300 g . L
-1
)
E2 6,5 8,4
EE2 13,3 10,6
NP 3,3 4,5
5 Extrao e recuperao
O mtodo utilizado para concentrao dos compostos de interesse foi a extrao
em fase slida. Os cartuchos foram ativados com a passagem de 5 mL de acetato de
etila, 5 mL de metanol e 5 mL de gua deionizada. Em seguida, 1 litro da amostra
em pH 3 foram ltrados com uma vazo de aproximadamente 5 mL/min. Aps a
passagem de todo volume, o cartucho permaneceu sob vcuo por 20 minutos para
secagem. A eluio foi efetuada com duas alquotas de 5 mL de acetato de etila
(vazo aproximada: 1 mL/min). Os eluatos (~ 10 mL), coletados nos tubos de ensaio,
foram ento levados a completa secura com auxlio de nitrognio comercial e res-
suspendidos com 1 mL de metanol. O extrato concentrado foi transferido para vials
e conservados em freezer (-20
o
C) at o momento da anlise cromatogrca por um
perodo mximo de 15 dias. Os testes de recuperao foram avaliados usando nove
determinaes, cada qual usando trs nveis de concentraes, com triplicatas em
cada nvel. As concentraes preparadas foram de 20, 100 e 200 ng.L
-1
para estradiol
e etinilestradiol e 300 ng.L
-1
para nonilfenol. O ndice de recuperao foi calculado
da seguinte forma (equao 1):
Recuperao (%) = [(C1- C2) / C3] x 100
onde:
C1 = concentrao determinada na amostra forticada;
C2 = concentrao determinada na amostra no forticada;
C3 = concentrao adicionada
APNDICES 387
A Tabela 6 apresenta os valores obtidos no teste de recuperao para os compostos
analisados.
Tabela 6 > Valores obtidos pelos ensaios de recuperao de E2, EE2 e NP
em funo da forticao das amostras coletadas na entrada da ETA Morro Redondo.
E2 (ng/L) EE2 (ng/L) NP (ng/L)
C.Esp. C. Obs. % Rec. C.Esp. C. Obs. % Rec. C.Esp. C. Obs. % Rec.
20 21,29 106,45 20 21,75 108,75 300 288 96
100 83,15 83,15 100 79,77 79,77 - - -
200 197,72 98,86 200 165,61 82,80 - - -
A Figura 2 abaixo mostra um cromatograma tpico dos padres analisados.
Figura 2
Cromatograma tpico da analise dos PE em questo: (1) Fenolftalena,
(2) Estradiol, (3) Etinilestradiol, (4) ms2 Etinilestradiol, (5) ms2 Estradiol,
(6) Nonilfenol e (7) ms2 Nonilfenol.
6 Gerenciamento de Resduos Gerados
As amostras lquidas contendo perturbadores endcrinos (padres analticos e extratos or-
gnicos oriundos das amostras ambientais) esto armazenadas dentro de vials de croma-
tograa que so descartados em lixeiras de resduo perigoso. Tal resduo periodicamente
encaminhado para a disposio nal, em aterros industriais, por empresas terceirizadas.
Referncia Bibliogrca
MOREIRA, D. S. Desenvolvimento de Metodologia Analtica por Cromatograa/Espectrometria de
Massas para Avaliao da Ocorrncia de Pertubadores Endcrinos em Mananciais de Abasteci-
mento da Regio Metropolitana de Belo Horizonte. Dissertao de Mestrado. Programa de Ps-
Graduao em Engenharia Ambiental - Universidade Federal de Ouro Preto, 2008.
GUAS 388
6. Mtodo para determinao de 2-metilisoborneol
e geosmina
As anlises para determinao dos compostos odorferos 2-metilisoborneol (2-MIB) e
geosmina (GEO) nos experimentos de remoo de gosto e odor foram realizados no
cromatgrafo a gs acoplado ao espectrmetro de massas ion trap (GC-ITMS) a meto-
dologia foi validada pelo Qumico Josemar L. Stefens.
1 Equipamentos, Acessrios, Reagentes e Padres
Tabela 1 > Reagentes, padres e especicaes
PRODUTO ESPECIFICAO
Solvente Metanol pesticida (Mallincrodt ou similar)
Padres
2-Metilisoborneol 20 mg (Wako Chemicals)
Geosmina 20 mg (Wako Chemicals)
Padro interno (PI) cis-decahidro-1-naftol (99% pureza, Aldrich ou similar)
Reagentes Cloreto de sdio P.A., gua deionizada
Sistema para Microextrao
em Fase Slida (SPME)
Guia SPME, bloco de aquecimento para vials de 28 mm de
dimetro, bra SPME 2 cm (50/30 m DVB/carboxen/PDMS)1,
aparelho SPME manual (Supelco).
1 DVB: divinilbenzeno; PDMS: polidimetilsiloxano
FRASCOS DO TIPO VIAL DE VIDRO DE 20 ML, COM TAMPA ROSQUEVEL E SEPTO DE TEFLON/SILICONE; BALES VOLUMTRICOS DE 50 ML, 100 ML
E 200 ML; TERMMETRO 0-100
O
C; MICROPIPETAS AUTOMTICAS COM VOLUME VARIVEL DE 2 A 20 L, 10 A 100 L E 100 A 1000 L; PONTEIRAS
DESCARTVEIS; AGITADOR MAGNTICO; E BARRA DE AGITAO MAGNTICA.
Tabela 2 > Descriminao de equipamentos necessrios e condies operacionais
EQUIPAMENTO/PARMETROS ESPECIFICAES/CONDIES
Cromatgrafo a gs Varian, modelo 3800
Coluna capilar
Chrompack CP-Sil 8 CB-MS
Dimenses: 30 m x 0,25 mm x 0,25 m
Gs arraste / uxo Hlio ultra-puro (Air Products) / 1 mL/min.
Temperatura do injetor 250
o
C
Modo de injeo Splitless
Programao do forno
Isoterma de 60
o
C durante 3 minutos
Taxa aquecimento 5
o
C/min. at 150
o
C
Taxa aquecimento 15
o
C/min. at 250
o
C
Isoterma de 250
o
C durante 3 minutos
Detector Espectrmetro de massas ion trap Varian, modelo Saturn 2000
Modo de ionizao EI (impacto eletrnico): 70 eV
Temperatura manifold 50
o
C
Temp. linha transferncia 270
o
C
Temperatura do trap 200
o
C
APNDICES 389
2 Coleta de amostra, conservao e estocagem
As amostras foram coletadas em frascos de vidro mbar livre de matria orgnica.
O frasco dever ser preenchido totalmente com a amostra. As amostras podero ser
estocadas a 4C por um perodo mximo de 15 dias.
3 Extrao
Os compostos 2-MIB e GEO foram extrados das amostras de gua atravs da tcnica
de microextrao em fase slida (SPME), sendo, em seguida, identicados e quanti-
cados no GC-ITMS (BAO et al., 1997; LOYD et al., 1998; SAITO; OKAMURA; KATAOKA,
2008; SALEMI et al., 2006; SUNG; LI; HUANG, 2005).
A microextrao em fase slida (SPME) baseia-se na adsoro dos compostos vo-
lteis por uma bra de slica modicada quimicamente, com posterior dessoro
trmica dos compostos no cromatgrafo a gs acoplado ao espectrmetro de massas
(LANAS, 2004). A Tabela 3 mostra as condies de extrao por SPME de 2-MIB e
GEO em gua.
Tabela 3 > Condies de extrao dos compostos 2-MIB e GEO
PARMETROS CONDIES
Massa de NaCl
1
1,5 g
Volume dos frasco tipo vials 20 mL
Alquota de amostra 15 mL
Temperatura de extrao 60
o
C
Tempo de exposio da bra 30 minutos
Temperatura de dessoro
2
250
o
C
Tempo de dessoro
2
3 minutos
1
MASSA DE NACL ADICIONADA AMOSTRA;
2
INJETOR DO CROMATGRAFO A GS
4 Calibrao e linearidade
Foram realizadas duas curvas de calibrao para os compostos 2-MIB e GEO. A Figura
1 mostra a curva de calibrao para 2-MIB nas faixas de concentrao de 3 a 100ng.L
-1
(a) e 100 a 1.300ng.L
-1
(b). A Figura 2 mostra a curva de calibrao para GEO nas faixas
de concentrao de 3 a 100ng.L
-1
(a) e 100 a 1.300ng.L
-1
(b).
GUAS 390
Figura 1 Curvas de calibrao para 2-MIB: 3-100ng.L
-1
(a); 100-1.300ng.L
-1
(b)
Figura 2 Curvas de calibrao para GEO: 3-100ng.L
-1
(a); 100-1.300ng.L
-1
(b)
A
A
B
B
5 Limite de Deteco e Quanticao
O limite de deteco do mtodo (LDM) foi obtido atravs da injeo dos padres de
2-MIB e GEO observando a faixa de concentrao onde ocorreu perda do sinal. O
LQM foi determinado como sendo a concentrao do analito que apresentasse um
pico com rea 3 vezes o valor do rudo. O limite de quanticao do mtodo (LQM) foi
determinado considerando 2 vezes o valor do LDM. A Figura 3 mostra o cromatograma
obtido dos padres de 2-MIB e GEO.
APNDICES 391
Figura 3 Cromatograma dos padres de 2-MIB e GEO na concentrao de 1.000 ng/L
2-MIB LDM: 2,5 ng/L e LQM: 5 ng/L;
Geosmina LDM: 1,5 ng/L e LQM: 3 ng/L.
Referncias Bibliogrcas
BAO, M.-L. et al. Determination of trace levels of taste and odor compounds in water by micro-
extraction and gas chromatography-ion-trap detection-mass spectrometry. Water Research, v.
31, n. 7, p. 1719-1727, 1997.
LANAS, F. Mtodos cromatogrcos de anlise: extrao em fase slida (SPE). v. 4. So Carlos:
Rima Editora, 2004. p. 93.
LOYD, S.W. et al. Rapid analysis of geosmin and 2-methylisoborneol in water using solid phase
micro extraction procedures. Water Research, v. 32, n. 7, p. 2140-2146, 1998.
SAITO, K.; OKAMURA, K.; KATAOKA, H. Determination of musty odorants, 2-methylisoborneol and
geosmin, in environmental water by headspace solid-phase microextration and gas chromatog-
raphy-mass spectrometry. Journal of Chromatography A, v. 1186, n. 1-2, p. 434-437, 2008.
SALEMI, A. et al. Automated trace determination of earthy-musty odorous compounds in water
samples by on-line purge-and-trap-gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chro-
matography A, v. 1136, p. 170-175, 2006.
SUNG, Y.-H.; LI, T.-Y.; HUANG, S.-D. Analysis of earthy and musty odors in water samples by solid-
phase microextraction coupled with gas chromatography/ion trap mass spectrometry. Talanta,
v. 65, p. 518-524, 2005.
Ministrio da
Cincia e Tecnologia
FINANCIADORES
APOIO
1
GUA
Remoo de microrganismos emergentes e
microcontaminantes orgnicos no tratamento
de gua para consumo humano
Coordenador Valter Lcio de Pdua
g
u
a
1
COORDENADORES
Valter Lcio de Pdua DESA/UFMG
(Coordenador da rede)
Escola de Engenharia da UFMG
Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental
Av. Contorno, 842, 7 andar Centro
CEP 30110-060 Belo Horizonte, MG
Tel. (31) 3409-1883
e-mail: valter@desa.ufmg.br
Rafael Kopschitz Xavier Bastos
Departamento de Engenharia Civil da UFV
Av. Peter Henry Rolfs, s/n Campus Universitrio
CEP 36570-000 Viosa, MG
Tel. (31) 3899-2740 e-mail: dec@ufv.br
Antnio D. Benetti
Instituto de Pesquisas Hidrulicas da UFRGS
Av. Bento Gonalves 9.500 Caixa Postal 15.029
CEP 91501-970 Porto Alegre, RS
Tel. (51) 3308-6686 e-mail: iph2000@iph.ufrgs.br
Cristina Celia Silveira Brando
Programa de Ps-graduao em Tecnologia
Ambiental e Recursos Hdricos da UnB
Campus Universitrio Darcy Ribeiro
CEP 70.910-900 Braslia, DF
Tel. (61) 3307-2304 e-mail: ptarh@unb.br
Jos Carlos Mierzwa
Escola Politcnica da USP
Departamento de Engenharia Hidrulica e Sanitria
Av. Prof. Almeida Prado, 83 Travessa 02
Prdio da Eng. Civil CEP 05508-900 So Paulo, SP
Tel. (11) 3091-5329 e-mail: cirra@usp.br
Cristina Filomena Pereira Rosa Paschoalato
Laboratrio de Recursos Hdricos da Unaerp
Av. Costabile Romano, 2.201 Ribeirnia
CEP 14096-900 Ribeiro Preto, SP
Tel. (16) 3603-6718 e-mail: cpaschoa@unaerp.br
Maurcio Luiz Sens
Departamento de Engenharia Sanitria
e Ambiental da UFSC
Caixa Postal 476
CEP 88040-970 Trindade, Florianpolis, SC
Tel. (48) 3721-9000 e-mail: mls@ens.ufsc.br
Edson Pereira Tangerino
Departamento de Engenharia Civil da Unesp
Avenida Brasil Centro, 56
CEP 15385-000 Ilha Solteira, SP
Tel. (18) 3743-1000 e-mail: adm@feis.unesp.br
Edumar Ramos Cabral Coelho
Departamento de Engenharia Ambiental da UFES
Campus Universitrio, Goiabeiras
CEP 29075-910 Vitria, ES
Tel. (027) 4009-2678 e-mail: dea@ct.ufes.br
COLABORADORES
Beatriz Suzana Ovruski de Ceballos UFCG
Luiz Antonio Daniel EESC/USP
9 788570 221650
ISBN 978-85-7022-165-0
Você também pode gostar
- Anti Espumante Foamtrol AF2051 Item 114105Documento5 páginasAnti Espumante Foamtrol AF2051 Item 114105edjalma monteiroAinda não há avaliações
- FT0205 Watercel ZZ Rev.01Documento5 páginasFT0205 Watercel ZZ Rev.01Rafael Di SerioAinda não há avaliações
- Biofiltro Aerado SubmersoDocumento8 páginasBiofiltro Aerado SubmersoAdilson Moacir Becker JúniorAinda não há avaliações
- Um olhar sobre a coleta de resíduos de serviços de saúde e os riscos de infecção pelas hepatites B e C associadosNo EverandUm olhar sobre a coleta de resíduos de serviços de saúde e os riscos de infecção pelas hepatites B e C associadosAinda não há avaliações
- Gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares: Um estudo de caso do município de São Francisco de Sales/MGNo EverandGerenciamento de resíduos sólidos domiciliares: Um estudo de caso do município de São Francisco de Sales/MGAinda não há avaliações
- Turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesNo EverandTurfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesAinda não há avaliações
- Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos: Aproveitamento do BiogásNo EverandCaracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos: Aproveitamento do BiogásNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Aula 7 - Cálculos Do Consumo de NutrientesDocumento30 páginasAula 7 - Cálculos Do Consumo de NutrientesAnna KaminskiAinda não há avaliações
- Calha ParshallDocumento4 páginasCalha ParshallJoseAlfredoCarneiroDosSantosAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre Tratamento Das ÁguasDocumento11 páginasTrabalho Sobre Tratamento Das ÁguasJose F. de AndradeAinda não há avaliações
- TCC - Tratamento de EsgotoDocumento78 páginasTCC - Tratamento de Esgotodiegocarvalhosilveir100% (1)
- Questões Do EnadeDocumento9 páginasQuestões Do EnadeTati BarbosaAinda não há avaliações
- Falta de Oxigênio Nas Estações de Tratamento de Efluentes Parte 2Documento4 páginasFalta de Oxigênio Nas Estações de Tratamento de Efluentes Parte 2David Charles MeissnerAinda não há avaliações
- AULA CanaisDocumento44 páginasAULA CanaisMateus Ferreira100% (2)
- DISSERTACÃO - Tratamento Terciário de Esgoto DomésticoDocumento154 páginasDISSERTACÃO - Tratamento Terciário de Esgoto DomésticoJosé VenâncioAinda não há avaliações
- Tratamento de EfluentesDocumento85 páginasTratamento de Efluentesgiu_pradoAinda não há avaliações
- Dimensionamento de Sistemas de Tratamentos de Esgotos Sanitarios Coletivos e IndividuaisDocumento55 páginasDimensionamento de Sistemas de Tratamentos de Esgotos Sanitarios Coletivos e IndividuaisJoão Marcos S. CorrêaAinda não há avaliações
- Estudo de Caso: Modificações em Uma Estação de Tratamento de Efluentes Visando o ReúsoDocumento10 páginasEstudo de Caso: Modificações em Uma Estação de Tratamento de Efluentes Visando o ReúsoDavid Charles Meissner100% (1)
- Sistemas de Tratamento de Efluentes TexteisDocumento682 páginasSistemas de Tratamento de Efluentes TexteisDada Caca100% (1)
- Manual Lodo AtivadoDocumento27 páginasManual Lodo AtivadoTatiana Petersen GesteiraAinda não há avaliações
- PHA3413 - Aula 09 - Tratamento de LodoDocumento63 páginasPHA3413 - Aula 09 - Tratamento de LodobkkbrazilAinda não há avaliações
- Caderno de Saneamento Ambiental 2017Documento124 páginasCaderno de Saneamento Ambiental 2017Silvestre Micaloski JuniorAinda não há avaliações
- Aula 1 - Águas Residuárias - CargasDocumento45 páginasAula 1 - Águas Residuárias - CargasGabriela Martins Souza BrisolaAinda não há avaliações
- Manual de Operação ETE - 2013Documento11 páginasManual de Operação ETE - 2013Carlos NovaesAinda não há avaliações
- Lodo de Fossa SepticaDocumento390 páginasLodo de Fossa SepticaLucas Matheus100% (1)
- Poluição Cap 11Documento30 páginasPoluição Cap 11Jessica CamilaAinda não há avaliações
- Tratamento Terciário Desinfecção AtualDocumento17 páginasTratamento Terciário Desinfecção AtualAlisson MartinsAinda não há avaliações
- Lodos AtivadosDocumento76 páginasLodos AtivadosThiago LuisAinda não há avaliações
- Caracterização e Tratamento de Efluentes Vinícolas Da Região Demarcada Do DouroDocumento326 páginasCaracterização e Tratamento de Efluentes Vinícolas Da Região Demarcada Do DouroLuís Constâncio PereiraAinda não há avaliações
- Projeto Da Estação Tratamento de EsgotosDocumento5 páginasProjeto Da Estação Tratamento de EsgotosgiovannirjAinda não há avaliações
- NBR 9.898 Coleta de Amostras PDFDocumento22 páginasNBR 9.898 Coleta de Amostras PDFPedro Nunes De Oliveira JúniorAinda não há avaliações
- Apostila 2-Tratamento de EfluentesDocumento13 páginasApostila 2-Tratamento de EfluentesJady MarquezAinda não há avaliações
- Relatório Utinga 2Documento7 páginasRelatório Utinga 2João Luiz RibeiroAinda não há avaliações
- Cartilha Nova Portaria Sobre Potabilidade Da AguaDocumento41 páginasCartilha Nova Portaria Sobre Potabilidade Da AguaLeonardo MascarenhasAinda não há avaliações
- Tratamento de Efluentes IndustriaisDocumento173 páginasTratamento de Efluentes IndustriaisRafaelNicodemosBruzzonAinda não há avaliações
- Mem Desc ETE App Fábrica NovaDocumento9 páginasMem Desc ETE App Fábrica NovaPaulo PalmeiraAinda não há avaliações
- Água É Vida Tratea Bem-Sulfato de Aluminio QuelanDocumento44 páginasÁgua É Vida Tratea Bem-Sulfato de Aluminio QuelanCarolina AranhaAinda não há avaliações
- Relatório Tratamento de ÁguaDocumento5 páginasRelatório Tratamento de ÁguaAdriano JorgeAinda não há avaliações
- Apostila - DBO e DQODocumento50 páginasApostila - DBO e DQOzerocp2100% (1)
- Demanda Bioquímica de OxigênioDocumento4 páginasDemanda Bioquímica de Oxigêniowashington willerAinda não há avaliações
- Manual Cetesb CompletoDocumento595 páginasManual Cetesb CompletoclelioAinda não há avaliações
- Tratamento UASBDocumento31 páginasTratamento UASBDaniel Silva100% (1)
- Memorial Descritivo - EteDocumento20 páginasMemorial Descritivo - EteRenanAinda não há avaliações
- ABRELPE - Revista Cientifica - Resíduos SólidosDocumento120 páginasABRELPE - Revista Cientifica - Resíduos SólidosChapolin ColoradoAinda não há avaliações
- Poluição Cap 13Documento10 páginasPoluição Cap 13Jessica CamilaAinda não há avaliações
- Aula 6 - Níveis, Operações e Processos de Tratamento de Esgotos PDFDocumento65 páginasAula 6 - Níveis, Operações e Processos de Tratamento de Esgotos PDFThais Borini de CastroAinda não há avaliações
- Projeto Executivo Ses Fraiburgo-ScDocumento70 páginasProjeto Executivo Ses Fraiburgo-ScJordana Furman100% (1)
- Avaliação Do Índice de Qualidade Da Água (Iqa) Na Bacia Do Rio Itapetininga, SP.Documento131 páginasAvaliação Do Índice de Qualidade Da Água (Iqa) Na Bacia Do Rio Itapetininga, SP.Vinicius Mori VálioAinda não há avaliações
- NBR 10561 1988 Aguas Determinacao de Residuo Sedimentavel Solidos Sedimentaveis Metodo DDocumento2 páginasNBR 10561 1988 Aguas Determinacao de Residuo Sedimentavel Solidos Sedimentaveis Metodo DDiogo LourençoAinda não há avaliações
- NBR 15847 de 2010 - Amostragem de Água Subterrânea em Poços de Monitoramento - Métodos de PurgaDocumento20 páginasNBR 15847 de 2010 - Amostragem de Água Subterrânea em Poços de Monitoramento - Métodos de PurgaGabrielAinda não há avaliações
- Uso do Policloreto de Alumínio (PAC): vantagens sobre o Sulfato de Alumínio em sistema de tratamento de águaNo EverandUso do Policloreto de Alumínio (PAC): vantagens sobre o Sulfato de Alumínio em sistema de tratamento de águaAinda não há avaliações
- Potencial Energético de Resíduos Sólidos Urbanos: estudo de caso em uma região metropolitana brasileiraNo EverandPotencial Energético de Resíduos Sólidos Urbanos: estudo de caso em uma região metropolitana brasileiraAinda não há avaliações
- Resíduos Sólidos: Desafios & OportunidadesNo EverandResíduos Sólidos: Desafios & OportunidadesAinda não há avaliações
- A hotelaria no Brasil e a gestão de resíduos: uma análise entre dois hotéis da região metropolitana do Rio de JaneiroNo EverandA hotelaria no Brasil e a gestão de resíduos: uma análise entre dois hotéis da região metropolitana do Rio de JaneiroAinda não há avaliações
- A História da Política Nacional de Resíduos Sólidos: reflexões acerca do seu tímido avançoNo EverandA História da Política Nacional de Resíduos Sólidos: reflexões acerca do seu tímido avançoAinda não há avaliações
- Análise de modelos e práticas de gestão de resíduos sólidos: o caso do aproveitamento energético do lixo urbano no BrasilNo EverandAnálise de modelos e práticas de gestão de resíduos sólidos: o caso do aproveitamento energético do lixo urbano no BrasilAinda não há avaliações
- Santos Et Al 2007Documento10 páginasSantos Et Al 2007Carolina AranhaAinda não há avaliações
- Água É Vida Tratea Bem-Sulfato de Aluminio QuelanDocumento44 páginasÁgua É Vida Tratea Bem-Sulfato de Aluminio QuelanCarolina AranhaAinda não há avaliações
- Desinfecacao Agua ProsabDocumento149 páginasDesinfecacao Agua ProsabCristiano KernAinda não há avaliações
- Residuo Solido SaneamentoDocumento273 páginasResiduo Solido SaneamentojedsonscribdAinda não há avaliações
- Decreto 8211 2014Documento1 páginaDecreto 8211 2014Carolina AranhaAinda não há avaliações
- Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica Do Estado de Goiás e Do BrasilDocumento40 páginasRealidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica Do Estado de Goiás e Do BrasilCarolina AranhaAinda não há avaliações