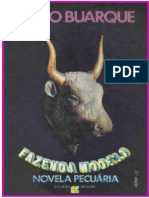Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
V14a39a09 PDF
V14a39a09 PDF
Enviado por
AlinealbuTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
V14a39a09 PDF
V14a39a09 PDF
Enviado por
AlinealbuDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 85
Contexto
MOMENTO ora vivido pela humanidade, geometrizado pelos nme-
ros cheios, 2000; 500; cada um sugerindo um pacote de sculos,
tende a direcionar as reflexes dos seres humanos para os fantsti-
cos contedos histricos desses pacotes. A mdia o principal agente poten-
cializador dessas reflexes, na medida em que pauta a histria do Brasil de
500 anos sob os mais variados ngulos, assim como a histria no perodo do
cristianismo, outro tema fascinante, no qual cabe desde parte do Imprio
Romano, toda a Idade Mdia, o Renascimento, a Revoluo Industrial, tudo
culminando com os incrveis inventos do sculo XX. oportuno que se
contem essas e outras histrias, mas igualmente importante que se apro-
veitem os ngulos retos da geometria da histria para olhar para a frente e
para forar reflexes sobre o futuro, abordando outros ngulos do pico
Assim caminha a humanidade, mais pelo ttulo do que pelo seu contedo
propriamente dito.
A Agenda 21, uma das poucas pautas do futuro, ousada pela abran-
gncia e pelo horizonte de um sculo. Nunca se planejou para um perodo
to longo. O grande prazo requer adaptaes metodolgicas, nas quais, aos
planos convencionais de uma a duas dcadas, acoplam-se prognsticos e
reflexes sobre os grandes temas e suas interfaces setoriais.
Ainda recentemente, diletantes, fazamos clculos a partir da popula-
o mundial de cinco e meio bilhes de habitantes. Hoje j teramos ultra-
passado os seis bilhes. Quando saberemos o nmero da assntota da esta-
bilizao? Como ser a componente social das polticas pblicas daqui a trs
dcadas? lcito especular e concluir que a degradao ambiental s no
maior porque mais da metade da populao do mundo vive margem da
sociedade de consumo? Haver determinao de, mesmo sob a justificativa
da necessidade de ampliar o nmero de consumidores, promover-se forte-
mente a ampliao da populao com acesso a bens de consumo? Isto ser
elevar a qualidade de vida? Qual o tamanho do impacto ambiental decor-
rente da ampliao de cada frao de 10% de novos consumidores em nvel
mundial? Os recursos naturais so ou no inesgotveis? At a metade do
sculo XXI os oceanos tero subido um metro, inundando milhares de cida-
O meio ambiente e o futuro
WERNER E. ZULAUF
O
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 86
des porturias e tursticas, alm de frteis deltas de rios em todo o mundo,
por causa do efeito estufa? Em que medida a reciclagem economizar re-
cursos naturais no renovveis para as geraes futuras? O automvel man-
ter seu fascnio e sua hegemonia como meio de transporte e smbolo de
status ? Continuar impondo investimentos macios em vias de transporte
em detrimento de outras demandas da sociedade?
Defesa do meio ambiente
O meio ambiente o endereo do futuro para o qual haver a maior
convergncia de demandas entre todas. No necessrio realizar estudos
muito profundos para se concluir que a qualidade da gua se encontra for-
temente ameaada; que o clima tende a se transformar no prximo sculo
por conta do efeito estufa e da reduo da camada de oznio e que a biodiver-
sidade tende a se reduzir, empobrecendo o patrimnio gentico, justamente
quando a cincia demonstra a cada dia o monumental manancial de recur-
sos para o desenvolvimento cientfico que a natureza alberga.
A defesa do meio ambiente, conceito que inclui a restaurao de ecos-
sistemas, uma atividade que teve seu desenvolvimento como conjunto de
aes ordenadas iniciado em meados do sculo que se finda e que, para fins
didticos, podem ser agrupadas como segue, em trs fases.
Fase pioneira
A simples percepo de que a humanidade, que j havia ordenado o
seu comportamento para limitar procedimentos inoportunos do convvio
em sociedade, como a tipificao de crimes, contravenes e atitudes com-
prometedoras da qualidade da vida em comunidades, ameaava de forma
crescente os recursos ambientais, pelo falso entendimento de que aquilo
que no pertencia especificamente a algum poderia ser utilizado de forma
inconseqente por qualquer um, fez surgir de forma espontnea o movi-
mento ambientalista, simultaneamente em vrias cidades de diversos pases.
Inicialmente sem maiores fundamentos cientficos, protestava-se con-
tra atitudes obviamente predadoras do meio ambiente, usando-se os mais
exticos recursos para chamar a ateno como subir em rvore para evitar a
sua derrubada, protestar contra os incmodos pontuais da poluio atmos-
frica ou direcionar a ateno para as causas de mortandade de peixes etc.
As elites tratavam de desqualificar tais atitudes, rotulando os ativistas
ecolgicos com os mais variados e pejorativos adjetivos, na medida em que
elas pressentiam que a defesa do meio ambiente fatalmente acabaria com
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 87
alguns de seus privilgios e, no mnimo, implicaria em investimentos para
controlar os efeitos da poluio, por exemplo.
O protesto contundente e nada ortodoxo, entretanto, foi registrado
pelos meios de comunicao, que viam, naquelas atitudes estranhas, no
mnimo, matria de interesse jornalstico. Da para a assimilao pela socie-
dade foi um passo natural. Um misto de curiosidade e de concordncia com
as teses dos ecologistas fez crescer a vontade social de mudar comportamen-
tos predadores por outros com respeito pela natureza, mesmo que, indivi-
dualmente, essa mesma sociedade ainda no estivesse preparada para efeti-
vamente fazer a sua parte. Muitos achavam que, se os outros melhorassem
o meio ambiente, eles, pessoalmente, poderiam continuar a cometer seus
pecadilhos ambientais sem dar na vista.
Fase poltica e do enforcement
Como vontade social precursora da vontade poltica, a questo
ambiental evoluiu para um movimento mundial de criao de temticos
Partidos Verde com destaque para o Die Grnnen, na Alemanha. O caso
alemo emblemtico, onde a perspectiva de tornar-se parceiro da coaliso
de governo seria concreta com a obteno de apenas 8 a 10% dos votos,
substituindo o Partido Liberal (FDP) como fiel da balana entre os dois
grandes partidos (CDU e SPD). Acabou ocorrendo. Hoje o governo ale-
mo dirigido pela coaliso SPD/Die Grnnen.
No Brasil o Partido Verde (PV) emerge a cada eleio com mais can-
didatos eleitos, ocupando espaos progressivamente. Os partidos ideolgi-
cos de esquerda perderam o discurso diante do inexorvel avano do capita-
lismo e da globalizao, abrindo espao para um partido temtico com discur-
so claro, objetivo, oportuno e carismtico, particularmente entre os jovens.
A presso dos movimentos ecologistas, amplificada pela mdia, e a
insero do tema no discurso poltico, a par do desenvolvimento tcnico
nos institutos oficiais de defesa do meio ambiente e cientfico nas universi-
dades, levou as autoridades governamentais, em todos os nveis, a editarem
leis, decretos, normas tcnicas e demais instrumentos de enforcement, isto
, de controle ambiental. No Brasil, aproveitou-se a prpria Assemblia Na-
cional Constituinte de 1988 para inserir um moderno e abrangente captulo
sobre meio ambiente na Constituio Federal.
Ainda no Brasil, houve um notvel engajamento do Ministrio Pbli-
co, tanto em nvel Nacional (Procuradoria da Repblica) quanto dos esta-
dos, pressionando os transgressores da legislao ambiental de um lado e as
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 88
prprias autoridades do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) de
outro, cada um no mbito das suas responsabilidades ambientais. Dessa
ao nasceu a demanda por tecnologias de controle ambiental e de tecno-
logias limpas de produo.
Fase do mercado
A demanda por servios tcnicos, por equipamentos de controle e de
novos processos limpos teve resposta imediata no mercado, alimentado pela
academia e pelos institutos tecnolgicos. No foi difcil. O estado da tcni-
ca para atendimento das demandas da produo de bens de consumo estava
superaquecido. Alterar rotas para produzir equipamentos de controle
ambiental foi muito simples, assim como adequar a engenharia de consultoria
e projetos aos novos desafios.
Instrumentos mais sofisticados de mercado surgiram, por exemplo,
com as series de certificados ISO-9000 e ISO-14000, pelas quais as inds-
trias globalizadas no tm outras alternativas seno produzir com compe-
tncia e com responsabilidade ambiental. Mais uma fora na direo da
ampliao do mercado verde.
O futuro
Mesmo o ousado horizonte de um sculo da Agenda 21 irrelevante
diante da responsabilidade desta gerao, transitria para o terceiro milnio,
que assiste a uma extraordinria exploso cientfica e tecnolgica e a um
aquecimento econmico sem precedentes, infelizmente sem contrapartidas
de modelos scio-econmico e ambiental adequados.
O sculo XXI vai passar como uma frao de segundo no tempo da
existncia da humanidade sobre a terra. O que preocupante todos dese-
jarem que essa existncia tenha a durao no de segundos nessa escala, mas
de dias, semanas, anos Mas como conciliar o enorme potencial de desen-
volvimento em escala logartmica que a base do conhecimento alicera, com
as limitaes fsicas da superfcie do planeta, onde ainda por cima se preten-
de manter espaos preservados da ocupao antrpica como almoxarifado
gentico da biodiversidade e reservas de paisagens naturais?
Entre outras respostas, h que se acreditar na capacidade de direciona-
mento do conhecimento acumulado para solues nos campos das cincias
exatas e biolgicas. Nos campos cultural, poltico e das demais cincias hu-
manas, infelizmente a histria mostra os estreitos limites da diplomacia,
freqentemente esgarados pelas guerras, quando ocorriam incompatibili-
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 89
dades muito menores do que as que o futuro nos reserva. Felizmente os
ltimos anos criaram um novo ingrediente atenuador de conflitos e que
tem alargado o campo de atuao da diplomacia: a globalizao da econo-
mia. Mas cedo para afirmar que a paz est selada s porque o comrcio
criou uma rede de interesses protetora. O trapezista pode cair fora da rede.
Populao e desenvolvimento nos campos social e econmico
A agricultura tem sido competente para frustrar, com a ampliao da
produtividade, antigos prognsticos de fome por falta de alimentos. Mas
cabe a pergunta: at quando? E quando toda a populao do mundo estiver
se alimentando corretamente, o que ningum ousa no desejar, qual a fora
poltico-administrativa capaz de evitar que o pantanal seja dragado e que a
floresta amaznica seja totalmente derrubada para a sua transformao em
pastagens e campos de soja, como o sonho de parte da elite da regio
Norte do pas?
O desenvolvimento, por todos desejado, tambm a nica forma pa-
cfica atualmente conhecida de se controlar a natalidade e estagnar o cresci-
mento demogrfico. Na sia e na frica h outros componentes como
intransigncias de natureza religiosa e cultural, com os quais h que se con-
viver com pacincia e competncia para atingir finalmente o nvel econmico
capaz de sustar, por mecanismos auto reguladores intrnsecos, o crescimen-
to populacional.
Educao e polticas pblicas de ampliao de servios voltados de-
fesa do meio ambiente so atividades com potencial de gerao de empre-
gos que no tm sido exploradas, a no ser de forma superficial no Brasil.
Demanda do consumo
Sem cometer erros comprometedores do raciocnio aqui exposto, pode-
se afirmar que um tero da populao mundial cerca de dois bilhes de
humanos compe em sua plenitude a chamada sociedade de consumo;
outro tero est margem do consumo, a no ser para sobrevivncia, o que
muito pouco; e um outro tero vive uma situao intermediria, em as-
censo ao privilegiado mundo dos consumidores.
Pelos impactos ambientais gerados por produo, transporte, comer-
cializao, uso e descarte dos bens e servios de consumo, no nvel em que
ocorrem hoje, particularmente em pases emergentes como o Brasil, arrepia
a simples extrapolao de tais impactos para uma sociedade em que pratica-
mente todos sejam consumidores vorazes. Mas este o mecanismo que,
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 90
paradoxalmente, permite, de um lado, a estagnao do crescimento popu-
lacional e, de outro, ter-se uma sociedade mais homognea, portanto mais
receptiva s polticas pblicas de reciclagem, disciplina individual para a de-
fesa do meio ambiente e conscincia coletiva da necessidade de deixar para
as futuras geraes condies de vida com qualidade. O pr-requisito fun-
damental para atingir-se tal estgio a educao, no seu sentido mais abran-
gente e, especificamente, a educao ambiental, que tende a ser uma conse-
qncia natural do processo mais amplo; no Brasil, desde a Constituio de
1988, a educao ambiental obrigatria em todos os nveis de ensino do
pas; falta ser obedecida de forma mais efetiva nas escolas e falta, principal-
mente, o acesso de todas as crianas e jovens s escolas.
Proteo das guas
Fala-se muito ultimamente da ameaa de falta de gua para as deman-
das do prximo sculo e dramatiza-se a questo insinuando que a gua, ou
a sua falta, poder ser a causa de guerras no sculo XXI. A preocupao faz
sentido quando se observa o descaso dos governos e da sociedade em geral
com o manejo da gua. Basta olhar para qualquer crrego urbano para
sentir o drama da gua, emporcalhada por esgotos domsticos, resduos
industriais e lixo de todas as naturezas. Na zona rural no muito diferente.
Os agrotxicos so lanados sobre o solo sem o entendimento de que o
passo seguinte a lixiviao desses venenos para os rios, o mesmo ocorren-
do com os fertilizantes qumicos. Os desmatamentos generalizados concor-
rem para o assoreamento dos rios, no havendo nem mesmo a obedincia a
um dos poucos dispositivos legais de proteo dos recursos hdricos que so
as matas ciliares. As medidas para utilizao racional da gua so mais com-
plexas e abrangentes do que possa parecer, mas possveis como apresentado
a seguir de forma obviamente resumida.
Controle dos desmatamentos
A manuteno de coberturas florestais mesmo que de matas homo-
gneas plantadas para fins de manejo econmico nas encostas de relevo
acentuado a forma mais adequada de reservar-se gua no subsolo, regula-
rizando a vazo dos rios.
As florestas nativas so mais adequadas por preservarem outros recur-
sos naturais, particularmente a biodiversidade. Esta, em relao s espcies
animais de maior porte, exigem espaos maiores e interligados por corredo-
res florestais. Bosques isolados pouco significam para espcies do topo da
cadeia alimentar.
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 91
Polticas de reflorestamento
O Projeto Floram, desenvolvido h 10 anos no mbito do Instituto
de Estudos Avanados da USP, continua sendo a proposta mais completa
de poltica florestal ecolgica, por contemplar o controle do efeito estufa, a
manuteno da biodiversidade, a restaurao da paisagem, a atividade eco-
nmica florestal, a preveno contra a eroso do solo e o assoreamento dos
rios, a restaurao da qualidade dos recursos hdricos e a regularizao dos
fluxos de guas de subsolo e superficial. A essncia do Floram a ocupao
de todos os solos deteriorados pela explorao inadequada, dos solos desma-
tados de topografia irregular, dos solos de pouca fertilidade para a agricul-
tura e dos solos em processo de desertificao, para a sua restaurao me-
diante uma combinao de florestas homogneas de crescimento rpido
(cerca de 60
a 70%) com reconstituio de matas nativas (de 30 a 40%),
constituindo um mosaico contnuo de cobertura florestal, alternando-se
bosques de matas nativas com florestas homogneas plantadas. O manejo
da floresta homognea proporciona a sustentao econmica do empreen-
dimento enquanto a reintroduo de matas ciliares expandidas e de matas
de encostas, nativas, recompe a base para a diversificao biolgica nos
diversos estratos da cadeia alimentar da vida silvestre. Pela viso social que
acompanha a postura ambiental do professor Aziz AbSaber, foi introduzida
no Projeto Floram a componente agrcola de subsistncia das populaes
empregadas na silvicultura. O Projeto Floram foi reconhecido internacio-
nalmente, tendo recebido a medalha (verso ouro) Hopes for the Future for
a Sustainable World concedida pela Academia Internacional de Cincias de
Munique e pela International Union of Air Pollution Prevention Associations
(IUAPPA), pela comisso presidida pelo Prmio Nobel, professor Yuan T.
Lee, do Instituto Senica de Taipei, Taiwan. Em que pese o alto valor da
honraria internacional e a simplicidade do enunciado do Floram, o projeto
ainda no foi assumido como poltica pblica florestal no pas onde foi con-
cebido, embora projetos isolados de formulao prxima ao Floram este-
jam sendo implantados embrionariamente para compensao de emisses
de CO
2
.
Controle de eroso
A manuteno da qualidade da gua est fortemente associada ao seu
regime de escoamento. O combate eroso promove o controle do asso-
reamento que, por sua vez, em conjunto com as demais polticas de manejo
sustentado de bacias e microbacias hidrogrficas, reduz as enchentes s vr-
zeas, que so domnios dos rios. Com enchentes controladas reduzem-se os
efeitos catastrficos de arraste de casas, automveis, madeiras, pneus e de-
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 92
mais entulhos, que acabam ampliando o assoreamento, engatilhando novas
enchentes ainda mais dramticas.
Controle de defensivos agrcolas
A tecnologia tem atuado a favor da defesa do meio ambiente no que
concerne ao combate de pragas, produzindo defensivos agrcolas com prin-
cpios ativos de menor vida til, o que significa menor acumulao desses
txicos no ambiente. A biotecnologia, especificamente, est indo alm, ao
produzir predadores biolgicos para pragas danosas agricultura e de esp-
cies resistentes, em que pese que as pesquisas que atuam nesse campo, quando
realizam manipulaes genticas, atuam em contextos que ainda no defi-
niram claramente seus balizamentos ticos.
Qualquer que seja o desfecho da evoluo das tcnicas de produtivi-
dade agrcola, hoje, o uso de produtos qumicos um dos srios fatores de
deteriorao da qualidade dos recursos hdricos. lcito ser otimista quanto
ao futuro no que concerne poluio qumica por defensivos agrcolas, mas
h que se adotar cautela quanto aos efeitos da manipulao gentica na
biotecnologia.
Fertilizantes agrcolas
Quanto ao uso de fertilizantes qumicos, os procedimentos futuros
so menos complexos do ponto de vista tecnolgico, na medida em que as
plantas necessitam de macro e micronutrientes e o solo tem capacidade
limitada para o suprimento desses insumos. No h muito o que inventar.
Praticamente tudo o que deve ser feito est nos livros sobre adubao org-
nica e adubao organomineral do professor Edemar Jos Kiehl, da Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), de Piracicaba (SP).
O que realmente deve ocorrer uma transformao ideolgica (ideo-
logia no seu sentido mais amplo e no apenas no sentido poltico) nas esco-
las de agronomia, hoje dominadas pela receita fcil de aplicao de fertili-
zantes qumicos. Particularmente em solos pouco argilosos, a falta do ele-
mento coloidal ligante pode ser compensada pela introduo de hmus,
encontrado tanto na turfa quanto no composto orgnico.
Como fonte de matria orgnica para produo de composto opor-
tuno mencionar que a metade de todo o lixo urbano produzido no Brasil
matria prima de excelente qualidade para compostagem. Somem-se a isto
os resduos da indstria de alimentos, tambm rica em insumos compostveis
e resduos vegetais e animais das mais variadas naturezas.
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 93
Controle da poluio das guas
Os contornos definidos pelos itens mencionados renem contedos
que esboam o tamanho dos desafios a serem enfrentados para assegurar
gua em quantidade e qualidade para o futuro. As tecnologias para o trata-
mento da gua ou, melhor, para evitar que ela seja contaminada, existem e
desenvolvem-se mais pelas leis de mercado do que pelas leis do Dirio Ofi-
cial. O fantasma da falta de gua para o futuro real e deve perturbar o
consciente e o inconsciente coletivos de forma permanente para alavancar
decises poltico-administrativas, tanto da iniciativa privada como e, princi-
palmente, dos governos; estes por suas obras ou polticas pblicas so, de
longe, os maiores responsveis pela degradao ambiental em geral e das
guas em particular.
Da atividade agroindustrial. A agroindstria atividade com forte
potencial de poluio orgnica da guas, o que significa que uma usi-
na de acar e lcool ou uma fbrica de papel e celulose, por exemplo,
podem matar todos os peixes de um rio numa extenso de muitos
quilmetros, situao que se agrava quando no apenas uma usina,
mas diversas ou muitas, em funo da vocao econmica de um esta-
do ou regio. O rio morto costuma ressuscitar a jusante depois que a
atividade microbiolgica do prprio rio atuou e digeriu a carga
poluidora que, nesse caso, costuma ser predominantemente orgnica,
ou seja, biodegradvel. Ficaro seqelas certamente, mas a pior con-
seqncia a inadequao das guas do rio para usos mltiplos nos
trechos poludos.
Da indstria em geral e qumica em especial. Os setores qumico, petro-
qumico e de fertilizantes so exemplos de indstrias cujos resduos
incorporam componentes txicos ou transformadores das caracters-
ticas da gua que, por no serem biodegradveis, so de difcil diges-
to, podendo acumular-se na cadeia alimentar e causar danos pela
ingesto de peixes ou crustceos. clssico o caso da doena de
Minamata. A contaminao com mercrio descarregado por uma in-
dstria de soda provocou reaes bioqumicas no lodo do fundo da
baia de Minamata, Japo, transformando o mercrio metlico em metil-
mercrio, assimilvel pelos organismos bentnicos. medida que os
peixes que se alimentaram de outros peixes ou crustceos atingiram
dimenses maiores, aumentaram a concentrao de mercrio no teci-
do orgnico. Depois de mais de uma dcada comearam a surgir os
sintomas na populao que tinha nos peixes sua principal fonte de
protenas. Deformaes nos adultos e m formao congnita adqui-
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 94
riram dimenses de epidemia. Depois do alerta, outros casos foram
detectados, inclusive o da enseada dos Tainheiros em Salvador, na
nossa Bahia. Algumas vezes, como no caso do aumento da vazo dos
rios pelo aporte de mais gua dos afluentes, os contaminantes so
diludos, reduzindo-se aparentemente seu poder de interferncia no
ecossistema. o que ocorre no rio Tiet, fortemente contaminado na
regio metropolitana de So Paulo, mas que a jusante de Barra Bonita
aparenta ser um rio limpo. O que no aparece a quantidade crescen-
te de lodo acumulado no fundo das represas de Santana do Parnaba,
Pirapora, Rasgo, Salto e Barra Bonita, para citar apenas as que con-
tm os coquetis mais agressivos de lodos, verdadeiras bombas de
veneno prontas para serem detonadas em ocorrncias climticas ou
manobras hidrulicas no comuns.
Dos esgotos domsticos. A forma mais escandalosa de poluio das guas
a que se d no ambiente urbano, onde vive a maioria da populao,
que v e sente o mau cheiro dos crregos poludos e que sabe que
cada habitante, pessoalmente ou por atividade econmica da qual par-
ticipa, contribui para aquele quadro degradante sem que, via de regra,
esboce qualquer gesto de revolta. Este conformismo irritante reflete-
se nas prioridades de investimentos dos governos, que no priorizam
investimentos no setor de coleta e tratamento de esgotos por serem
pouco cobrados pela sociedade; e quando investem, o fazem de for-
ma incompleta.
O caso do Parque do Ibirapuera em So Paulo bem representativo
dessa incompetncia: a bacia de drenagem do crrego do Sapateiro
totalmente urbanizada (parte do bairro de Vila Mariana) e suas ruas
so totalmente servidas por redes de coleta de esgotos e (separada-
mente) de coleta de guas pluviais. Todos os esgotos gerados deve-
riam ser canalizados para a rede de esgotos, entretanto, parte apreci-
vel dessas imundcies acabam nos dutos de guas pluviais e da, no
Sapateiro, que, por sua vez, desgua no lago do Ibirapuera, compro-
metendo a qualidade da gua do lago e, por via de conseqncia, a
esttica de todo o belo parque. Mesmo tratando-se do carto postal
da cidade, idiossincrasias polticas e incompetncias tcnicas por parte
das autoridades estaduais de saneamento falam mais alto e o quadro
dramtico eterniza-se. Alm da agresso esttica aos usurios do par-
que, este caso uma afronta cidade e um fator de preocupao a
mais: se nem no Ibirapuera as autoridades se entendem, o que esperar
do saneamento no resto da cidade e, em especial, na pobre, abando-
nada e acuada periferia distante?
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 95
O caso anterior no s no o nico, mas reflete uma insensibilidade
gritante. As obras de saneamento no so vistas como empreendimentos
destinados a limpar os rios; so apenas obras, com investimentos vultosos,
que se esgotam em si mesmas. O importante conseguir o dinheiro, con-
tratar uma empreiteira generosa, enterrar os dutos, fazer as medies dos
servios e pagar! Conectar os esgotos das casas e dos prdios de apartamen-
tos um detalhe secundrio. Ser feito oportunamente quando o proprie-
trio do imvel requerer os servios, o que, via de regra, no ocorre. Em
Santos (SP), apesar de a cidade estar servida h muitas dcadas com redes
coletoras de esgotos, os canais continuam imundos, a ponto de as autorida-
des, para reduzir a poluio das praias, optarem por uma soluo pouco
ortodoxa: captar a gua dos canais e descarreg-la, por grandes ralos, no
interceptor ocenico que passa abaixo dos canais com capacidade ociosa.
Em Joinville (SC), ocorre o mesmo, discutindo-se a convenincia de barrar
o crrego Mathias e demais afluentes imundos do rio Cachoeira e descarreg-
los nos interceptores do ocioso sistema de esgotos da cidade, obra que con-
sumiu montanhas de dinheiro ao longo das ltimas trs dcadas, sem pro-
duzir resultado prtico algum em termos de despoluio do rio Cachoeira,
da lagoa de Saguau e da baia da Babitonga.
As obras de saneamento urbano so caras e impactantes na vida das
cidades durante sua construo. comum ouvir-se que os prefeitos no
gostam de execut-las para no sofrer o desgaste poltico durante a execu-
o e porque, quando concludas, ningum se lembra delas. A inferncia
precipitada e simplria. Retrata a pobreza tcnica da assessoria de comuni-
cao social da prefeitura. No existe obra com mais ou menos apelos em
termos de comunicao social. Existe sim, maior ou menor competncia
dos comunicadores sociais. Qualquer obra, desde que necessria, massa
crtica poltica capaz de projetar o administrador que tomou a deciso de
implement-la. A escolha de comunicadores competentes outra histria.
At aqui, neste item, tratou-se da poluio direta por esgotos. Olhan-
do para os prximos sculos do milnio que vem chegando, deve-se enxer-
gar muito mais. No basta tratar os esgotos. O produto final ainda carrega
aprecivel carga de componentes que a cincia comea a identificar e que, a
longo prazo, podem afetar o meio ambiente e a sade pblica. H que se
pensar seriamente em recirculao de guas tratadas para usos secundrios,
como em redes de irrigao de parques e jardins, usos industriais ou mesmo
domsticos menos exigentes em termos de qualidade. As guas pluviais ur-
banas captadas nas redes prprias devero igualmente ser tratadas, j que
carreiam contaminantes estocados nos telhados, caladas, ruas e sarjetas. A
gua dos rios e lagos deve ser a mais limpa das guas, para que possa exercer
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 96
seu papel ecolgico fundamental, que a manuteno do estoque gentico
da vida aqutica, no apenas em quantidade, mas tambm qualitativamente,
em cada rio ou lago, pois no existem dois ecossistemas iguais. Cada um
tem suas caractersticas em funo da altitude, temperatura da gua, vazo,
turbulncia do fluxo, aporte natural de nutrientes, interao com as fraes
territorial e atmosfrica do ecossistema em que est inserido etc.
Observa-se que a atitude dos nossos descendentes com relao aos
rios, lagos, mares e oceanos dever mudar mais ainda do que tem mudado,
por exemplo, a atitude da gerao atual com relao vida silvestre. Quem
imaginaria, h apenas vrias dcadas, que os safris de hoje seriam apenas
para observar e fotografar animais silvestres em seu habitat natural? E que
por isso mesmo estariam sendo massificados com um mnimo de impacto
sobre a vida dos animais?
Dos resduos slidos. A disposio final de resduos slidos, a includos
os resduos das atividades domsticas, urbanas, rurais, comerciais, in-
dustriais e de servios de sade, com caractersticas slidas, pastosas
ou mesmo lquidas quando txicas , em conjunto com o problema
dos esgotos, o maior problema ambiental urbano no resolvido no
pas e, pode-se generalizar, em grande parte do mundo.
Muito menos oneroso em termos de investimentos do que a soluo
para os esgotos, mesmo assim, pouco tem sido implementado no Terceiro
Mundo (se que essa expresso ainda faz sentido) nesse campo. A causa
uma s: ausncia de vontade poltica por falta de vontade social. Assim
como a populao das cidades convive com os rios sujos, convive tambm
com terrenos baldios e beiras de ruas da periferia entulhados de lixos das
mais variadas naturezas, onde no faltam resduos txicos de alta
periculosidade. Todos esses lixos acabam arrastados ou, pelo menos, lixiviados
para os crregos e rios urbanos, ampliando o caldo diablico de venenos
das guas.
A soluo passa pela adoo dos novos conceitos de reciclagem, des-
critos adiante. medida que a gesto dos resduos slidos for adotada em
bases econmicas e tcnicas adequadas, cessa tambm o comprometimento
das guas causado pelo arraste e pela lixiviao de lixo. Este texto somente
permite que se aborde o problema com tamanho otimismo porque no h
limitao de tempo para a implementao das medidas propostas. sempre
oportuno ter em mente que se falar aqui em dcadas, sculos e at no pr-
ximo milnio, significa que tais compartimentos de tempo podero ser ne-
cessrios para a implementao das solues propostas, caso no se tenha
competncia para mudar a cultura predadora da sociedade.
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 97
A reciclagem
O mundo gera mais de trs milhes de toneladas de lixo por dia, das
mais variadas naturezas, sem contar os resduos industriais e rejeitos de mi-
nerao, praticamente incalculveis. Mesmo os mais estanques e corretos
aterros sanitrios norte-americanos, quando se observa o contedo dos
coletores descarregando o lixo nas frentes de operao, so atestados de in-
competncia das sociedades atuais e de seus governos no trato do problema.
Muito j se tentou em termos de abordagem desse gritante problema.
Cunhou-se at a expresso dos 3 R: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Bate-se
muito na tecla do reduzir. Talvez seja pouco produtivo, medida que a socie-
dade de consumo tende a se ampliar e o descarte de lixo seja uma conseqn-
cia natural. Alis, se o consumo de bens e servios regredir, apenas como
hiptese, bom refletir o que isto significaria em termos de reduo adicio-
nal de postos de trabalho, alm dos que j esto sendo cortados pela raciona-
lizao proporcionada pelo desenvolvimento tecnolgico e que a competi-
o e a busca permanente de ganhos de produtividade promovem. Quanto
aos dois outros R, na verdade podem ser tratados como um s: reciclagem.
A reciclagem o conceito mais promissor e o fato mais importante
que surgiu no setor de meio ambiente nos ltimos anos. Visto de forma
pragmtica, a forma de conciliar as tendncias mundiais de globalizao,
Se nem no Ibirapuera as autoridades se entendem, o que esperar do saneamento no
resto da cidade e, em especial, na pobre, abandonada e acuada periferia distante ?
J
o
r
g
e
M
u
r
a
t
a
/
A
g
n
c
i
a
U
S
P
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 98
que embute a tendncia de universalizao da sociedade de consumo e, por
via de conseqncia, a ampliao da gerao de resduos, com a atividade
econmica do processamento de resduos.
No por acaso que as grandes feiras mundiais de meio ambiente de
Munique, Colnia e Atlanta, apenas para citar trs delas, oferecem a cada
ano novas e criativas tecnologias para a reciclagem dos mais variados com-
ponentes do lixo. A soluo para este imenso problema comea a entrar na
fase de mercado (ver item Fase de mercado).
Com base em mais de 30 anos de observao da evoluo de propos-
tas de solues para a destinao final do lixo, no pas e no mundo, adminis-
trando diretamente e observando os erros e os acertos de outros adminis-
tradores e, principalmente, colocando esses contedos todos no contexto
econmico moderno, surgiu o conceito de macrorreciclagem, a seguir des-
crito, contribuio do autor para o encaminhamento de profundas mudan-
as na gesto dos servios de limpeza urbana.
A macrorreciclagem parte do princpio que todo o lixo deve ser pro-
cessado com vistas reduo dos descartes em aterros, obedecendo, entre-
tanto, a regras de mercado.
O princpio bsico desse conceito o acondicionamento do lixo no
domiclio com diferenas sutis em relao ao que j se pratica em muitas
cidades, mas fundamentais para os propsitos da macrorreciclagem, que
separar a matria orgnica mida (restos de alimentos, de preparao de
alimentos, lixo verde de podas etc.) do chamado lixo seco (embalagens,
metais, plsticos, vidros, borrachas etc.) em dois recipientes distintos.
A coleta seletiva simultnea o prximo passo, quando os resduos
separados so transportados na mesma viagem do coletor, mas em compar-
timentos separados. O terceiro passo o processamento das duas fraes
(orgnica e seco) separadamente no Centro de Reciclagem e Destinao de
Resduos (CRDR). Observe-se que se busca no misturar matria orgnica
mida com lixo seco para que uma frao no contamine a outra, o que
permitir a produo de composto orgnico da melhor qualidade, assim
como melhor triagem do lixo seco, na medida em que este no estar im-
pregnado de pegajosos restos de alimentos.
A partir da cada caso ser tratado em funo das suas peculiaridades,
da disposio das autoridades em empregar mais mo-de-obra ou de meca-
nizar mais os processos, o que requer maior aporte de capital no incio, mas
gera ganhos de produtividade. O desempenho empresarial dever ser cote-
jado, em cada caso com o benefcio social e, obviamente, com a qualidade
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 99
da soluo ambiental, esta vista por todos os ngulos. A soluo no poder
causar impactos nem de poluio nem de incmodos para a vizinhana,
devendo contudo contemplar ao mximo a reciclagem, na medida em que
esta o grande legado que passar como modelo para as geraes futuras.
Como reciclagem entende-se no apenas a triagem de materiais como
latas de ferro e alumnio, vidros, PET, papel, papelo, tetrapack etc., mas tam-
bm a produo de composto orgnico para uso como fertilizante agrcola, a
extrao de energia (Biogs) pela fermentao anaerbia da matria orgnica
(primeira fase da compostagem), apropriao da energia termeltrica do rejei-
to do lixo seco (s para cidades muito grandes), reciclagem de pneus, baterias
e pilhas, alm de embalagens de defensivos agrcolas da rea rural do municpio.
No basta, entretanto, uma boa concepo tcnica para a grande vira-
da tecnolgica da macrorreciclagem. O novo conceito tambm trs no seu
bojo uma proposta institucional, baseada na concesso dos servios por
perodos mais longos, 10 a 20 anos, prorrogveis, para que o concession-
rio, que ter de fazer investimentos vultosos para processar industrialmente
os resduos e coloc-los no mercado, possa gerenciar o processo em condi-
es de retorno compatveis com outras oportunidades de negcios. O as-
pecto tributrio tambm contm inovaes, medida que a taxa de lixo
passa a ser cobrada pelo rgo de gua e esgotos (outra opo a cobrana
junto com a energia eltrica), mediante equao de correlao (estabelecida
estatisticamente em cada caso) entre o consumo de gua de uma residncia
e a gerao de lixo dessa mesma residncia, assim como j feito para a
cobrana dos servios de esgotos sanitrios. O rgo de gua e esgotos
repassa a parcela da taxa de lixo para a concessionria de limpeza urbana,
mediante reteno de frao para a cobrana dos seus servios administrati-
vos. Quando os servios de gua e esgotos so administrados por empresa
ou autarquia municipal, a soluo torna-se ainda mais simples: esse rgo
passa a exercer, por delegao da prefeitura, a funo de poder concedente,
contratando e fiscalizando o concessionrio da limpeza urbana.
O primeiro plano diretor especfico e completo de um servio de ma-
crorreciclagem acaba de ser concludo para o municpio de Jaragu do Sul,
extensivo a outros quatro municpios vizinhos em Santa Catarina, onde,
alm dos servios de coleta de lixo, tambm faro parte do pacote de servi-
os a varrio de logradouros pblicos, a limpeza e lavao especfica de
feiras, as remoes especiais de lixo verde (podas e resduos de manuteno
de jardins e parques pblicos e particulares), a manuteno de galerias de
guas pluviais, a remoo de resduos txicos da zona rural, os resduos do
comrcio, da indstria (frao expressiva neste caso especfico) e de servios
ESTUDOS AVANADOS 14 (39), 2000 100
de sade. O processamento para a reciclagem de todos esses resduos no
CRDR e a harmonizao paisagstica desse Centro de Reciclagem e Desti-
nao de Resduos sero realizados num amplo parque de mata atlntica
com dois teros da rea total como buffer zone e apenas um tero como
espao operacional, ocupando integralmente uma bacia hidrogrfica at os
altos divisores de guas.
Concluso
Existem condies tecnolgicas e uma razovel conscincia coletiva
da necessidade de aplicao dessas tcnicas, mediante planos, programas e
projetos para desviar o caminho da humanidade da rota de coliso com o
entulho gerado pela irresponsabilidade coletiva de razes histricas e cultu-
rais dessa mesma humanidade.
A angstia dos estudiosos desses problemas relaciona-se lentido
das decises poltico-administrativas destinadas a estimular as prticas de
mecanismos de reverso da sndrome do colapso ambiental. A velocidade
de reao e as decises desencadeadoras dos processos corretivos e preventi-
vos no acompanham o galope da depredao da base de sustentao da
vida provocada por comportamentos coletivos inconseqentes.
Se a vontade social formadora da quase inexistente vontade poltica
ambiental, h que se investir com criatividade no processo de tomada de
conscincia, mediante forte dramatizao, atraindo a ateno da mdia, menos
para reafirmar o que j foi exaustivamente denunciado, e mais para destacar
o insubstituvel papel da mdia na formao da vontade social. Quanto mais
for possvel acelerar o processo de transformao comportamental com re-
lao ao meio ambiente, menor ser o lamento, quando vierem a ocorrer as
catstrofes engatilhadas, por no terem sido evitadas a tempo.
Werner E. Zulauf engenheiro civil e sanitarista, consultor ambiental e ex-presi-
dente da Cetesb.
Você também pode gostar
- Fazenda Modelo - Chico Buarque de Holanda (Livro)Documento304 páginasFazenda Modelo - Chico Buarque de Holanda (Livro)Mariana100% (1)
- Ecologia Do Desenvolvimento Humano 1Documento18 páginasEcologia Do Desenvolvimento Humano 1AndressaAinda não há avaliações
- Biblioteca Sainte-GeneviéveDocumento12 páginasBiblioteca Sainte-GeneviéveMarilza Aparecida Lopes HonoratoAinda não há avaliações
- Artigo Caspa PDFDocumento51 páginasArtigo Caspa PDFFernando DutraAinda não há avaliações
- Pós ReformadoresDocumento15 páginasPós ReformadoresCelio EstevesAinda não há avaliações
- 3) PARTE 03-Sensores de VibracaoDocumento8 páginas3) PARTE 03-Sensores de VibracaoGilderleyAinda não há avaliações
- Amazonizar - Educação, Pesquisa e CulturaDocumento280 páginasAmazonizar - Educação, Pesquisa e CulturaAnaDMSAinda não há avaliações
- A Doutrina Do Homem (Antropologia)Documento67 páginasA Doutrina Do Homem (Antropologia)tonilson manuelAinda não há avaliações
- Bonecas Sereias BabyDocumento6 páginasBonecas Sereias BabyHelena Oliveira0% (1)
- Como Estudar HumanasDocumento15 páginasComo Estudar HumanasVictor Fertonano100% (1)
- Riscos Decorrentes Da Utilização de Ferramentas ManuaisDocumento21 páginasRiscos Decorrentes Da Utilização de Ferramentas Manuaisguedes6043Ainda não há avaliações
- Apostila Digital Bonecas LOLSurprise 2 EdicaoDocumento110 páginasApostila Digital Bonecas LOLSurprise 2 EdicaoNani Waltrick Ramos Fontes100% (5)
- Resumo Eu RobôDocumento4 páginasResumo Eu RobôLeonardo NetoAinda não há avaliações
- Igreja Da Palavra, Do Pão, Da Caridade e Da Missão: XXV PLADAE 2021 - 2024 Diocese de ApucaranaDocumento32 páginasIgreja Da Palavra, Do Pão, Da Caridade e Da Missão: XXV PLADAE 2021 - 2024 Diocese de ApucaranaAaaAinda não há avaliações
- Angelo Geraldo Jose CunhaDocumento72 páginasAngelo Geraldo Jose CunhaFabiula OliveiraAinda não há avaliações
- Capitulo Amostra Autocad2011Documento26 páginasCapitulo Amostra Autocad2011Jean César Barbosa PereiraAinda não há avaliações
- Bocas ColetorasDocumento28 páginasBocas ColetorasAna MariaAinda não há avaliações
- Apostila de Fundamentos de LubrificaçãoDocumento74 páginasApostila de Fundamentos de LubrificaçãoEscort MK496% (69)
- Arlindo Cruz - Fora de Ocasião - Fogo de SaudadeDocumento3 páginasArlindo Cruz - Fora de Ocasião - Fogo de SaudadeAlex FonteAinda não há avaliações
- Provas - Segundo DiaDocumento34 páginasProvas - Segundo Diavestibulana100% (1)
- John Dee e A Mônada HieroglíficaDocumento25 páginasJohn Dee e A Mônada HieroglíficaMarcos BarbosaAinda não há avaliações
- Compressor RootsDocumento16 páginasCompressor RootsNandaRibasAinda não há avaliações
- Exercícios GeologiaDocumento3 páginasExercícios GeologiaJoao Caetano Caetano100% (1)
- Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal: Concurso Público Edital #001/2016Documento24 páginasCorpo de Bombeiros Militar Distrito Federal: Concurso Público Edital #001/2016Karyna NinnaAinda não há avaliações
- SPF Cenário 01-00Documento31 páginasSPF Cenário 01-00Vinicius VenezaAinda não há avaliações
- Business Reporting On The Sdgs Uma Ana Lise Dos Objetivos e Metas PortugueseDocumento223 páginasBusiness Reporting On The Sdgs Uma Ana Lise Dos Objetivos e Metas PortugueseThais Bartoli VimercatiAinda não há avaliações
- Diversas Matérias de Portugues Com Interpretação de TextoDocumento24 páginasDiversas Matérias de Portugues Com Interpretação de TextoElisa AristeuAinda não há avaliações
- Lançamento Vertical e Queda LivreDocumento2 páginasLançamento Vertical e Queda LivreracbsAinda não há avaliações
- FT12 - Proporcionalodade DiretaDocumento2 páginasFT12 - Proporcionalodade DiretaMagda CardosoAinda não há avaliações
- Hypnosis - Dave Elman - Rapid Induction ScriptDocumento2 páginasHypnosis - Dave Elman - Rapid Induction ScriptAntonio Geraldo Gomes100% (1)