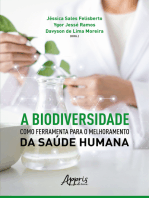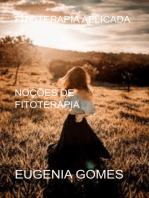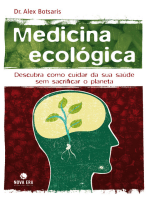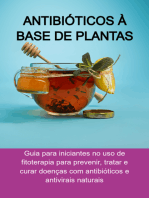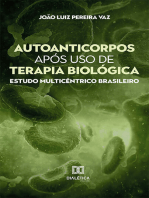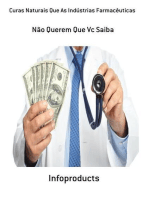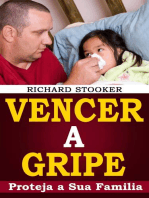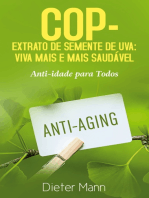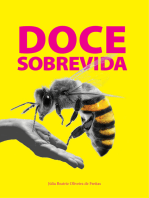Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livro Plantas Medicinais Prefeitura SP
Livro Plantas Medicinais Prefeitura SP
Enviado por
Claudia SouzaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Livro Plantas Medicinais Prefeitura SP
Livro Plantas Medicinais Prefeitura SP
Enviado por
Claudia SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Diviso Tcnica Escola Municipal de Jardinagem
ORGANIZADORES
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Oswaldo Barreto de Carvalho
So Paulo, Abril de 2010
Todos os direitos reservados.
A reproduo total ou parcial desta publicao permitida mediante solicitao e autorizao dos organizadores e autores e desde que citada a fonte.
O contedo dos artigos publicados de responsabilidade de seus autores.
Plantas Medicinais: do curso de plantas medicinais /
Coord. Haraguchi, Linete Maria Menzenga e Carvalho,
Oswaldo Barreto de. So Paulo: Secretaria Municipal
do Verde e do Meio Ambiente. Diviso Tcnica Escola
Municipal de Jardinagem, 2010.
248 p., il.
Inclui bibliografa
ISBN 978-85-98140-03-2
1. Plantas medicinais: meio ambiente, biodiversidade, Mata Atlntica e outros
Biomas. 2. Plantas medicinais: histrico, conceitos, referncias legais e polticas
pblicas. 3. Plantas medicinais: identifcao e cultivo. 4. Plantas txicas: identifcao
e cuidados nas intoxicaes. 5. Uso de plantas: cuidados, manuteno da sade,
ftoterpicos I. Haraguchi, Linete Maria Menzenga. II. Carvalho, Oswaldo Barreto.
III. Colaboradores IV. Ttulo
CDD 615.321
CDU 633.88
ndices para catlogo sistemtico:
1 - Plantas medicinais: meio ambiente, biodiversidade, Mata Atlntica e outros Biomas
2 - Plantas medicinais: histrico, conceitos, referncias legais e polticas pblicas
3 - Plantas medicinais: identifcao e cultivo
4 - Plantas txicas: identifcao e cuidados nas intoxicaes
5 - Uso de plantas: cuidados, manuteno da sade, ftoterpicos
1 Edio - 2010
1 - Meio ambiente, sociedade e importncia do manejo sustentvel
Extrativismo, coleta e manejo de recursos vegetais de forestas
Recursos vegetais da Amaznia brasileira
Plantas Medicinais na Mata Atlntica
Preservao, conservao da biodiversidade e educao ambiental
2 - Histrico das plantas medicinais e das referncias legais bsicas
Histrico das plantas medicinais
Histrico das referncias legais bsicas
3 - Plantas medicinais: importncia da identifcao correta e nomenclatura botnica
Importncia da identifcao correta das plantas e nomenclatura botnica
Confuses no uso de nomes populares
4 - Plantas txicas: conceito, identifcao, princpio ativo, principais intoxicaes
Plantas txicas: conceito, identifcao, princpio ativo e principais intoxicaes
Hospitais de Referncia na Grande So Paulo
5 - Plantas medicinais: Poltica Pblica na Secretaria Municipal
da Sade de So Paulo e aspectos da Medicina Tradicional Chinesa
Plantas medicinais na Secretaria Municipal da Sade de So Paulo e introduo abordagem da Medicina Tradicional Chinesa
6 - Plantas medicinais no paisagismo e plantas medicinais regionais do Brasil
O uso de plantas medicinais no paisagismo
Plantas medicinais regionais do Brasil
7 - Fatores que infuenciam a produo dos princpios ativos e implantao da horta medicinal
Fatores que infuenciam a produo dos princpios ativos
Horta medicinal: escolha do local; preparo, correo e adubao do solo; tratos culturais
8 - Plantas medicinais: mtodos de propagao, pragas, doenas e controle alternativo de pragas
Mtodos de propagao de plantas medicinais
Pragas e doenas em plantas medicinais
Controle alternativo de pragas em plantas medicinais
9 - Planejamento da horta medicinal, qualidade da gua, colheita e
benefciamento de plantas medicinais
Planejamento da horta medicinal e comunitria
Plantas medicinais: partes utilizadas, colheita, secagem e armazenamento
Qualidade da gua para consumo e irrigao
Sumrio
19
33
41
51
61
69
81
89
99
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
10 - Aula Prtica: preparo de canteiro, adubao, plantio de mudas e
reconhecimento das plantas medicinais do Viveiro da Escola de Jardinagem
Prticas: Montagem de um canteiro e adubao orgnica
Conhecendo as plantas medicinais do Viveiro da Escola de Jardinagem
11 - Aula Prtica
Conhecendo as plantas medicinais do Parque Ibirapuera e do Viveiro Manequinho Lopes
Prticas: rvores com propriedades medicinais do Parque Ibirapuera
Visita quadra das plantas medicinais do Viveiro Manequinho Lopes
12 - Plantas medicinais e conceitos relacionados
Plantas medicinais: conceitos bsicos que o profssional de sade precisa saber
13 - Plantas medicinais consagradas e perspectivas dos ftoterpicos
Algumas plantas referenciadas pelo Ministrio da Sade e outras consagradas pelo uso popular
Fitoterpicos: perspectivas de novos e antigos produtos
14 - Efeitos adversos relacionados ao uso de plantas medicinais e sistema de farmacovigilncia de plantas
Efeitos adversos relacionados ao uso de plantas medicinais e sistema de farmacovigilncia de plantas
Toxicidade de plantas medicinais - dados do CEATOX HCFMUSP
15 - Plantas Medicinais: usos, cuidados e interaes com medicamentos
Formas de uso das plantas medicinais
Cuidados necessrios no uso de plantas medicinais
Interaes medicamentosas com ftoterpicos
16 - A contribuio dos alimentos na manuteno da sade
A contribuio dos alimentos na manuteno da sade
17 - Nutriente e alimento funcional
Nutriente e alimento funcional
18 - Referncias
19 - Anexos
Anexo A: Lista de espcies medicinais da Mata Atlntica
Anexo B: Algumas plantas medicinais citadas no trabalho
Anexo C: Plantas e princpios ativos
Anexo D: Informaes sobre o cultivo e usos de algumas plantas medicinais
Anexo E: Famlia botnica e nomenclatura botnica das plantas citadas no trabalho
20 - Glossrio
21 - Abreviaturas/Siglas
111
111
115
123
131
137
145
151
159
173
237
243
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Este ano de 2010, a Escola Municipal de Jardinagem,
do Departamento de Educao Ambiental UMAPAZ,
da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
de So Paulo (SVMA), completa 35 anos de servios
pblicos, ensinando a plantar e a cuidar da vida.
Sua ecltica programao vai desde a pronta
orientao do cidado para o cuidado com as plantas que
tem na sua casa, a oferta de palestras e cursos que ensinam
a plantar hortas tradicionais e verticais, canteiros de ervas
aromticas, jardins, fazer poda, compostagem, cultivar
orqudeas, iluminar o jardim, at o programa Crer-Ser, de
capacitao de jovens jardineiros, de 16 a 20 anos, que j
preparou 400 jovens e tem tido como resultado 70% de
empregabilidade. Alm das atividades realizadas em sua
sede, no Parque do Ibirapuera, a Escola leva mini-cursos
e ofcinas para os outros parques da cidade e, em 2009,
comeou a capacitar os zeladores de praas, programa
em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho. No
primeiro ano foram alcanados duzentos zeladores. Este
ano, a meta de capacitao de 1.000 zeladores para as
praas de So Paulo.
Um novo desafo foi assumido em 2009: o cultivo
e incentivo ao uso de plantas medicinais, assunto que,
no mbito das prticas integrativas, vem sendo pauta do
Sistema nico de Sade h alguns anos. Em 2006 foram
aprovadas, por Decreto Federal, as diretrizes da Poltica
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterpicos e, dois
anos depois, em dezembro de 2008, o Programa Nacional
de Plantas Medicinais e Fitoterpicos, coordenado pelo
Ministrio da Sade. Em seguida, o Municpio de So
Paulo aprovou a Lei 14.903/09, criando o Programa
de Produo de Fitoterpicos e Plantas Medicinais no
Municpio de So Paulo, colocado sob coordenao da
Secretaria Municipal da Sade atravs da Coordenao
da Ateno Bsica, pelo Decreto regulamentador
assinado pelo Prefeito Gilberto Kassab.
A SVMA, de forma integrada com a Secretaria
Municipal de Sade, organizou o Curso de Plantas
Medicinais, cuidadosamente programado para alcanar
os diversos aspectos do referido Programa a serem
conhecidos e considerados pelos profssionais de sade
em sua prtica. Foram realizadas duas edies do Curso
e iniciada a terceira.
Com o material oferecido pelos profssionais
altamente qualifcados que compem o quadro docente
do Curso, a cuja coordenao e professores registramos
um agradecimento especial, foi possvel editar este livro,
que servir como registro do programa e material de
referncia para a implantao do Programa e orientao
segura aos profssionais que efetivamente o realizam na
prtica da assistncia sade aos cidados paulistanos.
Essa publicao tambm se inscreve nas
comemoraes da Cidade de So Paulo no Ano
Internacional da Biodiversidade. O bioma da Mata
Atlntica tem uma magnfca biodiversidade, da qual
muitas plantas medicinais fazem parte. So Paulo vem
aprendendo a conhecer, proteger e recuperar essa riqueza,
com respeito vida e com benefcios sade da famlia
humana e do planeta de que somos parte.
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho,
Secretrio Municipal do Verde e Meio Ambiente.
Apresentao
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
A Secretaria Municipal da Sade (SMS) ini-
ciou, em 2005, parceria com a Secretaria Muni-
cipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) na
implantao do Projeto Ambientes Verdes e Sau-
dveis (PAVS). O PAVS gerencia atualmente cerca
de 700 projetos na cidade de So Paulo e envol-
ve mais de 6 mil Agentes Comunitrios de Sade
como propagadores de conhecimento relativo s
questes ambientais, proporcionando, popula-
o, sade e qualidade de vida a partir da relao
equilibrada e consciente com o meio ambiente.
O PAVS propiciou a identifcao de iniciativas re-
gionais bem sucedidas de educao ambiental e mane-
jo sustentvel, anteriores ao prprio projeto, mas com
grande potencial de aplicao em todo o municpio.
Por exemplo, a iniciativa da Superviso Tcnica de So
Mateus, que elaborou cursos de cultivo e de uso seguro
de plantas medicinais, com a criao de hortas e viveiros
de mudas. A experincia possibilitou o incio do proces-
so de construo de uma poltica pblica de utilizao
de plantas medicinais e ftoterpicos, que permitisse a
unio do conhecimento cientfco e do popular na apli-
cao de uma nova alternativa teraputica, acessvel a
toda a populao usuria da rede pblica de sade.
As principais marcas dessa poltica so o car-
ter intersecretarial, que implica na articulao de
vrios programas e iniciativas correlatas, particu-
larmente da SMS, SVMA e das Subprefeituras, e
sua fundamentao em bases legais que garantem
sua continuidade. Neste sentido, foi publicado o
Decreto n 51.435, em 26 de abril de 2010, que
regulamenta a Lei n 14.903, de 06 de fevereiro de
2009 e institui na cidade de So Paulo o Programa
Municipal de Produo de Fitoterpicos e Plantas
Medicinais.
O livro Plantas Medicinais ser uma impor-
tante ferramenta para os profssionais da Sade
na propagao do conhecimento e na aplicao
segura das prticas teraputicas utilizando plantas
medicinais e ftoterpicos. A obra traz novos ho-
rizontes na assistncia aos pacientes, agregando o
conhecimento cientfco sabedoria popular, am-
pliando as possibilidades de tratamento.
Januario Montone
Secretrio Municipal de Sade
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambien-
te, atravs da Escola Municipal de Jardinagem, vinculada
Universidade Aberta de Meio Ambiente e Cultura de Paz
(UMAPAZ), tem o imenso prazer de oferecer esta publi-
cao que ora o leitor tem em suas mos: o livro Plantas
Medicinais do Curso de Plantas Medicinais ofertado por
esta Escola.
Sua publicao vem ao encontro da recente publi-
cao do Decreto n 51435, de 26 de abril de 2010, que
institui o Programa de Produo de Fitoterpicos e Plan-
tas Medicinais no Municpio de So Paulo, cujo objetivo
principal proporcionar populao o acesso seguro s
plantas medicinais com a adoo de boas prticas referen-
tes ao cultivo, manipulao e uso.
Distribudo em 17 captulos, o livro versa sobre o his-
trico das plantas medicinais, identifcao botnica, pla-
nejamento de hortas medicinais e comunitrias, cuidados
necessrios no uso de plantas medicinais, entre outros.
Se, num primeiro momento, o curso ofertado pela Es-
cola Municipal de Jardinagem atende aos profssionais da
rea da Sade, para que estes possam ser multiplicadores
do conhecimento aprendido, o livro possui abrangncia
bem maior, sendo acessvel a todos que desejam informa-
es acerca do tema.
O resultado foi um trabalho interdisciplinar que con-
tou com a colaborao de diversos profissionais, internos e
externos Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, sob a
ateno cuidadosa de seus idealizadores: a Farmacutica Li-
nete Maria Mezenga Haraguchi e o Engenheiro Agrnomo
Oswaldo Barretto de Carvalho, profissionais pertencentes
ao corpo tcnico da Escola Municipal de Jardinagem.
Por fm, resta agradecer imensamente aos organiza-
dores desta obra pelo empenho dispensado, bem como a
todos os autores por, juntos, terem acreditado no projeto
que agora se tornou um livro cuja misso contribuir para
a divulgao do conhecimento e manipulao das plantas
medicinais e ftoterpicos entre a populao brasileira.
Boa leitura a todos!
Cristina Pereira de Araujo
Arquiteta
Diretora da Escola Municipal de Jardinagem
Apresentao
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
A publicao deste livro decorre da elaborao
de um material instrucional de uso interno,
inicialmente uma apostila de apoio para o Curso
de Plantas Medicinais, voltado a programas de
capacitao de multiplicadores, e que foi criado em
resposta demanda dos alunos da Escola Municipal
de Jardinagem, da populao e de funcionrios
pblicos da Prefeitura da Cidade de So Paulo.
O objetivo geral do curso promover a Educao
Ambiental e em Sade para multiplicadores, visando
garantia de acesso seguro s plantas medicinais,
com segurana, efccia e qualidade, bem como ao
uso adequado e manejo sustentvel dos recursos
ambientais e da biodiversidade. Colaborar ainda
nas polticas pblicas ambientais e de sade e, para
tanto, contamos com uma equipe interdisciplinar
integrando sade e meio ambiente.
Para o muncipe e estudantes, o curso
procura ampliar os conhecimentos sobre plantas
medicinais, promovendo um resgate cultural
associado ao conhecimento cientfco, e alertando
para os cuidados e os perigos do uso de plantas
medicinais cuja efccia e segurana no tenham
comprovao cientfca podendo ocasionar reaes
adversas e agravos sade. Visa ainda apresentar a
identifcao botnica correta de plantas medicinais
e txicas, bem como demonstrar procedimentos e
tcnicas de cultivo e propagao, incentivando o
cultivo orgnico das plantas medicinais, aromticas
e condimentares, previamente identifcadas;
assegurando produtos de qualidade e formando
multiplicadores qualifcados para atuao nas suas
respectivas comunidades.
O Curso de Plantas Medicinais para os profs-
sionais da sade, meio ambiente e reas afns visa,
ainda, auxiliar na implantao e implementao de
aes e servios, com base na Poltica Nacional de
Prticas Integrativas e Complementares (Portaria
MS/GM n 971/06), na Poltica Nacional de Plan-
tas Medicinais e Fitoterpicos (Decreto Federal
n 5.813/06) e no Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterpicos (Portaria Interminis-
terial MS/GM n 2.960/08). Atende, ainda, Lei
Municipal n 14.682/08, que institui, no mbito
do Municpio de So Paulo, o Programa Qualida-
de de Vida com Medicinas Tradicionais e Prticas
Integrativas em Sade, regulamentada pelo Decre-
to n 49.596/08, que envolve aes de incentivo
ao uso de plantas medicinais entre Secretarias que
desenvolvem atividades afns e, por fm, a Lei Muni-
cipal n 14.903/09, regulamentada pelo Decreto n
51.435/10, que instituiu o Programa de Produo
de Fitoterpicos e Plantas Medicinais do Municpio
de So Paulo.
O Curso pretende ainda incentivar as pesquisas
com plantas medicinais e ftoterpicos, as boas
prticas de cultivo e manejo sustentvel dos
recursos naturais, estimular a implantao de
programas de conservao de plantas assegurando
a sua disponibilidade para geraes futuras, formar
massa crtica, levar o indivduo a uma refexo
profunda sobre as consequncias da diminuio
da diversidade vegetal e dos ecossistemas; evitar a
perda do conhecimento popular e tradicional que
passado de gerao a gerao e que vem ocorrendo
com as modifcaes das culturas indgenas, dos
quilombolas e dos nossos antepassados.
necessrio ainda considerar as boas prticas
agrcolas e dar a importncia aos aspectos
agronmicos, ambientais e sanitrios, como,
por exemplo, utilizar matrizes certifcadas com
identidade botnica da espcie a ser cultivada,
verifcar a qualidade da gua e do solo; tomar os
devidos cuidados no cultivo, colheita, secagem,
armazenamento, transporte, entre outros fatores
importantes, para obter uma melhor qualidade e
efcincia das plantas cultivadas.
As descries das plantas neste livro
compilam informaes encontradas em literatura,
apresentando aquelas de consenso. Enfatizamos
a importncia de o usurio e, principalmente, os
prescritores terem o conhecimento real das plantas
que sero utilizadas e dos estudos que comprovem
a efccia e segurana.
Lembramos que a ao de algumas plantas,
embora tradicionalmente conhecidas e utilizadas,
ainda no est cientifcamente comprovada,
principalmente para uso por gestantes e lactentes.
Recomenda-se enfaticamente, antes da utilizao
de qualquer planta medicinal ou ftoterpico, obter
o diagnstico correto da doena a ser tratada e a
prescrio por um profssional de sade especialista
na rea e habilitado para tal.
muito importante ressaltar que este livro no
substitui as medidas tcnicas adequadas a cada caso,
como consultas, diagnsticos e prescries, quando
necessrios, por profssional de sade habilitado,
eximindo absolutamente o editor, coordenadores,
autores, colaboradores e equipe tcnica de respon-
sabilidade jurdica por eventual uso incorreto das
informaes nele contidas.
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Coordenadora
Prefcio
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Livro Plantas Medicinais Do Curso de Plantas Medicinais
Prefeito da Cidade de So Paulo
Gilberto Kassab
Secretrio Municipal do Verde e
do Meio Ambiente
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho
Diretora do Departamento de Educao Ambiental e Cultura de Paz Universi-
dade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz UMAPAZ
Rose Marie Inojosa
Diretora da Diviso Tcnica Escola Municipal de Jardinagem
Cristina Pereira de Araujo
Coordenadores
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Oswaldo Barreto de Carvalho
Equipe Tcnica e de Autoria
Ado Luiz Castanheiro Martins. Engenheiro Agrnomo, Especialista em Controle
Ambiental e Mestre em Agricultura Tropical e Subtropical pelo Instituto Agronmico
de Campinas (IAC), Diviso Tcnica Escola Municipal de Jardinagem, Departamento
de Educao Ambiental e Cultura de Paz Universidade Aberta do Meio Ambiente e
Cultura de Paz (SVMA/UMAPAZ/1)
Anthony Wong. Mdico, Doutor em Toxicologia Clnica pela Faculdade de Medicina
da USP, Diretor Mdico do Centro de Assistncia Toxicolgica (CEATOX) do Institu-
to da Criana do Hospital das Clnicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
So Paulo (FMUSP)
Ari de Freitas Hidalgo. Engenheiro Agrnomo, Mestre em Botnica, Doutor em
Agronomia, Professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Assucena Tupiass. Biloga, Especialista em Controle Ambiental, Diviso Tcnica
Escola Municipal de Jardinagem, Departamento de Educao Ambiental e Cultura de
Paz Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (SVMA/UMAPAZ/1)
Carlos Muniz de Souza. Farmacutico, Departamento de P&D da Herbo-
fora Produtos Naturais Ltda e Membro da Associao Brasileira das Empre-
sas do Setor Fitoterpico, Suplemento Alimentar e de Promoo (ABIFISA)
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua. Engenheira Agrnoma, Espe-
cialista em Educao Ambiental, Diviso Tcnica do Ncleo de Ao Des-
centralizado Norte 2 (SVMA/DGD/N 2)
Juscelino Nobuo Shiraki. Engenheiro Agrnomo, Diviso Tcnica Escola
Municipal de Jardinagem, Departamento de Educao Ambiental e Cultura
de Paz Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (SVMA/
UMAPAZ/1)
Linete Maria Menzenga Haraguchi. Farmacutica, Biomdica, Especialis-
ta em Educao em Sade Pblica e em Homeopatia, Ps-graduanda em
Fitoterapia, Diviso Tcnica Escola Municipal de Jardinagem, Departamen-
to de Educao Ambiental e Cultura de Paz Universidade Aberta do Meio
Ambiente e Cultura de Paz (SVMA/UMAPAZ/1)
Luis Carlos Marques. Farmacutico, Especialista em Fitoterapia, Mestre
em Botnica pela Universidade Federal do Paran e Doutor em Psicobio-
logia pela Escola Paulista de Medicina. Professor de Farmacognosia da Uni-
versidade Estadual de Maring (1989-2006), Diretor de Assuntos Fitote-
rpicos da Apsen Farmacutica (2004-2008), professor do Curso de Mes-
trado em Farmcia da Universidade Bandeirante de So Paulo (UNIBAN)
Luiz Claudio Di Stasi. Bilogo, Mestre em Farmacologia pela Escola Pau-
lista de Medicina, Doutor em Qumica Orgnica pela UNESP Araraquara,
Ps-Doutorado em Farmacologia de Produtos Naturais pela Faculdade de
Farmcia da Universidade de Granada, Espanha, Professor Adjunto do De-
partamento de Farmacologia, Instituto de Biocincias da UNESP Botucatu
Marcos Roberto Furlan. Engenheiro Agrnomo, Mestre em Agronomia
pela UNESP, Doutor em Agronomia (Horticultura) pela UNESP - Botu-
catu, Professor da Universidade de Taubat, Professor e Coordenador do
Curso de Agronomia da Faculdade Integral Cantareira (FIC) e Professor do
Curso de Especializao da Universidade de Taubat (UNITAU) e Faculda-
des Oswaldo Cruz (FOC)
Crditos
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Maria de Lourdes da Costa. Biloga, Especialista
em Controle Ambiental, Ps-graduanda em
Fitoterapia, Diviso Tcnica Escola Municipal de
Jardinagem, Departamento de Educao Ambiental
e Cultura de Paz Universidade Aberta do Meio
Ambiente e Cultura de Paz (SVMA/UMAPAZ/1)
Maria Jos de Azevedo Cardoso. Assistente
Social, Especialista em Educao Ambiental,
Diviso Tcnica Escola Municipal de Jardinagem,
Departamento de Educao Ambiental e Cultura
de Paz Universidade Aberta do Meio Ambiente e
Cultura de Paz (SVMA/UMAPAZ/1)
Mario do Nascimento Junior. Engenheiro
Agrnomo, Advogado, Especialista em Direito
Ambiental, Diviso Tcnica Escola Municipal de
Jardinagem, Departamento de Educao Ambiental
e Cultura de Paz Universidade Aberta do Meio
Ambiente e Cultura de Paz (SVMA/UMAPAZ/1)
Mrio Sebastio Fiel Cabral. Mdico, Especialista
em Sade Pblica, Epidemiologia, Medicina do
Trabalho e Acumputura, Secretaria Municipal da
Sade do Municpio de So Paulo, Coordenao
da Ateno Bsica, rea Tcnica das Medicinas
Tradicionais, Homeopatia e Prticas Integrativas
em Sade (SMS/CAB/MTHPIS)
Nilsa Sumie Yamashita Wadt. Farmacutica
Bioqumica, Doutora pela USP, Docente das
Faculdades Oswaldo Cruz (FOC), Universidade
Nove de Julho (UNINOVE) e Universidade
Paulista (UNIP) nas disciplinas de Farmacognosia,
Farmacobotnica e Controle de Qualidade e
lder do Grupo de Pesquisa de Fitoterpicos pela
UNINOVE
Reviso de Texto
Luiz Tomazi Filho
Reviso Botnico-Nomenclatural
Sumiko Honda
Traduo da Tabela 1 do Anexo A
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua
Projeto Editorial e Prefcio
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Projeto Grfco, Diagramao e Capa
Pedro Henrique Nunes de Cunha
Coordenao de Arte
Silvia Costa Glueck
Produo
Clia Giosa
Reviso da Ficha Catalogrfca
Eveline Brasileiro Leal Biblioteca da UMAPAZ
Reviso Final
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Luis Carlos Marques
Nilsa Sumie Yamashita Wadt
Sumiko Honda
Onlio Argentino Junior. Engenheiro Agrnomo,
Especialista em Administrao e Manejo de
Unidades de Conservao, da Subprefeitura de Vila
Mariana
Oswaldo Barreto de Carvalho. Engenheiro
Agrnomo, Especialista em Educao Ambiental,
Diviso Tcnica Escola Municipal de Jardinagem,
Departamento de Educao Ambiental e Cultura
de Paz Universidade Aberta do Meio Ambiente e
Cultura de Paz (SVMA/UMAPAZ/1)
Ricardo Tabach. Bilogo, Mestre em Farmacologia,
Doutor em Cincias (Psicobiologia), Pesquisador
do Centro Brasileiro de Informaes sobre Drogas
Psicotrpicas do Departamento de Psicobiologia
da Universidade Federal de So Paulo (UNIFESP/
Cebrid)
Roberto Martin. Engenheiro Agrnomo,
Diviso Tcnica Escola Municipal de Jardinagem,
Departamento de Educao Ambiental e Cultura
de Paz Universidade Aberta do Meio Ambiente e
Cultura de Paz (SVMA/UMAPAZ/1)
Sonia Aparecida Dantas Barcia. Farmacutica
Toxicologista, Especialista em Fitoterapia, Centro
de Controle de Intoxicaes do Municpio de So
Paulo, Coordenao de Vigilncia em Sade da
Secretaria Municipal da Sade do Municpio de So
Paulo (SMS/COVISA/CCD/CCISP)
Sumiko Honda. Biloga, Especialista em Educao
Ambiental, Herbrio Municipal da Diviso
Tcnica de Unidade de Conservao e Proteo
da Biodiversidade e Herbrio, Departamento de
Parques e rea Verdes (SVMA/DEPAVE/8)
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Inicialmente agradecemos aos colegas da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente SVMA, que contriburam de alguma forma para o xito deste trabalho,
atendendo nas seguintes unidades:
Diviso Tcnica Escola Municipal de Jardinagem, especialmente ao Coordena-
dor dos Cursos de Jardinagem e de Recursos Paisagsticos, Marco Antonio Braga, e
demais participantes da equipe: assistente social Nilce Morais Pinto, Rosa Maria de
Araujo, Elsa Matiko Ikeda Ribas, Eudison Borges Luiz e aos profssionais do Cam-
po Experimental - Viveirinho, incluindo o senhor Joo Batista de Souza;
Departamento de Educao Ambiental e Cultura de Paz - Universidade Aberta
do Meio Ambiente e Cultura de Paz, aos funcionrios da Biblioteca Umapaz, em
especial bibliotecria Eveline Brasileiro Leal;
Departamento de Gesto Descentralizada, Diviso Tcnica do Ncleo de Ao
Descentralizado Leste 1 e Norte 2;
Departamento de Parques e reas Verdes;
Diviso Tcnica de Unidade de Conservao e Proteo da Biodiversidade e
Herbrio, em especial aos bilogos Dr. Ricardo Jos Francischeti Garcia, Graa
Maria Pinto Ferreira e Ms. Simone Justamante De Sordi e senhora Roslia Pereira
da Silva Pena;
Diviso Tcnica de Administrao do Parque Ibirapuera;
Diviso Tcnica de Produo e Arborizao Viveiro Manequinho Lopes, em
especial biloga Yone Kiyoko Fukusima Hein e educadora em Sade Pblica
Elisa Teixeira Rugai;
Departamento de Administrao e Finanas;
Diviso Tcnica de Gesto de Pessoas, em especial a Clia Tiemi Hanashiro Ta-
minato e Paula Quaglio Rodrigues, da Unidade de Desenvolvimento de Pessoas;
Diviso Tcnica de Infraestrutura e Manuteno: Unidade de Recursos Audio-
visuais e Reprografa, em especial a Airan Figueiredo, lvaro Dias Filho, Anderson
Rodrigo da Silva Alonso, Janira Ribeiro Paranhos, Rafael Ribeiro, Tomas Jeferson Figueire-
do de Oliveira; Unidade de Transportes;
Diviso Tcnica de Tecnologia da Informao: Unidades de Suporte em Informtica e de
Anlise e Desenvolvimento de Sistemas de Informao; Diviso Tcnica de Compras, Con-
tratos e Licitaes;
Engenheiro e advogado Frederico Jun Okabayashi da Secretaria Municipal do Verde e do
Meio Ambiente de So Paulo;
Gabinete do Secretrio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Assessoria
Tcnica, Jurdica, de Comunicao e Eventos, Setor de Publicao, em especial ao Doutor
Hlio Neves;
Programa de Agricultura Urbana e Periurbana Proaurp.
Agradecemos aos profssionais e colaboradores da Secretaria Municipal da Sade do Munic-
pio de So Paulo, especialmente:
Gabinete do Secretrio da Secretaria Municipal da Sade do Municpio de So Paulo, As-
sessoria Tcnica; Coordenao da Ateno Bsica, rea Tcnica das Medicinas Tradicionais,
Homeopatia e Prticas Integrativas em Sade; rea Tcnica de Assistncia Farmacutica;
Coordenao de Vigilncia em Sade; Gerncia de Vigilncia em Sade Ambiental; Centro
de Controle de Doenas; Centro de Controle de Intoxicaes do Municpio de So Paulo,
em especial s Dras. Tazue Hara Branquinho, Yamma Mayura Duarte Alves e Dirce Cruz
Marques.
Agradecemos aos profssionais de outros rgos, governamentais ou no, que contribu-
ram de alguma forma:
Arquiteta Aida Maria Matos Montenegro, especialista em Arquitetura em Sade da Secre-
taria da Sade do Estado do Cear;
Centro de Assistncia Toxicolgica do Instituto da Criana do Hospital das Clnicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de So Paulo;
Centro Brasileiro de Informaes sobre Drogas Psicotrpicas do Departamento de
Agradecimentos
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Psicobiologia da Universidade Federal de So Paulo, em especial ao Prof. Dr. Elisaldo Luiz
de Araujo Carlini;
Centro de Vigilncia Sanitria da Secretaria de Estado da Sade de So Paulo;
Companhia de Saneamento Bsico do Estado de So Paulo e Departamento de guas e
Energia Eltrica da Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de So Paulo;
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de So Paulo;
Conselho Federal de Farmcia e Conselho Regional de Farmcia do Estado de So Paulo;
Departamento de Assistncia Farmacutica da Secretaria de Cincia, Tecnologia e Insu-
mos Estratgicos e ao Departamento de Ateno Bsica da Secretaria de Ateno Sade do
Ministrio da Sade;
Departamento de Farmacologia do Instituto de Biocincias de Botucatu da Universidade
Estadual Julio de Mesquita Filho;
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz;
Faculdade Integral Cantareira;
Faculdades Oswaldo Cruz;
Farmacutica-bioqumica Isanete Geraldini Costa Bieski, especialista em Plantas Medicinais.
Instituto Biolgico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de So Paulo,
em especial Dra. Isabela Cristina Simoni;
Liamar Antonioli, bibliotecria do Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - So Paulo;
Mdico Sanitarista Dr. Augusto Fernando Petit Prieto da Ateno Bsica da Prefeitura do
Municpio de So Bernardo do Campo, Diadema e Santo Andr;
Profa. Dra. Mary Anne Medeiros Bandeira, coordenadora do Projeto Farmcias Vivas da
Universidade Federal do Cear;
Nutricionista Vanderli Marchiori;
Profa. Dra. Silvia M. Franciscato Cozzolino, do Departamento de Alimentos e
Nutrio Experimental da Faculdade de Cincias Farmacuticas da USP;
Profa. Dra. Snia Maria Rolim Rosa Lima, do Departamento de Obstetrcia e
Ginecologia da Faculdade de Cincias Mdicas da Santa Casa de So Paulo.
Prof. Dr. Jos Luiz Negro Mucci do Departamento de Sade Ambiental da
Faculdade de Sade Pblica da USP;
Prof. Dr. Niraldo Paulino da Universidade Bandeirante de So Paulo.
Prof. Dr. Paulo Chanel Deodato de Freitas, da Faculdade de Cincias Farma-
cuticas da USP;
Universidade Bandeirante de So Paulo, Mestrado Profssional em Farmcia;
Universidade Estadual de Campinas, Centro Pluridisciplinar de Pesquisas
Qumicas, Biolgicas e Agrcolas, em especial ao bilogo Bencio Pereira;
Universidade Federal do Amazonas;
Universidade Federal do Cear;
Universidade de Taubat;
Universidade Nove de Julho;
Universidade Paulista;
Universidade de So Paulo.
Agradecemos em especial ao jornalista Luiz Tomazi Filho, pela dedicao e
empenho na reviso textual, e aos amigos Carlos, Duda, Helen, Ivete, Lis, Luis
Carlos, Nilsa, Regina, Sumiko e demais colaboradores.
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Dedicatria
Dedicamos esta obra Plantas Medicinais: do curso de plantas
medicinais:
ao farmacutico-qumico professor Francisco Jos de Abreu
Matos (in memorian), pelas histrias de vida dedicada
s plantas medicinais e ao Projeto Farmcias Vivas da
Universidade Federal do Cear UFC;
ao mdico professor Elisaldo Luiz de Araujo Carlini, do
Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de
So Paulo Unifesp;
a todas as pessoas que contriburam e contribuem de diferentes
formas nas pesquisas, estudos e aplicao dos conhecimentos
com plantas medicinais.
Linete & Equipe.
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#1
MEIO AMBIENTE,
SOCIEDADE E
IMPORTNCIA
DO MANEJO
SUSTENTVEL
19
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#1
MEIO AMBIENTE,
SOCIEDADE E
IMPORTNCIA
DO MANEJO
SUSTENTVEL
20
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
1.1 EXTRTIVISMO, COLETA E MANEJO
DE RECURSOS VEGETAIS DE FLORESTAS.
Assucena Tupiass
Maria Jos de Azevedo Cardoso
H registros do uso de plantas como
medicamento em todas as pocas. O fara Ramss
I e seus contemporneos, por exemplo, em 1500
a.C. j registravam e descrevi am o uso das plantas
medicinais na antiga civilizao egpcia no chamado
Papiro de Ebers.
Como todas as plantas, as medicinais possibilitam
a sobrevivncia das espcies animais. Entre muitas
outras, podemos citar as seguintes qualidades das
plantas:
1. Retiram gs carbnico do ambiente e devolvem
oxignio. sabido que a maior parte do oxignio que
utilizamos proveniente das algas, mas a plantas
tambm o produzem. Alm disso, no processo da
fotossntese h liberao de gua no ambiente, o
que melhora a umidade do ar e mantm ativo o ciclo
desse lquido.
2. Reduzem a poeira no ar. Estudos comprovam
que em reas bem arborizadas podemos ter uma
diminuio de poluentes em at 80%.
3. Reduzem a poluio sonora em at 50%.
4. Auxiliam na preservao de mares, rios, lagos ou
quaisquer cursos dgua. A vegetao denominada mata
ciliar evita em parte que a poluio chegue gua.
5. Amenizam a poluio do solo. Combatem o
fenmeno denominado eroso pois as razes das
plantas funcionam como uma malha que segura
a terra, evitando que a poluio invada o solo. Ou
mesmo pelo fato de as pessoas fcarem inibidas de
jogar lixo em um belo jardim.
6. Evitam enchentes. Onde h vegetao, h
rea permevel, o que diminui a ocorrncia de
enchentes, alm de auxiliar no restabelecimento
dos lenis freticos.
7. Diminuem a poluio visual. Onde existem
plantas, cria-se um ambiente mais bonito, o que
contribui tambm com o bem-estar das pessoas.
8. Alimentao. As plantas so responsveis pela
nossa alimentao: quase tudo que comemos vem
direta ou indiretamente das plantas, pois elas do
incio ao ciclo alimentar de todos os animais.
9. So fontes de substncias para diversos
produtos. Das plantas retiramos produtos e
subprodutos que, comercializados, mantm
economicamente muitas famlias. So os perfumes,
resinas, ltex, corantes, madeira, etc.
10. Benefciam a sade. A maioria dos
medicamentos tem ativos provenientes das plantas.
11. So usadas na descontaminao do solo por
meio do plantio integrado com espcies adequadas.
Por outro lado, o cultivo inadequado das plantas
pode levar :
extino de espcies;
eroso gentica;
contaminao do solo, de plantas, da pessoa
que aplica e de quem consome as plantas que foram
tratadas inadequadamente com defensivos agrcolas.
Ao longo dos tempos, a quantidade de plantas
retiradas da natureza muito maior do que o nmero
de espcies plantadas. O crescimento populacional,
o aumento das necessidades e a idia de que temos
muito e nunca faltar levou a grandes catstrofes.
O uso inadequado das plantas medicinais
tambm pode gerar um grande problema ambiental,
normalmente pelo desconhecimento:
das espcies recomendadas para determinada
ao;
das partes indicadas raiz, caule, folha, for
ou fruto;
do modo de preparo infuso, macerao, etc.;
da presena de alergias nas pessoas a quem so
recomendadas as plantas medicinais;
da concentrao adequada;
do armazenamento das plantas;
do modo de extrao.
A ecologia andou sempre distante da economia,
apesar de ambas terem o mesmo prefxo eco =
oikos casa, natureza, meio ambiente. No
primeiro caso (ecologia), refere-se ao estudo da
natureza e no segundo (economia), s normas da
natureza.
O primeiro passo para alcanar o equilbrio
ecolgico a adoo de medidas econmicas.
Atualmente, o comrcio de medicamentos
ftoterpicos brasileiros movimenta cerca de US$
260 milhes de dlares ao ano. Porm, para muitos
medicamentos, so necessrios vrios quilos da
planta que fornece o princpio ativo para sintetizar
um grama do remdio.
Aproximadamente 70% dos medicamentos
so feitos a partir das plantas. Levando em
considerao que o Brasil possui cerca de 55
mil espcies vegetais e o pas que tem a maior
biodiversidade do planeta, a quantidade de
produtos manufaturados com os ativos dessas
espcies bastante reduzida, visto que at o ano
2000 foram registrados no Ministrio da Sade
somente cerca de 590 produtos ftoteraputicos,
a partir de 600 espcies de plantas medicinais.
Ainda h muito a ser estudado.
21
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Alm do pouco investimento no
desenvolvimento de pesquisas, o governo precisa
tomar medidas urgentes, pois essa riqueza alvo
da biopirataria e do patenteamento de diversos
medicamentos por parte de outros pases.
Alm das plantas em si ou dos recursos
genticos, so apropriados tambm o conhecimento
popular, que a cada dia vai se perdendo, muito por
conta da transferncia da populao do campo
para as cidades. Foi constatado que o porcentual
de migrao para a cidade, segundo o censo
demogrfco de 2000, atinge 89,02% (Amap),
74,22% (Amazonas), 76,12% (Roraima), 74,30%
(Tocantins), 66,35% (Acre), 64,09% (Rondnia)
e 66,50% (Par). Essas pessoas, ao se dirigirem
aos centros urbanos, deixam receitas e tcnicas
que eram utilizadas h vrias geraes para curar
diversas doenas.
Conseqentemente, os locais que essas pessoas
habitavam fcaram desprotegidos, tendo em vista que
eram elas que cuidavam de tais reas, agora sujeitas
ao desmatamento e ao extrativismo descontrolado.
O termo biopirataria foi lanado em 1993 pela
ONG Raf (hoje ETC-Group). Defne-se biopirataria
como a apropriao indevida do conhecimento
popular e dos recursos genticos por indivduos,
empresas multinacionais ou instituies cientfcas,
com a fnalidade de obter o controle exclusivo desse
material e, conseqentemente, o lucro.
Algumas aes foram tomadas na tentativa de
reverter esse quadro contra a biopirataria, porm
todas tmidas e no eficazes, das quais podemos
destacar:
A Conveno da Diversidade Biolgica, assinada
em 1992, durante a Eco-92, no Rio de Janeiro, para
a regulamentao do acesso aos recursos biolgicos
e a repartio dos lucros com a comunidade da
comercializao desses recursos. O Projeto de Lei foi
assinado em 1995 pela ento senadora Marina Silva.
A Carta de So Luis do Maranho, elaborada em
dezembro 2001, por pajs de diferentes comunidades
indgenas do Brasil, importante documento para
ser encaminhado Ompi (Organizao Mundial
de Propriedade Intelectual da ONU), que
questiona o patenteamento que deriva de acessos a
conhecimentos tradicionais.
Em 2001, o Ncleo de Plantas Medicinais e
Aromticas (Nuplam), que tem a funo de conciliar
a pesquisa cientfca ao conhecimento popular, entre
outras aes.
Compromisso de Rio Branco, elaborado em maio
de 2002, no Acre, durante o workshop Cultivando
Diversidade, que teve a participao de mais de
cem representantes, entre agricultores, pescadores,
povos indgenas, extrativistas, artesos e ONGs
de 32 pases da sia, frica e Amrica Latina.
Esse compromisso alertou sobre os malefcios
da biopirataria, solicitando que fosse banido o
patenteamento de seres vivos e qualquer forma de
propriedade intelectual sobre a biodiversidade e o
conhecimento tradicional dos povos.
O que vem acontecendo no Brasil chamado
de eroso gentica, devido extrao excessiva,
que resulta, em alguns casos, na extino de
espcies, e tambm devido ao melhoramento
gentico, com a introduo de genes adicionais em
variedades cultivadas por meio da seleo artifcial,
possibilitando as limitaes por causa do rpido
aparecimento de patgenos e mutantes.
Algumas aes devem ser tomadas, o mais
brevemente possvel, para controlar a perda desse
rico material:
incentivar as pessoas a permanecerem nas terras,
por meio de investimentos e abertura de campo de
trabalho;
recuperar a cultura popular para uso dos bens
naturais, inclusive das plantas medicinais;
criar viveiros para que as plantas sejam produzidas
e comercializadas, evitando-se a sua retirada
indiscriminadamente das matas;
criar e adotar polticas que inibam a biopirataria;
articular os setores pblico, privado, comunidade
local e organizaes no-governamentais;
criar e manter uma rede de informaes de todo o
conhecimento cientfco, com ampla divulgao;
capacitar e treinar pessoas com tcnicas de uso,
produo e manuteno das plantas medicinais;
avaliar os impactos de extrao.
1.2. RECURSOS VEGETAIS DA
AMAZNIA BRSILEIR.
Prof. Dr. Ari de Freitas Hidalgo
As forestas tropicais esto entre os mais
complexos, sensveis, ameaados e desconhecidos
ecossistemas da Terra. Atualmente, resta somente
cerca da metade de sua extenso original, reunida
em grandes blocos distribudos em 37 pases da
Amrica Latina, frica, sia e Oceania. Estas
forestas cobriam originalmente cerca de 16 milhes
de quilmetros quadrados, mas as atividades
humanas, como a agricultura, a pecuria e grandes
projetos de minerao e estradas, reduziram sua
rea para menos de nove milhes de quilmetros
quadrados. Cerca de 7% da superfcie da Terra so
ainda cobertas com esse ecossistema nico; desse
percentual, aproximadamente 57% das forestas
tropicais esto na Amrica Latina e 30% esto
no Brasil (COMISION..., 1992; MIRNDA &
MATOS, 1992).
Atualmente, as forestas tropicais so objeto
de especulao e cobia mundial, principalmente
a foresta amaznica, fazendo-se necessrio que
os pases detentores dessa riqueza em diversidade
biolgica faam investimentos em capital fnanceiro
22
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
e humano, visando conhecer, utilizar e reverter os
benefcios para a sua populao e para o mundo
como um todo.
A busca pelos recursos vegetais acompanha a
histria da humanidade. As plantas constituem-se
em fonte bsica de alimentao, abrigo, combustvel,
medicamento e utenslios gerais para quase todos
os povos, se no para todos. As grandes navegaes
tiveram sua motivao na busca por produtos de
origem vegetal, alm da expanso militar e territorial
(para ter acesso direto aos recursos vegetais e
minerais), e de rotas comercias (que permitisse a
compra, venda ou permuta de produtos vegetais,
entre outros).
O continente americano foi descoberto quando
se buscava uma rota martima para as ndias (fonte
de especiarias) e, desde a primeira viagem do
colonizador europeu, amostras dos recursos vegetais
do Novo Mundo foram levadas para a Europa; a
conquista das Amricas fez-se como resultado da
busca por minerais preciosos, mas tambm em
busca de novas alternativas vegetais o pau-brasil
ilustra bem esta afrmativa, assim como o cacau e o
fumo. Riquezas individuais e de pases fzeram-se
custa de algumas espcies de plantas caf, cana,
batata, milho, seringueira, trigo e outras. Todas as
grandes viagens que se fzeram ao novo continente
eram acompanhadas por cientistas enviados pelos
governos interessados. Na Amaznia fcaram famosas
as viagens de naturalistas (Spix, Martius, Humboldt,
La Condamine, Spruce, Barbosa Rodrigues,
entre outros), os quais acumularam um acervo de
informaes, material vegetal e etnogrfco sobre a
regio hoje disponvel apenas em colees europias.
A partir de 1549, os jesutas se encarregaram de
catalogar, experimentar e empregar largamente as
ervas medicinais brasileiras ento desconhecidas
dos europeus; ao mesmo tempo, promoveu-se a
depreciao do paj ou de todos os encarregados
de tratar doenas que no fossem reconhecidos
como legtimos pelos representantes da cultura
dominadora (SANTOS FILHO, 1947, citado por
QUEIROZ, 1980).
S mais recentemente os pases passaram a
preocupar-se com a limitao da expropriao de seu
patrimnio natural, hoje conhecida como biopirataria
e defnida como remoo de uma planta, animal ou
conhecimento de uma comunidade com a inteno
de lucro econmico em outro local, sem negociao
prvia com a comunidade sobre a repartio dos
benefcios (CLEMENT & ALEXIADES, 2000).
Segundo os autores, a biopirataria ganhou destaque
somente aps a Conveno da Diversidade Biolgica
(1992); antes existia o intercmbio, praticado por
governos e indivduos, resultando na atual distribuio
de plantas e animais agrcolas e ornamentais, bem
como ervas daninhas, pragas e doenas.
Atualmente a preocupao volta-se fortemente
para a busca de fontes naturais de medicamentos e
os pases detentores de maior diversidade vegetal
procuram limitar a sada no autorizada de suas plantas,
ao mesmo tempo em que procuram conhecer e utilizar
melhor a fora nativa, visando gerar riqueza, autonomia
e melhoria nas condies de vida de seus povos.
A explorao desses recursos ou o uso dos
espaos antes ocupados por forestas e outros
biomas muitas vezes feita de forma desordenada
e irracional, ocasionando srias conseqncias
ambientais. Um exemplo que bem ilustra a afrmativa
o quase esgotamento das reas de mata atlntica,
a qual apresenta somente cerca de 5 a 7% da sua
rea original (RIBEIRO et al., 1999). Segundo os
autores, no caso da foresta amaznica, cerca de 12%
da cobertura vegetal j foi eliminada.
O termo Amaznia refere-se a uma rea que
compreende 50% da Amrica Latina (oito pases
mais a Guiana Francesa) e contm a maior foresta
tropical do mundo os 6,5 milhes de quilmetros
quadrados da foresta amaznica. Mais de 50%
desta (3,5 milhes de quilmetros quadrados)
est somente no Brasil. Para o governo brasileiro, a
Amaznia Legal ocupa uma rea de 4.906.784 km
2
(57% do territrio nacional), abrangendo nove
Estados (MIRNDA & MATOS, 1992).
Desde tempos imemoriais o homem vem
utilizando os recursos do ambiente em que vive
forestas, savanas, reas litorneas, desertos , sendo
as plantas a sua principal fonte de alimento, abrigo,
armas, utenslios domsticos e remdios para os
males que o afigem. A origem das descobertas
sobre o uso de plantas pelo homem deriva da
observao constante e sistemtica dos fenmenos
e caractersticas da natureza e da conseqente
experimentao emprica destes recursos; o homem
deve ter avaliado por si mesmo vrias espcies
que tinham potencial de uso para amenizar seus
problemas (DI STASI, 1996).
Para a maioria da populao do mundo,
principalmente para as pessoas que vivem em pases
em desenvolvimento, a primeira providncia ao
adoecer recorrer aos curadores tradicionais e ao uso
das plantas medicinais; no entanto, o aprendizado
das propriedades teis das plantas est severamente
limitado e ameaado com a destruio descontrolada
das reas naturais; algumas espcies vegetais, a
partir das quais novas drogas podem ser extradas
ou desenvolvidas, correm o risco de ser extintas
antes de se chegar ao sufciente conhecimento de
suas molculas e possveis aplicaes teraputicas.
Esta busca e experimentao emprica por plantas
curativas ou paliativas resultou na elaborao,
muitas vezes inconsciente e no ordenada, de uma
farmacopia popular, a qual distribui-se praticamente
por todos os povos e que resulta do acmulo e repasse
de informaes atravs de geraes, sendo boa parte
desse conhecimento transmitida pela tradio oral.
Em vrios pases do mundo, as plantas so
por vezes o nico, ou pelo menos o mais acessvel,
recurso teraputico para a populao mais pobre,
como constatado por Edirisinghe (1987) no Sri
Lanka, Pll (1993) na Guatemala, Aminuddin et
al. (1993) e Singh & Ali (1994) na ndia, Gessler et
23
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
al. (1995a) na Tanznia, Etkin (1997) na Nigria e
Amorozo e Gly (1988) na Amaznia brasileira.
No ambiente amaznico, motivado pelas
grandes distncias, difculdades de comunicao
e deslocamento, e pela facilidade de acesso aos
recursos naturais e ao conhecimento do uso deste
recurso obtido dos ancestrais, o uso de plantas para
o tratamento de enfermidades um hbito arraigado
no costume do homem que vive em ambiente
forestal de terra frme ou ribeirinho.
O homem utiliza plantas para o tratamento de
doenas desde tempos imemoriais. Utilizar plantas
implica na necessidade de t-las sempre disposio,
o que pode ser feito por meio de cultivo, de coleta na
natureza ou de compra. Para a maioria das espcies
tradicionalmente utilizadas, principalmente para
as de origem europia, as informaes necessrias
ao seu cultivo esto disponveis. No entanto, para
as espcies de regies tropicais, estas informaes
so incompletas, por vezes contraditrias ou
simplesmente inexistentes.
No caso de plantas nativas da Amaznia,
no h informaes que permitam seu cultivo,
mesmo para aquelas j destacadas nacional ou
internacionalmente, como a copaba (Copaifera spp.
Fabaceae Caesalpinioideae) e a andiroba (Carapa
guianensis Aubl.- Meliaceae). Instituies de ensino
e pesquisa da regio vm procurando preencher
esta lacuna e j existem informaes iniciais sobre
algumas espcies, como a ipecacuanha (Psychotria
ipecacuanha (Brot.) Stokes - Rubiaceae) e o jaborandi
(Pilocarpus jaborandi Holmes - Rutaceae).
Apesar da imensido fsica e da riqueza de
recursos naturais, a Amaznia no uma fonte
inesgotvel de matria-prima vegetal.
O que se faz na Amaznia basicamente a coleta
do material disponvel na foresta, algumas vezes
numa forma de extrativismo que Homma (1982)
defne como extrativismo de predao, o que pode
levar ao esgotamento das reservas a curto ou mdio
prazo. No h preocupao em repor estoques e
este fato, aliado intensidade de coleta, pode levar
rarefao ou mesmo do desaparecimento de algumas
espcies. Ming et al. (2003) afrmam que as espcies
brasileiras mais exportadas so todas oriundas de
extrativismo, com poucas iniciativas de cultivo em
escala. No Estado do Amazonas, todo o material
vegetal exportado, vendido em feiras ou adquirido
por indstrias locais fornecido por coletores do
interior do estado, sem nenhum controle da coleta e
orientao de manejo. Cascas, resinas, caules, razes
e folhas saem s toneladas da foresta sem que as
plantas sejam manejadas ou substitudas, evitando a
perda de espcimes ou de populaes, pagas a preos
aviltantes. Nada cultivado.
A coleta de plantas medicinais nativas no
Estado do Amazonas feita de trs modos. No mais
comum, o agricultor extrai produtos da foresta para
uso prprio e para vendas eventuais, procurando
complementar sua renda; num segundo caso, a
atividade pode tornar-se sistemtica quando
incentivada por pessoas que contratam coletores
e periodicamente compram o material que indicam
para coleta estes atravessadores, em geral, so
fornecedores para feiras e mercados, exportadores
e indstrias locais. A extrao de plantas pode ainda
ser feita mediante incentivo direto de exportadores
e indstrias. Nas regies de fronteiras do Alto
Solimes e do Alto Rio Negro, grande parte do
material, como a unha-de-gato (Uncaria tomentosa
(Willd. ex Roem.& Schult.) DC. - Rubiaceae), por
exemplo, vendida para compradores estrangeiros,
no aparece nas estatsticas ofciais brasileiras e entra
no mercado mundial como produto colombiano,
peruano ou venezuelano.
So coletadas cascas, razes, frutos, sementes,
leos, resinas, folhas e ltex. A casca, em geral,
retirada do caule; algumas vezes se observa a
preocupao do coletor em no causar grandes danos
s plantas, evitando o anelamento e retirando casca
de galhos mais grossos; em outros casos retirado
o mximo possvel de material, sem a preocupao
com a preservao da planta. O coletor eventual
retira a casca que est ao seu alcance, ao passo que
o coletor profssional algumas vezes derruba
rvores centenrias para aumentar o rendimento
de seu trabalho. Lianas, como a unha-de-gato
(U. tomentosa), a saracura-mir (Ampelozizyphus
amazonicus Ducke - Rhamnaceae) e a abuta (Abuta sp.
- Menispermaceae), que no podem ser derrubadas
como as rvores, so cortadas desde prximas ao
cho at onde possvel alcanar; o restante da planta
puxado e o que no pode ser alcanado deixado na
foresta, onde se decompe. Quando a planta mais
valorizada ou rara, procura-se retirar mais material,
escalando a planta tutora da liana.
Um dos casos mais preocupantes a coleta de
razes, o que leva diretamente eliminao dos
espcimes. Esta prtica tem acarretado o rpido
desaparecimento de populaes localizadas de
plantas. Para algumas espcies o coletor no sabe
sequer como esta se reproduz e nunca viu suas fores
e sementes. Plantas como a caferana (Picrolemma
sprucei Hook. f. Simaroubaceae), a saracura-mir
(A. amazonicus) e o mirant (Ptychopetalum olacoides
Benth. Olacaceae) so exemplos de plantas
exploradas por suas razes. A saracura-mir bastante
procurada na regio para a preveno da malria e
vendida como afrodisaca, o que contribui para o
aumento na demanda por suas razes. As razes so
retiradas de plantas jovens (saracurinha), com no
mximo cinco anos de idade, portanto, sem alcanar
a idade reprodutiva; nas reas de ocorrncia da
espcie (saracurais), as plantas matrizes vm sendo
cortadas e vendidas, em pedaos de 20 a 25 cm, nas
feiras e mercados da cidade.
No caso de sementes, para algumas espcies a
coleta total, sem restar um mnimo que permita a
reposio natural. Em alguns casos, no entanto, so
deixadas sementes que no esto no campo de viso
do coletor, ou que no tm valor comercial pelo
aspecto visual desagradvel. O cumaru (Dipteryx
odorata (Aubl.) Willd. Fabaceae - Faboideae), o
24
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
puxuri Licaria puchury-major (Mart.) Kosterm.
Lauraceae) e a andiroba (C. guianensis) so
coletadas por suas sementes.
Os leos podem ser obtidos de sementes
e do caule de rvores. O leo da andiroba, por
exemplo, extrado das sementes cadas no cho.
No caso da copaba, cujo leo extrado do caule,
foram encontradas rvores mortas ou com caules
danifcados e improdutivos, devido extrao feita
com machado, onde um buraco aberto no tronco
para drenar o leo, fcando exposto ao acmulo de
gua e microrganismos. Em geral, a extrao de leo
do caule feita com trado e, aps a retirada do leo,
o orifcio vedado com cera de abelha ou pedao
de madeira, para posteriores coletas.
Seja qual for o caso, o que se observa a falta
de preocupao quase total com o esgotamento
das reservas. Para algumas espcies, a busca por
material leva a lugares cada vez mais afastados,
o que acarreta maior esforo de coleta e menor
rendimento na produo. Felizmente ainda existem
pessoas preocupadas em manejar a coleta, evitando
eliminar os indivduos e fazendo o enriquecimento
de reas naturais com material retirado do banco
de plntulas da foresta, ou transportando plntulas
para locais mais acessveis, para serem exploradas a
longo prazo.
No caso particular da Amaznia, a incluso de
comunidades no indgenas os caboclos, que
lidam diretamente com a foresta h sculos
amplia a possibilidade de se conhecer melhor os
recursos naturais, pois estes so mais acessveis,
tanto fsica quanto social e lingisticamente, do que
os indgenas.
Os caboclos vinham sendo relegados a um
plano secundrio nas investigaes sobre o
conhecimento das plantas na Amaznia, mas,
ultimamente, pesquisadores de diversas reas tm
buscado informantes entre comunidades caboclas
ou ribeirinhas, por consider-los uma valiosa fonte
de informaes sobre os recursos amaznicos.
Os moradores das vrzeas do rio Amazonas tm
uma idia bem elaborada da distribuio espacial
e temporal dos recursos naturais e praticam um
complexo sistema de explorao e produo, o que
garante a manuteno dos seus sistemas de uso
(MIRNDA & MATOS, 1992).
O termo caboclo refere-se ao indivduo
pertencente a uma populao de sangue misto,
resultante do casamento entre ndios e colonizadores
portugueses e, em menor extenso, com nordestinos
e descendentes de africanos, que em geral reside em
pequenas comunidades ribeirinhas e cuja atividade
econmica primariamente de subsistncia, baseada
em tecnologias indgenas (PARKER, 1989).
O conhecimento sobre as plantas, localizao,
ecologia, ciclo reprodutivo e usos o objeto de
interesse de muitos pesquisadores. Nesta busca
por informaes em comunidades tradicionais, o
pesquisador deve levar em considerao e respeitar
diversas questes prprias da comunidade e das
pessoas da comunidade que colaborarem com
o trabalho (VIERTLER, 2002). Informada e
sentindo-se participante do processo, a comunidade
poder contribuir com valiosas informaes e
sugestes; por outro lado, caso a comunidade
no se sinta respeitada, o trabalho ser de difcil
implementao, certamente fadado ao fracasso ou a
terminar de forma incompleta (MING et al., 2003).
necessrio estimular os coletores a preservar
seus recursos naturais. Isto pode ser feito a partir da
sua percepo do ambiente e da compreenso da
importncia da foresta intacta e do manejo e coleta
correta do material das plantas.
O manejo das plantas em seu ambiente possi-
bilita obter informaes bsicas sobre as espcies,
como fenologia, desenvolvimento da planta e am-
biente favorvel, que permitam o cultivo no local ou
ex situ. fundamental iniciar os estudos a partir da
experincia das pessoas que lidam com a foresta.
1.3 PLANTAS MEDICINAIS NA MATA
ATLNTICA.
Prof. Dr. Luiz Claudio Di Stasi
Plantas medicinais na Mata Atlntica como
subsdio para a obteno de novos ativos de
valor medicinal.
Estudos mostram que as forestas tropicais
compreendem mais da metade das espcies vegetais
encontradas no mundo, a qual estimada em 500 mil
espcies, das quais menos de 1% tem sido estudada
quanto a suas potencialidades teraputicas (CONTE,
1996). No Brasil, assim como em outros pases em
desenvolvimento, a alta biodiversidade vegetal est
relacionada presena de inmeras comunidades
tradicionais ou rurais que possuem um enorme
conhecimento sobre as virtudes medicinais de espcies
tropicais. No entanto, grande parte dessa populao
praticamente no tem acesso aos medicamentos (Di
Stasi, 2005). Com exceo das espcies vegetais da
Amaznia, poucos estudos sobre plantas medicinais
tm sido realizados com espcies de outros biomas,
como o Cerrado, a Mata Atlntica, a Caatinga e o
Pantanal (DI STASI, 2005), caracterizando a gerao
de um pequeno nmero de informaes que restringem
tanto o uso sustentvel das espcies encontradas nesses
biomas quanto a obteno de novos ativos de interesse
farmacutico. Em adio, deve-se destacar que, entre
os cinco principais biomas brasileiros, o Cerrado e
a Mata Atlntica esto listados entre os 25 hotspots
mundiais, defnidos como biomas de alta diversidade
associados a um alto ndice de ameaa (MYERS
e cols., 2000), para os quais informaes tcnico-
cientfcas so essenciais para sua conservao. Alm
disso, importante observar que espcies vegetais
de biomas tropicais, devido s caractersticas de alta
competitividade para sobrevivncia em seu ambiente,
produzem de 3 a 4 vezes mais constituintes qumicos
que espcies do mesmo gnero botnico encontradas
em biomas temperados, nos quais a presso ecolgica
para sobrevivncia menor e envolve a produo de
um menor nmero e concentrao de compostos
secundrios (RODRIGUES e WEST, 1995). Assim
sendo, a seleo de espcies medicinais nativas de
25
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
biomas tropicais representa de forma incontestvel uma
fonte inesgotvel de novos ativos vegetais que precisam
ser amplamente estudados, tendo em vista a seleo de
espcies vegetais ativas e de matria-prima vegetal que
fonte de produtos com atividade teraputica.
A Floresta Tropical Atlntica, conhecida simples-
mente como Mata Atlntica, um habitat de nume-
rosas espcies vegetais e animais endmicas, que for-
ma um conjunto de ecossistemas pouco conhecidos
em sua complexidade e potencialidades, especial-
mente considerando-se a enorme disponibilidade de
espcies vegetais como frmacos potenciais, pouco
estudadas do ponto de vista qumico e farmacol-
gico. De ocorrncia ao longo da costa brasileira, do
Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a Mata
Atlntica representa um bioma singular no planeta,
com diversidade espetacular de espcies endmicas,
calculada em 8 mil espcies das 20 mil estimadas
(CONSERVATION INTERNATIONAL, 2003).
Devido a inmeros fatores relacionados forma de
sua ocupao, tem sido considerado um dos mais
ameaados biomas do planeta (CONSEMA, 1984;
DI STASI E COLS., 1989; MYERS e cols., 2000). No
Estado de So Paulo, entre 1990 e 1995, a Mata Atln-
tica foi reduzida em 3,6%, passando de 1.858.959
para 1.791.559 hectares (SOS MATA ATLNTICA,
1998). Entre os anos de 1995 e 2000, os avanos tec-
nolgicos no campo do geoprocessamento permiti-
ram a identifcao de fragmentos forestais de at 10
hectares, sendo que, pela metodologia empregada no
levantamento realizado entre 1990 e 1995, s era pos-
svel contabilizar as reas com mais de 25 hectares de
extenso (SOS MATA ATLNTICA, 2002). Com
essa mudana, o total do territrio coberto pela Mata
Atlntica no Estado de So Paulo, que em 1995 era
de 1.791.559 hectares, passa para 3.046.341 hectares
(SOS MATA ATLNTICA, 2002; EHLERS, 2007).
Entretanto, o mesmo estudo revelou tambm que a
cobertura Atlntica continua em declnio. Ao fnal da
dcada, restavam em So Paulo 2.995.883 hectares, o
que signifca que, em cinco anos, a rea coberta por
este bioma teve uma reduo de 15,25% para 14,94%
(SOS MATA ATLNTICA, 2002). Esta regio, mes-
mo sendo prxima do maior centro econmico do
pas, considerada uma das mais pobres do Brasil,
cujas condies socioeconmicas tm sido exausti-
vamente apontadas, levando a maioria da populao
a encontrar nas plantas medicinais seu nico recur-
so teraputico (DI STASI e cols., 1994; DI STASI e
HIRUMA-LIMA, 2002). Deste modo, projetos que
contribuem com o conhecimento da Floresta Tropi-
cal Atlntica e propem estudos voltados obteno
de alternativas para a soluo de problemas locais so
importantes e urgentes para a gerao de informa-
es que facilitem o uso dos recursos naturais asso-
ciados conservao do ecossistema.
A populao que habita o interior ou o entorno
deste importante e ameaado bioma do pas no
encontra nenhuma compensao, do ponto de
vista econmico e social, e vive em condies
precrias, sem assistncia mdica especializada e
sem acesso aos medicamentos industrializados,
retirando das espcies vegetais os recursos bsicos
para sua sobrevivncia, quer seja atravs da extrao
de produtos para comercializao, quer seja pelo
uso de plantas nativas como fonte de alimento e
medicamento. No caso da regio da Floresta Tropical
Atlntica, a explorao para comercializao e
consumo tem sido realizada sem cuidados e critrios,
colocando em risco a sobrevivncia das espcies
assim como a sade dos consumidores potenciais.
Recentemente, muitos pesquisadores tm
enfatizado a necessidade de uma conduta tica
e moral entre os pesquisadores e os habitantes
destas regies, propondo e realizando projetos
por intermdio do desenvolvimento de benefcios
recprocos, que podem melhorar as condies de
vida da populao local. Esses benefcios podem
incluir a conservao da diversidade cultural, a
conservao dos ecossistemas forestais atravs de
projetos de manejo sustentado de recursos naturais
e conseqente gerao de recursos econmicos
para populao, a obteno de informaes sobre
plantas medicinais que permitam a utilizao de
preparaes tradicionais com efccia, inocuidade
e controle de qualidade para uso local nos servios
de atendimento primrio de sade e a implantao
de programas de produo e comercializao de
produtos forestais visando ao aumento da receita
local. No entanto, sem a realizao de pesquisas que
garantam a determinao da efccia e segurana
de uso destas espcies, obedecendo legislao de
medicamentos e ftoterpicos do pas, bvio que os
avanos necessrios para o uso sustentvel desta rica
fora nunca podero ser obtidos.
O uso sustentvel da biodiversidade destes
dois biomas tem se dado em algumas regies do
Brasil atravs de diferentes atividades envolvendo
associaes comunitrias e pequenos produtores,
de organizaes de assessoria voltadas preservao
ambiental e de aes que buscam combinar
as necessidades das populaes com o uso e a
recuperao dos recursos naturais. Entre as atividades
de uso e manejo sustentvel da vegetao da Mata
Atlntica merecem destaque as que se dedicam ao
levantamento, identifcao e cultivo de plantas
medicinais, sendo que a variedade de espcies
manipuladas grande dentro de todo um conjunto
de plantas de domnio popular (PIRES & SANTOS,
2000; DI STASI, 2005).
Identifcar e registrar as espcies medicinais
encontradas neste bioma tornou-se nos ltimos
anos uma importante tarefa da pesquisa cientfca,
tendo em vista que, com informaes da medicina
popular e ou tradicional pode-se verifcar a
potencialidade de explorao de espcies de forma
sustentvel, garantindo tanto a conservao do
bioma como a aquisio de recursos econmicos
adicionais para os proprietrios de rea dentro do
domnio da Mata Atlntica.
Neste contexto, nosso grupo de pesquisa tem de-
senvolvido estudos de coleta e identifcao de esp-
cies teis do Cerrado e da Mata Atlntica, prioritaria-
mente de plantas medicinais (DI STASI e cols., 2002;
DI STASI e HIRUMA-LIMA, 2002; DI STASI, 2003;
MARONI e cols., 2006), gerando importantes infor-
26
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
maes para a seleo de espcies vegetais para a
realizao de estudos qumicos e farmacolgicos
voltados conservao desses biomas. Tais dados
so de imensa importncia para a seleo das es-
pcies medicinais a serem estudadas pelo projeto,
visto que se baseiam em pesquisas criteriosas e
singulares realizadas pelo prprio grupo propo-
nente deste projeto.
importante ressaltar ainda que a demanda des-
tes produtos de origem vegetal no mercado alta,
mas o uso das espcies vegetais nativas complexo,
considerando a falta de informaes tcnico-cient-
fcas que permitam sua seleo como matria-pri-
ma para a produo industrial. De fato, incontes-
tvel que o setor produtivo, que atua na produo
de insumos e produtos de interesse farmacutico
e cosmtico, prioriza espcies medicinais exticas
j amplamente conhecidas para incluso em seus
produtos. Desta forma, claro que reconhecer as
potencialidades de espcies nativas de formaes
tropicais brasileiras permitir uma mudana de en-
foque do setor produtivo, gerando divisas impor-
tantes que garantiriam a sustentabilidade das esp-
cies e conseqentemente a conservao ambiental.
Neste sentido, deve-se salientar ainda que, alm da
enorme diversidade de espcies vegetais da Mata
Atlntica, praticamente inexplorada pela cincia,
existe uma diversidade qumica incomensurvel
nestas espcies vegetais. Tais compostos qumicos,
oriundos do metabolismo secundrio e que garan-
tem a sobrevivncia da espcie em condies to
inspitas e de intensa competio como a que ocor-
re na Mata Atlntica, podem obviamente represen-
tar uma srie de importantes princpios ativos teis
para o tratamento e cura de inmeras doenas que
atingem a espcie humana.
A conservao dos biomas tropicais envolve
necessariamente alternativas de uso que permitam
retorno econmico, caso contrrio o imediatismo
inercial continuar a devast-los, de modo que al-
ternativas que propem a obteno de produtos
passveis de serem repostos pelo prprio ecossis-
tema num ciclo defnido possibilitem renda aos
proprietrios da terra e, ao mesmo tempo, mante-
nham o ecossistema. Assim, a identifcao e estu-
do de espcies teis podem gerar subsdios para
a sua explorao sustentvel em seu ecossistema
(REIS, 1996) e, por conseqncia, a conservao
deste ltimo.
A pesquisa de novos ativos de origem vegetal
representa, de forma incontestvel, uma das
mais promissoras estratgias para a obteno
de novos produtos de interesse farmacutico e
cosmtico. No entanto, uma rea que carece
de profssionais qualifcados para atender
demanda do mercado no setor pblico como
em universidades e institutos de pesquisa, mas
especialmente pelo setor privado, indstrias
farmacuticas, que necessitam urgentemente
de profssionais capacitados para atuarem na
rea de desenvolvimento de produtos como na
inovao tecnolgica. Assim, consideramos que
o desenvolvimento de pesquisas com produtos
naturais envolvendo uma enorme gama de
atividades biolgicas, assim como estudos em reas
correlatas como morfologia e anatomia vegetal,
ftoqumica, controle de qualidade e toxicologia,
garantiria a obteno das informaes essenciais
para o estabelecimento de programas locais e
nacionais de ftoterapia, considerando-se seus
aspectos multidisciplinares, que caracterstica
fundamental da pesquisa com plantas medicinais
como j amplamente discutido por DI STASI,
1996 e DI STASI, 2005.
O Anexo A a este captulo apresenta uma lista de
espcies medicinais da Mata Atlntica, a qual pode
ser utilizada como dados essenciais para a seleo de
espcies medicinais deste bioma com a fnalidade
do desenvolvimento de projetos de pesquisa, assim
como para programas de ftoterapia, desde que uma
exaustiva reviso bibliogrfca de cada uma das
plantas seja realizada e, exclusivamente, quando j
existirem todos os dados de efccia, segurana e
controle de qualidade criteriosamente delineados.
1.4 PRESERVAO, CONSERVAO
DA BIODIVERSIDADE E EDUCAO
AMBIENTAL.
Linete Maria Menzenga Haraguchi
O Brasil reconhecidamente o pas com maior
diversidade vegetal do planeta. Possui vrios bio-
mas signifcativos, sendo um deles representado pela
Amaznia e outro tambm muito importante e ame-
aado, a Mata Atlntica, cuja extenso original tam-
bm foi bastante reduzida.
A Mata Atlntica, complexo e exuberante con-
junto de ecossistemas de grande importncia, abri-
ga parcela signifcativa da diversidade biolgica do
Brasil, reconhecida nacional e internacionalmente
no meio cientfco. Lamentavelmente, tambm
um dos biomas mais ameaados do mundo devido
s constantes agresses e ameaas de destruio dos
habitats nas suas variadas tipologias e ecossistemas
associados (SOS Mata Atlntica).
Na fachada da Serra do Mar e no Vale do Ri-
beira h remanescentes signifcativos da vegetao
original e, no interior do Estado, os remanescentes
de mata nativa esto extremamente fragmentados
(KRONK et al., 2005).
Levantamento do Atlas dos Remanescentes Flo-
restais da Mata Atlntica traz os nmeros do desmata-
mento com dados atualizados em 2009, em dez Estados
abrangidos pelo bioma (BA, GO, MS, MG, ES, RJ, SP,
PR, SC, RS). A concluso mostra que foram desmatados
ao menos 102.938 hectares de cobertura forestal nativa,
ou dois teros do tamanho da cidade de So Paulo. O
estudo considera o novo mapa publicado pelo IBGE de
acordo com a Lei 11.428/2006. As informaes atuais
mostram que a rea original do bioma est reduzida a
7,91%, ou 102.012 km. Este nmero totaliza os frag-
mentos acima de 100 hectares, ou 1km, e tm como
base remanescentes forestais de 16 dos 17 Estados onde
ocorre (AL, PE, SE, RN, CE, PB, BA, GO, MS, MG, ES,
RJ, SP, PR, SC e RS), que totalizam 128.898.971 hecta-
res (INPE e SOS Mata Atlntica, 2009).
27
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Essa situao, alm de extremamente inquietante
com relao ao meio ambiente, prejudicial
preservao das mais variadas espcies vegetais, uma
ameaa riqueza biolgica.
Dados da Organizao Mundial da Sade
(OMS) indicam que 80% da populao mundial
dependem da medicina tradicional para atender s
suas necessidades de cuidados primrios de sade,
e grande parte dessa medicina tradicional utiliza
plantas medicinais, seus extratos vegetais ou seus
princpios ativos (IUCN, 1993).
No ano de 1988, na Tailndia, a OMS promoveu
a 1 Conferncia Internacional sobre Conservao de
Plantas Medicinais, da qual resultou a Declarao de
Chiang Mai, com o lema Salvar Plantas que Salvam
Vidas. Os participantes declararam reconhecer a
importncia das plantas medicinais nos cuidados
primrios de sade e se mostraram alarmados e
preocupados com a crescente e inaceitvel perda
dessas espcies devido destruio de seu habitat e
s prticas de coleta no-sustentvel, pois muitas das
plantas que resultam em medicamentos modernos e
tradicionais esto ameaadas. Alertaram, ainda, para as
conseqncias da diminuio da diversidade vegetal
no mundo e para a contnua perda e modifcaes
das culturas indgenas, que geralmente so a chave
para a descoberta de novas plantas medicinais, em
benefcio de toda a humanidade. Reafrmaram,
tambm, a necessidade urgente de cooperao e do
estabelecimento de uma coordenao internacional
para implantar programas de conservao de plantas
medicinais, visando assegurar que quantidades
adequadas estejam disponveis para geraes futuras.
(AKERELE, HEYWOOD; SYNGE 1991).
Relembramos que j em 1989 Di Stasi et al
destacaram a importncia de que o tema plantas
medicinais tivesse uma abordagem ecolgica
e ambiental e que os dados das comunidades
tradicionais e dos diferentes grupos tnicos sobre
as plantas medicinais no fossem apenas um rol de
informaes para a seleo de plantas medicinais
pelos pesquisadores da rea. A conservao dos
ecossistemas tropicais, especialmente os mais
ameaados, como o caso da Amaznia e da Mata
Atlntica, sempre foi uma preocupao constante,
mas as plantas medicinais, hoje, passaram a
representar uma nova alternativa para a conservao
dos ecossistemas, visto que as espcies vegetais de
valor medicinal passam a ser mais um recurso forestal
passvel de explorao e de comercializao que,
realizadas de forma racional e sustentvel, permitem
a reduo da ao antrpica sobre outros produtos
forestais, reduzindo assim os srios problemas
ambientais pelos quais esses ecossistemas passam.
(DI STASI e HIRUMA-LIMA, 2002).
Nos biomas forestais da Amaznica e da Mata
Atlntica existem muitas espcies arbreas de
grande porte, alm das arbustivas e herbceas, com
propriedades medicinais. Muitas delas, no entanto,
correm risco de extino devido ao corte intensivo
e descontrolado da rvore para extrao de leo do
caule e tambm por explorao intensa das indstrias.
Por isso, h a necessidade de se estabelecerem aes
urgentes visando a conservao dos ecossistemas,
estratgias de manejo sustentado, conservao e
desenvolvimento de novas tecnologias de cultivo,
visando conservao dos recursos genticos das
espcies j ameaadas, livrando-as da constante
presso do extrativismo desordenado.
A Mata Atlntica conta hoje com cerca de 860
unidades de conservao, que vo desde pequenos
stios transformados em Reservas Particulares do
Patrimnio Natural (RPPN) at reas imensas
como o Parque Estadual da Serra do Mar, com 315
mil hectares (SOS Mata Atlntica). As Unidades de
Conservao da Natureza (UC) constituem reas de
especial relevncia para a preservao e conservao
ambiental e para a manuteno da diversidade
biolgica e devem tambm desenvolver funes
sociais da integrao s regies onde se inserem,
participando do processo de desenvolvimento
sustentvel. O aprimoramento de mecanismos e
estratgias na gesto de UCs dever igualmente
garantir o respeito e reconhecimento dos povos
indgenas, das comunidades quilombolas e das
comunidades tradicionais. Desta integrao
dependem, inclusive, os apoios polticos e
econmicos indispensveis para a sua manuteno.
As UC prestam ainda servios ambientais
tais como a fxao de carbono e manuteno de
seus estoques, regularizao e equilbrio do ciclo
hidrolgico, purifcao da gua e do ar, controle da
eroso, conforto trmico, perpetuao dos bancos
genticos, fuxo gnico da biodiversidade, controle
biolgico, manuteno da paisagem, reas para
educao e pesquisa cientfca, alm do valor de
herana para as futuras geraes (RODRIGUES,
BONONI, 2008).
So Paulo uma das 21 cidades do mundo que
est participando do Programa LAB (Local Action
for Biodiversity) - Aes Locais para a Biodiversidade,
uma iniciativa do escritrio do Iclei da frica do
Sul. Parte do Programa foi publicada pela Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, o relatrio
So Paulo Biodiversity Report - 2008, que aborda as
principais aes voltadas conservao e preservao
da fora e da fauna da cidade bem como o processo para
incorporar a participao de cidados e instituies na
busca de uma cidade mais humana e sustentvel.
O que devemos fazer?
Muitos anos se passaram desde a Conferncia
das Naes Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a ECO-92 ou Rio-92, e
espera-se que os pases participantes honrem e
assumam os compromissos e responsabilidades nela
apontados, como, por exemplo, a conservao da
diversidade biolgica, a utilizao sustentvel de seus
componentes.
bom que se fque atento s discusses ocorridas
nas Conferncias das Partes (COP) da Conveno
- Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do
Clima (UNFCCC), no que se refere estabilizao
28
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
da concentrao de emisses de gases do efeito
estufa, realizado pela interferncia antrpica, num
nvel muito perigoso ao sistema climtico, bem
como sobre mecanismos para a reduo de emisses
vindas de desmatamento e degradao forestal
(REDD), para o Plano Nacional sobre Mudana
do Clima (PNMC), que tem como um de seus
objetivos a diminuio das taxas de desmatamento
na Amaznia (Fonte: Grupo Proclimacapacita e
Ozonioprozonesp, dez/08) e para a Poltica de
Mudana do Clima no Municpio de So Paulo
instituida pela Lei Municipal n 14.933 (05.06.09).
Seja uma pessoa semente, conscientize-se,
eduque-se e seja um multiplicador, ajudando a
proteger todos os biomas, tanto pela importncia da
conservao da biodiversidade, como pelos nveis de
ameaa riqueza biolgica e vida humana na Terra.
muito importante priorizar a conservao dos
remanescentes forestais do bioma da Mata Atlntica,
mas sem esquecer-se de todos os outros biomas
existentes, como o do Cerrado, por exemplo, que tem
inmeras espcies com grande potencial medicinal e
necessita de uma poltica efcaz para preservao.
Medidas urgentes devem ser tomadas para a
preservao das espcies ameaadas de extino,
conforme diretrizes estabelecidas durante a
Conveno sobre a Diversidade Biolgica e
da Agenda 21. Consta na Resoluo SMA-48
(21.09.2004) a lista ofcial das espcies da fora
do Estado de So Paulo ameaadas de extino,
seguindo recomendao do Instituto de Botnica
de So Paulo, dentre elas, a Maytenus ilicifolia Mart.
ex Reissek.
preciso tambm fomentar e executar projetos
de pesquisa, proteo, preservao e conservao
da biodiversidade, desenvolvendo programas de
educao ambiental e em sade, campanhas de
conscientizao pblica, estimulando a articulao
entre todos os envolvidos, para o estabelecimento
de estratgias de ao dos setores do governo com a
sociedade civil, as instituies de ensino, de pesquisa,
o setor privado e outros afns.
Maiores investimentos em programas de
pesquisas como o Programa de Pesquisas em
Caracterizao, Conservao e Uso Sustentvel da
Biodiversidade do Estado de So Paulo, denominado
Biota-Fapesp, o Instituto Virtual da Biodiversidade,
resultado da articulao da comunidade cientfca
do Estado de So Paulo em torno das premissas
preconizadas pela Conveno sobre a Diversidade
Biolgica, assinada durante a ECO-92 e ratifcada
pelo Congresso Nacional em 1994.
O Brasil possui legislao muito abrangente e
necessria a sua aplicao efetiva pelos rgos e
agentes pblicos, pelas autoridades, juntamente com
a colaborao da populao. Por isso, importante
manter-se atualizado com preceitos legais no Brasil
sobre o assunto em pauta, como, por exemplo:
1. Cdigo Florestal, Lei Federal n 4.771
(15.09.1965) e suas alteraes e regulamentaes.
Art. 13: O comrcio de plantas vivas, oriundas
de forestas, depender de licena da autoridade
competente.
2. Decreto Estadual n 8.468 (So Paulo), de
08.09.1976: aprova o Regulamento da Lei n 997,
de 31.05.1976, que dispe sobre a preveno e o
controle da poluio do meio ambiente.
3. Lei Federal n 6.938 (31.08.1981): dispe
sobre a Poltica Nacional do Meio Ambiente, com
alteraes pela Lei 9.960 (28.01.2000), que j
previa o planejamento e fscalizao do uso dos
recursos ambientais.
4. De acordo com a Portaria n 122-P (IBDF/
Ibama), de 19.03.1985: a coleta, transporte,
comercializao e industrializao de plantas
ornamentais, medicinais, aromticas e txicas,
oriundas de foresta nativa, dependem de
autorizao do Ibama.
5. Constituio Federal (1988). Captulo VI - Do
Meio Ambiente:
Art. 225. Todos tm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Pblico e coletividade o dever de defend-lo e
preserv-lo para as presentes e futuras geraes.
1 - Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao poder pblico:
I - preservar e restaurar os processos ecolgicos
essenciais e prover o manejo ecolgico das espcies e
ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patri-
mnio gentico do Pas e fscalizar as entidades dedi-
cadas pesquisa e manipulao de material gentico;
III - defnir, em todas as unidades da Federao,
espaos territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alterao e a
supresso permitidas somente atravs de lei, vedada
qualquer utilizao que comprometa a integridade
dos atributos que justifquem sua proteo;
VI - promover a educao ambiental em todos os
nveis de ensino e a conscientizao pblica para a
preservao do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a fora, vedadas, na forma
da lei, as prticas que coloquem em risco sua funo
ecolgica, provoquem a extino de espcies ou
submetam os animais crueldade.
3 - As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitaro os infatores,
pessoas fsicas ou jurdicas, a sanes penais e
administrativas, independentemente da obrigao
de reparar os danos causados.
4 - A Floresta Amaznica brasileira, a Mata
Atlntica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
29
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Grossense e a Zona Costeira so patrimnio
nacional, e sua utilizao far-se-, na forma da lei,
dentro de condies que assegurem a preservao do
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.
6. Lei Federal n 7.754 (14.04.89): estabelece
medidas para proteo das forestas existentes nas
nascentes dos rios.
7. Decreto Federal n 98.830 (15.01.1990):
dispe sobre a coleta, por estrangeiros, de dados
e materiais cientfcos no Brasil, e a Portaria MCT
n 55 (14.03.1990), alterada pela Portaria MCT
n 826 (06.11.2008), do Ministrio da Cincia e
Tecnologia, que aprova o Regulamento sobre coleta,
por estrangeiros, de dados e materiais cientfcos
no Brasil. Dispem que ...as atividades sero
autorizadas desde que haja a co-participao e co-
responsabilidade de instituio brasileira de elevado
e reconhecido conceito tcnico-cientfco, alm de
[...] acompanhar e fscalizar as atividades que sejam
exercidas pelos estrangeiros....
8. O Governo Federal, mediante a legitimao da
Reserva Extrativista no mbito da poltica nacional
do meio ambiente, possibilitou sua criao a partir
da Lei n 7.804 (18.07.1989). O Decreto n 98.897
(30.01.1990) dispe sobre as reservas extrativistas.
9. Portaria n 37-N do Ibama (03.04.92), com a lista
ofcial das espcies da fora brasileira ameaadas de
extino.
10. Lei Federal n 9.279 (14.05.97): regula direitos e
obrigaes relativos propriedade industrial. Lei das
Patentes e suas alteraes. Lei n 9.456 (25.04.97):
institui a Lei de Proteo de Cultivares.
11. Resoluo Conama n 237 (19.12.1997): Licen-
ciamento ambiental.
12. Lei Federal n 9.605 (12.02.1998), Lei dos
Crimes Ambientais: dispe sobre as sanes penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente. E incluses atravs das
Leis n 9.985 (2000), n 11.284 (2006) e n 11.428
(2006).
13. Lei Federal n 9.795 (27.04.1999): dispe sobre
a educao ambiental, institui a Poltica Nacional de
Educao Ambiental.
14. Lei Federal n 9.985 (18.07.2000): regulamenta
o art. 225, 1
o
, incisos I, II, III e VII da Constituio
Federal; institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservao da Natureza. Ver alteraes e
regulamentaes. Assunto: Criao, Sistema
Nacional, Unidade, Conservao, Natureza.
Objetivo: Preservao, Recuperao, Fauna,
Flora, Diversidade, Espcie, Ecossistema, Recursos
Naturais, Recursos Hdricos, Reserva Biolgica,
Floresta, Biosfera, Desenvolvimento Sustentvel.
15. Decreto Federal n 3.607 (21.09.2000): dispe
sobre a implementao da Conveno sobre Comr-
cio Internacional das Espcies da Flora e Fauna Sel-
vagens em Perigo de Extino Cites.
16. Medida Provisria MP 2.186-16 (23.08.2001):
institui o Conselho de Gesto do Patrimnio Gen-
tico (CGEN) e regulamenta o acesso aos recursos
genticos da biodiversidade brasileira. A nova lei de
acesso a recursos genticos da biodiversidade brasi-
leira ainda aguardada por cientistas, empresas e co-
munidades tradicionais (maro de 2009).
17. Resoluo Conama n 317 (04.12.2002): regula-
menta o art. 1 da Resoluo n 278/01, que dispe
sobre o corte e explorao de espcies ameaadas de
extino da fora da Mata Atlntica.
18. Cartilha A Lei da Vida, do IBAMA (2004): re-
aliza abordagens e leituras sobre a Lei dos Crimes
Ambientais, motivando a criana a despertar para o
mundo da tica e do respeito, ligadas s prticas da
Educao Ambiental, diante do desafo que o de-
senvolvimento sustentvel neste sculo. A Cartilha
cita os artigos 38 a 41 dos Crimes Contra a Flora,
probem destruir ou danifcar foresta considerada de
preservao permanente, mesmo que em formao,
ou utiliz-la de forma transgressora.
19. Resoluo SMA-48 (21.09.2004), publicada no
Dirio Ofcial Poder Executivo Seo I de 22.09.04:
publica a lista ofcial das espcies da fora do Estado
de So Paulo ameaadas de extino, seguindo reco-
mendao do Instituto de Botnica de So Paulo.
20. Instruo Normativa n 112 (21.08.2006), do
Ibama: trata do Documento de Origem Flores-
tal DOF, institudo pela Portaria/MMA n.253
(18.08.2006), que se constitui de licena obrigatria
para o controle do transporte e armazenamento de
produtos e subprodutos forestais de origem nativa,
contendo as informaes sobre a procedncia desses
produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletr-
nico denominado Sistema DOF. Alterada pela Ins-
truo Normativa n 187 Ibama (10.09.2008).
21. Lei Federal n 11.428 (22.12.2006): dispe so-
bre a utilizao e proteo da vegetao nativa do
Bioma Mata Atlntica.
22. Decreto Estadual N. 51.453 (So Paulo), de
29.12.2006: cria o Sistema Estadual de Florestas -
Siefor, visando melhor efccia na gesto das forestas
pblicas e outras reas naturais protegidas, em face
da extrema importncia da conservao da Mata
Atlntica, tida como patrimnio estadual e nacional,
do Cerrado e de outras formaes vegetais naturais do
estado, bem como sua fauna associada. A Resoluo
SMA n 059/08 regulamenta os procedimentos
administrativos de gesto e fscalizao do uso
pblico nas Unidades de Conservao de proteo
integral do Sistema Estadual de Florestas do Estado
de So Paulo.
23. Decreto Federal n 6.040 (07.02.2007): institui
a Poltica Nacional de Desenvolvimento Sustentvel
dos Povos e Comunidades Tradicionais.
30
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
24. Decreto Federal n 6.041 (08.02.2007): institui a
Poltica de Desenvolvimento da Biotecnologia e cria
o Comit Nacional de Biotecnologia, fazendo meno
ao respeito s normas de acesso ao patrimnio genti-
co nacional e ao conhecimento tradicional associado.
O Decreto n 6.538/08 d nova redao ao art. 5 do
Decreto 6.041/07.
25. Decreto Federal N 6.514 (22.07.2008): regu-
lamenta a Lei 9.605/98, que dispe sobre crimes
ambientais e que revogou o decreto anterior (n
3.179/99) e ampliou ainda mais as aes em defesa do
meio ambiente. Dispe sobre as infraes e sanes ad-
ministrativas ao meio ambiente, estabelece o processo
administrativo federal para apurao destas infraes e
d outras providncias. Os artigos 43 a 60 tratam Das
Infraes Contra a Flora. (atualizado 2008).
Seja um cidado vigilante, um fscal do meio am-
biente: ao constatar uma infrao contra a fora, denun-
cie aos rgos ambientais e de polcia competentes da
sua cidade ou do seu estado, pois infrao contra a fora
tambm crime ambiental.
Como e onde fazer uma denncia
Informaes corretas e completas: toda denn-
cia deve ser acompanhada do maior nmero possvel
de informaes, como, por exemplo, fotografas, mapas
e at mesmo a cpia da legislao que est sendo infrin-
gida, que podem ser anexadas a um documento por
escrito que informa o dano ambiental.
Denncias annimas ou no: as denncias po-
dem ser feitas por telefone. No entanto, muito impor-
tante que as informaes sobre o que est acontecendo,
qual o dano ambiental, o local correto da infrao e
informaes de como chegar ao local sejam passadas
para o atendente de forma correta.
Conhea a legislao: para que seja feita
qualquer denncia necessrio, antes de qualquer
coisa, ter conhecimento bsico da legislao
ambiental, pois com base nas leis que haver
recuperao do dano ambiental bem como a
forma como os infratores podero ser punidos.
Denncias de Crime Ambiental no Estado
de So Paulo
Contate os rgos pblicos nas respectivas
esferas de competncias (Atualizado em 2008):
A Linha Verde do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis
(IBAMA), subordinada Ouvidoria do Instituto,
um canal de comunicao com a sociedade
e outros rgos ambientais ofciais, que busca
um equilbrio entre o homem e o ambiente para
a construo de um futuro pensado e vivido
numa lgica de desenvolvimento sustentvel.
Por intermdio do telefone 0800-61-8080
(ligao gratuita), o cidado e/ou entidades
nacionais e internacionais podem interagir,
solicitando orientaes e informaes sobre
temas ambientais, que abrangem desde denncias
de infraes legislao ambiental at os mais
variados procedimentos de aes ambientais.
E-mail: linhaverde.sede@ibama.gov.br. Na cidade
de So Paulo ligar para (11) 3066-2633.
Prefeitura da Cidade de So Paulo (156) ou
atravs da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente: (PMSP/SVMA), atravs dos telefones:
(11) 3396-3253 / 3285 ou PABX (11) 3396-3000.
Ouvidoria Geral do Municpio de So Paulo:
telefone 0800 17 5717 (no precisa se identifcar).
Disque Meio Ambiente da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente (SMA), atravs do telefone
0800 11 3560, ou Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental (CETESB), ligada SMA:
PABX (11) 3133-3000.
Ouvidoria Ambiental da SMA: Telefone (11)
3133-3477.
Departamento de Proteo da Biodiversidade
da Coordenadoria de Biodeversidade e Recursos
Naturais (CBRN) em So Paulo: telefone (11)
3133-3804.
Agncia Ambiental Unifcada de Jundia e
CETESB (11) 4817-2110 / 4817-1898.
Polcia Militar do Estado de So Paulo,
atravs do Comando de Policiamento Ambiental
(CPAmb) da Polcia Militar. Cidade de So Paulo:
(11) 3221-8699 ou 5082-3330; Birigui: (18)
3642-3955; Guaruj: (13) 3354-2800; So Jos
do Rio Preto: (17) 3234-3314 / 4122; Jundia:
(11) 4587-1811.
Promotoria de Justia do Meio Ambiente da
Capital (PJMAC): telefone 3119-9800, fax 3119-
9099 ou atravs de e-mail: pjmac@mp.sp.gov.br.
Consulte alguns sites:
htp://www.ambiente.sp.gov.br
htp://www.ambiente.sp.gov.br/ouvidoria.php
htp://www.capital.sp.gov.br/portalpmsp/homec.jsp
htp://www.cetesb.sp.gov.br
htp://www.ibama.gov.br
htp://www.mp.sp.gov.br
htp://www.pmambientalbrasil.org.br/unidades.htm
http://www.pmambientalbrasil.org.br/unidades.
htm#So%20Paulo
htp://www.polmil.sp.gov.br/inicial.asp
http://www.polmil.sp.gov.br/unidades/cpamb/
index.htm
htp://portal.prefeitura.sp.gov.br/ouvidoria
OBS.: Referncias bibliogrfcas do Captulo 1
ver Captulo 18.
#2
HISTRICO
DAS PLANTAS
MEDICINAIS
E LEgISLAO
33
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#2
HISTRICO
DAS PLANTAS
MEDICINAIS
E LEgISLAO
34
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
2.1 HISTRICO DAS PLANTAS
MEDICINAIS
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua
Historicamente, o uso de plantas para tratar
doenas to antigo quanto a prpria humanidade.
O homem sempre buscou na natureza os
recursos necessrios para melhorar suas prprias
condies de vida. Utilizou as plantas como alimento
e incorporou a isso a busca de matria-prima para a
confeco de roupas, ferramentas, combustveis para
o fogo, armas de caa, etc., aumentando, assim, a
chance de sobrevivncia.
Por meio de experincias e observaes, de
muita experimentao, na base da tentativa e erro,
ao longo de muitas geraes, o homem percebeu
que as plantas poderiam provocar reaes benfcas
no organismo, capazes de resultar na recuperao
da sade. Percebeu, tambm, que, alm das plantas
benfcas, existiam aquelas nocivas sade, capazes
de matar e de produzir alucinaes.
No processo histrico das plantas medicinais,
muitas civilizaes descreveram a utilizao de
vegetais como forma de medicamento em seus
registros e manuscritos.
Descobertas arqueolgicas mostram o uso de
vrias plantas pelos neandertais (como a altia
Althaea ofcinalis) h mais de 60 mil anos, no local
onde o Iraque hoje. Os ndios mexicanos de mil
anos atrs utilizavam o cacto peiote (Lophophora
williamsii) em machucados e ferimentos, o que foi
comprovado recentemente as suas propriedades
antibiticas.
Os sumrios que habitavam uma rea em torno
dos rios Tigre e Eufrates (hoje Iraque), por volta de
4.000 a.C. j utilizavam o tomilho (Tymus vulgaris),
o pio (Papaver somniferum), o alcauz (Glycyrrhiza
glabra), a mostarda (Brassica sp.) e o elemento
qumico enxofre. Os babilnios utilizavam, alm
dessas substncias medicinais, o aafro (Crocus
sativus), o coentro (Coriandrum sativum), a canela
(Cinnamomum zeylanicum), o alho (Allium sativum),
folhas de sene (Senna alexandrina), resinas de
benjoim (Styrax benzoin).
No Egito antigo, Imotep se tornou o deus da cura
de seu povo. Em 1827, Georg Ebers comprou de um
rabe um dos primeiros textos mdicos existentes,
chamado de Papiro de Ebers, que se acredita tenha
sido escrito no sculo XVI a.C. Contm cerca de
800 receitas e refere-se a 700 drogas, incluindo a
babosa (Aloe vera), o absinto (Artemisia absinthium),
a hortel (Mentha sp.), o meimendro (Hyoscyamus
niger), a mirra (Commiphora myrrha), o cnhamo
(Cannabis sativa), o leo de rcino (Ricinus
communis) e a mandrgora (Mandragora ofcinalis).
Inclui receitas para diabetes e a utilizao de lama ou
po mofado sobre as feridas para impedir a infeco
(fungos e bactrias flamentosas produzem drogas
antibiticas).
Na China antiga (dois mil anos atrs), apareceu
a primeira farmacopia chinesa, o Pen Tsao,
descrevendo o uso do leo de chalmogra (planta
do gnero Hydnocarpus Salicaceae, antiga
Flacourtiaceae) para tratar a lepra. Foram os chineses
que descreveram pela primeira vez a utilizao de um
arbusto, o mahuang (Ephedra sinica), para ajudar na
funo urinria, melhorar a circulao, baixar febres,
eliminar a tosse e aliviar os males dos pulmes e
brnquios. Atualmente conhecido como efedrina,
utilizada nos problemas respiratrios.
Na ndia, o Charaka Samhita, abrangente
guia herbceo indiano, cita mais de 500 medi-
camentos herbais.
A Grcia antiga produziu um deus (Esculpio,
que tinha como smbolo o caduceu uma serpente
enroscada num basto at hoje smbolo da
medicina) e vrios seres mortais que fguram com
destaque na histria inicial da medicina. Por volta
de 400 a.C., Hipcrates retirou a profsso mdica
do reino do misticismo e da religio chamado de
pai da medicina moderna. Os textos de Hipcrates
citam cerca de 300 a 400 plantas medicinais (ex.:
erva-doce, rcino, salsa, tomilho, funcho, aipo).
No primeiro sculo antes de Cristo, a Grcia pro-
duziu a precursora de todas as farmacopias moder-
nas e aquele que se tornou o texto ofcial da medicina
botnica, De Matria Medica, de Dioscorides.
Galeno, mdico grego que vivia em Roma
no sculo II d.C., revolucionou a medicina
fazendo experincias com animais, a partir do que
desenvolveu as primeiras teorias mdicas baseadas
em experimentaes cientfcas.
De cerca de 400 a 1.500 d.C. a Igreja controlou
praticamente todo o conhecimento mdico. A
medicina, como tratamento de doenas humanas,
tornou-se uma extenso das doutrinas da Igreja.
Como os males e doenas eram muitas vezes vistos
como castigo para o pecado, acreditava-se que
podiam ser curados com preces e arrependimento.
Neste perodo, a medicina e os estudos das
plantas medicinais sofreram um longo perodo de
paralisao. Contudo, grande parte do conhecimento
mdico grego e latino ainda assim foi preservado
pelos estudiosos dos mosteiros, que transcreviam
documentos antigos.
Durante o Renascimento (fm do sculo XII)
iniciaram-se os estudos realmente cientfcos do
corpo humano feitos pelos mdicos. Foi nessa poca
que Leonardo da Vinci fez muitas dissecaes,
resultando em mais de 750 desenhos que ilustravam
com preciso a anatomia humana.
Uma fgura notvel do Renascimento foi
Teophrastus Bombastus von Hohenheim, mais
conhecido como Paracelso. Ele visto como o
divulgador da famosa doutrina das assinaturas, viso
da natureza centrada no ser humano, que diz que as
plantas no s foram criadas para o uso dos homens,
como tambm exibem um sinal claro uma assinatura
35
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
do fm especfco a que se destinam (uma planta com
folhas em forma de corao se destina ao tratamento
de doenas cardacas, por exemplo). Paracelso tido
por muitos como o pai da farmacologia qumica. Foi
o primeiro a defender a importncia da qumica na
preparao de medicamentos.
Paracelso media e ministrava as doses das
substncias com cautela e preciso. Ele dizia:
depende s da dose se um veneno veneno ou no.
O muito mata, o pouco cura. Ele tambm tido
como fundador da homeopatia, sistema de medicina
baseado na proposta de que o semelhante cura o
semelhante. Cerca de 300 anos depois, um mdico
alemo chamado Samuel Hahnemann introduziu a
prtica da homeopatia em larga escala. A flosofa da
homeopatia que os sintomas de uma doena so a
forma de o corpo combater essa doena. Assim, doses
minsculas de drogas que produzem os mesmos
sintomas de uma doena tambm estimulam os
mecanismos de defesa da pessoa saudvel para
combater esse mal (a imunologia confrmou a base
dessa flosofa).
Na China, por ocasio da Revoluo Cultural,
a Medicina Tradicional Chinesa, que inclui a
ftoterapia, sofreu vrias crticas, acusada de ser
uma tcnica arcaica e sem comprovao cientfca.
Graas ao bom senso de Mao Tse Tung, a Medicina
Tradicional Chinesa foi revalorizada e vrias
pesquisas comprovaram as aes de inmeras
plantas e pontos de acupuntura, recuperando, assim,
o prestgio de um dos mais antigos e efcazes sistemas
teraputicos do mundo.
No incio do sculo XX, os qumicos aprenderam
a isolar as substncias ativas das plantas e depois a
criar esses produtos qumicos em laboratrio. Foi o
incio da cincia da farmcia, dedicada compreenso
de como as drogas atuam e por que o corpo reage a
elas de determinadas maneiras.
Por volta de 1805 Friedrich Sertrnes isolou
pela primeira vez a substncia anestsica da papoula
(Papaver somniferum), a morfna, um tipo de
alcalide. Com isso, surgiu a indstria farmacutica,
no somente para isolar os constituintes bsicos das
drogas naturais, mas tambm para sintetizar novas
substncias em laboratrios e fornec-los aos mdicos
em doses estveis, padronizadas.
Os produtos qumicos feitos em laboratrio so
mais estveis, diferindo do uso das plantas medicinais,
que devem ser colhidas no perodo do dia ou do ciclo
da planta em que armazenam uma quantidade maior
do princpio ativo. Colher uma erva cedo ou tarde
demais durante o seu ciclo de crescimento, us-la seca
em vez de verde, empregar diferentes populaes da
mesma planta ou espcies estreitamente relacionadas;
todos esses fatores afetam a estabilidade da droga.
Outro campo de pesquisa que vem sendo bastante
estudado sobre a sinergia das plantas medicinais, pois
se notou que a utilizao da planta toda e no somente
o princpio ativo extrado quimicamente e purifcado
torna o efeito benfco total do medicamento herbal
maior do que se poderia prever, apenas somando-se
os efeitos de seus constituintes qumicos individuais,
inclusive neutralizando os efeitos nocivos dos
produtos qumicos ativos.
Quando os europeus chegaram ao Brasil
encontraram inmeras plantas medicinais utilizadas
pelos ndios que aqui viviam. Os pajs detinham
o conhecimento das ervas locais e de seus usos,
que eram transmitidos e aprimorados de gerao
em gerao. O contato dos europeus com a fora
medicinal se deu com a vivncia com os ndios e as
incurses mais prolongadas pelo interior, fazendo
com que novos conhecimentos fossem fundidos com
aqueles trazidos da Europa (uso popular bastante
difundido). Muitas plantas conhecidas na Europa
por suas propriedades medicinais induziram a busca
por plantas nativas com propriedades semelhantes
para serem utilizadas em usos similares. Muitas
vezes o mesmo princpio ativo podia ser encontrado
nas espcies nativas, ocasionalmente em maior
quantidade ou qualidade.
Alm disso, os africanos trouxeram muitas
plantas, originalmente utilizadas em rituais religiosos
e tambm por suas propriedades farmacolgicas
empiricamente descobertas.
A partir do sculo XX, com o incio da
industrializao e urbanizao no pas, o
conhecimento tradicional passou a ser posto em
segundo plano. O acesso a medicamentos sintticos
e a falta de comprovao cientfca das propriedades
farmacolgicas das plantas tornou o conhecimento
da fora medicinal sinnimo de atraso tecnolgico e
charlatanismo.
Com as novas tendncias globais de uma
preocupao com a biodiversidade e as idias
de desenvolvimento sustentvel, reativaram-
se os estudos das plantas medicinais brasileiras,
despertando novamente o interesse pela ftoterapia.
A partir das duas ltimas dcadas, o consumo
individual de ftoterpicos cresceu em todo o mundo,
aumentando tambm os investimentos em pesquisas
para obteno de novos remdios base de plantas,
confrmando a efccia de muitas plantas medicinais,
dando maior credibilidade no uso da ftoterapia.
O Brasil tem uma ampla diversidade tnica e
cultural, com valioso conhecimento tradicional
relacionado ao uso de plantas medicinais usadas
na cura ou preveno de doenas, e tem recebido
atualmente maior ateno dos rgos no
governamentais e dos rgos ofciais de sade.
O uso de plantas medicinais e ftoterpicos, com
fnalidade profltica, curativa, paliativa ou para fns
de diagnstico, passou a ser ofcialmente reconhecido
pela Organizao Mundial da Sade (OMS) em 1978,
durante a conferncia em Alma-Ata (antiga URSS).
O Ministrio da Sade criou em 1982 o Programa
de Pesquisa de Plantas Medicinais, pela Central de
Medicamentos do Ministrio da Sade (CEME/
MS). Em 1983 o Programa foi reestruturado com
36
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
o objetivo de produzir medicamentos ftoterpicos
para o sistema de sade, de promover investigao
cientfca das potenciais propriedades teraputicas de
espcies utilizadas pela populao, visando a um futuro
desenvolvimento de medicamentos ou preparaes
que servissem de suporte ao estabelecimento de
uma teraputica alternativa e complementar. Setenta
e quatro espcies foram selecionadas, 95 projetos
foram executados em 23 instituies conveniadas,
e pesquisas acerca de 28 espcies foram concludas,
com confrmao de propriedades teraputicas das
espcies: Maytenus ilicifolia e Phyllanthus niruri. A
CEME, no entanto, foi extinta em 1997.
A Conferncia das Naes Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92 - Rio de
Janeiro) aprovou a Agenda 21, documento que
estabelece um pacto pela mudana do padro de
desenvolvimento global. O desenvolvimento e a
conservao do meio ambiente devem constituir
um binmio indissolvel que promova a ruptura do
antigo padro de crescimento econmico, tornando
compatveis o direito ao desenvolvimento para os
pases que permanecem em patamares insatisfatrios
de renda e de riqueza e o direito ao usufruto da vida
em ambiente saudvel pelas futuras geraes.
A integrao social, gerao de trabalho e
cidadania tambm devem ser pautadas na Agenda
21, que preconiza o desenvolvimento sustentvel
das cidades e a diminuio dos impactos ambientais.
Neste contexto, o cultivo de plantas medicinais para
fns teraputicos e alimentares deve ser realizado de
forma sustentvel, visando conservar os recursos
naturais e fornecer produtos mais saudveis, sem
prejuzos ao meio ambiente, favorecendo a sade e a
qualidade de vida.
A Organizao Mundial da Sade, atravs do
documento Estratgia da OMS sobre Medicina
Tradicional 2002-2005, preconiza o incentivo
da ftoterapia no Sistema Nacional de Sade;
a investigao sobre a sua segurana, efccia,
qualidade e normalizao de seus servios; a
melhoria do acesso da populao menos favorecida;
e o uso racional pelos profssionais e usurios.
O Ministrio da Sade aprovou em maio/2006
a Poltica Nacional de Prticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) no Sistema nico
de Sade (SUS), que estabelece as linhas de ao
prioritrias para o uso racional de plantas medicinais
e ftoterpicos (medicamentos oriundos de plantas
medicinais). A idia que se construa no Brasil
uma rede de esforos para o desenvolvimento
de medidas voltadas melhoria da ateno
sade, ao fortalecimento da agricultura familiar,
gerao de emprego e renda, incluso social e ao
desenvolvimento industrial e tecnolgico.
O Governo Federal reconhece o valor teraputico
e incentiva as Unidades Bsicas de Sade a adotarem
terapias como a de Plantas Medicinais e Fitoterapia e
seu uso racional pelo SUS, atravs da Portaria n 971 de
03/05/2006, que defne as aes e responsabilidades
dos gestores federais, estaduais e municipais na
implementao de novos servios na rede pblica
de sade e tambm a adequao de iniciativas que
j vinham sendo desenvolvidas em algumas regies
do pas, e ofcializa no SUS as prticas com plantas
medicinais e ftoterapia; homeopatia; medicina
tradicional chinesa/acupuntura; termalismo social
(uso de guas minerais para tratamento de sade), e
tem como principal objetivo harmonizar os critrios
e procedimentos para a prestao de servios no SUS
de forma a garantir segurana, efccia e qualidade aos
usurios desses tipos de terapias.
O Governo Federal aprovou, ainda, por meio
do Decreto n 5.813, de 22/06/2006, a Poltica
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterpicos e
criou um Grupo de Trabalho Interministerial, com
participao da sociedade civil, para a elaborao
do Programa Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterpicos, com medidas voltadas garantia de
acesso seguro e uso racional e correto de plantas
medicinais e ftoterpicos pela populao, com
segurana, efccia e qualidade. O Programa
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterpicos foi
aprovado pela Portaria Interministerial MS-GM n
2.960, de 09/12/2008, que tambm criou o Comit
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterpicos e,
a Lei Municipal n 14.903 de 06/02/2009 criou o
Programa de Produo de Fitoterpicos e Plantas
Medicinais no Municpio de So Paulo.
2.2 HISTRICO DAS REFERNCIAS
LEGAIS BSICAS
Carlos Muniz de Souza
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Prof. Dr. Luis Carlos Marques
Poltica Internacional de Prticas Alternativas
de Sade
OMS Unicef Declarao de Alma-Ata (1978).
Conferncia Internacional sobre Cuidados Prim-
rios de Sade. O uso de plantas medicinais e fto-
terpicos, com fnalidade profltica, curativa, pa-
liativa ou para fns de diagnstico, passou a ser of-
cialmente reconhecido pela Organizao Mundial
da Sade (OMS) em 1978, durante a conferncia
em Alma-Ata (antiga URSS), onde foi estabelecida
uma declarao em consenso com a presena de
134 pases, 67 organismos internacionais e dezenas
de organizaes no governamentais. A proposta
era Sade para todos no ano 2000, onde um dos
principais pontos foi a incorporao das prticas
tradicionais, entre elas o uso de plantas medicinais,
nos cuidados da sade.
Poltica Nacional de Prticas Complementares e
Integrativas Plantas Medicinais e Fitoterapia
Resoluo Ciplan n 8 (08/03/1988). Implan-
tar a prtica de Fitoterapia nos Servios de Sade,
assim como orientar, atravs das Comisses Inte-
rinstitucionais de Sade (CIS), a incluso da Fito-
terapia nas Aes Integradas de Sade (AIS), e/ou
programao do Sistema Unifcado e Descentrali-
zado de Sade (SUDS), nas Unidades Federadas,
visando colaborar com a prtica ofcial da medicina
moderna, em carter complementar.
37
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Lei Municipal n 13.717 (08/01/2004). Dispe
sobre a implantao das Terapias Naturais na Secretaria
Municipal de Sade de So Paulo, e d outras providn-
cias (DOC de 09/01/2004).
Portaria MS/GM n 971 (03/5/2006). Aprova a Pol-
tica Nacional de Prticas Integrativas e Complementares
(PNPIC) no SUS (DOU de 04/05/2006).
Poltica de carter nacional que recomenda a adoo, pe-
las Secretarias de Sade dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municpios, da implantao e implementao das
aes e servios relativos s Prticas Integrativas e Com-
plementares.
Defne que os rgos e entidades do Ministrio da Sade,
cujas aes se relacionem com o tema, devem promover
a elaborao ou a readequao de seus planos, programas,
projetos e atividades, na conformidade das diretrizes e
responsabilidades estabelecidas.
reas contempladas: Plantas Medicinais e Fitoterapia,
Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa / Acupun-
tura, Termalismo Social / Crenoterapia.
Decreto Federal n 5.813 (22/06/2006). Aprova a
Poltica Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterpicos
(PNPMF) e cria Grupo de Trabalho Interministerial,
com participao da sociedade civil, para elaborao do
Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterpicos
Portaria Ministerial (DOU de 02/10/2006).
Objetivo geral - Garantir populao brasileira o
acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e
ftoterpicos, promovendo o uso sustentvel da biodi-
versidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da
indstria nacional.
Lei Estadual n 12.739 (01/11/2007). Cria o Pro-
grama Estadual de Fitoterpicos, Plantas Medicinais
e Aromticas (DOE de 02/11/2007).
Portaria MS/GM n 3.237 (24/12/2007). Aprova as nor-
mas de execuo e de financiamento da assistncia farmacu-
tica na ateno bsica em sade. Incluiu o guaco e a espinhei-
ra santa no financiamento federal (DOU de 26/12/2007).
Lei Municipal n 14.682 (30/01/2008). Institui, no
mbito do Municpio de So Paulo, o Programa Qualidade
de Vida com Medicinas Tradicionais e Prticas Integrativas
em Sade e d outras providncias. (DOC de 31/01/2008).
Decreto Municipal n 49.596 (11/06/2008).
Regulamenta a Lei n 14.682, de 30 de janeiro de 2008, que
institui, no mbito do Municpio de So Paulo, o Programa
Qualidade de Vida com Medicinas Tradicionais e Prticas
Integrativas em Sade (DOC de 12/06/2008).
Portaria MS/GM n 1.274 (25/06/2008). Institui Grupo
Executivo para o Programa Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterpicos (DOU de 26/06/2008).
Portaria Interministerial MS/GM n 2.960
(09/12/2008). Aprova o Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterpicos e cria o Comit Nacional de Plan-
tas Medicinais e Fitoterpicos (DOU de 10/12/08).
Lei Municipal n 14.903 (06/02/2009). Cria o Progra-
ma de Produo de Fitoterpicos e Plantas Medicinais no
Municpio de So Paulo e d outras providncias (DOC de
07/02/2009).
PortariaMS/GMn2.982(26/11/2009). Aprova as nor-
mas de execuo e de financiamento da Assistncia Farma-
cutica na Ateno Bsica. No Anexo II desta portaria consta
o Elenco de Referncia Nacional do Componente Bsico da
Assistncia Farmacutica, onde constam os medicamentos
fitoterpicos com aquisio pelos Municpios, Distrito Federal
e/ou Estados.(DOU de 01/12/2009).
PortariaMS/GMn886(20/04/2010). Institui a Farmcia
Viva no mbito do Sistema nico de Sade (SUS). (DOU de
22/04/10).
DecretoMunicipaln51.435(26/04/2010). Regulamen-
ta a Lei n 14.903/09, que institui o Programa de Produo de
Fitoterpiocs e Plantas Medicinais no Municpio de So Paulo
(DOC de 27/04/2010).
REGISTRO DE FITOTERPICOS INDUS-
TRIALIZADOS
ANVISA Resoluo RE n 90 (16/03/2004). De-
termina a publicao do Guia para a Realizao de Es-
tudos de Toxicidade Pr-Clnica de Fitoterpicos. rea
de atuao/mbito - Medicamentos/Fitoterpicos.
ANVISA Instruo Normativa n 05
(11/12/2008). Determina a publicao da Lista
de Medicamentos Fitoterpicos de Registro Simpli-
fcado junto ao Sistema de Vigilncia Sanitria. rea
de atuao/mbito Medicamentos/Fitoterpicos
(DOU de 12/12/08). Revoga o disposto na Resolu-
o RE n 89 (16/03/2004).
ANVISA Resoluo RDC n 95 (11/12/2008).
Regulamenta o texto de bula de medicamentos fto-
terpicos.
ANVISA Resoluo RDC n 14 (31/03/2010).
Dispe sobre o registro de medicamentos ftoter-
picos.
ANVISA - Instruo Normativa n5
(31/03/2010). Estabelece a Lista de Referncias
Bibliogrfcas para avaliao de Segurana e Efccia
de Medicamentos Fitoterpicos.
CHS ALIMENTCIOS
ANVISA Resoluo RDC n 277 (22/09/2005).
Aprova regulamento tcnico para caf, cevada, ch,
erva-mate e produtos solveis.
ANVISA Resoluo RDC n 267 (22/09/2005).
Aprova regulamento tcnico de espcies vegetais pa-
ra o preparo de chs.
ANVISA Resoluo RDC n 219 (22/12/2006).
Aprova a incluso do uso das espcies vegetais e
parte(s) de espcies vegetais para o preparo de chs
em complementao s espcies aprovadas pela
Resoluo Anvisa RDC n 267 (22/09/2005).
38
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
ANVISA Resoluo RDC n 278 (22/09/2005).
Aprova as categorias de alimentos e embalagens
dispensados com obrigatoriedade de registro.
ALIMENTOS FUNCIONAIS
ANVISA Resoluo RDC n 16 (30/04/1999).
Aprova o regulamento tcnico de procedimentos
para registro de alimentos e ou novos ingredientes.
ANVISA Resoluo RDC n 17 (30/04/1999).
Aprova o regulamento tcnico que estabelece as
diretrizes bsicas para avaliao de risco e segurana
dos alimentos.
ANVISA Resoluo RDC n 18 (30/04/1999).
Aprova o regulamento tcnico que estabelece as
diretrizes bsicas para anlise e comprovao de
propriedades funcionais e ou de sade alegadas
em rotulagem de alimentos.
ANVISA Resoluo RDC n 19 (30/04/1999).
Aprova o regulamento tcnico de procedimentos
para registro de alimento com alegao de proprie-
dades funcionais e ou de sade em sua rotulagem.
ANVISA IX Lista de alegaes de proprie-
dade funcional aprovadas. (Atualizado em ju-
lho/2008). Alimentos com alegaes de proprie-
dades funcionais e/ou de sade, novos alimentos/
ingredientes, substncias bioativas e probiticos.
DROGAS VEGETAIS DESTINADAS A
INFUSES OU DECOCES
ANVISA - Resoluo RDC n10 (09/03/2010).
Dispe sobre a notifcao de drogas vegetais
junto Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria,
considerando a necessidade de contribuir para a
construo do marco regulatrio para produo,
distribuio e uso de plantas medicinais,
particularmente sob a forma de drogas vegetais
(DOU de 10/03/2010).
#3
IDENTIFICAO
DAS PLANTAS E
NOMENCLATURA
BOTNICA
41
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#3
IDENTIFICAO
DAS PLANTAS E
NOMENCLATURA
BOTNICA
42
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
3.1 IMPORTNCIA DA
IDENTIFICAO CORRETA DAS PLANTAS
E NOMENCLATUR BOTNICA
Sumiko Honda
Algumas questes devem estar bem estabeleci-
das no trabalho com plantas medicinais, comeando
pelo diagnstico exato da doena, seguido pela iden-
tifcao correta da planta a ser utilizada, bem como
o conhecimento do seu preparo e uso adequados,
incluindo-se a verifcao do processamento recebi-
do pela planta, prazos de validade, etc., garantindo-se
assim a presena do desejado princpio ativo.
Embora as comunidades identifquem suas
plantas por meio de nomes reconhecidos na vizi-
nhana (nomes populares), e que devem ser respei-
tados, estes variam muito de acordo com a regio
e podem gerar erros quando ocorrem trocas de in-
formaes. freqente acontecer que plantas dife-
rentes recebam um mesmo nome ou nomes seme-
lhantes, e tambm a ocorrncia de nomes diferentes
para uma mesma planta.
As confuses com relao identifcao de plan-
tas podem trazer problemas como: no obteno
dos efeitos desejados, intoxicao por uso de planta
errada ou por uso incorreto, erro nos tratos culturais
(ou seja, cultivo das plantas de forma inadequada),
comrcio ou trocas de plantas erradas, podendo levar
perda de credibilidade no uso dessas plantas.
Dar nome s coisas e classifc-las resulta de
uma necessidade cultural que temos de tentar or-
ganizar a nossa compreenso do mundo. Assim, ele
nos fca mais familiar medida que reconhecemos
coisas semelhantes quilo que j conhecamos.
A Sistemtica a cincia que estuda a diversidade
biolgica e a sua histria evolutiva. A Taxonomia
o ramo da Sistemtica responsvel pela identifcao,
atribuio de nomes e classifcao das espcies.
Para a identifcao das espcies, os pesquisado-
res utilizam o nome cientfco, que no representa
apenas uma carteira de identifcao universal para
um organismo, mas tambm fornece pistas acerca
das relaes de um organismo com outro.
O nome cientfco universal, pois o mesmo
em qualquer lngua ou pas, e especfco, ou seja,
para cada espcie existe apenas um nome e vice-ver-
sa. Isso permite uma rpida localizao das informa-
es em livros ou revistas e sites, no mundo todo.
A publicao de Species Plantarum pelo naturalis-
ta sueco Lineu, em 1758, foi um marco no sistema
moderno de classifcao biolgica, estabelecendo o
sistema binomial (dois nomes) para a designao de
espcies, em vez da frase descritiva em latim, usada
anteriormente.
O nome cientfco, tanto de plantas como de
animais, composto por dois nomes (binmio),
seguidos do nome do autor (geralmente, escrito de
forma abreviada). Por exemplo, Melissa ofcinalis
L. a erva popularmente conhecida por melissa ou
erva-cidreira-verdadeira. O primeiro nome (Melissa)
o gnero, tambm chamado de nome genrico,
e deve ser iniciado com letra maiscula. O segundo
nome (ofcinalis) o epteto especfco, iniciado
com letra minscula. O nome do autor indica quem
foi o responsvel pela denominao e a classifcao
da espcie, no caso, L., abreviao de Lineu.
A citao do autor em seguida ao binmio no
obrigatria, mas, se for utilizada, deve acompanhar o
Cdigo de Nomenclatura Botnica.
O nome da espcie (Gnero + epteto especfco)
grafado em latim, e deve fcar em destaque no texto,
escrito em itlico, negrito ou sublinhado. Usa-se o
latim porque, na poca em que as regras foram esta-
belecidas, ele era a lngua dos estudiosos e do inter-
cmbio cientfco, como hoje o ingls.
Um autor, ao criar a combinao do nome cien-
tfco, pode destacar alguma caracterstica da planta,
prestar homenagens pessoais ou fazer referncia
localidade de origem ou ocorrncia da espcie. Por
exemplo, em Sambucus australis, o sabugueiro nativo
da regio sul do Brasil, Sambucus signifca cor ver-
melha, referente ao suco vermelho-escuro dos fru-
tos, e australis signifca austral, meridional, do sul;
no caso do gnero Bauhinia, das patas-de-vaca, pres-
tou-se homenagem aos irmos Jean e Gaspar Bauhin,
botnicos dos sculos XVI-XVII.
Cada espcie vegetal tem um espcime-tipo,
geralmente uma amostra seca da planta, mantida em
um herbrio ou museu. O espcime-tipo designado
pelo autor que descreve aquela espcie e serve
como um referencial para comparao com outros
espcimens, para determinar se estes pertencem ou
no mesma espcie.
Os primeiros sistemas de classifcao botnica
utilizaram algumas poucas caractersticas das
plantas, geralmente morfolgicas, como o hbito ou
as caractersticas de for, para agrup-las, resultando
em agrupamentos muitas vezes artifciais. Hoje,
possvel a anlise combinada de uma grande
quantidade de caracteres (morfolgicos, anatmicos
e qumicos, inclusive os genticos) e os sistemas de
classifcao buscam agrupar as espcies de acordo
com sua histria evolutiva (flogenia). Assim, os
sistemas tentam revelar o grau de parentesco
existente entre as espcies e, portanto, atualmente,
podemos considerar que a classifcao tem at
um carter preditivo, permitindo prognsticos de
caractersticas.
Num sistema de classifcao, cada nvel
hierrquico da organizao uma categoria
taxonmica ou txon. Espcie uma categoria
taxonmica e espcies assemelhadas fcam agrupadas
num gnero; os gneros parecidos compem
uma famlia botnica e vrias famlias aparentadas
constituem a ordem, e assim por diante.
O nome do gnero muitas vezes corresponde ao
nome popular, como o caso da melissa (Melissa),
da menta (Mentha) e dos eucaliptos (Eucalyptus).
O nome genrico pode ser escrito sozinho quando
se refere ao grupo inteiro de espcies que formam
aquele gnero. Eucalyptus um bom exemplo, pois
43
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
rene centenas de espcies que, quaisquer que
sejam, tm tantas caractersticas em comum que
levam qualquer pessoa a reconhec-las e a cham-
las de eucalipto. Quando se quer fazer referncia a
uma espcie ou a algumas espcies que pertencem
a um gnero, sem discrimin-las ou nomin-las,
aproveitando-se, ainda, o exemplo do Eucalyptus,
usa-se escrever, respectivamente: Eucalyptus sp. e
Eucalyptus spp.
O epteto especfco, no entanto, no tem sentido
quando escrito sozinho, por poder ser associado a
diferentes nomes genricos. Por exemplo, o epteto
especfco ofcinalis, que em latim signifca ofcial,
que se encontra nas farmcias por ser medicinal,
pode ser do alecrim (Rosmarinus ofcinalis), da
alfazema (Lavandula ofcinalis), da calndula
(Calendula ofcinalis), da melissa (Melissa ofcinalis)
ou da slvia (Salvia ofcinalis).
Para evitar confuses, o epteto especfco deve
sempre vir precedido do seu nome genrico. Em
textos onde o binmio for mencionado, permite-se
abrevi-lo a partir da segunda meno, utilizando-se
a letra inicial do gnero seguida do epteto especfco,
desde que no se deixe margem a dvidas sobre a
espcie em questo. Por exemplo: em um texto
sobre Cofea arabica (caf), voc pode abreviar como
C. arabica, a partir da segunda vez que for citar a
espcie.
Devido semelhana apresentada em vrias
de suas caractersticas, os gneros Rosmarinus,
Lavandula, Melissa, Mentha e Salvia foram
classifcados como pertencentes famlia botnica
Lamiaceae.
O eucalipto, a rosa e o caf pertencem,
respectivamente, s famlias Myrtaceae, Rosaceae e
Rubiaceae. Regras internacionais de nomenclatura
defnem as terminaes dos nomes de cada categoria
taxonmica supragenrica (acima do gnero),
tornando possvel reconhecer cada categoria pela
sua escrita. Assim, a terminao aceae refere-se
categoria famlia botnica, a terminao ales
refere-se ordem e assim por diante.
Devido consagrao de uso, para algumas
poucas famlias botnicas abre-se uma exceo e
admite-se o uso de nomes alternativos, igualmente
aceitos:
Apiaceae = Umbelliferae
Arecaceae = Palmae
Asteraceae = Compositae
Brassicaceae = Cruciferae
Clusiaceae = Gutiferae
Fabaceae = Leguminosae
Lamiaceae = Labiatae
Poaceae = Gramineae
Quanto especifcidade do nome cientfco, cabe
esclarecer que h situaes em que se depara com
mltiplos nomes cientfcos para uma determinada
planta, gerados pelas situaes a seguir descritas.
Para esses casos, princpios e regras internacionais de
nomenclatura ditam os critrios para se determinar o
nico nome cientfco vlido:
Nos casos em que se verifca que foram dados
nomes cientfcos diferentes para uma mesma
espcie, por autores diferentes que estudaram a
planta, fca valendo o nome publicado mais antigo
que classifque a planta corretamente, fcando os
demais nomes como sinnimos (apresentados
como sin.: neste trabalho). Exemplo: Plectranthus
barbatus Andrews tem como sinnimos os nomes
Coleus barbatus (Andrews) Benth. e Coleus forskohlii
(Willd.) Briq;
Em decorrncia do acmulo de informaes
e aumento do conhecimento, h casos em que
as plantas so reclassifcadas, com a conseqente
mudana de nome. Quando uma espcie muda de
gnero, o nome do autor do primeiro nome cientfco
deve ser citado entre parnteses, seguido pelo nome
do autor que fez a nova combinao. Exemplo:
Vernonia condensata Baker atualmente classifcada
como Vernonanthura condensata (Baker) H. Rob.
Hbridos so plantas resultantes do cruzamento
de espcies diferentes, do mesmo gnero ou at de
gneros distintos, e podem ter origem natural ou
induzida pelo homem. Os hbridos so indicados por
um x em seu nome. Exemplo: Mentha x villosa.
Espcie a categoria taxonmica bsica, mas, para
algumas espcies, podemos reconhecer categorias
ainda menores, chamadas de infra-especfcas, como,
por exemplo, a subespcie (subsp.) e a variedade (var.).
Os txons infra-especfcos tm nomes compostos
por trs palavras: acrescenta-se ao nome da espcie
a abreviatura da categoria, seguida do epteto
infra-especfco e da abreviao do nome do autor.
Exemplo: a couve-manteiga e o repolho pertencem
famlia Brassicaceae (Cruciferae), gnero Brassica,
sendo que ambas as hortalias so da espcie Brassica
oleracea L., porm so variedades diferentes. A couve-
manteiga Brassica oleracea L. var. acephala DC. e o
repolho Brassica oleracea L. var. capitata L.
O cultivar (contrao da expresso cultivated
variety) uma categoria taxonmica equivalente
variedade, ou at menor, mas dependente da
interveno humana para a sua perpetuao. O nome
pode ser escrito na lngua verncula e grafado entre
aspas e no em itlico, para ressalt-lo num texto,
apresentando ou no a abreviao cv. antes de sua
indicao. Exemplo: a couve-for brasileira criada para
as condies de vero quente do centro-sul a Brassica
oleracea var. botrytis cv. Piracicaba precoce ou apenas,
Brassica oleracea var. botrytis Piracicaba precoce.
3.2 - EXEMPLOS DE CONFUSES NO USO
DE NOMES POPULARES
Os nomes populares, comuns, vulgares ou
vernaculares so aqueles de uso local ou regional e
so importantes em trabalhos etnobotnicos por
fornecerem informaes sobre a utilizao popular
de uma espcie por uma determinada comunidade.
No entanto, trabalhos cientfcos de outras naturezas
no devem ser embasados nestes nomes.
44
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Exemplo 2:
BOLDO
Boldos so plantas cujas folhas so popularmente
utilizadas para problemas hepticos ou de indigesto.
importante reconhec-las e conhecer suas
propriedades quando se fzer uso delas por perodos
prolongados, pois, por exemplo, o boldo-do-chile
(Peumus boldus) possui componentes ativos com
efeitos colaterais.
Mostramos a importncia da individualizao de
cada espcie atravs de alguns exemplos de confuso
por uso de nomes populares na cidade de So Paulo.
Associamos os nomes cientfcos de cada espcie e suas
caractersticas aos diversos nomes pelos quais pode ser
conhecida popularmente.
Em outras regies, onde esto presentes e
disponveis outras plantas, pode haver outros exemplos
de confuses.
As fchas das plantas mencionadas deste item
constam do Anexo B: Plantas Medicinais Citadas
neste Trabalho.
Exemplo 1:
PATA-DE-VACA
Diversas espcies do gnero Bauhinia, da famlia
Fabaceae (Leguminosae), geralmente recebem o nome
popular de pata-de-vaca ou unha-de-vaca, devido ao
formato de suas folhas.
Freqentemente, observamos a seguinte troca de
informao: O ch das folhas da pata-de-vaca ajuda a
controlar a diabete. Mas cuidado, tem que usar as folhas
da rvore que d a for branca!.
Aparentemente, a informao tenta direcionar para
a escolha correta de uma planta, que seria a Bauhinia
forfcata Link, rvore nativa das bordas da Mata Atlntica
que produz fores brancas e pode ser reconhecida pela
presena de espinhos na base das folhas. Na cidade de
So Paulo, no entanto, a espcie mais freqente, por ser
utilizada na arborizao de logradouros, a Bauhinia
variegata L., rvore originria da ndia, que tem uma
variedade que produz fores lilases e outra que d fores
brancas, o alvo da confuso dos paulistanos.
Apesar das aes hipoglicemiante e antidiabtica
no terem sido comprovadas pelos testes realizados
pelo Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais da
Central de Medicamentos (PPPM-Ceme), Bauhinia
forfcata uma planta de uso tradicional.
Espcie: Bauhinia forfcata Link
Nomes populares: pata-de-vaca; unha-de-vaca;
baunia; capa-bode; casco-de-burro; ceroula-de-ho-
mem; pata-de-boi; pata-de-veado; p-de-boi; unha-
de-anta; unha-de-boi; unha-de-boi-de-espinho, mi-
ror, etc.
Nome cientfco: Peumus boldus Molina
Nomes populares: boldo-do-chile, boldo; boldo-
verdadeiro.
Caractersticas principais: rvore da famlia
Monimiaceae, originria do Chile, que atinge de
12 a 15 metros de altura. Suas folhas so duras,
oval-elpticas, de colorao cinzento-esverdeada e
salpicadas de pequenas proeminncias.
Esta planta no cultivada no Brasil, sendo que as
folhas para ch so importadas.
Nome cientfco: Vernonanthura condensata (Baker)
H. Rob. (sin.: Vernonia condensata Baker)
Nomes populares: estomalina, boldo-baiano;
Espcie: Bauhinia variegata L.
Nomes populares: pata-de-vaca; unha-de-vaca;
baunia; rvore-da-orqudia; casco-de-vaca, etc.
F
o
t
o
:
M
a
r
i
a
d
e
L
o
u
r
d
e
s
d
a
C
o
s
t
a
2
0
0
8
F
o
t
o
:
G
r
a
a
M
a
r
i
a
P
i
n
t
o
F
e
r
r
e
i
r
a
2
0
0
8
F
o
t
o
:
N
i
l
s
a
S
. Y
a
m
a
s
h
i
t
a
W
a
d
t
C
e
r
r
o
S
a
n
C
r
i
s
t
o
v
a
n
C
h
i
l
e
2
0
0
7
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
45
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Nome cientfco: Plectranthus neochilus Schltr.
Nomes populares: boldo-rasteiro, boldinho ou
boldo-gamb
Caractersticas principais: do mesmo gnero do
boldo-peludo (Plectranthus barbatus), uma erva ras-
teira de rpida propagao, com folhas acinzentadas,
suculentas e aromticas, e fores azuis-arroxeadas. Bas-
tante comum nos jardins, tambm usado popular-
mente para os mesmos fns.
Nome cientfco: Plectranthus barbatus Andrews
(sin.: Coleus barbatus (Andrews) Benth. e Coleus
forskohlii (Willd.) Briq.)
Nomes populares: boldo; boldo-peludo; boldo-da-
terra; falso-boldo; boldo-brasileiro; boldo-do-reino;
alum; boldo-nacional; boldo-do-brasil; malva-santa;
malva-amarga; sete-dores; boldo-do-jardim; folha-
de-oxal, etc.
Caractersticas principais: Arbusto da famlia
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
8
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
boldo-japons; boldo-chins; boldo-goiano; boldo-
de-gois; alum; aluman; aloma; luman; rvore-do-
pinguo; alcachofra; fgatil; heparm; cidreira-da-
mata; macelo; etc.
Caractersticas principais: Arbusto ou arvoreta
de 2 a 5 metros de altura, da famlia Asteraceae
(Compositae). Suas folhas tm textura membrancea,
margens serrilhadas e de 5 a 12 cm de comprimento,
com sabor amargo seguido de doce quando
mastigadas. Originria da frica, freqentemente
cultivada nos quintais.
Lamiaceae (Labiatae), de aproximadamente 2
metros de altura. Possui folhas suculentas, pilosas
e amargas, de margens denteadas e fores azul-
arroxeadas, arranjadas em inforescncias.
Originria provavelmente da ndia, est presente nos
jardins de quase todo o Brasil.
Exemplo 3:
ERVA-CIDREIR
Ervas-cidreiras so plantas aromticas, popularmente
utilizadas na forma de ch, como calmante e para
problemas digestivos. Os usos mencionados so
os mais disseminados, mas h diversos outros usos
possveis. Para tanto, deve-se ter conhecimento
individualizado das plantas, por se tratarem de
espcies de diferentes famlias botnicas, cada qual
com propriedades distintas.
Nome cientfco: Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
(sin.: Andropogon citratus DC.)
Nomes populares: capim-limo, capim-cidreira,
erva-cidreira, capim-santo, ch-de-estrada, capim-
cheiroso, capim-cidrilho, capim-de-cheiro, capim-ciri,
patchuli, grama-cidreira, capim-marinho, citronela-de-
java, cidr, capim-citronela, etc.
Caractersticas principais: da famlia Poaceae (Gra-
mineae), um capim originrio da sia. Forma toucei-
ras, tem rizoma curto e folhas fnas e longas. Muito cul-
tivada em quase todos os pases das regies tropicais.
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
Nome cientfco: Lippia alba (Mill.) N.E. Br.
Nomes populares: erva-cidreira, erva-cidreira-falsa,
erva-cidreira-brasileira, falsa-melissa, erva-cidreira-
de-arbusto, cidreira-carmelitana, ch-de-tabuleiro,
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
9
46
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
erva-cidreira-do-campo, ch-de-estrada, alecrim-do-
campo, cidro, cidreira, cidrila, cidreira-capim, cidreira-
crespa, cidreira-do-campo, cidreira-brava, alecrim-sel-
vagem, salva-limo, salva-brava, slvia, etc.
Caractersticas principais: da famlia Verbenaceae,
originria da Amrica do Sul e cresce espontaneamente
em quase todo o territrio brasileiro. um arbusto, s
vezes com ramos pendentes, folhas speras e ovaladas,
com margens serreadas. Apresenta inforescncias na
base das folhas, de cor lils.
Exemplo 4:
ARNICA
Vrias plantas utilizadas externamente para aliviar trauma-
tismos e contuses so chamadas popularmente de arnica.
A verdadeira arnica, de origem europia, rara no Brasil,
mas outras plantas comuns em quintais e pastos so cha-
madas tambm de arnica e usadas para o mesmo fm.
Nome cientfco: Melissa ofcinalis L.
Nomes populares: melissa, erva-cidreira, cidreira,
erva-cidreira-verdadeira, cidrilha, melitia, ch-da-
frana, limonete, citronela-menor, melissa-romana,
erva-lusa, salva-do-brasil, ch-de-tabuleiro, etc..
Caractersticas principais: da famlia Lamiaceae
(Labiatae), originria da Europa, freqentemente
cultivada em nossos jardins. uma erva de 30 cm de
altura, com folhas membranceas, ovaladas, rugosas,
de margens serradas.
Nome cientfco: Arnica montana L.
Nomes populares: arnica e arnica-da- montanha.
Caractersticas principais: Originria de regies
montanhosas do norte da Europa, a verdadeira arnica
uma planta herbcea de 20 a 60 cm de altura, sem caule,
fores amarelas reunidas em captulos e pertencente
famlia Asteraceae (Compositae). As partes utilizadas
so as fores e o rizoma.
Nome cientfco: Solidago chinensis Meyen (sin.: So-
lidago microglossa DC. var. linearifolia (DC.) Baker)
Nomes populares: arnica-do-campo, arnica, arnica-
brasileira, sap-macho, erva-lanceta, erva-de-lagarto,
espiga-de-ouro, macela-mida, rabo-de-rojo, etc.
Caractersticas principais: Tambm pertencente
famlia Asteraceae (Compositae), uma erva nativa,
encontrada em todo o pas, com mais freqncia nas
regies Sul e Sudeste. Tem o hbito sublenhoso e
crescimento vigoroso, com at 1,20 m de altura. Suas
folhas so lanceoladas, ssseis e speras. Apresenta
inforescncias escorpiides, amarelas, vistosas, reu-
nidas na extremidade dos ramos, atrativas s abelhas.
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
8
Fonte: LORENZI, H.; MATOSF.J.A. PlantasmedicinaisnoBrasil: nativas e
exticas. 2.ed. NovaOdessa, SP: Plantarum, 2008; p.157
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
Alm dessas ervas-cidreiras, mais freqentemente
cultivadas, ocorrem no Estado de So Paulo plantas
lenhosas (arbustos ou rvores) que tambm recebem
o nome popular de erva-cidreira, alm de outros no-
mes. Apresentam folhas com odor de limo e so utili-
zadas regionalmente na medicina popular:
erva-cidreira-do-mato Siparuna brasiliensis (Spreng.)
A.DC. (sin.: Siparuna apiosyce, Citrosma apiosyce) da
famlia Siparunaceae (anteriormente, Monimiaceae);
erva-cidreira-dos-campos Siparuna guianensis
Aubl. (sin.: Siparuna camporum, Citrosma campora),
mais conhecida como capiti e com diversos usos,
principalmente na regio Norte;
erva-cidreira, cidro, erva-cidreira-do-mato -
Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq. da famlia
Chloranthaceae, tem as folhas utilizadas externamente
contra dor de cabea;
erva-cidreira - Aloysia citriodora Palau, da famlia
Verbenaceae.
47
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Nome cientfco: Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.
Nomes populares: arnica-do-mato, arnica, arnica-pau-
lista, couve-marinho, couvinha, erva-couvinha, erva-
fresca, couve-cravinho, cravorana, cravo-de-urubu, etc.
Caractersticas principais: Planta nativa do Brasil,
freqente na regio sudeste e pertence famlia Aste-
raceae (Compositae).
uma erva anual bastante ramifcada, com at 1,20 m
de altura. Possui folhas membranceas, elpticas, de
cor cinza-azulada, margem crenada e aromticas
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
Exemplo 5:
ERVA-DE-SO-JOO
Diversas plantas carregam a cultura do local de origem
em seu nome popular. Deve-se reconhecer as vrias
ervas-de-so-joo por serem plantas com origens e
principalmente aes e formas de usos diferentes.
Nome cientfco: Pyrostegia venusta (Ker Gawl.)
Miers.
Nomes populares: cip-de-so-joo; for-de-so-
joo.
Caractersticas principais: trepadeira lenhosa
da famlia Bignoniaceae, de ampla distribuio no
Brasil, com exceo do Norte.
Nos meses de junho a julho, apresenta vistosas
fores alaranjadas, comum em beira de estradas.
F
o
t
o
:
S
i
m
o
n
e
J
u
s
t
a
m
a
n
t
e
D
e
S
o
r
d
i
2
0
0
8
Fonte: LORENZI, H.; MATOS F.J.A. Plantas medicinais no Brasil:nativas
e exticas. 2.ed. Nova Odessa, SP: Plantarum, 2008.
Nome cientfco: Ageratum conyzoides L.
Nomes populares: mentrasto; erva-de-so-joo;
pico-roxo; catinga-de-bode; erva-de-so-jos; erva-
de-santa-lcia; camar-opela; mentraste; catinga-de-
baro; caclia-menstrasto; cria; maria-preta, etc.
Caractersticas principais: Asteraceae (Compositae)
originria da Amrica do Sul, especialmente do
Brasil, uma erva anual, comum em hortas, lavouras,
pomares, etc.
Com odor caracterstico, bem ramifcada e pilosa,
cresce at um metro e pode apresentar fores roxas,
lilases ou brancas.
Fonte: LORENZI, H.; MATOS F.J.A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e
exticas. 2.ed. Nova Odessa, SP: Plantarum, 2008; p.297
Nome cientfco: Hypericum perforatum L.
Nomes populares: hiprico, erva-de-so-joo.
Caractersticas principais: Planta subarbustiva,
48
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
mente Mxico e Antilhas, onde j era utilizada pelos
indgenas. Erva anual de at um metro de altura, bas-
tante ramosa, de cheiro forte e caracterstico
Nome cientfco: Artemisia vulgaris L.
Nomes populares: losna-brava; erva-de-so-joo;
artemgio; for-de-so-joo; artemsia-comum;
artemsia-verdadeira; artemsia-vulgar; artemigem;
artemija; artemige; losna; anador; absinto-selvagem;
absinto; isopo-santo, etc.
Caractersticas principais: Asteraceae
(Compositae), disseminada pela sia Central,
Europa, norte da frica e aclimatada no resto
do mundo, inclusive no Brasil, com exceo da
Amaznia, considerada invasora de terrenos
cultivados. Erva anual de at 1,20 m de altura, com
folhas profundamente divididas, de cor verde na face
de cima e prateada em baixo, sabor amargo e odor
caracterstico.
Nome cientfco: Chenopodium ambrosioides L.
Nomes populares: nas regies Sul e Sudeste: erva-
de-santa-maria ou mastruo; no Nordeste: mastruo,
mastruz ou mentruz. Outros nomes: menfrei, men-
truo, mentrasto, mentrusto, erva-do-formigueiro,
erva-formigueira, erva-vomiqueira, cacica, mata-
cobra, canudo, anserina-vermfuga, erva-das-cobras,
erva-das-lombrigas, erva-santa, lombrigueira, erva-
mata-pulgas, erva-pomba-rota, cravinho-do-campo,
erva-ambrsia, ambrsia, ambrisina, cambrsia,
ambrsia-do-mxico, apazote, ch-do-mxico, ch-
dos-jesutas, pacote, quenopdio, etc.
Caractersticas principais: Recentemente reclassi-
fcada como Amaranthaceae (antiga, Chenopodiace-
ae), nativa das Amricas Central e do Sul, principal-
Nome cientfco: Coronopus didymus (L.) Sm.
Nomes populares: mentruz, mastruo, mentruz-
rasteiro, mastruz-mido, mastruo-dos-ndios, erva-
de-santa-maria, erva-formigueira, etc.
Caractersticas principais: Erva anual, da famlia
Brassicaceae (Cruciferae), nativa da Amrica do Sul,
incluindo o sudeste brasileiro. Possui caule ramifcado
e prostrado, de 20 a 35 cm de comprimento. As folhas
so profundamente divididas, de sabor ardido e cheiro
de agrio. Seus frutos esfricos so caractersticos. F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
.
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
htp://picasaweb.google.com/monitoriaftoPlanta
Medicinais#5223801783427634578
Exemplo 6:
MENTRUZ, MENTRSTO E MASTRUO
So variaes de denominaes populares dadas a di-
versas plantas de ocorrncia espontnea, em terrenos
cultivados ou baldios.
Entre elas, uma bastante comum a Ageratum
conyzoides, apresentada como erva-de-so-joo ou
mentrasto no exemplo anterior.
originria da Europa, ainda de cultivo raro no Brasil.
Tem cerca de um metro de altura, fores amarelas e
folhas com pontos translcidos quando vista contra a
luz. Atualmente pertence famlia Hypericaceae, mas
j foi classifcada como Clusiaceae (Gutiferae).
L
O
R
E
N
Z
I
, H
.;
M
A
T
O
S
F
.J
.
A
. P
l
a
n
t
a
s
m
e
d
i
c
i
n
a
i
s
n
o
B
r
a
s
i
l
:
n
a
t
i
v
a
s
e
e
x
t
i
c
a
s
. 2
.e
d
. N
o
v
a
O
d
e
s
s
a
, S
P
:
P
l
a
n
t
a
r
u
m
, 2
0
0
8
;
p
.4
9
#4
PLANTAS TXICAS
51
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#4
PLANTAS TXICAS
52
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
4 PLANTAS TXICAS: CONCEITO,
IDENTIFICAO, PRINCPIO ATIVO,
PRINCIPAIS INTOXICAES.
Sonia Aparecida Dantas Barcia
INTRODUO
As intoxicaes por plantas no so as mais
freqentes entre os casos atendidos pelo Centro
de Controle de Intoxicaes do Municpio de So
Paulo CCISP. Elas representam cerca de 1,5%
dos atendimentos e aproximadamente 70% destes
ocorreram com crianas menores de 14 anos.
Alguns casos ocorreram com a exposio a
plantas medicinais ou a ftofrmacos, ou seja, a idia
de que planta medicinal no faz mal errada: seu uso
de forma incorreta pode causar agravos de sade,
provocar doenas e levar a abortos e a intoxicaes
graves, tanto no uso crnico como no agudo.
Os diagnsticos das intoxicaes de crianas
por plantas so efetuados a partir do relato de
parentes ou acompanhantes que referem o fato de
t-las visto brincando com plantas ou colocando-
as na boca. Nos casos em que no existe referncia
ao contato com plantas, o diagnstico pode passar
totalmente despercebido, visto que as intoxicaes
por plantas apresentam principalmente distrbios
gastrintestinais que podem ser diagnosticados como
uma simples infeco viral ou uma gastrenterite
aguda. O que preocupa, nessas exposies, so outros
efeitos sistmicos, tais como alteraes hepticas,
renais e cardacas, que podem ocorrer e no serem
devidamente diagnosticadas, causando seqelas.
Quando relatado o contato com uma planta,
fundamental a sua identifcao. Para isso,
necessrio que a planta, ou parte dela, seja levada
ao servio de sade e tenha pores de caule, folhas,
fores e, se possvel, frutos. A identifcao, na medida
do possvel, deve ser realizada por profssionais dos
herbrios (Departamento de Botnica do Instituto
de Biocincias USP, Instituto de Botnica no
Jardim Botnico, ou Herbrio Municipal de So
Paulo, no Parque do Ibirapuera).
Muitas vezes, apesar da identifcao,
continuamos num caminho escuro, pois muitas
plantas da fora nacional e outras a ela incorporadas
no possuem estudos quanto a seus efeitos txicos
e a maioria dos dados de intoxicaes foi obtido
de casos de animais intoxicados por plantas. Com
a experincia adquirida pela equipe do CCISP,
sabemos que os principais sintomas, aps a ingesto
de plantas, so gastrintestinais e podem ocorrer com
perodo de latncia de at 24 horas.
Grupos de plantas txicas comuns na regio da
Grande So Paulo
4.1 - Plantas que contm cristais de oxalato de
clcio
As mais importantes pertencem famlia Araceae.
Muito apreciadas e cultivadas em nosso meio, so
todas ricas em rfdes de oxalato de clcio que, ao se
fxar nos tecidos, provocam dor e edema. Destacam-
se as plantas:
comigo-ningum-pode (Diefenbachia spp.)
banana-de-macaco (Monstera deliciosa)
jibia (Philodendron hederaceum)
costela-de-ado (Philodendron bipinnatifdum)
orelha-de-elefante (Philodendron domesticum)
jibia-dourada (Rhaphidophora aurea)
chefera (Schefera actinophylla e S. arboricola)
lrio-da-paz (Spathiphyllum wallisii)
inhame-bravo (Xanthosoma violaceum)
copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica)
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
8
Monstera deliciosa
Spathiphyllum wallisii
Anthurium sp.
53
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Tratamento: No caso de ingesto, remover
os resduos da planta sem provocar vmitos e
encaminhar o paciente ao hospital mais prximo,
onde a equipe de profssionais de sade iniciar as
medidas de urgncia para o restabelecimento das
funes vitais. Em caso de contato com a pele, lavar
com gua corrente e sabo neutro, sem esfregar
com fora, e em seguida usar hidratante. Em caso
de contato com a mucosa ocular, lavar com gua
corrente ou soro fsiolgico por aproximadamente 10
minutos e encaminhar o paciente ao ofalmologista
para avaliar a leso e ministrar o tratamento adequado
F
o
t
o
:
A
d
o
L
u
i
z
C
.
M
a
r
t
i
n
s
2
0
0
6
F
o
t
o
:
A
d
o
L
u
i
z
C
.
M
a
r
t
i
n
s
2
0
0
6
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
8
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
8
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
9
Monstera deliciosa
Spathiphyllum wallisii
Schefera arboricola
Philodendron sp.
Caladium sp.
Philodendron sp. Zantedeschia aethiopica
Diefenbachia amoena
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
8
Schefera actinophylla
4.2 - Plantas que contm glicosdeos
cianognicos
So plantas que tm em suas folhas, caule,
razes, frutos e sementes substncias capazes de
liberar o radical cianeto (CN
-
) quando em contato
com o cido clordrico presente no estmago.
O radical (CN
-
) inibe a respirao intracelular,
diminuindo a utilizao do oxignio e provocando,
conseqentemente, a morte celular. Alguns
exemplos desse grupo:
mandioca-brava (Manihot esculenta)
hortnsia (Hydrangea macrophylla)
54
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
podemos encontr-la em algumas regies onde
esteja adaptada. Alm desta temos:
espirradeira (Nerium oleander)
chapu-de-napoleo (Tevetia peruviana)
ofcial-de-sala (Asclepias curassavica)
sabugueiro (Sambucus spp.)
pssego (Prunus persica)
amndoa (Prunus dulcis)
cereja (Prunus cerasus)
abric (Prunus americana)
Tratamento: Encaminhar o paciente com urgncia ao
hospital mais prximo, onde a equipe de profssionais
de sade administrar o antdoto e iniciar as medidas
de urgncia para eliminao dos restos da planta e o
restabelecimento das funes vitais, sendo muitas
vezes necessria a internao em unidade de terapia
intensiva. Quanto mais precoce o atendimento,
maiores so as chances de sobrevida do paciente
Hydrangea macrophylla
F
o
t
o
:
A
d
o
L
u
i
z
C
.
M
a
r
t
i
n
s
2
0
0
6
4.3 - Plantas que contm toxalbuminas
So plantas que apresentam as lectinas ou
toxalbuminas em todas as suas partes, com maior
concentrao nas sementes. Estas substncias ligam-
se s clulas da mucosa gastrintestinal e levam
morte celular. As espcies mais conhecidas so:
mamona (Ricinus communis)
pinho-paraguaio (Jatropha curcas)
jequiriti (Abrus precatorius)
Tratamento: Encaminhar o paciente
imediatamente ao hospital mais prximo, para
Ricinus communis
Jatropha sp.
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
F
o
t
o
:
N
i
l
s
a
S
.
Y
a
m
a
s
h
i
t
a
W
a
d
t
2
0
0
9
F
o
t
o
:
N
i
l
s
a
S
.
Y
a
m
a
s
h
i
t
a
W
a
d
t
2
0
0
9
F
o
t
o
:
S
i
m
o
n
e
J
u
s
t
a
m
a
n
t
e
D
e
S
o
r
d
i
2
0
0
8
que a equipe de profssionais de sade inicie a
eliminao dos restos da planta e o restabelecimento
das funes vitais, principalmente corrigindo os
distrbios hidroeletrolticos.
4.4 - Plantas que contm substncias
cardioativas
So plantas que apresentam glicosdeos
cardiotnicos ou graianotoxinas em suas partes.
Estas substncias agem sobre a musculatura
cardaca, aumentando o nmero e a intensidade
das contraes cardacas. A Digitalis purpurea
a espcie mais antiga conhecida, da qual se
extraem a digoxina e digitoxina utilizadas como
medicamentos. de origem europia, mas
Nerium oleander
Asclepias curassavica
Tratamento: Encaminhar o paciente imediata-
mente ao hospital mais prximo, para que a equipe
de profssionais de sade inicie a retirada dos re-
sduos da planta e realize os procedimentos perti-
55
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
4.5 - Plantas que contm alcalides tropnicos
ou beladonados
Estas plantas contm, em todas as suas partes,
substncias capazes de agir nos receptores do sistema
nervoso. As principais espcies da regio sudeste so:
saia-branca ou trombeteira (Brugmansia
suaveolens = Datura suaveolens)
fgueira-do-inferno (Datura stramonium)
Tratamento: Encaminhar o paciente imediatamente
ao hospital mais prximo, para que a equipe de
profssionais de sade inicie a retirada de resduos da
planta e os procedimentos de urgncia pertinentes
para o restabelecimento das funes vitais.
4.6 - Plantas que contm steres diterpnicos
O ltex ou exsudato destas plantas possuem
substncias extremamente custicas que levam a
leses locais. Existem vrias espcies do gnero
Euphorbia que apresentam os steres diterpnicos,
sendo as mais comuns:
rabo-de-arara, poinstia (Euphorbia pulcherrima)
coroa-de-cristo (Euphorbia milii)
Tratamento: Em caso de contato com a pele, lavar
com gua corrente e sabo neutro, se possvel, para a
retirada do ltex que fcou aderido ao local. Em caso de
contato com a mucosa ocular, lavar em gua corrente
ou com soluo fsiolgica por aproximadamente 10
minutos, e em seguida encaminhar ao ofalmologista
para avaliao da leso e procedimentos cabveis. Em
caso de ingesto, encaminhar o paciente ao hospital
mais prximo, para que a equipe de profssionais
de sade inicie os procedimentos de urgncia
necessrios ao restabelecimento das funes vitais.
F
o
t
o
:
N
i
l
s
a
S
.
Y
a
m
a
s
h
i
t
a
W
a
d
t
2
0
0
9
F
o
n
t
e
:
L
O
R
E
N
Z
I
,
H
.
;
M
A
T
O
S
F
.
J
.
A
.
P
l
a
n
t
a
s
m
e
d
i
c
i
n
a
i
s
n
o
B
r
a
s
i
l
:
n
a
t
i
v
a
s
e
e
x
t
i
c
a
s
.
2
.e
d
.
N
o
v
a
O
d
e
s
s
a
,
S
P
;
p
.
4
2
5
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
8
nentes para o restabelecimento das funes vitais.
Em alguns casos necessria a internao em uni-
dade de terapia intensiva.
Datura sp.
Brugmansia sp.
Tevetia peruviana Brugmansia sp.
Digitalis purpurea
Euphorbia pulcherrima
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
56
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
por aproximadamente 10 minutos, e em seguida
encaminhar ao ofalmologista para avaliao
da leso e procedimentos cabveis. Em caso de
ingesto, encaminhar o paciente ao hospital mais
prximo para que a equipe de profssionais de sade
inicie os procedimentos de urgncia necessrios ao
restabelecimento das funes vitais.
4.8 - Plantas que apresentam alcalides
amarilidceos
So plantas das famlias Liliaceae (sensu latu) e
Amaryllidaceae (sensu latu), muito cultivadas por
sua beleza e que possuem bulbos germinativos
com grande quantidade de substncias custicas,
entre elas os alcalides amarilidceos, que podem
4.7 - Plantas que contm saponinas e
compostos poliacetilnicos
So plantas que apresentam em seu exsudato/
ltex substncias com capacidade de irritar o local
de contato, desencadeando leses ou processos
alrgicos. As espcies mais comuns so:
hera-terrestre (Hedera helix)
hera-canadense (Hedera canariensis var.variegata)
unha-de-gato (Ficus pumila)
espada-de-so-jorge (Sansevieria trifasciata)
espada-de-santa-brbara (Sansevieria trifasciata
var. laurentii)
espadinha-rani, roseta-de-so-jorge (Sansevieria
trifasciata Hahnii)
Sansevieria sp.
Ficus pumila
Hedera sp.
Ficus pumila - detalhe
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
9
Euphorbia milii
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
9
Tratamento: Em caso de contato com a pele, lavar
com gua corrente e sabo neutro, se possvel,
para a retirada do ltex que fcou aderido ao local.
Em caso de contato com a mucosa ocular, lavar
em gua corrente ou com soluo fsiolgica
57
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Tratamento: No caso de ingesto de grande
quantidade de uma s vez, encaminhar o paciente
ao hospital mais prximo para que a equipe de
profssionais de sade possa iniciar os procedimentos
de urgncia cabveis. Em caso de ingesto crnica,
deve ser feita uma avaliao das funes hepticas e
acompanhamento devido ao risco do aparecimento
de tumor heptico ou cirrose heptica.
4.10 - Plantas que apresentam triterpenos
txicos
So representadas pelo gnero Lantana, nas
quais se encontram os lantadienos em todas as
partes da planta, responsveis pela alterao das
funes hepticas na intoxicao aguda e por
fotossensibilizao na exposio crnica. Principal
espcie txica: lantana ou cambarazinho (Lantana
camara).
4.9 Plantas que contm alcalides
pirrolizidnicos
So plantas que, devido presena dos alcalides
pirrolizidnicos em suas partes, podem levar a uma
leso crnica do fgado, irreversvel, cujo nico
tratamento efcaz o transplante. Alguns de seus
representantes:
for-das-almas (Senecio brasiliensis)
cinerria (Senecio cruentus)
confrei (Symphytum ofcinale)
levar, quando ingeridos, degenerao heptica.
Alguns exemplos: lrio-amarelo ou lrio comum
(Hemerocallis spp.), lrio-branco ou lrio-de-defunto
(Lilium spp.) e clvia (Clivia spp.).
Liliaceae - Hemerocallis sp.
Symphytum ofcinale
Lantana camara
Senecio sp.
Tratamento: Em caso de contato com a pele, lavar
com gua corrente e sabo neutro, se possvel, para a
retirada do ltex que fcou aderido ao local. Em caso de
contato com a mucosa ocular, lavar em gua corrente
ou com soluo fsiolgica por aproximadamente 10
minutos, e em seguida encaminhar ao ofalmologista
para avaliao da leso e procedimentos cabveis. Em
caso de ingesto, encaminhar o paciente ao hospital
mais prximo para que a equipe de profssionais
de sade inicie os procedimentos de urgncia
necessrios ao restabelecimento das funes vitais.
F
o
t
o
:
N
i
l
s
a
S
.
Y
a
m
a
s
h
i
t
a
W
a
d
t
2
0
0
9F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
8
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
Tratamento: Encaminhar o paciente ao hospital
mais prximo para que a equipe de profssionais de
sade possa iniciar os procedimentos de urgncia
cabveis para a manuteno das funes vitais.
4.11- Plantas que contm citisina
A giesta (Spartium junceum) a mais importante
das plantas que apresentam citisina em suas partes.
58
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Quando ingerida, a citisina age de modo semelhante
nicotina, estimulando os msculos, principalmente
os respiratrios, que depois de certo perodo entram
em estado de fadiga e levam parada respiratria.
Tratamento: Encaminhar o paciente imediatamente
ao hospital mais prximo para que a equipe de pro-
fssionais de sade possa iniciar os procedimentos de
urgncia cabveis para o restabelecimento das funes
vitais. Em alguns casos, necessria a entubao oro-
traquial e a internao em unidade de terapia intensiva.
INGESTO DE PLANTA DESCONHECIDA
Nos casos em que ocorre a ingesto de planta
desconhecida, encaminhar o paciente ao hospital
mais prximo para que a equipe de profssionais de
sade possa realizar os procedimentos de urgncia
necessrios. Se possvel, encaminhar junto ao
paciente uma amostra ou restos da planta ingerida,
para ser feita uma identifcao posterior por
profssional capacitado. Caso no se saiba qual foi
a planta ingerida, pensar naquelas mais incidentes
na regio e que possam levar ao quadro clnico
apresentado pelo paciente.
HOSPITAIS DE REFERNCIA NA GRNDE
SO PAULO
Hospital Municipal Dr. Artur Ribeiro de
Sabia
Centro de Controle de Intoxicaes do
Municpio de So Paulo (CCISP) Jabaquara.
Rua Francisco Paula Quintanilha Ribeiro, 860
So Paulo CEP: 04330-020
Telefones: (0xx11) 5012-5311 / 0800-771-3733
E-mail: smscci@prefeitura.sp.gov.br
Hospital das Clnicas da Universidade de So
Paulo (HC-USP)
Centro de Assistncia Toxicolgica (Ceatox)
Instituto da Criana SP.
Av. Dr. Enas de Carvalho Aguiar, 647/3 andar
So Paulo CEP 05403-900
Telefones: (0xx11) 3069.8800 e 3069-8571 /
0800-014-8110
E-mail: ceatox@icr.usp.br
PREVENO DAS INTOXICAES POR
PLANTAS ORNAMENTAIS
Muitas plantas que se encontram em jardins,
terrenos baldios, parques e logradouros pblicos
podem oferecer risco nossa sade e dos
animais. Devemos, portanto, tomar alguns
cuidados, tais como:
evite levar plantas txicas ou desconhecidas
para sua casa, local de lazer ou trabalho ou onde se
encontram crianas por longos perodos;
evite plantas ornamentais com fores, sementes
ou frutos atraentes, com espinhos ou grandes
quantidade de exsudato (ltex), principalmente em
local de permanncia de crianas;
procure ter conhecimento da toxicidade das
plantas e do local onde se encontram (proximidades
de sua casa, escola, local de trabalho, de lazer, etc.);
no deixe plantas prximas s crianas,
principalmente em locais de refeies e de lazer;
no coma frutos ou plantas desconhecidas e no
as deixe ao alcance de crianas;
oriente e eduque as crianas e alunos a no mexer
nas plantas e, principalmente, a no lev-las boca;
proteja as plantas das crianas e as crianas das
plantas;
a principal medida de preveno evitar a
presena dessas plantas em local de circulao
pblica e, principalmente, em reas de lazer.
RESUMO DOS EFEITOS TXICOS
CAUSADOS PELAS PLANTAS
Plantas com ao fsica/fsico-qumica irritante,
incluindo-se as que apresentam espinhos, plos
rgidos ou bordas serrilhadas/denteadas coriceas:
babosas (Aloe spp.), agaves (Agave spp.), azevinho
(Ilex sp.), coroa-de-cristo (Euphorbia milii), for-de-
maio e for-de-outubro, que podem ser espcies do
gnero Schlumbergera, urtigas (Urera spp. e Urtica
spp.), etc.
Plantas com ao irritante por cristais de oxalato
de clcio: comigo-ningum-pode (Diefenbachia
spp.), banana-de-macaco (Monstera deliciosa),
Spartium junceum
F
o
n
t
e
:
L
O
R
E
N
Z
I
,
H
.
;
S
O
U
Z
A
,
H
.
M
.
P
l
a
n
t
a
s
o
r
n
a
m
e
n
t
a
i
s
n
o
B
r
a
s
i
l
:
a
r
b
u
s
t
i
v
a
s
,
h
e
r
b
c
e
a
s
e
t
r
e
p
a
d
e
i
r
a
s
.
3
.
e
d
.
S
o
P
a
u
l
o
:
P
l
a
n
t
a
r
u
m
,
2
0
0
1
.
p
.
6
3
9
.
59
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
jibia (Philodendron hederaceum), costela-de-ado
(Philodendron bipinnatifdum), jibia-dourada
(Rhaphidophora aurea), chefera (Schefera
actinophylla), lrio-da-paz (Spathiphyllum wallisii),
inhame-bravo (Xanthosoma violaceum), copo-de-
leite (Zantedeschia aethiopica), etc.
Plantas que produzem efeito irritante por ao
qumica. Incluem-se neste grupo as plantas que
tm seiva/ltex, ou seja, exsudatos: coroa-de-
cristo (Euphorbia milii), rabo-de-arara (Euphorbia
pulcherrima), lrios (Lilium spp.), lrios-amarelos
(Hemerocallis spp.), lrio-do-vale (Convallaria sp.),
fgueiras (Ficus spp.), etc.
Plantas que produzem efeitos sensibilizantes:
fgueiras (Ficus spp.), aroeiras (Lithraea spp.),
aroeiras-bravas (Schinus spp.), prmulas (Primula
spp.), ips (Tabebuia spp.); e fotossensibilizantes:
cambar (Lantana camara), etc.
Plantas que produzem distrbios cardacos:
azalias (Rhododendron spp.), espirradeira (Nerium
oleander), chapu-de-napoleo (Tevethia peruviana),
ofcial-de-sala (Asclepias curassavica), etc.
Plantas que produzem distrbios neurolgicos:
saia-branca (Brugmansia suaveolens), fgueira-do-
inferno (Datura stramonium), hortnsia (Hydrangea
macrophylla), mandioca-brava (Manihot esculenta),
sementes de pssego (Prunus persica), cereja
(Prunus cerasus), nspera (Eriobotrya japonica),
abric (Prunus americana), dama-da-noite (Cestrum
nocturnum), dormideira (Mimosa pudica), etc.
Plantas que produzem efeitos gastrintestinais
graves: mamona (Ricinus communis), pinho-
paraguaio (Jatropha curcas), jequiriti (Abrus
precatorius), alamanda (Allamanda cathartica),
maria-pretinha (Solanum americanum), arrebenta-
cavalo (Solanum aculeatissimum), jo (Solanum
sisymbrifolium), etc.
F
o
t
o
:
P
e
d
r
o
H
e
n
r
i
q
u
e
N
.
d
a
C
u
n
h
a
2
0
1
0
#05
PLANTAS MEDICINAIS E
ABORDAgEM DA MEDICINA
TRADICIONAL CHINESA
61
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#05
PLANTAS MEDICINAIS E
ABORDAgEM DA MEDICINA
TRADICIONAL CHINESA
62
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
5 PLANTAS MEDICINAIS NA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DA SADE DE SO
PAULO E INTRODUO ABORDAGEM
DA MEDICINA TRDICIONAL CHINESA.
Dr. Mrio Sebastio Fiel Cabral
Plantas medicinais na Secretaria Municipal da Sade
A Secretaria Municipal da Sade de So Paulo
(SMS) possui atualmente um dos maiores programas
pblicos do Ocidente de incorporao das Medicinas
Tradicionais (MTs) que vem servindo de modelo para
a incorporao de tais prticas em vrios municpios
no Brasil. Juntamente com as Medicinas Tradicionais,
a SMS tambm desenvolve esforo de incorporao
das Prticas Integrativas em Sade, com destaque para
a Homeopatia, Alimentao Saudvel e Uso de Plantas
Medicinais.
Estas abordagens vm trazendo importantes
contribuies para o Sistema nico de Sade SUS,
quais sejam: aes efetivas de promoo de sade no
mbito das condies crnicas; resgate e valorizao
de conhecimentos tradicionais de sade, inclusive da
cultura tradicional brasileira com razes indgenas e
afro-brasileira; nfase na responsabilidade individual
quanto ao cuidado da prpria sade; reforo de laos
de cooperao entre os participantes das atividades
grupais; disseminao de valores da cultura da paz
implcita nas abordagens tradicionais; participao
e envolvimento dos trabalhadores da sade no
desenvolvimento e consolidao do projeto.
No Municpio de So Paulo esto acontecendo
alguns movimentos importantes no sentido da
construo de uma poltica no mbito das plantas
medicinais. Algumas iniciativas j ocorrem h
bastante tempo, principalmente na Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, bem como
nas Coordenadorias Regionais de Sade e outras
instncias da SMS, como o caso da Superviso
Tcnica de Sade de So Mateus, onde, em parceria
com a subprefeitura, foram criados um horto de
plantas medicinais e vrias hortas comunitrias e
realizados cursos sobre o cultivo de plantas, entre
outros. Esta iniciativa ocorre em consonncia com
um movimento mundial e nacional de resgate dos
conhecimentos tradicionais e populares.
A Organizao Mundial da Sade (OMS) publicou
um documento no qual prope uma estratgia global
sobre as medicinas tradicionais, complementares e
alternativas para os anos de 2002 a 2005 e estimula
iniciativas de seus Estados-membros para inserir
polticas pblicas de medicinas tradicionais nos
sistemas ofciais de sade, inclusive promovendo o uso
racional das plantas medicinais. Essa recomendao foi
reiterada mais recentemente, em 2008, no Congresso
da Organizao Mundial da Sade para Medicinas
Tradicionais, realizado em Pequim.
No Brasil, desde a dcada de 1980 vm sendo
adotadas algumas iniciativas com o objetivo de se
implementar uma poltica no mbito das plantas
medicinais e da ftoterapia. Entre elas a Resoluo
Ciplan 08/88, o Relatrio da 10
a
Conferncia
Nacional de Sade (1996), a Resoluo 338/04
sobre a Poltica Nacional de Assistncia Farmacutica
e a Portaria 971 do Ministrio da Sade (maio de
2006), que aprovou a Poltica Nacional de Prticas
Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema
nico de Sade.
Em So Paulo, no mbito da SMS, nossa
prioridade implantar e implementar uma poltica
de incentivo ao uso de plantas medicinais e, aps
tal experincia, pretendemos formular uma poltica
no campo dos ftoterpicos. A base legal para esta
iniciativa so as Leis n 14.682, de 30 de janeiro de
2008, regulamentada pelo Decreto n 49.596, de 11 de
junho de 2008, que instituiu, no mbito do Municpio
de So Paulo, o Programa Qualidade de Vida com
Medicinas Tradicionais e Prticas Integrativas em
Sade, prevendo uma poltica de incentivo ao uso de
plantas medicinais e Lei n 14.903/09, regulamentada
pelo decreto n 51.435/10, que instituiu no municpio
de So Paulo o Programa Municipal de Produo de
Fitoterpicos e Plantas Medicinais.
A Experincia da Medicina Tradicional Chinesa(MTC)
As medicinas tradicionais, assim como as
chamadas prticas integrativas de sade em geral,
tm como caractersticas principais uma abordagem
integral do processo sade-doena combinada
a um processo de desalienao na aplicao do
tratamento. Em outras palavras, lida com o conceito
de processo de adoecimento e no de doena, no
qual a interveno para reconduzir ao equilbrio
ou harmonia implica sempre na atuao sobre os
fatores causais e no resgate da responsabilidade dos
indivduos sobre o processo de cura.
Medicinas Tradicionais (MTs) esto includas
entre as prticas de sade tradicionais ou de cunho
popular. Sua prtica estimada em mais de 4 mil anos
e se confunde com a prpria histria da civilizao
chinesa. Outros exemplos de Medicinas Tradicionais
so a Medicina dos Povos Indgenas, a Ayurveda,
que tem origem na ndia e tambm praticada em
outros pases, como o Tibet, e a Medicina Unani, dos
povos rabes, todas elas includas entre as Medicinas
Tradicionais reconhecidas e recomendadas pela
OMS. Aqui abordamos como exemplo, a MTC
ressaltando, porm, que h inmeras abordagens
tradicionais do uso de plantas medicinais.
Alguns Conceitos da Cosmoviso da Medicina
Tradicional Chinesa (MTC)
Antigos sbios chineses, pela observao dos
ciclos da natureza e suas mudanas, criaram e
desenvolveram todo um sistema de compreenso
do mundo que, no mbito da sade, se expressa
na MTC. Alm da ftoterapia, a MTC utiliza
tambm como recursos teraputicos, as correes
alimentares, a acupuntura, o Tue Na (massagens) e as
prticas corporais e meditativas (Qi Gong).
A flosofa chinesa tradicional tem suas razes
no taosmo e baseia-se em alguns conceitos como:
Mutaes (Yi); Opostos Complementares (Yin e
Yang); Cinco Movimentos (Wu Hsing); Sopro ou
Energia (Qi).
63
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
O Tao, cuja traduo literal caminho,
descrito tambm como fonte original da natureza.
Preconiza um momento inicial da ausncia de
forma, onde no havia corpo fsico ou energtico,
e esse estado chamado de Vazio.
O Vazio, que um estado de possibilidade, ou
seja, quando no aconteceu, produziu a funo de
criar e transformar, da surgindo uma infnidade
de fenmenos e coisas ou a existncia. A existncia
mantm esta caracterstica de no concretude, do
no ser e do estar permanente (transitoriedade).
Este estado de permanente transformao a base da
concepo das mutaes (Yi).
Os antigos sbios chineses observaram tambm
que a natureza em transformao se manifesta como
um fuxo constante presente em tudo. Esta noo de
fuxo contnuo a base da concepo do Qi.
Tambm observaram que a natureza em fuxo
obedece a determinadas leis e que estas leis podem
ser conhecidas pela identifcao de padres (ou
modelos). Da surgiram as descries dos padres
e suas leis: Opostos Complementares (Yin/Yang),
Cinco Movimentos (Wu Hsing), Oito Signos (Pa
Kua), Sessenta e Quatro Hexagramas (descritos no
I Ching). Estas formulaes signifcaram para os
chineses um ganho para a vida prtica na medida
em que ampliaram a capacidade de previso dos
acontecimentos e a elaborao de cdigos de
convivncia social e tambm possibilitaram a eles
inmeras descobertas com o desenvolvimento de
importantes tecnologias.
Teoria do Yin e Yang
Fcil e difcil criam um ao outro; fraco e forte
sustentam um ao outro; longo e curto medem um ao
outro; frente e atrs localizam um ao outro.
A Teoria do Yin e Yang preconiza que todo
fenmeno consiste em dois aspectos opostos, Yin
e Yang, os quais so defnidos distintamente. Os
movimentos e as mudanas do Yin e do Yang do o
impulso para o desenvolvimento de todas as coisas.
Geralmente, qualquer coisa que esteja em mo-
vimento, ascendncia, externalidade, seja brilhante,
esteja em progresso, hiperatividade, incluindo ado-
ecimento do organismo com tais caractersticas, per-
tencem ao Yang.
As caractersticas da paralisao, descendncia,
internalidade, escurido, regresso, hipoatividade, in-
cluindo adoecimento do organismo com tais caracte-
rsticas, pertencem ao Yin.
As quatro leis: um resumo da teoria Yin/Yang
Oposio Yin e Yang
Todos os fenmenos da natureza se expressam
em polaridades ou opostos que, entretanto, so
complementares, necessitando um do outro para
existir. Ao mesmo tempo em que interagem e
so interdependentes. Estas polaridades (que
denominamos Yin e Yang) se restringem mutuamente.
Interdependncia Yin e Yang
Yin e Yang so conceitos relativos. Para identifcar
algo como Yang deve haver relao com outro algo
Yin. A gua Yin quando comparada com o vapor.
Mas Yang comparada com o gelo. A gua sozinha,
sem um parmetro de comparao, no nem Yin
nem Yang.
Crescimento e decrscimo paulatino
Na natureza, as mudanas que implicam em
alternncia de Yin e Yang so paulatinas. Exemplo:
depois de um bom repouso, voc se encontra
descansado, com disposio e energia (Yang
potencial). Para esgotar essa energia e voltar a ter
cansao (chegar a um estado Yin) voc precisa passar
um determinado tempo executando atividades.
Progressivamente voc passar de um estado a outro.
Intertransformao
As mudanas pequenas vo se acumulando e
resultam em uma mudana de qualidade: Yin se
transforma em Yang e Yang se transforma em Yin.
Por exemplo: estamos acordados (Yang) e mais na
frente precisamos dormir (Yin), e depois acordamos,
e assim sucessivamente.
Conceitos Gerais da Medicina Tradicional
Chinesa
A concepo naturista da Medicina Tradicional
Chinesa (MTC) considera que mecanismos e
elementos similares queles que se encontram na
natureza esto presentes no ser humano, que o
microcosmo (ser humano) espelha o macrocosmo
(natureza).
No desenvolvimento de sua medicina, os
mdicos tradicionais chineses desenvolveram uma
concepo complexa do ser humano, sua relao
com o meio e sobre o processo de adoecimento.
Para facilitar a compreenso da utilizao das ervas
na MTC, apresentamos a seguir, de forma resumida,
alguns conceitos.
Teoria dos Sistemas Internos (Zang Fu)
Alguns elementos bsicos ou substncias
constituem o corpo humano. So eles o Jing, o Qi, o
Xue, os Tin Ye e o Shen.
Jing traduzido como essncia, substncia de
natureza material, porm mais fuida e que funciona
como base para o surgimento das outras substncias.
Qi costuma ser traduzido como energia e
representa mais os aspectos fsiolgicos (funes) do
corpo humano.
Qi e Jing mantm uma estreita relao:
Jing ( matria) Qi ( energia)
64
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Caractersticas das Medica-
es (Fitoterpicas)
Quando o praticante da
ftoterapia tradicional chi-
nesa prescreve uma erva
ou formulao tem em
mente, alm da resposta far-
macolgica decorrente dos
princpios ativos conhecidos,
a resposta decorrente de outras
caractersticas que, na falta de
uma denominao mais apropria-
da, chamamos de caractersticas sutis
da erva ou preparado. Essas caractersticas se baseiam
em algumas categorias descritas a seguir.
Natureza
De acordo com a natureza, os alimentos e as er-
vas podem ser classifcadas como frias, frescas, neu-
Utilizando tais analogias podemos categorizar de
modo geral os vegetais. Por exemplo: o aa frutifca
na parte alta de uma palmeira delgada e longa (regio
Yang). um fruto e sua cor negra (o Yin brotando no
Yang). Tem afnidade pelos Rins e Bao.
De modo geral os produtos que utilizamos so os
seguintes: raiz, tubrculos e rizoma; caule e bulbos;
folhas; fores; frutos e frutas; sementes, nozes e casta-
nhas; cereais e leguminosas; brotos, cogumelos e algas.
Canal principal da Bexiga [ou Bx]
Canal principal do Intestino Delgado [ou ID]
Canal principal do Estmago [ou E]
Canal principal do Intestino Grosso [ou IG]
Canal principal da Vescula Biliar [ou VB]
Canal principal do Triplo Aquecedor (sanjiao) [ou TA]
Canal principal do Bao [ou B]
Canal principal do Pulmo [ou P]
Canal principal do Fgado [ou F]
Canal principal do Pericrdio [ou Pc]
Canal principal do Rim [ou R]
Canal principal do Corao [ou C]
As Plantas e a Medicina Tradicional Chinesa
A medicina chinesa utiliza em larga escala o pen-
samento analgico e com isto acaba usando a lei das
semelhanas para compreender a ao dos alimentos.
Com os vegetais as associaes so simples: em geral,
as razes correspondem ao Triplo Aquecedor Inferior e
Rins, os caules e bulbos correspondem ao Triplo Aque-
cedor Mdio, Fgado e Bao e os galhos e folhas ao Tri-
plo Aquecedor Superior, Pulmo e Corao.
Xue circula junto com o Qi nos vasos e meridianos
e costuma ser traduzido como sangue.
Tin Ye o conjunto de lquidos orgnicos do corpo.
Shen representa o conjunto de componentes ps-
quicos e costuma ser traduzido como esprito.
Os rgos e vsceras ou sistemas internos so res-
ponsveis pelo armazenamento e processamento das
substncias (rgos Zang) e pela passagem e fltra-
gem destas substancias enquanto so processadas
(vsceras Fu).
Apesar de serem traduzidos para a linguagem oci-
dental com nomes similares a estruturas anatmicas
conhecidas como rim, bao, corao, etc., sua concep-
o bastante diversa da concepo ocidental moder-
na a que estamos habituados. Zang e Fu correspon-
dem mais a sistemas de funes em geral diferentes
daquelas atribudas aos sistemas e rgos das cincias
biomdicas. Portanto, para nosso estudo, Bao (Pi, da
MTC) e bao so diferentes. Tambm so diferen-
tes Corao (Xin) e corao, Fgado (Gan) e fgado,
e assim por diante.
Um conceito bastante singular se refere ao sanjiao
ou triplo aquecedor (TA): uma vscera no material
que representa a relao sutil entre os rgos e vsceras
de trs compartimentos, o trax, o abdmen superior
e o abdmen inferior (sanjiao superior ou TAS, sanjiao
mdio ou TAM e sanjiao inferior ou TAI).
Teoria dos Canais e Colaterais (Meridianos)
Canais e Colaterais so vias de conduo de Qi e
sangue (Xue). Tm um papel de realizar a ligao entre
rgos, vsceras e membros, entre os lados, da parte
alta com a baixa do organismo e da superfcie com o
interior do corpo.
Alguns dos canais mais importantes so os Canais
Principais, que aqui recebem a nomenclatura do rgo
ou vscera a que esto mais intimamente ligados:
Critrio Yin Yang
Sabor Mais paladar Mais aroma
Peso Mais pesado Mais leve
Situao Subterrneo Areo
Procedncia Regio fria Regio quente
Os frutos em geral, por serem reservas de alimen-
tos, tm afnidades pelo Bao.
Outras analogias devem ser tambm realizadas, como
por exemplo, com relao aos sabores e cores dos vegetais.
Quadro 1- Critrios Para Caracterizao Yin ou Yang
65
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
tras, mornas e quentes. Por exemplo, a melancia tem
natureza fria. O gengibre, natureza quente. Esta natu-
reza provocar uma resposta teraputica. Por exem-
plo, as ervas frias e frescas so utilizadas para aliviar as
sndromes de calor.
Sabores
H cinco sabores (associados aos cinco movi-
mentos e aos Zang Fu): azedo (madeira), amargo
(fogo), doce (terra), picante (metal) e salgado (gua).
Cada sabor pode produzir um determinado efeito:
ervas azedas absorvem e controlam ou retraem; ervas
amargas reduzem o calor e secam a umidade; ervas
doces tonifcam, harmonizam e moderam; ervas pi-
cantes dispersam e promovem a circulao do Qi e
fortalecem o sangue; ervas salgadas suavizam a dure-
za ou ns e eliminam a turvacidade. As ervas podem
apresentar uma associao de sabores (e efeitos) ou
pode ocorrer que o sabor da erva no seja identifc-
vel: neste caso so chamadas de suaves e tm a ao
de transformar a umidade e promover a diurese.
Efeito teraputico dos sabores:
Picante - Induz transpirao (diaforese) e laxante.
Doce - Retarda sintomas agudos, alivia clica e neutra-
liza toxidade.
Sem sabor diurtico.
Azedo - adstringente, antidiarrico, antidiafortico e
reduz motilidade.
Salgado laxante e suaviza endurecimentos e tumores.
Amargo - Reduz edemas, infamaes e induz diarria.
Movimentos
As ervas e alimentos ou suas partes provocam
respostas funcionais no organismo no sentido de fazer
subir, fazer descer, trazer para a superfcie (futuar) e
interiorizar (aprofundar). Essas propriedades podem
ser utilizadas tanto para combater determinados
padres de adoecimento (ou sndromes) quanto
para provocar respostas especfcas no organismo,
como, por exemplo, provocar a sudorese (superfcie),
provocar a diurese (descer). A natureza e o sabor da
erva esto associados aos movimentos que provocam
no organismo humano.
Quadro 2 -Caracterizao segundo natureza,
sabor e movimento
Yang Yin
Natureza Quente Morno Neutro Fresco Frio
Sabor Picante Doce Insosso Azedo/Salgado Amargo
Movimento Para fora Para cima Sem ao Para baixo Para dentro
Afnidade por Zonas de Infuncia (Meridianos)
A experincia milenar dos ftoterapeutas
chineses os fez identifcar que as ervas podem agir
seletivamente sobre regies particulares do corpo,
atuando em sndromes dos meridianos e rgos.
Ao nos Zang Fu e nos Componentes do Or-
ganismo
A combinao das caractersticas anteriores aliadas
a outras aes particulares de cada erva determinam
suas aes nos diversos padres de desarmonia dos
Zang Fu, Qi, sangue (xue), lquidos orgnicos (Tin Ye)
e constituintes do processo mental.
Toxidade e No Toxidade
Na Medicina Tradicional Chinesa tambm so
levados em considerao os efeitos adversos das
preparaes ftoterpicas. Nesta abordagem as ervas
podem ser classifcadas como levemente txicas ou
muito txicas, alm de estarem contra-indicadas em
determinadas situaes ou para uso prolongado.
Outras caractersticas das plantas:
1. Cor
2. Forma
3. Textura e consistncia
Categorias Teraputicas Principais:
Para nutrio do sangue (Xue)
Para nutrio do Qi
Para nutrio do Yin
Para nutrio do Yang
Para nutrir rgos (vrias categorias)
Para combater a mucosidade
Com efeitos antitxicos
Utilizao de Formulaes na MTC
Uma caracterstica importante da ftoterapia
chinesa a utilizao de formulaes de ervas para
o tratamento, sendo mais raro o uso de ervas isola-
das. Na composio das frmulas da MTC, as ervas
(ou componentes) so classifcadas nas seguintes
categorias:
Imperador (Erva Imperial): o principal
componente da frmula. Atua na funo ou rgo
que base do processo de adoecimento. Na maioria
das vezes executada por uma s erva.
Ministro (Erva Ministerial): Auxilia ou refora
a ao do Imperador, atuando tambm na condio
bsica do processo de adoecimento, porm com
potncia menor que o imperador. As frmulas
podem ter mais de um ministro.
General ou Assessor (Erva Assessora): Compo-
nente da formulao que visa restringir os efeitos ad-
versos ou exagerados dos outros componentes, tam-
bm possibilitando a regresso mais rpida dos sin-
tomas. As frmulas podem ter mais de um general.
66
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Embaixador ou Coordenador (Erva Coordenadora): o componente com
a funo de reduzir a toxidade e/ou harmonizar as outras plantas na frmula.
Usualmente utilizamos para esta funo a casca de ponc ou Chen Pi (Citrus
reticulata), o alcauz ou Gan Cao (Glycyrrhiza glabra, raiz), o gengibre ou Gan
Jiang (Zingiber ofcinale, rizoma seco), as folhas e ramos de alecrim (Rosmarinus
ofcinalis) e a erva-doce ou Xiao Hui Xiang (Foeniculum vulgare, frutos). Em
frmulas com muitos componentes, podem ser usadas uma ou duas plantas
com funo de embaixador.
Descrio (Sucinta) das Propriedades de Algumas Ervas Segundo a
Medicina Tradicional Chinesa
No enfoque da medicina tradicional chinesa, libera superfcie, libera frio
e vento, favorece o sanjiao inferior (mulheres). Uso em gripes, reumatismos
(vento e umidade), asma e doenas ginecolgicas.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, limpa calor do rim, alivia
a superfcie, circula meridianos, Qi e sangue (Xue), dispersa o fogo, acalma
a mente. Uso em diabetes, hemorragias internas, cistites, afeces do rim e
prstata.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, limpa calor, seca umidade,
expele o frio descongestiona e favorece o rim. Uso em edemas, cistites e
clicas urinrias.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, dispersa fogo e umidade
no sanjiao inferior (pelve), drena umidade em geral. Usado em gota e
outros reumatismos, para reduzir colesterol, em infeces urinrias, como
diurtico e em edemas.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, tonifca Qi e Yang, favorece
o rim. Uso em fadigas, astenias e impotncia.
No enfoque da medicina tradicional chinesa favorece o fgado, promove
a circulao, limpa calor e vento, particularmente do fgado, e seca umidade.
Uso em resfriado, dor de garganta e outros.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, favorece o estmago e
o fgado, dispersa o fogo e a umidade. Ao laxante. Uso em hiperacidez,
lceras, dispepsias e gastrites.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, aquece bao e rim,
harmoniza o estmago, regula o fuxo de Qi, expulsa o vento, dispersa
friagem, sobretudo do trato digestivo e rim, melhora a dor e recupera o
apetite. Uso em diarria, dismenorria, dor/distenso abdominal, vmito,
hrnia e como expectorante.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, limpa o vento, dispersa o calor,
elimina estase do fgado, favorece o pulmo. Tnico. Uso em afeces bucais (sa-
pinhos, afas), em tosses e gripes, como digestivo e em clicas e gases intestinais.
67
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
No enfoque da medicina tradicional chinesa antitxico, remove
estagnao de alimentos, clareia a cabea e a viso, reduz a ansiedade, sacia
a sede, dissolve mucosidade, promove diurese. Usos em cefalia, tontura,
sonolncia, inquietao, sede, indigesto.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, reduz e dispersa calor
e fogo, desfaz umidade, circula Qi e sangue (Xue). Uso interno de 1 a 3
gramas por dia, indicado para reumatismos e infamaes. Uso externo
como cicatrizante e antiinfamatrio em lceras de pele. Pode ser txico
em dose acima da prescrita.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, limpa calor, desfaz
congesto, drena umidade (diurtica), cessa tosse e clareia os olhos. Uso em
edemas, infeces urinrias, para reduzir o cido rico, como expectorante,
como antiinfamatrio em infeces das vias areas superiores e olhos e
como cicatrizante. Uso das sementes contra obstipao.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, alivia superfcie,
dispersa vento-calor. Uso como expectorante, em febres, gripes, doenas
exantemticas, em infamao de garganta e olhos (uso externo), para
melhorar a digesto, gosto amargo na boca, reduzir gases digestivos, clicas
e intolerncia s gorduras.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, tonifca o Qi central,
tonifca o bao, umedece o pulmo, benefcia o Qi e o sangue (Xue), limpa
o calor, antitxico e harmoniza medicamentos. Uso em tosse com secura,
dor de garganta, palpitaes, diarria, sede, carbnculos e inchao txico.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, alivia superfcie, limpa o
calor, dissolve estagnao do sangue e fortalece o sangue (Xue), harmoniza
o esprito (Shen). Uso em transpirao excessiva, menstruao dolorosa
e problemas menstruais, leses da boca, halitose. Uso externo em afas,
lceras de decbito, piolhos.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, alivia superfcie, limpa o
calor, dissolve estagnao do sangue e fortalece o sangue (Xue), harmoniza
o esprito (Shen). Uso em transpirao excessiva, menstruao dolorosa
e problemas menstruais, leses da boca, halitose. Uso externo em afas,
lceras de decbito, piolhos.
No enfoque da medicina tradicional chinesa, desfaz umidade, acalma
o esprito (Shen). Uso em estados depressivos, ansiedade e nervosismo,
inclusive ligados menopausa, insnia, para normalizar presso arterial e
em reumatismos. Uso externo em hemorridas e leses cutneas.
#06
PLANTAS MEDICINAIS
NO PAISAgISMO
E REgIONAIS
#06
PLANTAS MEDICINAIS
NO PAISAgISMO
E REgIONAIS
70
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
6.1 O USO DE PLANTAS MEDICINAIS
NO PAISAGISMO.
Assucena Tupiass
Paisagismo Plantas Medicinais
No de hoje que as plantas medicinais esto
presentes no paisagismo. Prova disso a presena
delas no Jardim do den ou Jardim do Paraso, des-
critas no Gnesis I e II como plantas fonte de vitali-
dade, fertilidade e alimento.
H uma infnidade de referncias. Os assrios,
por exemplo, foram os mestres da drenagem e
irrigao, fazendo belos jardins com hortalias e
frutferas na regio dos canais na Mesopotmia,
situada entre os rios Tigre e Eufrates. L eram
plantadas hortas e pomares entre os canais que se
formavam. Esses jardins foram abandonados com
a invaso rabe.
Em, aproximadamente, 3000 a.C. foram cria-
dos os jardins mais marcantes de toda a histria, os
Jardins Sagrados ou Jardins Suspensos da Babil-
nia, cuja arquitetura superava os vegetais que eram
plantados sobre os zigurates (torres com degraus
ou subida em espiral que leva ao topo, smbolo da
unio do cu e da terra). Eram utilizadas tamareiras,
lamos, pnus, jasmins, rosas, malvas-rosas e tulipas.
Apesar do forte sentimento religioso, onde tudo se-
guia a vontade de Deus, um forte sistema de irriga-
o foi desenvolvido.
No Egito, os jardins seguiam a topografa do
Rio Nilo, grandes planos horizontais simtricos e
retilneos, que representavam um sistema racional
e monotesta, sempre com base nos quatro pontos
cardeais. As espcies eram as fgueiras, palmeiras,
videiras e plantas aquticas.
Os persas no tiveram um estilo prprio, mas
sim uma mistura do egpcio e do grego. Emprega-
vam rvores e arbustos mas o mais marcante foi a
introduo de fores perfumadas formando can-
teiros. Prximo aos canais utilizavam animais, que
sugeriam imagens de obras de arte ou do que se jul-
gava ser o paraso. Eram construdos junto aos pa-
lcios reais e criados na interseco dos canais em
formato de cruz, representando as quatro moradas
do universo (norte, sul, leste e oeste). O jardim era
cercado de altos muros, tornando-se privado e des-
tinado ao amor, sade e luxo. As plantas utilizadas
eram: pnus, ciprestes, pltanos, palmeiras, auce-
nas, rosas, jacintos, tulipas, narcisos, jasmins, etc.
A Grcia antiga, bero da cultura ocidental, teve
jardins caracterizados pela simplicidade das formas
naturais e sem simetria, com a utilizao de plantas
teis como: mas, peras, fgos, roms, azeitonas,
uvas e hortalias. As colunas e prticos presentes
nesses espaos faziam dos jardins um prolongamen-
to das casas e as esculturas humanas e de animais
completavam o cenrio dessa poca.
No sculo V os rabes invadiram a Prsia e, no
sculo seguinte, criaram os jardins da sensibilida-
de na Espanha, onde predominava o uso de gua,
da cor e dos aromas uma paisagem para seduzir.
Eram estruturados em pequenos espaos, sem os-
tentao, e recebiam jasmins, cravos, rosas, prima-
veras, alfazemas e jacintos.
O imprio romano atingiu grandes extenses e
conquistou uma grande variedade de paisagens. Os
jardins ocupavam segundo plano, pois o interesse
maior era o Estado, Direito e a conquista de territ-
rios. Os jardins eram internos, presentes em uma pra-
a para onde se dirigiam os cmodos da casa, tam-
bm com o uso de colunas. Destacavam-se a grandio-
sidade, principalmente pela presena de obras de arte
que foram retiradas da Grcia, no domnio romano.
Eram esttuas, fontes e mesas de mrmore... Com
tantas obras, as plantas fcavam em segundo plano.
At hoje possvel observar esculturas nos jardins de
Roma, inclusive nas sacadas de apartamentos.
Os romanos usavam os jardins socialmente e
para se protegerem de doenas, sol, barulho e po-
eira. interessante observar que j havia uma preo-
cupao com a poluio ambiental e os jardins eram
considerados os santurios protetores.
As hortas tambm estavam presentes. At
hoje, quando nos referimos ao estilo italiano, a
referncia so as vilas que ligavam casa e jardim.
As mais importantes foram a Vila Laurentina, onde
Plnio plantou muitas fgueiras e amoreiras, alm
da horta e terraos com fores perfumadas, e a Vila
Adriana, que durou at 1939.
Os estilos japons e chins, em 2000 a.C., foram
caracterizados pela preponderante admirao da
natureza. Na verdade, nos jardins simplesmente
se organizava o que j existia: uma paisagem
maravilhosa e fora rica. O uso da ilha no lago faz
referncia a um lugar que os chineses acreditavam
que existia ao norte, para os imortais. Como eles
nunca encontraram esse lugar, criaram a ilha nos
jardins, local inatingvel, com muitas fores de ltus
e, ao redor, os chores. Ainda nos jardins japoneses
esto presentes os macios de azalia, os bambus,
as cerejeiras, pnus, rochas cobertas por musgos,
ceres, entre outros. So espaos para serem
apreciados o tempo todo, e em cada estao se
apresenta de uma maneira diferente, pois so sutis
com matizes, valorizando o essencial e a qualidade.
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tcnica
de bonsai mostra a paixo dos japoneses pela
natureza, onde ao sarem do campo em rumo as
cidades eles querem levar um pouco da vegetao
que no seria possvel cultivar em locais pequenos.
Na Idade Mdia (sculos XV e XVI), pouco
valor se dava s reas verdes. As construes
eram rsticas e slidas, semelhantes a fortalezas.
Os jardins internos deveriam ter utilidade, por
isso eram compostos de pomar, horta, plantas
medicinais e forferas para ornamentao dos
ambientes internos. Em geral, eram a mistura dos
estilos anteriores, com a interseo ortogonal
dos caminhos e canteiros, desenho que remete
religio dominante.
71
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
No Renascimento (meados do sculo XV),
como o prprio nome sugere, renascem a cultura,
a flosofa, as cincias, a arte e os jardins. Nascem os
estilos de jardins presentes at hoje, representados
principalmente por:
* Itlia Estilo romano com uso de esculturas.
Aproveitavam o desnvel dos terrenos e faziam
terraos com circulao de gua. Era retiro dos
artistas e intelectuais, normalmente em stios
longe da cidade. As plantas (azevinho, pinheiros,
buxinhos, louro) continuam em segundo plano
e recebendo topiarias com formas de animais.
Os jardins eram desenhados milimetricamente e
geometricamente e no plano mais alto localizava-
se o palcio.
* Frana Teve como referncia os jardins me-
dievais com utilizao de canteiros de fores, ervas
medicinais e hortas. Ainda sofreu infuncia italia-
na dos canteiros desenhados rgua, simtricos e
com uso de topiarias. Como bom exemplo desse
estilo: o famoso Jardim de Versalhes, criado por
Andr Le Notre.
* Inglaterra Ao contrrio dos jardins franceses,
os ingleses preferem os jardins mais informais,
como nos japoneses e chineses. organizar o que
existe e propiciar a aproximao com a natureza.
So paisagsticos, com bastante liberdade, sem
esculturas. Os lagos e riachos davam o tom
romntico ao ambiente. Linhas graciosas, espaosos
gramados, ruas amplas e confortveis, utilizao
dos desnveis da rea para criar boas perspectivas,
criao de bosques, utilizao de plantas mortas
e construo de runas. Talvez a mais importante
contribuio dos ingleses tenha sido a origem
dos parques e jardins pblicos, com a inteno da
melhoria da qualidade ambiental. Atualmente a
maioria dos jardins ingleses mista.
No Brasil temos uma mistura de estilos. No
incio da colonizao, tanto a arquitetura como
o paisagismo seguiam estilos europeus (francs,
ingls e italiano). J na segunda metade do sculo
passado aparece o estilo americano.
Normalmente, o gosto pelas plantas medicinais
esteve presente nos jardins, tendo sido um dos
principais objetivos da criao do Jardim Botnico
do Rio de Janeiro. Queria-se aclimatar as plantas
que eram utilizadas para fazer ch.
O estilo brasileiro talvez possa ser caracterizado
pelos jardins criados pelo grande paisagista
Roberto Burle Marx.
Normalmente encontramos as plantas
medicinais em jardins feitos no modelo da produo
de hortalias, ou seja, retngulos elevados a 20
cm do solo. Porm, h de se questionar por que
no fazer um jardim bonito aproveitando a beleza
das plantas no paisagismo, que uma expresso
artstica. Podemos fazer belssimos jardins
orgnicos, onde a cada curva pode-se colocar um
elemento especial para presentear os olhos, para se
apreciar cada cantinho.
Muitas pessoas optam pela utilizao de man-
dala, fazendo a distribuio das ervas medicinais
em forma espiralada ou redonda. O plantio em va-
sos e, na falta de espao, os jardins verticais, planta-
dos em garrafas PET ou em tubos de PVC, so op-
es interessantes. O uso dos telhados verdes com
medicinais tambm uma boa alternativa, pois se
pode aproveitar o fato de que vrias plantas deste
grupo necessitam de muito sol.
Enfm, pode-se fazer um jardim com uso das
plantas medicinais em qualquer estilo, porm
necessrio dar prioridade s seguintes questes:
1. Quais plantas medicinais sero utilizadas,
por gosto ou necessidade No adianta plantar
determinada espcie se ela no tiver uso.
2. Quais so as caractersticas do ambiente
Quantidade de sol diria; presena de ventos
fortes; disponibilidade de gua; espao para a
planta se desenvolver, no s a parte area, mas as
razes tambm; clima; declividade; tipo de solo;
umidade do ar, etc.
3. Qual a sua relao com as plantas Gosta de
cuidar de plantas? Tem tempo para cuidar do jardim?
Que valor ser destinado implantao? possvel
contratar um jardineiro com regularidade?
4. Qual estilo da casa? E a cor das paredes visveis
do jardim? H declividade e pode-se utiliz-la como
recurso da paisagem? necessrio chamar ateno
ou esconder algum ponto no entorno?
5. De que tamanho fcam estas plantas - As
medicinais em geral so plantas de crescimento
intenso e para composio importante determinar
o espao que cada espcie ir tomar.
Quando falamos em paisagismo ou no uso
de plantas medicinais em paisagismo no se deve
esperar por uma regra, pois ela no existe. Paisagismo
obra de arte e como tal depende do artista. Talvez
seja a arte mais complexa, pois mal acaba de ser
concluda e j comea a se modifcar, e assim segue
por toda sua vida: uma folha que cai, uma for que
se abre, um galho novo que nasce.
preciso pensar em como esse jardim estar
daqui a 10, 20 ou 50 anos, como as plantas se
desenvolvero, e nunca esquecer que preciso fazer
a manuteno.
Qualquer obra de paisagismo comea por um
bom planejamento (pesquisa de tudo que se refere
ao jardim). Com esses dados faz-se o projeto e s de-
pois sua implantao. Logo em seguida comea o pla-
nejamento para a manuteno, que no pra nunca.
A falta de espao, principalmente em grandes
cidades, nos obriga a ativar a criatividade para que os
menores ambientes sejam utilizados para serem teis
e bonitos.
72
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Para se alcanar esse objetivo no h regras, mas
sim algumas questes que devem ser observadas.
Desde pequenos somos acostumados a ler e
escrever da esquerda para direita. Ao olharmos um
jardim isto tambm acontece, fazemos a leitura da
esquerda para direita e completando um crculo.
Quando colocamos elementos pesados em algum
ponto especifco do jardim certo que pararemos os
olhares naquele ponto. Ento, cuidado para no fazer
estas paradas indiscriminadamente. O jardim muitas
vezes fca sem sintonia ou ritmo e se torna pesado.
Como o som de uma msica, o jardim deve fuir.
O que diferencia as plantas so os elementos mais
pesados ou diferentes, por exemplo:
As cores das plantas, no s das fores, mas tambm
das folhas ou tronco Plantas que produzem cores
amarelas, vermelhas e alaranjadas, cores quentes,
chamam mais ateno.
Tamanho das plantas Para que se tenha uma
viso total do jardim, utilizamos as plantas maiores
atrs e as menores na frente, embora se possa
distribuir irregularmente e usar uma planta alta perto
de vrias pequenas, pois assim esta ser diferente e
chamar muito mais ateno que as outras.
As texturas variadas tambm tm um peso a mais,
chamando ateno.
Enfm, tudo que se implanta em um jardim tem
um peso e de alguma forma chamar ateno e cer-
tamente far com que os olhos parem naquele ponto.
Mas o que devemos considerar com mais cuidado na
distribuio so as necessidades das plantas, ou seja:
Distribuio por necessidade de luz: quantas
horas a planta precisa de sol por dia?
Que tipo de solo mais apropriado para seu bom
desenvolvimento?
Qual a quantidade de gua necessria?
Tipo de adubao ou nutriente mais requisitado.
No esquecer que as plantas medicinais so utilizadas
para consumo e quanto mais empregarmos adubao
orgnica, melhor.
6.2 PLANTAS MEDICINAIS REGIONAIS
DO BRSIL.
Maria de Lourdes da Costa
Roberto Martin
O uso de plantas medicinais ocorre desde os
primrdios da civilizao humana. Desde ento
o homem j retirava da natureza as plantas que
amenizavam ou curavam seus males e esse hbito tem
sido repassado, por via oral, de gerao em gerao.
Hoje, as comunidades tradicionais que possuem essa
bagagem de conhecimento esto sendo ameaadas
devido infuncia direta do uso da medicina
ocidental moderna.
A Etnobotnica, cincia que relaciona a Bot-
nica com a cultura de uma determinada populao
humana, busca a recuperao e a valorao dos co-
nhecimentos acumulados ao longo do tempo e das
tradies. Esse conhecimento, oriundo da tradio
oral, pode fornecer muitas informaes teis para a
elaborao de estudos farmacolgicos, ftoqumicos
e agronmicos, com grande economia de tempo e
dinheiro, a partir do conhecimento emprico, j con-
sagrado pelo uso contnuo, que ser testado em bases
cientfcas (Amorozo, 1996 in Simes et al, 1999).
Nas comunidades tradicionais, a utilizao das
plantas est associada, na maioria das vezes, com
sua conservao, aliada manuteno do equilbrio
dos ecossistemas, uma vez que disso depende a
sobrevivncia dessas comunidades.
O manejo dos recursos vegetais de espcies
nativas ou adaptadas regio (exticas) uma
possibilidade de manter a viabilidade gentica
e ampliar o mercado consumidor das plantas
medicinais, podendo, ainda, contribuir com a
melhoria da sade das populaes, que utilizam
os conhecimentos acumulados para suprir as
defcincias graves do sistema de sade ofcial e a
baixa renda da populao.
As espcies exticas foram trazidas pelos mais
diversos imigrantes, em distintas pocas, e seu uso
foi gradativamente incorporado pelas vrias etnias
no Brasil, tornando-se bastante utilizadas. Algumas
espcies exticas foram bem aclimatadas em algumas
regies do Brasil, constituindo-se como espcies
ruderais, utilizadas por diversas comunidades rurais
ou urbanas. Essas espcies so cultivadas em hortas
ou jardins e so corriqueiramente trocadas ou cedidas
por vizinhos, amigos ou parentes, fazendo deste
intercmbio de germoplasmas uma caracterstica da
populao brasileira.
As espcies nativas normalmente no so cultiva-
das, sendo obtidas por processo de extrativismo, em
todas as regies brasileiras. Algumas so exportadas
(guaran, ipecacuanha, espinheira-santa, ip-roxo,
como exemplos) e outras tm importncia regional,
sendo comercializadas em barracas de raizeiros ou
em centros urbanos regionais.
A seguir so detalhadas algumas plantas mais
utilizadas em diversas regies, de acordo com
levantamentos etnobotnicos realizados por diversas
instituies do pas.
REGIO NORTE
O sistema popular brasileiro de plantas medicinais
da Regio Amaznica derivou de caractersticas
peculiares da fora da regio, associada absoro
de conhecimentos indgenas pelo caboclo. Decorre
tambm do isolamento cultural da Amaznia, onde a
populao utiliza ervas/plantas especfcas da regio
e possui uma linguagem prpria.
1. Andiroba Carapa guianensis Aubl.
Nomes populares: andiroba-saruba, carap, carapa,
iandiroba, etc.
Famlia: Meliaceae
73
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Na regio so usadas duas espcies de Carapa: C.
guianensis (andiroba) e C. procera DC. (andirobinha).
Tm sementes bem parecidas, embora possam ser
distinguidas com facilidade, principalmente pelo ta-
manho das sementes e pela cicatriz na semente (rafe),
em ambos os casos maiores em C. guianensis. As duas
espcies tm o leo extrado de suas sementes, seme-
lhantes na composio e na colorao, sendo vendidas
como andiroba. Alm do leo das sementes, as folhas
e cascas tambm so empregadas popularmente e a es-
pcie sofre ameaa pelo manejo inadequado.
Utilizada principalmente como repelente de insetos.
2. Camu-camu - Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh.
Nomes populares: caari, ara-da-gua, etc.
Famlia: Myrtaceae
Nativo das regies pantanosas e inundveis da
Amaznia Ocidental. um arbusto muito ramifcado,
de 2 a 3 metros de altura, com folhas simples,
fores grandes brancas, reunidas em pequenas
inforescncias terminais, com frutos em drupas
globosas (botanicamente o fruto do tipo baga, pois
tem mais de uma semente) de cor arroxeada, com
polpa carnosa e cida, que amadurecem na poca das
cheias dos rios amaznicos.
Os frutos so normalmente consumidos na forma
de sucos, sorvetes, gelias e outras bebidas, misturada
a outras frutas. Fonte de vitamina C natural.
3. Castanha-do-par - Bertholletia excelsa Bonpl.
Nomes populares: amndoa-da-amrica, castanha,
castanha-do-brasil, castanheiro, jvia, nh-nh,
tocari, touc-tuc, tucari, turuni, etc.
Famlia: Lecythidaceae
Nativa de toda a regio amaznica, tanto do
Brasil como dos pases vizinhos. uma planta
que ocorre em terra frme, preferencialmente em
solos profundos. rvore de grande porte, que pode
alcanar mais de 50 metros de altura, com folhas
simples, seus frutos so grandes cpsulas lenhosas -
botanicamente denominadas pixdio e conhecidos
na Amaznia como ourio. A cpsula ou ourio
da castanha possui uma abertura (oprculo) de
dimetro menor que as sementes e, por isso, as
sementes (castanhas) no so liberadas, dependendo
de roedores para serem liberadas, embora possam
germinar dentro do fruto.
A semente castanha-do-par exportada
e consumida em todo o mundo. Sua explorao
comercial iniciou-se no sculo XVII e, apesar de
ainda estar alicerada no extrativismo, uma das
principais atividades da economia amaznica.
A produo da castanha anual e ocorre no
incio do ano, de janeiro a abril. A castanha um
complemento na alimentao, usada para consumo
in natura, em mingaus, doces, no preparo de p-de-
moleque e outras iguarias regionais, sendo muito
conhecido na regio o pirarucu no leite de castanha.
fonte rica em selnio, antioxidante importante nas
reaes metablicas do organismo. Recomenda-
se o consumo de no mais que cinco castanhas
diariamente devido ao potencial carcinognico do
selnio. O leo da castanha utilizado na alimentao,
iluminao e para o fabrico de sabo e cosmticos.
4. Copaba - Copaifera spp.
Nomes populares: leo-de-copaba, blsamo-de-
copaba, leo-vermelho, pau-de-leo, entre outros.
Famlia: Fabaceae-Caesalpinioideae (Leguminosae-
Caesalpinioideae)
A Copaifera. langsdorfi Desf. ocorre mais
no cerrado. H outras espcies mais comuns na
Amaznia, de maior porte e mais produtivas em leo,
como C. multijuga Hayne e C. reticulata Ducke. Os
usos so os mesmos, assim como a forma de extrao
do leo.
As espcies fornecedoras do leo de copaba
ocorrem principalmente no Brasil, Venezuela,
Guianas, Colmbia, Amaznia, embora possa ser
encontrada nos estados do Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Gois, Minas Gerais, So Paulo e
Paran e nas partes mais midas da Regio Nordeste.
Existem vrias espcies que, embora apresentem
algumas diferenas botnicas, se parecem muito. So
geralmente rvores com altura de 10 a 40 metros, com
folhagem densa e constituda de folhas compostas.
O blsamo, vulgarmente chamado leo,
acumulado em cavidades do tronco da rvore de
onde, por processo artesanal, extrado atravs de
furos e recolhido com auxlio de tubos e canaletas,
apenas uma vez a cada ano. Atualmente o leo de
copaba obtido como subproduto da indstria
madeireira na Amaznia por aproveitamento do leo
que escoa durante a serragem da madeira. Os ndios
brasileiros utilizam o leo no tratamento de doenas
de pele e como proteo contra picadas de insetos.
Na medicina popular utilizado como cicatrizante
e antiinfamatrio local e atualmente entra na
composio de produtos cosmticos e sabes faciais.
5. Cupuau - Teobroma grandiforum (Willd. ex
Spreng.) K. Schum.
Nomes populares: cupuau-verdadeiro, cupu,
pupuau, pupu, etc.
Famlia: Malvaceae (antiga Sterculiaceae)
Nativa da regio amaznica, a rvore tem de
6 a 10 metros de altura, com copa alongada e bem
esparsada devido arquitetura estratifcada da
planta, com ramifcao tricotmica; seus frutos so
muito grandes, podendo atingir 30 centmetros de
comprimento e 5 quilos de peso, com polpa suculenta
e cremosa, sabor e odor caractersticos, com 10 a
15 sementes, chegando a ter mais de 30 sementes
(foi descoberto um exemplar na natureza com
frutos sem sementes, que est sendo reproduzido
vegetativamente).
A polpa dos frutos utilizada na forma de sucos,
sorvetes, cremes, gelias e doces. Os ndios da regio
amaznica apreciam muito a fruta, constituindo-se
numa fonte importante de alimentao.
74
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
6. Guaran - Paullinia cupana Kunth
Nomes populares: guaran-uva, guaranazeiro, uaran.
Famlia: Sapindaceae
O guaran tem duas variedades. A que cultivada
e consumida a Paullinia cupana var. sorbilis.
nativo da regio amaznica, entre os rios Ama-
zonas, Tapajs e Madeira, da rea conhecida como
Munduricnia (dos ndios Mundurukus), mas hoje
j cultivado em outras regies tropicais, tanto do pas
como do exterior.
Botanicamente, o guaran uma planta trepadeira
lenhosa e quando cultivada (sem tutoramento) pode
crescer como arbusto. Flores pequenas de cor creme,
aroma de jasmim, seus frutos so cpsulas globosas
de cor vermelho-viva, que se abrem quando ainda na
planta, expondo as sementes de cor preta brilhante em
cuja base tem um arilo branco farinceo, o que lhe con-
fere a aparncia de olho humano. Multiplica-se por se-
mentes e atualmente plantaes comerciais usam mu-
das multiplicadas assexuadamente, por estaquia com
uso de ftormnios.
As sementes secas e torradas so trituradas e redu-
zidas a um p muito fno, misturadas gua at formar
uma pasta. O p adicionado diretamente gua, po-
dendo ou no ser adicionado acar. A pasta de gua-
ran feita na preparao dos bastes que so defu-
mados por mais de 50 dias para conservar as proprie-
dades organolpticas. Ralado em lngua de pirarucu
(ssea, semelhante a ralador) ou em pedras especiais,
o p dissolvido na gua e ento bebido. ap uma
bebida tpica da etnia Sater-Maw.
Os ndios amaznicos j o utilizavam antes do des-
cobrimento e os colonizadores europeus logo passa-
ram a utiliz-lo, principalmente como estimulante, at
o seu uso comercial na composio de um dos prin-
cipais refrigerantes consumidos no Brasil (o guaran).
Desde 1989 o extrato de guaran est patenteado nos
Estados Unidos para uso visando prevenir a formao
de cogulos no sangue e para eliminar os j formados.
7. Ipecacuanha - Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes
Nomes populares: ipeca, cip-emtico, raiz-emtica,
raiz-do-brasil, entre outros.
Famlia: Rubiaceae
Ocorre nos lugares midos das forestas brasileiras
dos estados do Par, Pernambuco, Bahia, Rio de
Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais. cultivada
no Brasil, especialmente no Par e em Mato Grosso,
e tambm na ndia e na Malsia. um subarbusto
pequeno, de caule fno e lenhoso, quase rasteiro,
de ramos pouco com mais de 50 centmetros de
comprimento, com razes ou rizomas engrossados.
Folhas simples, inteiras, opostas, com estpulas
laciniadas interpeciolares. Flores de cor branca e
reunidas em cimeiras compactas. Os frutos so
pequenas drupas globosas de cor vincea.
Esta planta j era conhecida pelos ndios brasileiros
como ipekaaguene, ou cip que faz vomitar, antes
do descobrimento do Brasil. Os rizomas e razes so
utilizados devido presena da emetina.
Tem atividade amebicida contra protozorios e como
expectorante no tratamento auxiliar da bronquite
(via oral e baixa dose) e ao emtica.
Precaues/intoxicaes: irritante para pele e
mucosas, podendo provocar eritema e pstulas,
infamaes nos olhos e determinar crise de espirros
e tosse. Em doses altas pode produzir leses agudas
no corao, fgado, rim, intestino e msculos
esquelticos.
8. Pau-rosa - Aniba rosaeodora Ducke (sin.: Aniba
duckei Kosterm.)
Nome popular: verdadeiro-pau-rosa.
Famlia: Lauraceae
Nativa da regio amaznica na foresta de terra frme.
rvore de 20 a 25 metros de altura, com tronco
revestido por casca avermelhada e muito aromtica,
com folhas simples, fores pequenas amareladas
em inforescncias terminais. Temos ainda na
regio amaznica a Aniba canelilla (Kunth) Mez,
popularmente denominada de pau-rosa e casca-
preciosa: extrativismo.
Na espcie Aniba rosaeodora utiliza-se o leo essencial
(linalol), que tem um aroma perfumado, retirado
por destilao da madeira triturada e utilizado na
indstria de perfumes do pas e no mundo.
REGIO NORDESTE
A Regio Nordeste apresenta um clima e vegeta-
es peculiares e fortes infuncias indgena e africana.
Esses aspectos, combinados s ms condies socioe-
conmicas da regio, estimularam o surgimento de um
sistema de plantas medicinais prprias. Alm da esto-
malina ou boldo-da-bahia (Vernonanthura condensata
(Baker) H.Rob.), descrita no Anexo B, destacam-se:
1. Alecrim-pimenta - Lippia sidoides Cham.
Nomes populares: alecrim-do-nordeste, estrepa-cava-
lo, alecrim-bravo.
Famlia: Verbenaceae
Nativa da caatinga no nordeste do Brasil. Grande
arbusto caduciflio, ereto, muito ramifcado e quebra-
dio, de 2 a 3 metros de altura. Folhas aromticas e pi-
cantes, simples, fores pequenas, esbranquiadas, reuni-
das em espigas de eixo curto nas axilas das folhas; frutos
pequenos, cujas sementes raramente germinam. Em
solos frteis produz plantas com folhas muito maiores.
As folhas e fores possuem ao antissptica e o
leo essencial, atividade antimicrobiana aos agentes
causadores de mau cheiro nas axilas e nos ps, afas.
Tem ao moluscicida contra o caramujo hospedeiro
intermedirio da esquistossomose e larvicida contra o
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Folhas,
fores e frutos secos e triturados constituem excelente
mistura para tempero de carnes e pizzas que pode ser
usado no lugar do tomilho. O tratamento de guas para
eliminao dos vetores da esquistossomose e da den-
gue outro tipo de aplicao que pode ser feito com
esta planta e seu leo essencial.
75
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
2. Aroeira-mansa Schinus terebinthifolius Raddi
Nomes populares: aroeira-vermelha, aroeira-pimentei-
ra, fruta-de-cotia, fruta-de-sabi, pimenteira-do-peru,
coraciba
Famlia: Anacardiaceae
rvore de 3 a 6 metros de altura, podendo chegar
at 15 metros, espcie pereniflia, nativa do Brasil,
Paraguai e Argentina. encontrada desde o Cear at
o Rio Grande do Sul, sendo uma rvore tpica das ca-
atingas nordestinas. Ocorre nos capes das forestas
estacionais semideciduais, freqente nas capoeiras das
encostas, beiras de rios e nos campos, como invasora de
reas abandonadas.
Na medicina popular os ramos so utilizados
em tratamentos das doenas das vias respiratrias,
estimulantes dos rgos digestivos. Da casca produz-se
tinta para tecidos. A rvore muito usada na arborizao
de ruas e a sua madeira transformada em esteios, lenha
e moures, devido a densidade e durabilidade elevadas.
comum algumas pessoas apresentarem alergia a esta
planta (folhas ou fores).
3. Jaborandi - Pilocarpus microphyllus Stapf ex
Wardleworth
Nomes populares: jaborandi-do-maranho, jaburandi,
jaborandi-da-folha-pequena, yabor-di, entre outros.
Famlia: Rutaceae
Nativo desde o estado do Piau at a Amaznia.
Pequeno arbusto ereto e ramifcado, de folhas
compostas, com fores amarelo-esverdeadas que do
origem a frutos do tipo cpsula deiscente.
Parte usada: folha - constitui-se dos fololos
recentemente dessecados.
As propriedades medicinais desta planta so
decorrentes da pilocarpina, principal constituinte
ativo. Suas folhas tm sido usadas h mais de meio
sculo, principalmente para produo industrial da
pilocarpina. A pilocarpina entra na composio de
colrios, pomadas e injees hipodrmicas usados no
controle da presso ocular nos casos de glaucoma. So
usados tambm como antdoto do envenenamento
por alcalides tropnicos de Solanceas. A pilocarpina
estimula as glndulas sudorfcas, salivares, lacrimais,
gstricas, pancreticas, intestinais e as da mucosa das
vias respiratrias.
Outras duas espcies de Pilocarpus, como a P.
jaborandi Holmes e a P. pennatifolius Lem., todos
nativos do Brasil, encontram-se sob risco de extino
pela explorao predatria.
4. Jatob - Hymenaea courbaril L.
Nomes populares: jita, aboti-timba, rvore-de-copal,
burand, farinheira, fava-doce, fava-do-p, imbiva,
jassa, jata, jata-au, jatob-da-catinga, jatob-mido,
jata-peba, jatob-lgrima, jataba, etc.
Famlia: Fabaceae-Caesalpinioideae (Leguminosae-
Caesalpinioideae)
Caractersticas: rvore de 15 a 20 metros de altura
podendo chegar a 30 metros na regio amaznica,
tronco cilndrico de at 1 metro de dimetro, folhas
compostas bifolioladas, fores brancas reunidas em
pequenas inforescncias terminais. Os frutos so
vagens de cor marrom-escura, contendo sementes
envoltas por uma substncia farincea adocicada
com forte odor. Nativa da mata da bacia do Paran,
Brasil Central e Centro Oeste e da foresta tropical
amaznica.
Parte usada: casca dos ramos, folha e polpa do fruto.
A polpa, rica em nutrientes, comestvel, consumida
pelas populaes rurais das regies de origem desta
planta. A planta libera uma goma resinosa que usada
para o preparo de incenso e verniz. Tribos indgenas da
Amaznia usam a goma para fazer placas para os lbios
e para fns medicinais e contra vrios males.
5. Ju - Ziziphus joazeiro Mart.
Nomes populares: juazeiro, enjo, jo, ju-de-
espinho, laranjeira-do-vaqueiro, raspa-de-ju.
Famlia: Rhamnaceae
Nativa do nordeste do Brasil, ocorrendo
prximo aos vales sertanejos, desde o estado do
Piau at o norte de Minas Gerais, onde se mantm
verde, mesmo durante longas estiagens. Cultivada
em pomares domsticos em todo o pas.
rvore frondosa de at 16 metros de altura,
ramos armados de fortes espinhos, com folhas
inteiras, fores amarelo-esverdeadas, pequenas,
reunidas em inforescncias; fruto do tipo drupa
globosa, amarelada, com caroo grande coberto
por uma polpa mucilaginosa branca e doce. Parte
usada: cascas e folhas, tradicionalmente usadas na
medicina popular do Nordeste.
Alguns usos e propriedades: utilizada para
alvio de problemas gstricos e externamente
para limpeza dos cabelos e dos dentes e para
clarear a pele do rosto, sendo referido inclusive
como tnico capilar anticaspa e remdio til nas
doenas da pele. As folhas e as cascas, quando
agitadas com gua, produzem abundante
espuma devido sua propriedade espumgena.
Em ensaios farmacolgicos, comprovou-se a
ao antimicrobiana sobre Streptococcus mutans,
principal germe causador da crie dentria, e sua
efccia na diminuio da placa dental.
REGIO CENTRO-OESTE
1. Araticum - Annona coriacea Mart.
Nomes populares: araticum-do-campo, fruta-do-
conde, cabea-de-negro, marolo.
Famlia: Annonaceae
Caractersticas: rvore ou arbusto de pequeno
porte e copa irregular. A casca clara, spera e
fendilhada. Folhas alternas, simples, arredondadas,
coriceas. Apresentam pice arredondado e
colorao verde-escura. As fores so rseo-
alaranjadas, solitrias, grandes, com ptalas
carnosas. Frutos grandes (sincarpo), verdes, com
polpa amarelada, mucilaginosa e doce, comestvel,
muito apreciada na forma de sucos ou sorvetes.
76
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Planta do Cerrado que foresce entre novembro e
janeiro e poca de frutifcao em janeiro.
Usada pelos ndios Kayaps para desordens
gastrointestinais, dor generalizada.
2. Barbatimo - Stryphnodendron adstringens
(Mart.) Coville
Nomes populares: barba-de-timo, casca-da-
virgindade, barbatimo-verdadeiro, paricarana,
ibatim, uabatim, etc.
Famlia: Fabaceae-Mimosoideae (Leguminosae-
Mimosoideae)
Caractersticas: rvore hermafrodita, pequena,
decdua, tronco tortuoso de casca rugosa, espessa e
clara. Folhas alternas, compostas bipinadas, folilulos
arredondados a ovalados. Flores pequenas, creme-
avermelhadas, dispostas em espigas axilares. Os
frutos so vagens carnosas com muitas sementes de
colorao parda. Planta do Cerrado que foresce em
setembro. Tambm encontrada na Regio Sudeste,
inclusive em So Paulo.
Usada pelas populaes de reas de cerrado
principalmente como ao adstringente de
antissptica (cascas do caule na forma de decocto),
por via oral para leses gstricas e uso externo como
cicatrizante no tratamento de feridas.
3. Japecanga - Smilax brasiliensis Spreng.
Nome popular: salsaparrilha.
Famlia: Smilacaceae (anteriormente Liliaceae)
Espcie comum em reas de Cerrado e segundo
H. Lorenzi semelhante Smilax japicanga Griseb.,
empregada para os mesmos fns teraputicos.
Caractersticas: erva perene trepadeira, lenhosa,
que mede de 1 a 2 metros de comprimento e
apresenta espinhos tortos e fortes no caule. Folhas
verdes, coriceas, com gavinhas. Flores esverdeadas,
pequenas, dispostas em inforescncias. Os frutos
so carnosos, redondos, vermelho-arroxeados.
Usada segundo a medicina popular, o ch da raiz,
preparado por decocto ou infuso, tem propriedades
depurativa, diurtica, digestiva, sudorfca, no trata-
mento de artrite e gota e afeces da pele.
4. Sete-sangrias Cuphea carthagenensis (Jacq.) J. F.
Macbr.
Nomes populares: guaxuma, p-de-pinto, erva-de-san-
gue, guanxuma-vermelha, etc.
Famlia: Lythraceae
Caractersticas: planta herbcea de caule averme-
lhado, pouco ramifcado. Apresenta muitas pilosidades
glandulosas e speras. Suas folhas so simples, opostas,
speras e apresentam colorao mais escura na face su-
perior e fores lilases, agrupadas nas axilas foliares.
Usada na medicina tradicional, embora a efccia
e a segurana de seu uso no tenham sido ainda com-
provadas cientifcamente, sua utilizao vem sendo
feita com base na tradio popular. Usada na forma de
ch (planta inteira picada) como diurtico, depurati-
vo, na hipertenso arterial, como antioxidante na pre-
veno de doenas cardiovasculares. Uso externo nas
afeces de pele.
Obs.: uso no recomendado para crianas sob ne-
nhuma forma.
5. Pequi Caryocar brasiliense Cambess.
Nomes populares: piqui, piqui-do-cerrado, pequi,
gro-de-cavalo.
Famlia: Caryocaraceae
Caractersticas: arbusto ou rvore (dependendo
de fatores extrnsecos, como geadas e incndios) de
tronco tortuoso e casca spera (em rvores jovens) a
espessa (rvores velhas). Folhas opostas, compostas,
fololos ovais com margem crenada e com plos. As
fores so grandes, de colorao creme, com cinco
spalas verde-avermelhadas, cinco ptalas creme-
amareladas e estames longos. Fruto carnoso, verde
por fora e amarelo por dentro, com sementes amare-
las e espinhosas.
Planta do Cerrado que foresce entre outubro e
dezembro e frutifca de janeiro a fevereiro. O pequi
uma planta melfera, ornamental e muito utilizada
na alimentao, no preparo de pratos quentes, doces,
sucos, etc.
Popularmente, o leo da castanha junto com ba-
nha de capivara aplicado ao peito externamente para
auxiliar a expectorao. leo do pequi para resfriados
e costuma-se pingar os leos do caroo e do pequi na
comida. Os caroos so deixados de molho na aguar-
dente durante alguns dias e usados como tnico.
REGIO SUDESTE
A Regio Sudeste uma das regies defnidas
pelo IBGE, composta pelos estados de So Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Esprito Santo. por
excelncia uma terra de transio entre a Regio Nor-
deste e a Sul.
A vegetao predominante a Mata Atlntica,
mas novamente h excees como a Mata de Arau-
cria no sul de So Paulo e nas regies serranas, e a
caatinga no norte de Minas Gerais.
O interior de So Paulo, notadamente a regio
entre os rios Tiet e Paranapiacaba (regio de Bauru,
Marlia, Presidente Prudente), a regio de transio
entre o Sudeste e o Sul, possuindo caractersticas das
duas regies.
Hoje em dia restam pequenos trechos da Mata
Atlntica porque a maioria da mata foi substituda
por reas urbanas, pastagens e plantaes. No litoral,
nas partes mais alagadas, encontramos manguezais.
A mata tropical que existia originalmente no litoral
foi devastada no perodo de ocupao do territrio,
dando lugar a plantaes de caf. No estado de Mi-
nas Gerais predomina a vegetao do cerrado, com
arbustos e gramneas, sendo que no vale do rio So
Francisco e norte do estado encontra-se a caatinga.
Alm das outras arnicas e a carqueja (Baccharis
spp.), detalhadas no anexo B, destacamos:
77
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
1. Arnica-do-campo (brasileira) - Solidago chilensis
Meyen = Solidago microglossa DC. var. linearifolia
(DC.) Baker
Nomes populares: arnica, arnica-brasileira, arnica-
silvestre, erva-de-lagarto, erva-lanceta, espiga-de-
ouro, lanceta, marcela-mida, sap-macho.
Famlia: Asteraceae (Compositae)
Nativa na parte meridional da Amrica do Sul,
incluindo o sul e sudeste do Brasil. Herbcea perene,
rizomatosa, ereta, no ramifcada, entouceirada, com
hastes fnas e enfolhadas, de 80 at 120 centmetros
de altura, inforescncia terminal composta de fores
pequenas, amarelas formadas no vero-outono.
Planta de crescimento vigoroso e persistente em
pastagens, beira de estradas e terrenos baldios em
todo o sul e sudeste do Brasil, considerada planta
daninha. tambm cultivada em hortas medicinais
caseiras, inclusive na Regio Nordeste do pas,
apesar de no terem sido, ainda, comprovadas
cientifcamente a efccia e a segurana do uso desta
planta. Sua utilizao vem sendo feita com base
na tradio popular, de uma maneira crescente.
As folhas e rizomas so usados como cicatrizante,
sendo empregada externamente no tratamento de
ferimentos, escoriaes, traumatismos e contuses
em substituio arnica-verdadeira - Arnica montana.
Por ser considerada txica, seu uso interno s deve
ser feito com estrita indicao e acompanhamento
mdico.
Obs.: No Sudeste temos ainda a arnica-do-mato
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass., conhecida
como arnica e por cravo-de-urubu no Nordeste, pelo
seu odor quando fresca, qual se atribui a mesma
aplicao medicinal.
2. Assa-peixe Vernonanthura phosphorica (Vell.)
H.Rob. (sin.: Vernonia polyanthes Less.)
Nomes populares: chamarrita, cambar-guau,
cambar-branco.
Famlia: Asteraceae (Compositae)
Nativo da Bahia e Minas Gerais at Santa
Catarina, principalmente na orla atlntica. Arbusto
grande, ou arvoreta, pouco ramifcado, com 1 a 3
metros de altura, folhas simples, speras ao tato,
de colorao levemente mais clara na face inferior,
com fores esbranquiadas, melferas, reunidas em
captulos pequenos em panculas terminais.
Folhas e razes so utilizadas popularmente na
medicina caseira. As folhas em forma de ch so
utilizadas como diurtico, auxiliando a eliminao
de clculos renais, como balsmico nos resfriados e
na forma de compressas para afeces da pele e dores
musculares.
3. Erva-baleeira Cordia curassavica (Jacq.) Roem.
& Schult. (sin.: Cordia verbenacea DC. = Varronia
verbenacea (DC.) Borhidi)
Nomes populares: catinga-de-baro, cordia, balieira-
cambar, erva-preta, maria-milagrosa, maria-preta,
salicnia, maria-rezadeira, camarinha, etc.
Famlia: Boraginaceae
Usada h centenas de anos em aplicaes tpicas
no tratamento de dores musculares, contuses,
artrite reumatide, como antiinfamatrio.
Nativa de quase todo o Brasil, principalmente em
reas abertas da orla litornea, um arbusto ereto,
ramifcado, aromtico, com a extremidade dos ramos
um tanto pendente e hastes revestidas por casca
fbrosa, amplamente distribudo por toda a costa
sudeste do Brasil. Folhas simples, aromticas, fores
pequenas, brancas, dispostas em inforescncias
racemosas.
A folha amplamente utilizada na medicina
caseira, principalmente nas regies litorneas do
Sudeste e Leste, onde considerada antiinfamatria,
antiartrtica, analgsica, tnica e antiulcerognica. O
seu ch, que tambm empregado para a cicatrizao
de feridas externas e para lceras recomendado
para reumatismos, artrite reumatide, gota, dores
musculares, nevralgias e contuses.
4. Goiaba Psidium guajava L.
Nomes populares: goiabeira, ara-goiaba, goiaba-
branca, goiaba-vermelha, guava, ara-gua,
guaiava, entre outros.
Famlia: Myrtaceae
Nativa da Amrica do Sul, desde a Venezuela at
o Rio de Janeiro, e cultivada em todos os pases de
clima tropical. uma arvoreta de tronco e ramos
tortuosos, com casca lisa e descamante. Folhas
aromticas, fores alvas, fruto do tipo baga, com
polpa doce e levemente aromtica, com sementes
pequenas e duras. Para fns medicinais deve ser
podada e regada freqentemente para estimular a
produo dos gomos foliares terminais (brotos),
utilizados como medicinais. Segundo literatura
etnofarmacolgica, usada em tratamento caseiro
de diarrias na infncia (ch dos brotos, juntamente
com acar e sal para efeito de soro reidratante
caseiro); referido, tambm, o uso do ch em
bochechos e gargarejos em pequenas infamaes
da boca e garganta.
Os frutos so consumidos in natura e na forma
de compotas, doces e gelias.
5. Guaatonga - Casearia sylvestris Sw.
Nomes populares: guaatunga, vassitonga, api-
aanou, bugre-branco, caroba, ch-de-bugre, ch-
de-frade, erva-de-lagarto, caf-de-frade, cafezeiro-
do-mato, cafezinho-do-mato, cambro, erva-
pontada, fruta-de-sara, guaatunga-preta, lngua-
de-teju, pau-de-lagarto, petumba, varre-forno, etc.
Famlia: Salicaceae (antiga Flacourtiaceae)
Nativa de quase todo o Brasil, principalmente
no planalto meridional. rvore de 4 a 6 metros de
altura, copa densa e arredondada, folhas simples,
possuindo forma de ponta de lana, com as bordas
serrilhadas. Vistas contra a luz mostram minsculos
pontos translcidos, que correspondem s
glndulas de leo essencial. Flores pequenas, de cor
esbranquiada.
78
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
As folhas so utilizadas na medicina tradicio-
nal brasileira, principalmente para o tratamento de
queimaduras, ferimentos, herpes e pequenas injrias
cutneas. Suas folhas e cascas so consideradas tni-
cas, depurativas, anti-reumticas e antiinfamatrias.
usada tambm contra mordida de cobra, como
analgsico e hemosttico em mucosas e leses cut-
neas. usada para o tratamento de doenas de pele e
como depurativo de sangue.
recomendada contra gastrite, lceras internas e
mau hlito (halitose).
O uso externo recomendado contra herpes la-
bial e genital, gengivites, estomatites, afas e feridas
na boca. Suas propriedades cicatrizantes de ferimen-
tos, bem como sua atividade antilcera gstrica fo-
ram cientifcamente validadas em estudos em 1979
e 1990 no Brasil.
6. Pata-de-vaca - Bauhinia forfcata Link
Nomes populares: unha-de-vaca; baunia; capa-
bode; casco-de-burro; casco-de-vaca; ceroula-de-
homem; mirir; miror; pata-de-boi; pata-de-veado;
p-de-boi; unha-de-anta; unha-de-boi; unha-de-boi-
de-espinho, etc.
Famlia: Fabaceae-Cercideae (anteriormente Legu-
minosae-Caesalpinioideae)
Nativa do sudeste do Brasil, mas encontrada tam-
bm nas reas montanhosas da Regio Nordeste. r-
vore perene, pode atingir 10 metros de altura, suas
folhas so verdes e bilobadas (da o nome pata-de-
vaca), suas fores so brancas e numerosas e seu fruto
(vagem), achatado e escuro.
Toda a planta utilizada popularmente. As folhas,
cascas e fores so largamente empregadas na medici-
na caseira, principalmente no Sudeste. Especialmente
as folhas so empregadas nas prticas caseiras da medi-
cina popular como auxiliar no tratamento da diabetes.
7. Pitanga - Eugenia unifora L.
Nomes populares: ibipitanga, pitangueira, pitan-
gueira-vermelha, cerejeira-brasileira, pitanga-branca,
pitanga-rosa, pitanga-roxa, pitangueira-mida, etc.
Famlia: Myrtaceae
Arbusto com tronco tortuoso e de casca fna, com
ampla distribuio em todo o territrio nacional, na-
tiva do Brasil, desde o Planalto Meridional at as res-
tingas litorneas do Nordeste at o Sul. Ramifcao
densa, folhas delicadas e que, se amassadas quando
frescas, exalam odor agradvel. Flores midas, brancas
e os frutos, quando exibem colorao vermelha, so
suculentos, de sabor agridoce e apreciados ao natural
ou transformados em doces e licores.
Os frutos so medianamente ricos em vitamina C
e consumidos tanto in natura como na forma de sucos,
gelias e doces. Embora a efccia e a segurana do uso
desta planta na medicina popular no tenham sido, ain-
da, comprovados cientifcamente, sua utilizao vem
sendo feita com base na tradio popular, sendo o ch
das folhas utilizado como febrfuga e antidisentrica.
REGIO SUL
Quando nos referimos regio sul do Brasil,
comum nos lembrarmos da Mata de Araucrias ou
Floresta dos Pinhais e do grande Pampa Gacho, for-
maes vegetais tpicas da regio, embora no sejam as
nicas. A mata de araucrias, bastante devastada e da
qual s restam alguns trechos, aparece nas partes mais
elevadas dos planaltos do Rio Grande do Sul, Paran
e Santa Catarina, na forma de manchas entre outras
formaes vegetais.
Desta mata so extrados principalmente o pi-
nheiro-do-paran (Araucaria angustifolia) e a imbuia
(espcies de Lauraceae), utilizadas em marcenaria, e
a erva-mate (Ilex paraguariensis), cujas folhas so em-
pregadas no preparo do chimarro. Alm da calndula,
espinheira-santa e guaco, apresentados no Anexo B,
destacamos:
1. Erva-mate - Ilex paraguariensis A. St.Hil.
Nomes populares: congonha, erva-congonha, erva-
verdadeira, mate, ch-mate.
Famlia: Aquifoliaceae
Nativa do sul da Amrica do Sul (Paraguai, Ar-
gentina, Uruguai, Chile e Brasil, desde o Mato Gros-
so do Sul at o Rio Grande do Sul), principalmente
em regies altas. rvore de at 20 metros de altura,
dotada de copa densa e muito ramifcada. Folhas de
cor verde escura, simples, fores unissexuais, brancas,
fruto do tipo drupa, avermelhado, de polpa carnosa,
com 5 a 8 sementes.
As folhas so usadas para fns medicinais e, prin-
cipalmente, alimentcio acessrio, na forma de ch
mesmo antes da descoberta da Amrica. No sul do
Brasil consumida sob a forma de bebida tpica o
chimarro, amarga, tomada muito quente e sem ado-
ante, em recipientes especiais, mas no restante do
Pas usada na forma de ch ou como bebida refres-
cante gelada e, s vezes, adicionada de algumas gotas
de limo que tem emprego como estimulante. Tem
uso como medicao caseira contra fadiga muscular
e mental. Externamente utilizado sob forma de ca-
taplasma, no tratamento caseiro das afeces de pele.
Tem propriedades digestiva, sudorfera, tonifcante.
2. Macela - Achyrocline satureioides (Lam.) DC.
Nomes populares: alecrim-de-parede, camomila-
nacional, carrapichinho-de-agulha, ch-de-lagoa,
losna-do-mato, macela-amarela, macela-da-terra,
macela-do-campo, macelinha, marcela, marcela-do-
campo, paina, etc.
Famlia: Asteraceae (Compositae)
Nativa de campos e reas abertas do sul e sudeste
do Brasil.
Herbcea perene, ereta ou muito ramifcada, de
60 a 120 centmetros de altura. Cresce espontanea-
mente em pastagens e beira de estradas, sendo consi-
derada pelos agricultores como planta daninha.
Popularmente usada a planta toda com
inforescncia. O ch de suas fores, folhas e ramos
79
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
secos usado no Brasil no tratamento de problemas
gstricos, como antiinfamatrio e antiespasmdico
nas clicas e emenagogo. Em uso externo contra
reumatismos, nevralgias, dores articulares e
musculares.
3. Sabugueiro - Sambucus australis Cham. & Schltdl.
Nomes populares: acapora, sabugo-negro,
sabugueirinho, sabugueiro-do-brasil, sabugueiro-do-
rio grande
Famlia: Adoxaceae (anteriormente Caprifoliaceae)
Nativa do sul da Amrica do Sul, incluindo
o Brasil, principalmente Sul e Sudeste. Arbusto
grande de 3 a 4 metros de altura, de copa irregular
e ramifcada, com tronco tortuoso e casca fssurada,
folhas compostas que exalam odor desagradvel
quando amassadas. Flores pequenas, de cor branca,
odorferas, reunidas em inforescncias terminais.
Os frutos so drupas globosas, de cor roxo-escura
quando maduros, contendo de 3 a 5 sementes.
Suas folhas so consideradas inseticidas e
empregadas no preparo de inseticida caseiro
(orgnico).
Todas as partes da planta tm sido empregadas
na medicina natural em vrias partes do mundo h
sculos, contudo, nos dias atuais, h uma tendncia de
maior uso de suas fores secas, usadas externamente
em dermatoses, queimaduras leves como antissptica,
cicatrizante e antiinfamatria. As fores e frutos so
usados popularmente nos resfriados; a casca, para
artrite reumatide, como diurtica, recomendada
na forma de ch como estimulante da sudorese. As
folhas contm um glicosdeo cianognico txico, no
devendo ser utilizadas oralmente.
4. Estvia - Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
Nomes populares: azuca-ca, ca-h-e, ca-jhe-h,
ca-yupi, capim-doce, eira-ca, erva-adocicada, erva-
doce, folha-doce, planta-doce, stvia.
Famlia: Asteraceae (Compositae)
Nativa do estado do Paran ao longo da fronteira
com o Paraguai. Herbcea perene, semi-ereta, de 40
a 80 centmetros de altura, muito ramifcada, com
folhas simples, de pouco mais de 1 centmetro de
comprimento. Flores esbranquiadas, reunidas em
pequenos captulos terminais. Durante sculos os
ndios guaranis do Paraguai e do Brasil tm utilizado
as folhas como adoante, principalmente para
adoar seu ch-mate muito consumido por esses
povos. As propriedades adoantes de suas folhas so
devidas presena de glicosdeos e principalmente
esteviosdio, que tem um poder adoante maior que
a sacarose. Adoante de estvia usado em quase
todo o mundo e para produtos dietticos. Esta planta
considerada popularmente como hipoglicemiante,
hipotensora, diurtica e cardiotnica.
#07
FATORES QUE
INFLUENCIAM A
PRODUO DE
PRINCPIOS ATIVOS
#07
FATORES QUE
INFLUENCIAM A
PRODUO DE
PRINCPIOS ATIVOS
82
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
7.1 FATORES QUE INFLUENCIAM A
PRODUO DOS PRINCPIOS ATIVOS.
HORTA MEDICINAL: ESCOLHA DO LO-
CAL; PREPARO, CORREO E ADUBAO
DO SOLO; TRTOS CULTURIS.
Ms. Ado Luiz Castanheiro Martins
Prof. Dr. Marcos Roberto Furlan
A Fatores que afetam a produo de biomassa e
dos princpios ativos (metablitos secundrios)
Metabolismo o conjunto de reaes qumi-
cas que ocorrem continuamente em cada clula e
os compostos qumicos formados, degradados ou
transformados so chamados de metablitos. Essas
reaes visam, primariamente, ao aproveitamento
de nutrientes para satisfazer s exigncias fundamen-
tais da clula, na produo de energia e substncias
essenciais sua sobrevivncia, e ocorrem atravs do
metabolismo primrio.
Vegetais, microrganismos e, em menor escala,
animais so capazes de produzir, transformar e acu-
mular inmeras outras substncias denominadas
metablitos secundrios. Embora no necessaria-
mente essenciais para o organismo produtor, os me-
tablitos secundrios garantem vantagens para sua
sobrevivncia e para a perpetuao de sua espcie em
seu ecossistema como, por exemplo, na defesa contra
herbvoros e microrganismos, na proteo contra os
raios UV, na atrao de polinizadores ou animais dis-
persores de sementes e em alelopatias, e por isso so
produzidos em estgios particulares de crescimento
e desenvolvimento, ou em perodos de estresse cau-
sados por limitaes nutricionais ou ataque micro-
biolgico. Nas plantas medicinais, os metablitos
secundrios so chamados de princpios ativos.
Nem sempre as condies ideais para o desenvol-
vimento da planta so as mais adequadas para a produ-
o de princpios ativos de interesse. As condies de
cultivo das plantas medicinais devem-se assemelhar
quelas de seu local de origem, como o caso da mar-
cela (Achyrocline satureioides), que ocorre em solos
cidos e pobres em fertilidade. Muitas espcies pro-
duzem substncias ativas quando submetidas a con-
dies de estresse, com uma reduzida disponibilidade
de nutrientes no solo, mas que no regra geral, pois o
princpio ativo est associado ao metabolismo secun-
drio da planta, que refete as adaptaes da planta s
condies adversas ou mecanismos de defesa.
O conhecimento do local de origem das plantas
pode fornecer informaes importantes para um cul-
tivo bem-sucedido. A maioria das plantas medicinais
cultivadas extica, domesticada em seus ecossiste-
mas naturais, e apresenta caractersticas de plantas he-
liftas como as pioneiras, que necessitam de bastante
luz para o seu crescimento. Pode-se citar nesse grupo
o alecrim (Rosmarinus ofcinalis), a melissa (Melissa
ofcinalis) e o funcho (Foeniculum vulgare), origin-
rios do Mediterrneo; a arruda (Ruta graveolens), a
camomila (Matricaria chamomilla), o dente-de-leo
(Taraxacum ofcinale), a mil-folhas (Achillea mille-
folium), a tanchagem (Plantago major) e o tomilho
(Tymus vulgaris), originrios da Europa; o tanaceto
ou artemsia (Tanacetum parthenium), originrio da
sia; a calndula (Calendula ofcinalis), originria do
Egito, e o capim-limo (Cymbopogon citratus), origi-
nrio da ndia (MARTINS et al., 1995; CORRA
JNIOR et al., 1994). Entre as espcies nativas, po-
dem ser citados os guacos (Mikania spp.), as emba-
bas (Cecropia spp.), os maracujs (Passifora spp.), as
carquejas (Baccharis spp.), a pata-de-vaca (Bauhinia
forfcata), as espinheiras-santas (Maytenus spp.), erva-
baleeira (Cordia curassavica), marcela (A. satureioi-
des), ip-roxo (Tabebuia heptaphylla), entre outras.
Os teores de princpio ativo no so estveis na
planta, nem se distribuem de maneira homognea
por suas partes, e esto sempre concentrados em de-
terminadas partes da planta: raiz, rizoma, folha, cau-
le, semente ou for, variando o teor de acordo com a
poca do ano, o solo e o clima do local onde a planta
est, fator tambm chamado de agroclimtico. Por
isso importante cultivar plantas nativas ou adap-
tadas regio, pois, desta forma, mexe-se o mnimo
possvel com seu metabolismo. A no observao das
exigncias relacionadas ao clima e ao solo pode resul-
tar na produo de plantas bem desenvolvidas, mas
sem o teor do princpio ativo desejado.
Dentre os fatores importantes que infuenciam
a produo de biomassa e de princpios ativos das
plantas medicinais, podemos destacar:
Luz: desempenha um papel fundamental na
vida das plantas, infuenciando na fotossntese e em
outros fenmenos fsiolgicos como crescimento,
desenvolvimento e forma das plantas. As plantas
tambm respondem s modifcaes na proporo
de luz e escurido dentro de um ciclo de 24 horas,
comportamento chamado de fotoperiodismo. Em
muitas espcies o fotoperodo o responsvel pela
germinao das sementes, desenvolvimento da plan-
ta e formao de bulbos e fores.
De acordo com seu comportamento em relao
ao fotoperodo, as plantas so classifcadas em:
plantas de dias curtos: forescem quando
recebem iluminao por um perodo inferior a um
determinado nmero de horas por dia. Esse limite
chamado fotoperodo crtico;
plantas de dias longos: forescem ou o fazem mais
rapidamente quando recebem iluminao por um
perodo superior a certo nmero de horas por dia;
plantas indiferentes: forescem sem nenhuma
relao com o perodo de iluminao recebida.
A hortel-pimenta (Mentha x piperita) uma
planta de dias longos com fotoperodo crtico entre
12 e 14 horas, encontrando tais condies no sul do
Brasil, no vero.
A capacidade de germinao das sementes tam-
bm pode estar associada iluminao. So cha-
madas de fotoblsticas positivas as plantas cujas
sementes necessitam de luz para germinar e de fo-
toblsticas negativas aquelas que no necessitam
83
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
de luz. Como exemplos do primeiro caso temos a
camomila (M. chamomilla), a erva-de-santa-maria
(Chenopodium ambrosioides) e a tanchagem (Plan-
tago tomentosa), que no germinam quando enter-
radas. Este comportamento determina o modo ade-
quado de plantio destas espcies, que no devem
ser cobertas com terra.
Em geral, as plantas de dias curtos so as de origem
tropical e as de dias longos so oriundas das regies
temperadas, o que explica possivelmente o fato de
muitas plantas europias no forescerem no Brasil.
Temperatura: exerce grande infuncia no cresci-
mento e desenvolvimento da planta. Para cada cultu-
ra h temperaturas mnima e mxima e uma faixa de
temperatura tima para o desenvolvimento, afetando
a produo de biomassa ou a produo de fores.
Com relao exigncia em temperatura, pode-se
dividir as plantas medicinais em dois grupos:
temperaturas mais amenas: camomila (M.
chamomilla), marcela (A. satureioides), calndula
(C. ofcinalis), guacos (Mikania spp.), capuchinha
(Tropaeolum majus), estvia (Stevia rebaudiana),
dedaleira (Digitalis purpurea), bardana (Arctium
lappa), dente-de-leo (T. ofcinale), confrei
(Symphytum ofcinale), espinheiras-santas (Maytenus
spp.), por exemplo;
temperaturas mais altas: erva-baleeira (C.
curassavica), aafro-da-terra (Curcuma longa), capim-
limo (C. citratus), boldo-do-chile (Peumus boldus),
arruda (R. graveolens), babosas (Aloe spp.), guaran
(Paullinia cupana), jurubeba (Solanum paniculatum),
ju (Ziziphus joazeiro), pimentas (Capsicum spp.),
jaborandis (Pilocarpus spp.), maracujs (Passifora spp.),
funcho (F. vulgare), coentro (Coriandrum sativum),
boldo-da-terra (Plectranthus barbatus), boldo-baiano
(Vernonanthura condensata), entre outras.
Umidade: como a gua um elemento essencial
para a vida e o metabolismo das plantas, supe-
se que em ambientes midos a produo de
princpios ativos seja maior. Porm, alguns estudos
mostraram que nem sempre isto verdadeiro, e
algumas pesquisas revelaram que a gua reduz o
teor de alcalides produzidos em algumas espcies.
Com relao aos leos essenciais, parece ocorrer o
contrrio, pois, de maneira geral, observa-se um
aumento na sua concentrao em menor teor de
gua, como ocorre no capim-limo (C. citratus). Por
outro lado, plantas irrigadas podem compensar o
menor teor de princpios ativos com maior produo
de biomassa, o que resultar em maior rendimento
fnal de princpio ativo por rea.
Altitude: os efeitos da altitude esto relacionados
com a temperatura medida que aumenta a
altitude, a temperatura diminui em cerca de um grau
a cada 200 metros e aumenta a intensidade luminosa
(insolao), interferindo no desenvolvimento das
plantas e na produo de princpios ativos. O dente-
de-leo (T. ofcinale), cultivado em baixas altitudes,
desenvolve uma planta normal, com folhas grandes,
inforescncia com haste comprida e razes curtas.
Quando cultivado em altitudes maiores, suas folhas
so pequenas, as hastes das inforescncias so curtas
e as razes, bastante compridas. Plantas produtoras
de alcalides, em baixas altitudes, apresentam
maior teor de princpios ativos, possivelmente
devido maior atividade metablica em virtude das
temperaturas maiores.
Latitude: a distncia que determinada regio
se encontra da linha do Equador. Teoricamente,
plantas cultivadas em latitudes equivalentes, norte
e sul, tenderiam a ter o mesmo comportamento
em relao ao desenvolvimento, poca de forao
e teor de princpios ativos. Alguns estudos
demonstraram que plantas cultivadas em latitude
sul eram mais ricas em alcalides que as cultivadas
em latitude norte equivalente. Tais diferenas esto
relacionadas, entre outros, com a inclinao da
Terra e a infuncia das correntes martimas sobre
a temperatura. A maioria das plantas aromticas,
como o alecrim (R. ofcinalis), tomilho (T. vulgaris),
capim-limo (C. citratus), manjerona (Origanum
majorana), melissa (M. ofcinalis), camomila (M.
chamomilla) e slvia (Salvia ofcinalis), originria
de latitudes entre 40 e 60 graus. Maiores teores,
principalmente de leos essenciais, so produzidos
nestas latitudes, que no se encontram no Brasil,
por isso muitas das plantas aromticas no so de
boa qualidade no pas. Plantas de origem tropical ou
subtropical recebem pouca ou nenhuma infuncia
da latitude.
Solo: o tipo de solo pode infuenciar a produo
da biomassa e dos princpios ativos. Geralmente,
a origem da planta medicinal pode servir como
indcio de solo para o qual ela est mais adaptada, de
modo que possa servir de subsdio para indicao de
locais mais propcios. Mesmo sem realizar a anlise
de solo, imprescindvel para produo comercial,
possvel fornecer algumas dicas:
espcies em que se objetiva a extrao de razes ou
rizomas, bardana (A. lappa), gengibre (Zingiber of-
cinale), aafro-da-terra ou crcuma (C. longa), ze-
doria (Curcuma zedoaria) e yacon (Smallanthus son-
chifolius), por exemplo, devem ser plantadas em solos
mais soltos, isto , mais arenosos e menos argilosos;
espcies que produzem muita massa foliar
preferem solos ricos em matria orgnica, como
hortels (Mentha spp.), poejo (Mentha pulegium),
confrei (S. ofcinale), melissa (M. ofcinalis) e
marcela (A. satureioides);
solos mais escuros, os mais argilosos, so
geralmente mais frteis, retm mais gua, so
menos cidos mas so mais propcios ao ataque
de doenas. Por isso, se no puder evitar, deve-se
ter muito cuidado ao plantar, neste tipo de solo,
espcies muito atacadas por doenas, como a
melissa (M. ofcinalis), mil-folhas (A. millefolium) e
tomilho (T. vulgaris);
apenas poucas espcies preferem solos
encharcados, como o chapu-de-couro (Echinodorus
grandiforus).
84
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
B IMPLANTAO DA HORTA MEDICINAL
Escolha do local
Qualquer local em que incidam, pelo menos,
cinco horas de sol, que seja bem drenado e
protegido de ventos frios e fortes, pode ser
utilizado para a instalao de uma horta medicinal.
Preferencialmente, deve-se escolher terrenos mais
planos, prximos de fonte de gua de boa qualidade
para a irrigao e, se possvel, evitar os solos de
textura muito argilosa, pois so difceis de trabalhar.
Recipientes como jardineiras, vasos, caixas de
madeira, latas de 18 litros, sacos ou caixas de leite
tambm podem ser utilizados para o cultivo de
plantas medicinais. Nesse caso, deve-se atentar para
os seguintes cuidados:
tamanho do recipiente: caractersticas como
porte da planta, hbito de crescimento e tipo de raiz
que vo defnir o tamanho (dimetro, profundidade)
e o formato do recipiente mais adequado;
mnimo de 20 cm de profundidade para plantas
que no ultrapassem 50 cm de altura. Ex.: hortels
(Mentha spp.), poejo (M. pulegium), melissa (M.
ofcinalis), mil-folhas (A. millefolium) e cnfora-de-
jardim (Artemisia camphorata);
mnimo de 30 cm de profundidade para plantas
com razes mais profundas e portes maiores.
Ex.: manjerico (Ocimum basilicum), slvia (S.
ofcinalis), alecrim (R. ofcinalis), boldo-da-terra (P.
barbatus) e alfavaca-cheiro-de-anis (Ocimum selloi);
para plantas com hbito de crescimento mais
rasteiro deve-se dar preferncia para recipientes
com maior dimetro e menor profundidade, como
bacias, tinas, entre outros. Ex.: hortels (Mentha
spp.), poejo (M. pulegium) e melissa (M. ofcinalis);
tipo de material do recipiente: de preferncia
utilizar recipientes de materiais resistentes
umidade (madeira e lata deterioram com o tempo).
Vasos de barro ou cermica so porosos, permitem
trocas gasosas, mas ressecam mais rapidamente e
so mais pesados; vasos de plstico so mais leves e
durveis e conservam melhor a umidade;
drenagem: todos os recipientes devem ter furos
e uma camada de drenagem composta de pedra
britada, argila expandida ou cacos de cermica
(vasos quebrados, telhas), cobertos por uma
camada de areia ou manta geotxtil (tipo bidim)
para o escoamento do excesso de gua;
para preenchimento dos recipientes usa-se
normalmente um substrato, que uma mistura
de materiais, que pode ou no conter terra na
composio.
Existem no mercado diversos substratos
comerciais prontos para serem utilizados ou pode-
se optar por preparar o prprio substrato, variando
a composio de acordo com a planta que se quer
cultivar:
plantas que preferem solo mais mido: substrato
composto de duas partes de terra argilosa, uma
parte de hmus e uma parte de areia (2:1:1);
plantas que preferem solo mais seco: uma parte
de terra argilosa, uma parte de hmus e duas partes
de areia (1:1:2);
plantas que preferem solos ricos em matria
orgnica: uma parte de terra argilosa e duas partes
de hmus (1:2);
para plantas em geral: uma parte de terra comum,
uma parte de hmus (composto, esterco curtido) e
uma parte de areia (1:1:1).
Esses recipientes devem fcar em lugar com
sol (mnimo de 4 a 5 horas dirias), protegidos de
ventos frios e fortes. Em locais onde a iluminao
defciente, pode-se plantar espcies como hortels
(Mentha spp.), poejo (M. pulegium) e melissa (M.
ofcinale).
Preparo do solo e formao dos canteiros
O preparo do solo se resume na limpeza do
terreno, retirada de pedras e entulhos, mato e tocos,
e no revolvimento do solo a uma profundidade de 20
a 25 cm, que pode ser manual, com uso de enxada
e enxado, ou mecanizado, com uso de tratores com
arados e grades. Em solos cidos, durante o preparo,
pode-se aproveitar para aplicar e incorporar calcrio,
operao denominada de calagem.
A maioria das plantas medicinais no tolera
solos cidos, preferindo aqueles com pH entre
6,0 e 6,5. A acidez do solo retarda o crescimento
das plantas, diminuindo a produo de leos
essenciais.
Em pequenas reas, todas as operaes so
feitas manualmente, com auxlio das seguintes
ferramentas e respectivas funes:
enxada: capina, abertura de covas para plantio,
mistura de adubos e formao dos canteiros;
enxado: cavar e revolver o solo;
rastelo ou ancinho: recolher o mato cortado,
destorroar o solo, limpar e nivelar o canteiro;
sacho: revolver o solo e capinar entre as plantas,
abrir covas e sulcos nos canteiros para semeadura;
colheres de transplante (estreita e larga): retirada
de mudas da sementeira e abertura das covas para
os transplantes das mudas;
regador ou mangueira com esguicho para
irrigao das plantas;
carrinho de mo: transporte de insumos, terra,
composto orgnico;
85
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
pulverizador manual de 1 a 5 litros: aplicar caldas
preparadas para controle de pragas e doenas;
plantador (pedao de cabo de vassoura com 20 a
25 cm, com uma das pontas afnada): fazer pequenas
covas para o plantio de mudas nos canteiros;
estacas de madeira, barbante: para demarcar os
canteiros.
Uma vez preparado o solo, segue-se a constru-
o dos canteiros de sementeiras e de produo, que
devem ter as seguintes dimenses: largura de 0,80 a
1,20 m; altura de 20 a 25 cm e comprimento vari-
vel de acordo com o terreno, porm, no devendo
exceder 10 m em reas pequenas. Os canteiros po-
dem ser demarcados com a utilizao de estacas e
barbante e a distncia entre eles deve ser de 30 a 40
cm. Se o terreno for inclinado, os canteiros devem
ser construdos em nvel, nunca morro abaixo. As
sementeiras podem ser feitas tanto em canteiros
como em recipientes.
Correo e adubao do solo na produo or-
gnica de plantas medicinais
No sistema orgnico de produo, o solo con-
siderado um organismo vivo e a meta principal
mant-lo sadio para que as plantas nele cultivadas
tambm cresam saudveis. Nesse sentido, a fertili-
dade de um solo deve ser avaliada em trs aspectos:
Qumico: quantidades de nutrientes e de elemen-
tos txicos (alumnio e metais pesados), pH do solo
(cido, neutro ou bsico/alcalino). Os nutrientes se
dividem em dois grupos:
* macronutrientes: nitrognio (N), fsforo
(P), potssio (K), clcio (Ca), magnsio (Mg)
e enxofre (S);
* micronutrientes: boro (B), cloro (Cl), co-
bre (Cu), ferro (Fe), mangans (Mn), molib-
dnio (Mo) e zinco (Zn).
Fsico: aerao, porosidade, presena ou ausncia
de camadas de impedimento, drenagem, capacidade de
reteno de gua e nutrientes, bioestrutura;
Biolgico: fora e fauna benfcas do solo como
fungos, bactrias, protozorios, insetos e minhocas,
que fazem a transformao da matria orgnica em h-
mus, liberando os nutrientes lentamente s plantas; os
microrganismos tambm secretam vrias substncias
vitaminas, enzimas, antibiticos , que favorecem o
desenvolvimento das plantas e auxiliam no controle de
organismos nocivos.
Para obteno de solo com essas condies so
utilizadas diversas tcnicas: incorporao freqente
de matria orgnica, com fontes variadas (compostos,
estercos, tortas, biofertilizantes, bokashi, por exemplo);
incorporao de restos de culturas (palhas, bagaos, fo-
lhas e outros); adubaes verdes com uso de legumino-
sas (biomassa e acrscimo de N fxao por meio da
associao com bactrias do gnero Rhizobium) e com
gramneas (biomassa); utilizao de plantas com razes
profundas (romper camadas adensadas e reciclar nu-
trientes por exemplo, feijo-guandu); biodiversidade
de cultivos; correo do solo com materiais pouco sol-
veis (calcrios, ps e fosfatos de rocha); rotao e con-
sorciao de cultivos; uso de prticas conservacionistas
(cultivo mnimo, cultivo em faixas, plantio em nvel e
cobertura morta).
O sistema orgnico preocupa-se, principalmente,
com a correo da acidez e das defcincias de clcio,
magnsio, fsforo e micronutrientes que podem ocor-
rer no solo.
A maioria dos solos brasileiros apresenta acidez,
causando difculdades para a maioria dos vegetais,
principalmente os condimentos originrios de regi-
es da Europa nas quais o solo prximo do neutro
ou at alcalino. Apesar de o estresse normalmente
estimular o metabolismo secundrio, a acidez do solo
impede que a planta produza substncias, tanto para
o desenvolvimento do vegetal quanto para sua defesa
contra o estresse. Exemplo disso o nitrognio, essen-
cial tanto para a produo de alcalides quanto para
protenas e que depende da acidez do solo para ser
utilizado pela planta.
Alm da alta concentrao de alumnio, que pode
provocar efeitos txicos nas plantas, os solos cidos ge-
ralmente contm baixos teores de clcio e de magnsio
trocveis, que so nutrientes de grande importncia
para o desenvolvimento radicular.
O calcrio deve ser aplicado de forma moderada,
recomendando-se, para a maioria das espcies medi-
cinais, pH na faixa de 6,0 a 6,5, e mantendo-se as re-
laes equilibradas entre clcio, magnsio e potssio,
objetivando obter boa produtividade e maior resistn-
cia da planta e dos frutos. No cultivo orgnico, deve-
se aplicar no mximo 200 g/m
2
, sendo a correo da
acidez complementada pelas adubaes orgnicas
subseqentes. Algumas plantas medicinais no tole-
ram solos cidos: blsamo (Sedum sp.), calndula (C.
ofcinalis), poejo (M. pulegium), mil-folhas (A. mille-
folium), slvia (S. ofcinalis), hortels (Mentha spp.),
funcho (F. vulgare), arruda (R. graveolens), alecrim (R.
ofcinalis) e confrei (S. ofcinale) so exemplos. A aci-
dez retarda o crescimento e provoca a diminuio dos
teores de leos essenciais.
Na agricultura orgnica no so usadas e nem
aceitas as fontes sintticas solveis, os chamados adu-
bos qumicos, de nitrognio, fsforo e potssio, como,
por exemplo, sulfato de amnia, uria, cloreto de pots-
sio, nitrato de potssio, salitre, supersimples, supertri-
plo, MAP e DAP.
Excetuando-se a calagem, os adubos qumicos de-
vem ser evitados na produo de plantas medicinais,
pois, embora promovam o aumento da biomassa, aca-
bam provocando reduo nos teores de princpios ativos.
O uso dos adubos solveis geralmente promove
o aumento na produo da biomassa, como foi veri-
fcado por Pereira et al. (1996) em guaco (Mikania
glomerata) e por Brasil (1996) em jaborandi (Pilocar-
pus microphyllus).
86
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Resultados interessantes foram obtidos por Mon-
tanari Jnior et al. (1993) trabalhando com a planta
beladona (Atropa belladonna), em que a fertilizao
qumica base de N-P-K elevou a produo de bio-
massa em mais do que o dobro, sem alterar signifca-
tivamente os teores de atropina (princpio ativo), in-
dicando, segundo os autores, que a adubao qumica
proporciona aumento de biomassa e mantm o teor
do princpio ativo. Resultados semelhantes foram
obtidos por Borella et al. (2001) trabalhando com
carqueja (Baccharis trimera), no tendo sido encon-
trada diferena signifcativa nos teores de favonides,
apesar do aumento da produo de biomassa com o
aumento dos nveis de nitrognio, fsforo e potssio.
Os micronutrientes so considerados elementos
de grande importncia pela agricultura orgnica, no
somente pelo seu papel na nutrio, mas tambm na
defesa e resistncia da planta, como, por exemplo:
boro, zinco, mangans, cobre, molibdnio e outros.
A matria orgnica constitui a principal fonte de
nutrientes (macro e micronutrientes) para as plantas
neste processo, desde que isenta de contaminantes
qumicos ou biolgicos, e pode ser originada de: es-
terco de animais, cama de currais, biofertilizantes,
adubos verdes, tortas e farinhas vegetais, vinhaa,
hmus de minhocas, restos de vegetais e de animais e
compostos orgnicos.
A adubao orgnica tem sido utilizada no cul-
tivo de plantas medicinais. Quando no h anlise
de solo, recomenda-se de 3 a 5 kg/m
2
de composto
orgnico ou esterco de curral curtido (MARTINS
et al., 1995). Cruz (1999) obteve para a hortel-
comum (Mentha x villosa) produo mxima com 6
kg/m
2
de adubo orgnico.
Os adubos orgnicos a serem aplicados devem es-
tar bem curtidos, isto , totalmente compostados. Por
preveno, deve-se incorporar os adubos (estercos,
por exemplo) com antecedncia mnima de 20 a 30
dias ao plantio, para que d tempo de se decomporem,
caso tenham sido aplicados frescos ou parcialmente
curtidos. Para acelerar a decomposio, deve-se revol-
ver e irrigar o solo de duas a trs vezes por semana.
Uma adubao criteriosa baseia-se na anlise prvia
do solo, operao necessria em cultivos comerciais.
Porm, em cultivos caseiros ou comunitrios, pode-se
utilizar as seguintes recomendaes de adubao:
para canteiros: 2 a 4 litros/m2 de hmus de
minhoca ou 5 litros/m2 de esterco de aves ou 15 a 20
litros/m2 de esterco bovino bem curtido;
para covas menores (espcies arbustivas): 2 a
3 litros de esterco bovino bem curtido + 200 g de
farinha de osso ou termofosfato;
para covas maiores (espcies arbreas): 15 litros
de esterco bovino bem curtido + 500 g de farinha de
osso ou termofosfato.
Uma boa opo para quem deseja produzir or-
ganicamente a produo do prprio composto or-
gnico. Composto orgnico a mistura de restos de
vegetais (talos, folhas, cascas, bagaos, por exemplo)
e animais (estercos, carcaas, vsceras, sangue, entre
outros), colocados em camadas alternadas sobre o
solo, ou em caixas (trs partes de materiais secos, ri-
cos em carbono, para uma parte de materiais midos,
ricos em nitrognio), para que haja a completa de-
composio da matria orgnica antes da sua utiliza-
o (processo denominado compostagem). Depois
de pronto, utilizar de 2 a 3 kg por metro quadrado.
Tratos culturais
Revolvimento ou escarifcao do solo:
rompimento da crosta que se forma na superfcie
do solo, tanto no canteiro como no recipiente, com
sacho ou rastelinho de mo, com o objetivo de
melhorar a infltrao de gua.
Desbaste: retirada do excesso de plantas menos
desenvolvidas e doentes, no estgio de 4 a 5 folhas
defnitivas, aumentando o espaamento entre as
restantes. Operao feita nas plantas medicinais
semeadas diretamente no local defnitivo, em
canteiros, covas ou recipientes. Para algumas espcies,
as mudas retiradas podem ser transplantadas (com 4
a 6 folhas defnitivas).
Controle do mato: eliminao de plantas
concorrentes, principalmente nos estgios iniciais,
para evitar competio com gua, luz e nutrientes,
feita com enxada ou sacho. Quando as plantas
estiveram bem desenvolvidas, o mato pode ser
mantido e ter a funo de proteo do solo
(cobertura viva) e abrigo de predadores naturais.
Algumas plantas consideradas invasoras podem ser
aproveitadas para alimentao, como, por exemplo,
carurus (Amaranthus spp.), beldroega (Portulaca
oleracea), mentruz (Coronopus didymus) e serralha
(Sonchus oleraceus), e para uso medicinal, como
a erva-de-santa-maria (C. ambrosioides), quebra-
pedras (Phyllanthus spp.), pico-preto (Bidens
pilosa), dente-de-leo (T. ofcinale), erva-de-bicho
(Polygonum spp.), tanchagens (Plantago spp.),
mentrasto (Ageratum conyzoides) e maria-pretinha
(Solanum americanum).
Podas e desbrotas: eliminao de brotos e ramos,
com o objetivo de arejar e facilitar a penetrao da
luz nos ramos internos da planta; aproveita-se para
eliminar ramos secos e doentes.
Cobertura morta: cobertura do solo, que pode
ser feita com diferentes tipos de materiais: folhas e
capins secos, aparas de grama, serragens, palha de
milho, cascas de arroz e amendoim, bagao de cana,
galhos triturados, etc. Funes: proteger o solo
contra chuva (controle de eroso) e sol forte (manter
temperaturas mais amenas no solo), conservar
a umidade do solo, controlar o mato e fornecer
nutrientes aps a decomposio dos materiais
usados.
Adubao de cobertura: alm dos adubos
incorporados no preparo do solo do canteiro ou no
preparo do substrato para os recipientes, podemos
87
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
complementar com adubaes em cobertura (ao
redor das plantas sempre dando uma distncia em
relao ao p da planta) importante principalmente
para as plantas medicinais de ciclo curto, que
possuem crescimento rpido e so colhidas em
grandes quantidades, necessitando de rpidas e
sucessivas reposies.
Irrigao: tanto o excesso como a falta de gua
podero trazer prejuzos ao cultivo das plantas
medicinais. A freqncia e a quantidade de gua
dependem das condies do solo, clima e estgio de
desenvolvimento das plantas. De maneira geral, aps
a semeadura e o transplante, enquanto as plantas
esto pequenas, so necessrias irrigaes dirias,
feitas nas horas mais frescas do dia. Espcies arbreas
podem receber gua somente em longos perodos
de estiagem. Para diminuir a evaporao da gua
do solo, deve-se fazer cobertura morta. No se deve
jogar gua nas folhas sensveis ao ataque de doenas
para evitar a proliferao de fungos e bactrias (ex.:
mil-folhas A. millefolium).
f
o
t
o
:
A
c
e
r
v
o
S
V
M
A
(
H
e
r
m
a
n
P
e
r
e
z
)
#08
PROPAgAO
DE PLANTAS
MEDICINAIS
89
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#08
PROPAgAO
DE PLANTAS
MEDICINAIS
90
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
8.1 MTODOS DE PROPAGAO DE
PLANTAS MEDICINAIS.
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua
Juscelino Nobuo Shiraki
Prof. Dr. Marcos Roberto Furlan
A propagao um conjunto de prticas destinadas
perpetuao das espcies de uma forma controlada. O
objetivo principal de se aumentar o nmero de plan-
tas, garantindo a manuteno das caractersticas agro-
nmicas essenciais de cada espcie ou cultivar utilizado.
Os mtodos de propagao podem ser de dois ti-
pos: sexuada, baseada no uso de sementes, e assexuada,
baseada no uso de estruturas vegetativas que inicial-
mente no tm funo reprodutiva.
A. Sementes A propagao por sementes a mais
vivel economicamente para quem tem interesse em
produes maiores. No entanto, as plantas reproduzidas
por sementes possuem as seguintes desvantagens:
muita variao entre as plantas originadas, o que
prejudicial principalmente na colheita, devido
desuniformidade das plantas;
muitas espcies de alto valor econmico no
produzem sementes viveis no Brasil;
h poucas espcies com sementes comercializadas
nas lojas de produtos agropecurios;
quase todas as sementes de espcies de interesse
comercial so importadas;
muitas sementes possuem dormncia, que difcil
de ser quebrada, ou h espcies das quais no se tem
nenhuma informao sobre como obter timo nvel
de germinao (ver no quadro 1 algumas medidas
para aumentar a germinao).
Entre os mtodos utilizados para estmulo da
germinao ou quebra da dormncia das sementes,
podem ser citados:
Algumas dicas para semeadura:
muitas sementes de plantas espontneas s
germinam quando esto muito prximas da superfcie
(no germinam no escuro);
de maneira geral, a profundidade de semeadura
cerca do dobro do dimetro da semente;
sementes de frutos muito suculentos perdem
rapidamente a germinao;
compre sementes de empresas tradicionais, como
as importadoras de sementes, pois, para garantir a
qualidade, elas armazenam as sementes em freezer;
compre sementes de saquinhos ou latas que no
foram abertos.
A semeadura pode ser feita diretamente no local de-
finitivo ou em sementeiras para posterior transplante. As
sementeiras so utilizadas quando as sementes:
so muito pequenas e de difcil distribuio
homognea no campo;
tm baixo poder de germinao, aumentando o risco
de uma distribuio irregular de plantas na lavoura;
demoram muito tempo para germinar, o que leva
a uma diminuio na efcincia
de uso da terra e difculta o con-
trole de plantas invasoras;
necessitam de cuidados
especiais durante a germina-
o como sombreamento, ir-
rigao, etc., que demandam
muita mo-de-obra (COR-
RA JNIOR, 1994).
Para a semeadura em semen-
teiras preciso escolher o recipien-
te, que pode ser uma caixa, vasos, bandejas ou tubetes.
No caso de caixas ou vasos, colocar uma camada de pe-
driscos no fundo para facilitar a drenagem. O solo deve
ser frtil, colocando-se uma mistura de 1/3 de terra
argilosa, 1/3 de terra arenosa e 1/3 de adubo orgnico.
As sementes podem ser semeadas a lano ou em linhas,
cobertas ou no com terra, dependendo do tamanho e
das caractersticas de cada espcie. Quando no for fei-
ta a cobertura com terra, deve-se comprimir levemente
as sementes para aumentar o contato delas com o solo,
como o caso de dente-de-leo (Taraxacum ofcinale),
mentrasto (Ageratum conyzoides) ou camomila (M.
chamomilla). A profundidade da semente no solo deve
ser o dobro do tamanho da semente, pois uma semente
pequena no pode fcar muito no fundo do solo; frutos
muito suculentos possuem sementes que perdem rapi-
damente a germinao; e sementes de plantas espon-
tneas germinam quando prximas da superfcie, pois
no se desenvolvem no escuro.
Quadro 1. Medidas para aumentar a germinao
91
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
As sementeiras devem ser mantidas midas, mas
deve-se ter o cuidado de no jogar gua em excesso
para evitar o apodrecimento das sementes e das razes
das mudas.
As mudas estaro prontas para serem levadas ao
plantio quando possurem de quatro a oito folhas de-
fnitivas. Nesse ponto, deve-se expor as mudas mais
tempo ao sol e reduzir a irrigao para que resistam ao
transplante no local defnitivo.
A semeadura direta no campo feita quando a es-
pcie no requer cuidados especiais em sementeiras.
O solo deve ser bem preparado e a semeadura, feita a
lano ou em linhas.
Exemplo de mudas produzidas por sementes: ca-
momila (M. chamomilla), bardana (Arctium lappa),
calndula (C. ofcinalis), capuchinha (Tropaeolum ma-
jus), alcachofra (Cynara scolymus), slvia (Salvia ofci-
nalis), melissa (M. ofcinalis), entre outras.
B. Propagao vegetativa: a reproduo da planta
atravs de partes da planta-me ou matriz. As partes
utilizadas podem ser: estacas de galhos, razes, folhas
ou pedaos delas, ou at tecido meristemtico, como
no caso da micropropagao.
Possui as seguintes vantagens:
o ciclo at a colheita mais rpido;
produz indivduos semelhantes planta-me.
As melhores condies para retirar mudas da maioria
das espcies por este tipo de propagao so:
retirar as mudas no fnal do inverno ou incio da
primavera;
escolher um dia nublado para retirar as mudas;
tirar mudas de matriz com tima sanidade (sem do-
enas ou ataque de pragas) e no muito nova ou velha;
no tirar muda de matriz que esteja em fase reprodu-
tiva (com fores, sementes ou frutos);
utilizar instrumentos para cortar e preparar o mate-
rial que estejam desinfetados.
Aps a coleta, as mudas devero receber os seguintes
cuidados:
plantar as mudas em recipientes;
utilizar substrato contendo partes iguais de areia,
terra comum e hmus. No exagerar principalmente
na quantidade de hmus;
irrigar diariamente;
manter as mudas em local sombreado.
Mesmo que a planta possa ser propagada sexual-
mente, a propagao vegetativa tem inmeras van-
tagens por ser uma tcnica simples, rpida e barata,
alm de produzir muitas mudas em espao reduzido
com maior uniformidade do estande e manter as
caractersticas genticas da planta doadora (HART-
MANN e KESTER, 1981).
Considerando que o objetivo principal na produ-
o de plantas medicinais a obteno de matria-
prima em quantidade e qualidade desejadas, deve-se
tentar diminuir a interferncia dos fatores ambien-
tais, tcnicos e da variabilidade qumica natural das
espcies.
A propagao vegetativa uma importante ferra-
menta no melhoramento de espcies lenhosas e her-
bceas e vem sendo amplamente utilizada, visando a
melhorar e manter variedades de importncia econ-
mica e medicinal (EHLERT et al., 2004).
Entre os mtodos de propagao vegetativa, a
estaquia , ainda, a tcnica de maior viabilidade eco-
nmica para o estabelecimento e plantio clonais,
pois permite, a um custo menor, a multiplicao de
gentipos selecionados, em curto perodo de tempo
(CORRA JNIOR et al., 1994).
Salienta-se que, aps a seleo da cultivar de
maior interesse, a propagao vegetativa permite es-
tabelecer plantios uniformes, mantendo o valor agro-
nmico da cultivar.
Tipos de propagao vegetativa:
Estaquia
Processo utilizando pedaos da planta, de 5
cm, como tomilho (Tymus vulgaris), melissa (M.
ofcinalis), cavalinhas (Equisetum spp.), manjerona
(Origanum majorana), alfazemas (Lavandula spp.),
blsamo (Sedum sp.) e cnfora-de-jardim (Artemisia
camphorata) a no mximo 20 cm de comprimento
para boldo-baiano (Vernonanthura condensata),
urucum (Bixa orellana) e sabugueiros (Sambucus
spp.), e de 0,5 a 2 centmetros de dimetro. As estacas
podem ser de ramos, folhas ou razes. Normalmente
quanto mais alta a planta, as estacas de galho devem
ser mais lenhosas e maiores. No entanto, h plantas
que enrazam melhor de estacas mais novas.
Estacas de raiz so colhidas de razes centrais
e devero conter uma ou mais gemas (olhos
germinativos, como as mentas e a mil-folhas
Achillea millefolium). Podemos ainda utilizar pedaos
de rizomas caules subterrneos que possuem
gemas, como o gengibre (Zingiber ofcinale) e o
aafro-da-terra (Curcuma longa), ou bulbos (caule
transformado em reserva de alimento, geralmente
subterrneo) que brotam formando os bulbilhos ao
redor, que podem ser retirados e utilizados para a
multiplicao da planta-me.
As estacas so cortadas com tesoura de poda,
na parte basal, em forma de bisel (inclinado), junto
gema e reto no pice. So deixadas apenas um par
ou um tero das folhas (corte as folhas existentes
um pouco menos do que a metade delas) e, quando
houver, pode-se retirar os espinhos.
92
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Planta-se em canteiros ou sacos plsticos, com
terra preparada, deixando de fora 1/3 da estaca e
enterrando o restante.
Exemplos de espcies que se propagam por
estacas: sabugueiros (Sambucus spp.), guacos
(Mikania spp.), boldo-peludo (Plectranthus barbatus)
e boldo-baiano (V. condensata), ffa (Hebanthe
paniculata), erva-cidreira (Lippia alba), alecrim (R.
ofcinalis), slvia (S. ofcinalis), organo (Origanum
vulgare), entre outras.
As estacas tambm podem ser de folhas como em
plantas do gnero Kalanchoe.
Diviso de touceiras
A diviso de touceira consiste em retirar a planta
toda e dela retirar partes contendo parte area e raiz,
que sero podadas, deixando respectivamente 5 a
10 cm e 2 a 5 cm de comprimento. Como exemplo,
o capim-limo (Cymbopogon citratus) que, aps ser
retirado do solo, dividido em mudas, e destas so
retiradas as partes secas e com sintomas de doenas e
podada a parte area e radicular.
Para o capim-limo (C. citratus) e citronela
(Cymbopogon sp.), por exemplo, as mudas podem ser
armazenadas por 1 ou 2 dias antes de plantar, desde
que no estejam em locais muito quentes e secos,
pois podem brotar com menos vigor.
Alporquia
Utilizada para espcies com caule mais lenhoso
e de difcil propagao, como a jurubeba (Solanum
paniculatum), saia-branca (Brugmansia suaveolens) e
louro (Laurus nobilis). Devemos escolher um galho
sadio e fazer um anel neste ramo, retirando somente
a casca, a uma distncia de 20 cm da ponta do galho.
Ao redor do anel, de onde retiramos a casca, colocar
esfagno mido ou terra argilosa. Cobrir com um
plstico, amarrar a extremidade e quando notar a
presena de razes pelo plstico, cortar abaixo deste
envoltrio, destacando do restante da planta. Plantar
em local defnitivo ou em recipientes.
Mergulhia
Utilizada para plantas de difcil propagao e
com ramos fexveis. Curva-se o ramo e enterra-se
o meio dele, sem destac-lo da planta-me. Aps o
pegamento, faz-se a separao.
Estolho
um caule rastejante que enraza nos ns.
Arranca-se a planta-me e cortam-se os pedaos
do caule com raiz, com mais ou menos 10 cm
de comprimento e, pelo menos, um n em cada
pedao. Em seguida, planta-se metade do seu
comprimento no solo, em local defnitivo ou em
recipientes. Exemplos de plantas que se reproduzem
por estoles: hortels (Mentha spp.), poejo (Mentha
pulegium), hera-terrestre (Hedera helix), centela-
asitica (Centella asiatica) e melissa (M. ofcinalis).
93
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Mudas ou brotos laterais
Algumas plantas formam mudas na base da
planta, que podem ser destacadas e utilizadas para
plantio, originando uma nova planta. Exemplo:
babosas (Aloe spp.).
8.2 PRGAS E DOENAS EM PLANTAS
MEDICINAIS
Prof. Dr. Marcos Roberto Furlan
Mrio do Nascimento Junior
Infelizmente, a agricultura moderna, quando
simplifca o agroecossistema em vastas reas,
substitui, geralmente, a diversidade natural por
No Estado de So Paulo, a face voltada para o Nor-
te a ideal. Entretanto, algumas vezes, estas medidas
no so sufcientes para impedir a ocorrncia de pro-
blemas ftossanitrios, principalmente em funo de
desequilbrios temporrios naturais que acarretam es-
tresse, do uso de cultivares suscetveis e de fatores no
controlveis que venham a determinar o aumento da
incidncia de pragas e de agentes de doenas.
A restrio do vento por meio de cercas vivas ou
quebra-ventos evita signifcativamente a dissemina-
o de fungos ou reduz a quebra de ramos e galhos,
injrias que facilitariam a penetrao dos patgenos.
O uso de defensivos alternativos, que tanto po-
dem ser preparados na propriedade ou adquiridos
no comrcio, indicado por serem obtidos a partir
de substncias no prejudiciais sade humana e ao
meio ambiente. Suas caractersticas principais so:
disponibilidade na produo, baixa ou pequena to-
xicidade ao homem e aos demais seres vivos, efci-
ncia no combate e no favorecimento ocorrncia
de formas de resistncia desses ftoparasitas. Como
exemplos podem ser citados: biofertilizantes lqui-
dos, caldas sulfoclcica, viosa e bordalesa, extratos
de determinadas plantas e agentes de biocontrole.
Para plantas medicinais recomenda-se o controle
das pragas atravs do manejo, inicialmente priorizan-
do algumas medidas culturais e depois com uso, por
exemplo, de extratos naturais ou caldas compostas
por produtos naturais.
Mas com relao ao controle de pragas em plan-
tas medicinais importante observar que algumas
estimulam a produo dos princpios ativos, como
acontece com besouros que so combatidos pelas
plantas atravs de alcalides. A no ocorrncia pode
desestimular a produo da substncia pela planta.
Uma das caldas mais utilizadas na produo or-
gnica a calda viosa, que uma variao da calda
bordalesa, diferenciando desta por ter mais micronu-
trientes em sua composio.
uma monocultura ou por um nmero reduzido de
espcies cultivadas. Conseqentemente, provoca
grande impacto e desequilbrio ambiental, e um dos
resultados o aumento acentuado da incidncia de
pragas e doenas.
Na maioria das situaes, os organismos que cau-
sam doenas ou se tornam pragas convivem em equi-
lbrio com os organismos benfcos nos ecossistemas
pouco alterados, e s se tornam problemticos quan-
do h condies ecolgicas especfcas. E o equilbrio
biolgico ser quebrado se ocorrer alterao ou sim-
plifcao signifcativa do ecossistema (BORGES e
BETIOL, 2008).
A eliminao da fora e da fauna originais cau-
sada por um manejo do solo que conduz sua degra-
dao fsica, qumica e biolgica, pela artifcializao
excessiva do processo produtivo agrcola, pelo empre-
go inadequado da mecanizao e produtos qumicos,
como agrotxicos, fertilizantes altamente solveis,
entre outras causas (BORGES e BETIOL, 2008).
Para minimizar os problemas que ocorrem, ini-
cialmente devemos usar ferramentas que visem ao
equilbrio de cada ambiente como, por exemplo,
manter reas de matas, aumentar a diversidade de
espcies vegetais e isolar reas vizinhas que adotam
manejo convencional. Todos esses exemplos resul-
tam no aumento do nmero de inimigos naturais.
Como essas medidas no so sufcientes, outras
devem ser aplicadas, como escolher o local adequa-
do, usar extratos naturais, implantar quebra-ventos
e usar irrigao controlada, alm da adubao org-
nica equilibrada.
Exemplifcando, dependendo da regio, algumas
faces de morro no so apropriadas tendo em vista
a falta de insolao adequada e a presena de ventos
frios. Normalmente, em reas com acentuado declive
e voltadas para o Oeste, a falta do sol da manh au-
menta as condies propcias para a disseminao de
fungos e bactrias.
94
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Alm de controlar fungos, ela tambm melhora o
estado nutricional da planta e, conseqentemente, au-
menta a produo.
A calda viosa uma mistura de ps solveis, con-
tendo sulfato de cobre, cal hidratada, sulfato de zinco,
sulfato de magnsio e boro.
Para que a produo seja considerada orgnica,
devem ser utilizadas medidas como as citadas a se-
guir, que tambm auxiliam na reduo da incidncia
de pragas.
diversifcar os sistemas produtivos, evitando a mo-
nocultura;
realizar o manejo orgnico de solo e a nutrio
vegetal;
escolher apenas espcies, variedades ou cultivares
indicados para as condies edafoclimticas da pro-
priedade agrcola;
usar rotao e consorciao de culturas;
cultivar em faixa ou bordadura;
antecipar ou retardar pocas de plantio, cultivo e
colheita;
usar controle biolgico em geral;
empregar armadilhas luminosas, barreiras e armadi-
lhas mecnicas, coleta manual, adesivos, embalagem da
produo a campo, uso de calor, frio, som e ultra-som;
plantar quebra-ventos, cercas vivas, plantas repelen-
tes, plantas companheiras;
manejar ou erradicar plantas-vetores de
ftopredadores.
8.2.1. Principais organismos envolvidos em pragas e
doenas
As principais pragas que atacam as plantas medi-
cinais so os insetos (com especial destaque para os
pulges, cochonilhas, lagartas e os besouros), caros,
lesmas e caracis.
Dentre os vrios microorganismos causadores de
doenas em plantas medicinais destacamos aquelas
causadas por fungos, bactrias e vrus.
Pragas
1) Pulges So insetos sugadores pequenos, de
aproximadamente 3 a 5 mm, pteros ou alados, de co-
lorao varivel, que atacam as plantas, principalmen-
te em brotaes e folhas novas. Os pulges roubam a
seiva da planta, tornando-a enfraquecida, com atrofa-
mento das folhas e brotos.
Podem provocar vrios sintomas, tais como: ama-
relecimento das folhas, enrolamento, queda na pro-
duo de fores e frutos, podendo at levar morte da
planta. Alm disso, o lquido aucarado expelido por
eles favorece o aparecimento de formigas doceiras que
se alimentam desse lquido, bem como o desenvolvi-
mento de um fungo negro que recobre principalmente
as folhas, difcultando a fotossntese e a respirao. Os
pulges podem ser vetores de vrus em plantas.
2) Cochonilhas So pequenos insetos sugado-
res, de aproximadamente 0,5 a 5 mm, cujo aspecto
varia de acordo com a espcie. Assim, algumas apre-
sentam o corpo sem revestimento, outras so reco-
bertas por escamas, cera, etc. H espcies que podem
locomover-se durante toda a vida e outras no. Atacam
vrias partes das plantas, inclusive as razes. As cocho-
nilhas sugam a seiva das plantas, causando-lhes o en-
fraquecimento e at a morte.
3) Lagartas So as formas jovens de borboletas
e mariposas. Mastigadoras, podem causar danos em
razes e na regio do colo, ramos, folhas, fores e frutos.
Muitas lagartas possuem plos com substncias urti-
cantes e so conhecidas como taturanas: dependendo
da espcie, podem causar graves problemas de sade
nas pessoas quando em contato.
4) Besouros So insetos mastigadores, cujo
tamanho, forma e cores variam. Tanto os adultos
como as formas jovens podem causar danos em
vrias partes das plantas, inclusive nas razes,
dependendo das espcies. Algumas se alimentam
de folhas e fores, tais como as vaquinhas. Outras se
desenvolvem no interior das folhas e so conhecidas
como minadores. Tambm existem espcies que
abrem galerias no interior de caules e ramos e so
conhecidas como brocas.
5) caros So pequenos aracndeos de colorao
variada (entre 0,1 e 0,5mm, aproximadamente) que
atacam vrias partes da planta, sugando a seiva. Os
sintomas de ataque so variveis, podendo ocorrer
reduo no crescimento da planta, manchas em
folhas e frutos e at a presena de teia.
6) Lesmas e caracis So moluscos que
atacam as plantas, principalmente nas folhas. Alm
de causarem danos aos vegetais, podem transmitir
doenas ao homem.
7) Formigas O controle de formigas
complicado, principalmente quando se refere s
savas, pois elas possuem diferenas quanto
alimentao e aos hbitos, o que faz com que algum
mtodo seja efcaz para uma espcie e no para outra.
Entre as plantas que podem resultar na diminuio da
incidncia de savas, podem ser citadas batata-doce
(Ipomoea batatas), mamona (Ricinus communis) e
gergelim (Sesamum indicum).
O gergelim (S. indicum) pode ser plantado nas
proximidades do local a ser protegido. As savas iro
carregar preferencialmente as folhas de gergelim para
o formigueiro e essas folhas desenvolvem um fungo
que txico para as formigas. Sementes de gergelim
colocadas nas proximidades dos formigueiros
tambm so carregadas e surtem bom efeito.
Outro modo de evitar que as formigas cortem a
muda colocar uma barreira que elas no consigam
ultrapassar na parte inferior do caule da planta. Essa
barreira pode ser uma saia de plstico, que se faz com
um pedao de plstico fexvel preso ao caule, em forma
de funil com a boca voltada para baixo; para prender
95
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
a saia no caule, juntam-se com grampeador as duas
extremidades do plstico. preciso cuidado para que a
parte inferior da saia no encoste no solo ou no caule
da muda, formando uma ponte para as formigas.
Doenas
Fungos Constituem um grupo numeroso e
bastante varivel de organismos que podem causar
vrios sintomas numa planta, como murchas, manchas
foliares, podrides, etc. Poucas so as doenas
identifcadas nas plantas medicinais, mas podemos
citar manchas causadas por fungos: ferrugem
(manchas na parte inferior das folhas, que variam de
colorao do pardo ao laranja-avermelhado), como,
por exemplo, em malvo (Pelargonium sp.) e hortels
(Mentha spp.); mldio (manchas irregulares pardas na
parte superior das folhas e de uma pelcula branca-
acinzentada em sua face inferior), como, por exemplo,
em slvia (Salvia ofcinalis); manchas foliares
em tomilho (Tymus vulgaris) e nos manjerices
(Ocimum spp.), entre outras.
8.3 CONTROLE ALTERNATIVO DE
PRGAS EM PLANTAS MEDICINAIS.
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua
Prof. Dr. Marcos Roberto Furlan
Existem muitos mtodos de controle de pragas e
doenas. A escolha de um ou mais mtodos envolve
o conhecimento do agente causal, da planta e dos
demais elementos que compem o meio ambiente
(por exemplo, solo, clima, outros organismos, etc.),
inclusive a infuncia recproca que ocorre entre eles.
A seguir esto descritos alguns mtodos que
podem ser utilizados (at mesmo conjuntamente)
para plantas medicinais, dependendo do caso:
seleo da rea de cultivo, utilizando espcies
resistentes e adaptadas ao local;
evitar a introduo de plantas com pragas e
doenas na rea de cultivo;
evitar locais midos para o cultivo;
desinfeco das mos e das ferramentas;
limpeza das plantas;
uso de material propagativo sadio e variedades
resistentes;
plantar na poca certa;
eliminao de plantas vivas doentes;
poda das partes atacadas;
rotao de cultura (mudana do local de cultivo);
evitar monoculturas muito extensas, utilizar
consorciao;
adubao adequada;
utilizao de plantas atrativas e repelentes, como,
por exemplo, catinga-de-mulata (Tanacetum vulgare)
para formigas, capuchinha (Tropaeolum majus) e
cravo-de-defunto (Tagetes erecta) para nematides,
alm do uso de armadilhas;
catao e esmagamento;
utilizao de produtos alternativos.
Mesmo num sistema orgnico de produo
de plantas medicinais, algumas pragas e doenas
persistem, sendo necessria a interveno com
produtos alternativos para o controle da infestao,
sem contaminar as plantas e o meio ambiente. No
entanto, as pulverizaes com produtos alternativos
devem ser feitas at 20 dias antes da colheita.
Algumas receitas para o controle de pragas e doenas
1 Alho (Allium sativum)
Usado h muito tempo como defensivo natural: 3
cabeas de alho, 1 colher grande de sabo picado.
Modo de preparo: amassar as cabeas de alho e
mistur-las em parafna lquida. Diluir este preparado
em 10 litros de gua, adicionando o sabo. Pulverizar
logo em seguida.
Indicaes: repelente de insetos, bactrias, fungos,
nematides, inibidor de digesto de insetos.
2 Caf (Cofea arabica)
P de caf.
Modo de preparo: utilizar o caf na dosagem de 2%
ou na dosagem de 0,1%.
Indicaes: repelente de lesmas e caracis (0,1%) e
controle (2%).
3 Camomila (Matricaria camomilla)
50 gramas de fores de camomila, 1 litro de gua.
Modo de preparo: misturar 50 gramas de fores
de camomila em 1 litro de gua. Deixar de molho
durante trs dias, agitando a mesma quatro vezes
ao dia. Aps coar, aplicar a mistura trs vezes a cada
cinco dias.
Indicaes: doenas fngicas.
4 Casca de cebola (Allium cepa)
Cascas de cebola, 2 litros de gua.
Modo de preparo: encher um prato fundo com
cascas de cebola e depois adicionar 2 litros de gua.
Deixar em repouso por 24 horas. Pulverizar nas
plantas.
Indicaes: repelente de insetos.
5 Cerveja com gua aucarada
Cerveja, gua e acar.
Modo de preparo: colocar noite, perto das
plantas atacadas, um prato raso com a mistura de
cerveja e gua aucarada. Esta associao bastante
atrativa e na manh seguinte as lesmas estaro dentro
do prato, possibilitando o controle mecnico.
Indicaes: atrativos para lesmas.
6 Chuchu (Sechium edule)
Chuchu e sal.
Modo de preparo: Colocar dentro de latas rasas,
como as de azeite cortadas longitudinalmente ao
96
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
meio, pedaos de chuchu e adicionar sal. Esta
mistura bastante atrativa para lesmas e caracis,
possibilitando o seu controle mecnico.
Indicaes: atrativo de lesmas e caracis.
7 Gergelim (Sesamum indicum)
Sementes de gergelim.
Modo de usar: o uso de sementes de gergelim
como iscas, para ninhos pequenos de formigas,
na base de 30 a 50g ao redor do olheiro, que vo
carreg-las para dentro e vo misturar com as
folhas. Os fungos que crescem neste substrato
morrem, e as formigas desaparecem.
Indicaes: Savas
8 Leite Receita A
1 litro de leite integral, 99 litros de gua.
Modo de usar: misturar os dois componentes
acima e aplicar a cada 10 dias sobre as culturas.
Indicaes: vrus de mosaico e odio.
9 Leite Receita B
Estopa ou saco de aniagem, gua, leite.
Modo de usar: distribuir no cho, ao redor das
plantas, estopa ou saco de aniagem molhado com
gua e um pouco de leite. Pela manh, virar a
estopa ou o saco utilizado e matar as lesmas que
se reuniram embaixo.
Indicaes: atrativo de lesmas.
10 Nim (Azadirachta indica)
considerada uma das espcies com maior
potencial no combate ecolgico de pragas, e seu
princpio ativo, a azadiractina no afeta o homem
e nem os animais domsticos. Dos quase 650
insetos nocivos conhecidos no mundo, acredita-
se que o nim tenha efeito sobre mais de 400
pragas.
leo emulsionvel 5 ml por litro de gua
Sementes secas 30-40 g por litro de gua
Folhas secas 40-50g por litro de gua
Indicaes: inseticida, repelente, inibidor de
ingesto.
11 Po caseiro
Po caseiro, vinagre.
Modo de usar: colocar pedaos pequenos de
po caseiro embebido em vinagre prximo s
tocas, ninhos, carreadores e em locais onde as
formigas esto cortando. O produto introduzido
na alimentao das formigas comea a criar um
mofo preto que fermenta e as elimina por ser
txico para elas.
Indicaes: formigas savas.
12 - Manipueira
Mandioca crua.
Modo de preparo: manipueira o suco de
aspecto leitoso extrado por compresso da
mandioca (Manihot esculenta) ralada.
- Para o controle da sava, utilizar 2 litros de
manipueira no formigueiro para cada olheiro,
repetindo a cada 5 dias.
- Em tratamento de canteiro contra pragas de solo,
regar o canteiro usando 4 litros de manipueira
por metro quadrado, 15 dias antes do plantio.
- Para o controle de caros, pulges e lagartas,
usar uma parte de manipueira e uma parte de
gua, acrescentado 1% de acar ou farinha de
trigo. Aplicar em intervalos de 14 dias.
Indicaes: formigas, pragas de solo, caros,
pulges, lagartas.
f
o
t
o
:
A
c
e
r
v
o
S
V
M
A
(
H
e
r
m
a
n
P
e
r
e
z
)
#09
HORTA MEDICINAL
COMUNITRIA E
QUALIDADE DA gUA
99
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#09
HORTA MEDICINAL
COMUNITRIA E
QUALIDADE DA gUA
100
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
9.1 PLANEJAMENTO DA HORTA
MEDICINAL E COMUNITRIA.
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua
As plantas tm sido naturalmente usadas como
medicamento pelo homem desde os primrdios
da civilizao. Hoje em dia, as plantas medicinais
so utilizadas por grande parte da populao como
medicina alternativa para a cura e o tratamento de
molstias, uma vez que elas representam um recurso
mais barato em comparao com os remdios
alopticos.
Associada ao baixo custo dos ftoterpicos existe
a crena de que, por se tratar de um meio natural,
essas plantas estejam livres de efeitos colaterais,
o que faz com que a maioria das pessoas associe
equivocadamente as ervas medicinais a resultados
perfeitos. Por isso, alm de conhecer os benefcios
que as plantas medicinais podem proporcionar,
importante investigar tambm seus possveis
efeitos colaterais, j que a medicina alternativa
signifca o resgate da cultura e uma fonte natural de
medicamentos para a populao de menor renda.
O conhecimento do uso das plantas medicinais
vem sendo repassado de gerao para gerao,
entre familiares e vizinhos, normalmente por meio
da oralidade, sem registro escrito. Essa forma de
comunicao tem possibilitado a permanncia de
sua utilizao e credibilidade, mas tambm colabora
com o esquecimento do uso de muitas ervas, bem
como para algumas indicaes contraditrias do
valor teraputico e muita confuso de espcies e
nomes populares (COELHO SILVA, 1989).
A horta medicinal comunitria um recurso
importante para a sade e sustentabilidade do
meio ambiente urbano. Ela representa um local
onde se consegue manter a diversidade de plantas,
constituindo um banco vivo de espcies a que a
comunidade pode ter acesso. A complementao do
conhecimento popular e cientfco sobre o uso de
plantas medicinais e sua produo orgnica atravs
da agricultura urbana so princpios bsicos para
sua segurana e efccia, garantindo a utilizao de
plantas medicinais com valor conhecido.
A horta urbana pode ser feita em reas particulares
(onde os produtores se comprometem com os
proprietrios a manter o local limpo) ou pblicas
(normalmente realizada em terrenos abandonados
ou situados prximo de rodovias ou ferrovias, ou
ainda sob ou ao redor de linhas de transmisso de
energia eltrica).
A instalao de uma horta comunitria vai
suprir a necessidade de comunidades urbanas de
periferia ou isoladas (rurais ou no) com plantas
medicinais indicadas por ftoterapeutas, em
quantidades adequadas, com plantas cientifcamente
validadas e priorizando espcies indicadas para o
tratamento de sintomas e doenas mais comuns
na comunidade. Uma experincia muito bem-
sucedida, onde substituram-se as prticas caseiras
empricas adotadas pelo povo pelo emprego de
plantas selecionadas com base em informaes
cientfcas, o Projeto Farmcias Vivas, um
programa de assistncia social farmacutica da
Universidade Federal do Cear, criado e coordenado
pelo farmacutico Prof. Dr. Francisco Jos de
Abreu Matos. Nesse projeto, a seleo das plantas
feita constantemente, com a coleta e identifcao
taxonmica, domesticao e produo de material
num horto, com distribuio para outras Farmcias
Vivas, com o auxlio de profssionais das reas
agronmica e farmacutica.
Considerando o baixo custo de produo e os
rendimentos por rea relativamente elevados, o
cultivo de plantas medicinais pode constituir-se
como fonte de renda para unidades de agricultura
familiar, por ser uma atividade pouco mecanizada
e geradora de oportunidades de trabalho que
podem ser planejadas e distribudas ao longo do
ano. O uso de sistemas de produo sustentveis
permite sempre minimizar os danos ao ecossistema
existente e mantm ou amplia a biodiversidade local,
ocasionando a agregao de valor de produo das
mudas de plantas medicinais pela adoo dessas
prticas agrcolas.
O cultivo uma das etapas que mais poder
interferir na produo e qualidade de um ftoterpico.
O sucesso na implantao de uma horta medicinal
ocorrer em funo dos seguintes pontos:
Local para plantio:
escolher o terreno com solo de melhor fertilidade;
prximo de fonte de gua potvel ( preciso
garantir gua na poca seca do ano);
distante de estrada principal (evitar poeira e
contaminao com descargas de veculos);
distante de esgotos, fossas e chiqueiros;
com boa insolao, principalmente pela manh,
com sol direto por pelo menos 5 horas dirias;
protegido de ventos fortes e frios (utilizar
sabugueiros -Sambucus spp., boldo-peludo
Plectranthus barbatus ou romzeira - Punica granatum
como quebra-vento);
locais que no estejam degradados pelo uso
intensivo de mquinas e agroqumicos;
em local sem inundao (terreno bem drenado);
protegido contra a entrada de animais;
terreno com face norte (mais luz e calor);
local de produo prximo ao da secagem.
Espcies a serem cultivadas:
selecionar plantas medicinais validadas;
101
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
escolher plantas adaptadas ao local de cultivo
(agronomicamente compatveis com as condies
ecolgicas da regio);
plantas de uso tradicional;
plantas ofcialmente aceitas como medicinais
(includas na Farmacopia Brasileira);
espcies com identifcao botnica (garantia da
espcie que se quer cultivar);
adquirir mudas ou sementes de locais idneos;
se pessoas sem experincia forem cuidar da
horta, plantar espcies fceis de cultivar, como
hortel (Mentha spp.), capim-limo (Cymbopogon
citratus) e boldo-peludo (Plectranthus barbatus);
se a planta no se adaptar ao local ou for muito
atacada por doenas prefervel escolher outra
espcie;
plantar espcies que iro auxiliar diretamente
o usurio (escolher aquelas para as doenas que
ocorrem nas pessoas da comunidade que iro
usufruir da horta medicinal).
Em geral, deve-se pensar na escolha de plantas
para os problemas mais simples, ou com o auxlio
de um mdico, e no utiliz-las em excesso, pois as
plantas medicinais fazem mal em doses elevadas.
Outro aspecto relevante o cuidado de
cultivar as plantas medicinais em sistema orgnico,
conservacionista do meio fsico e biolgico
local, mantendo, tambm, uma pequena rea
com vegetao nativa (para manter o equilbrio
ecolgico).
Implantao de uma horta comunitria
As etapas de implantao de uma horta
comunitria so as seguintes:
Escolha do local: sem poluio, prximo
ao local de consumo, rea pequena (sugesto:
200 m, pois facilita o manejo e conservao),
qualquer tipo de solo, exceto os encharcados; a
rea deve ser cercada, ter disponibilidade de gua
de boa qualidade e em quantidade sufciente para
irrigao, e boa incidncia de luz solar.
Preparo do solo: correo do solo com calcrio
(de preferncia aps uma anlise qumica) e
adubao orgnica (que pode ser feita com
adubos verdes, esterco animal, compostos ou
hmus).
Obteno e preparo de mudas: as sementes
devero ser de boa qualidade e as mudas, isentas
de pragas e doenas (podem ser adquiridas na
comunidade).
Plantio: separar as plantas que sero semeadas
diretamente no canteiro e as que necessitam de
sementeira (ou viveiro); separar de acordo com o
porte da planta (herbceas, arbustivas e arbreas),
tendo o cuidado de uma espcie no prejudicar o
crescimento de outra (com sombreamento, por
exemplo).
Tratos culturais: controlar a freqncia da
irrigao, controlar as plantas daninhas, efetuar
podas de formao, utilizar cobertura morta,
adubao em cobertura e sempre fazer o controle
ftossanitrio.
Colheita: deve ser feita em horrio e poca
adequados para cada planta, de preferncia em
tempo seco, utilizando as ferramentas certas e
evitando que o material colhido e a planta sejam
danifcados.
Quanto aos fatores que infuenciam na
produo dos metablitos secundrios e na
produo dos princpios ativos, como luz,
temperatura, umidade, altitude, latitude, vide
captulo 7 deste livro.
9.2 PLANTAS MEDICINAIS: PARTES
UTILIZADAS, COLHEITA, SECAGEM E
ARMAZENAMENTO.
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua
Todo esforo despendido no cultivo das plantas
pode ser perdido quando no se d a devida ateno
s etapas de colheita, benefciamento e armazenagem.
Estima-se que cerca de 90% das plantas brasileiras
sejam obtidas por meio de prticas extrativas, o que,
tecnicamente, difculta o fornecimento de drogas com
um padro adequado de homogeneidade (devido
s variaes dos fatores genticos e ecolgicos). A
ausncia de cultivos de espcies desejadas faz com
que, obrigatoriamente, se conheam os parmetros
orientadores de uma coleta nativa:
o coletor deve estar cadastrado no Ibama e
autorizado a coletar em determinada regio. Se a
ocorrncia da espcie desejada abundante no local,
a autorizao dada; caso contrrio, estudam-se
formas de manejo da rea;
preciso respeitar as listas das espcies em risco de
extino, que no devem ser coletadas na natureza,
mas sim, apenas, em projetos de cultivo (listas de
espcies ameaadas de extino esto citadas na
Portaria n 06-N-1992 e em listas de restries
estaduais, como a espinheira-santa - Maytenus
ilicifolia e a pata-de-vaca - Bauhinia forfcata).
Martins et al. (1995, apud SIMES et al., 1999)
mencionam que, de acordo com a substncia ativa
da planta, existem horrios em que a concentrao
desses princpios maior. No perodo da manh
recomendada a colheita de plantas com leos
essenciais e alcalides e, no perodo da tarde, de
plantas com glicosdeos. O conhecimento do
momento correto de coleta do material desejado leva
obteno de produtos de melhor qualidade. Na
tabela abaixo encontram-se as indicaes das partes
das plantas utilizadas e pocas de colheita, conforme
recomendaes da Emater-DF (1998).
102
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Na ausncia das informaes sobre a melhor poca
de coleta, esta pode ser baseada no conhecimento do
ciclo fsiolgico padro dos vegetais:
primavera: fase de quebra de dormncia,
mobilizao dos nutrientes armazenados coleta de
cascas
vero: fase de alta atividade fotossinttica coleta
de folhas
outono: incio da fase de dormncia
inverno: fase de dormncia, armazenamento de
nutrientes coleta de rgos subterrneos
A seguir encontram-se algumas orientaes para a
coleta de plantas medicinais ou suas partes com xito.
Espcies das quais aproveitamos as folhas devem
ser colhidas antes da forao, quando esto no auge
do desenvolvimento vegetativo; devem ter o aspecto
sadio, sem sinais de envelhecimento, doenas e pragas.
Espcies das quais aproveitamos as fores devem
ser colhidas em pleno forescimento, pela manh e
com 2 cm de pednculo, antes que as fores se abram
totalmente.
Razes e rizomas: quando a planta comea a
defnhar, no incio da primavera ou do outono; logo
que arrancadas do solo devem ser lavadas (retirada
do solo) e examinadas para ver se no tm ataque de
pragas e doenas.
Cascas: no perodo seco (sem chuva), antes da
planta brotar, na primavera. Deve-se retirar, de
cada vez, apenas um dos lados da planta, um
pedao pequeno por vez; raspar um pouco a
superfcie externa para a retirada de liquens,
poeira e insetos.
Frutos: para os carnosos ou suculentos,
seu uso deve ser fresco, bem lavado; no caso
de fruto seco, devem ser colhidos maduros,
lavados e secos sombra e guardados ao abrigo
da luz, umidade, insetos e roedores.
Sementes: no fnal do ciclo da planta, com os
frutos maduros e sadios; no caso daquelas que caem,
antes da maturao completa.
Caules lenhosos: quando perdem as folhas, no
inverno ou outono.
As colheitas devem ser realizadas em dias secos
e ensolarados (no colher plantas com orvalho para
evitar o ataque de fungos emboloramento).
Evitar a retirada de todas as folhas de um galho
(somente a metade do total da planta).
Evitar coletar em locais poludos, beiras de
estradas, campos de cultivo que utilizam produtos
qumicos (herbicidas, inseticidas, entre outros) ou
esgotos.
No lavar as plantas colhidas.
Escolher as plantas mais vistosas e limpas (evitar
pedaos mofados, comidos por insetos, e observar a
existncia de ovos de insetos nas folhas).
Evitar a coleta de folhas prximas do solo,
diminuindo, desse modo, o grau de contaminao
pelas bactrias l presentes.
Em casos de obteno de cascas, estas devem ser
retiradas das rvores em pequenos pedaos e apenas
de um lado do tronco para preservar a espcie. Nunca
retirar a casca circundando toda a volta do tronco, pois
resultar na morte da rvore, e isto crime ambiental.
Evitar a coleta nos perodos mais quentes do dia,
preferindo a manh ou os fnais de tarde. No se deve
realizar a coleta em dias chuvosos pelo alto grau de
umidade presente.
Retirar ervas invasoras, terra, areia, pedra,
gravetos.
Lavar as partes subterrneas (razes, rizomas, etc.)
em gua corrente, esfregando para eliminar a terra
aderida.
Acomodar o material colhido em cestos de vime,
caixas ou outros recipientes arejados (nunca em
sacos plsticos, pois estes seguram umidade e pode
ocorrer o emboloramento do material).
Procurar acondicionar cada espcie em recipiente
prprio, evitando misturas e contaminaes qumicas
entre as espcies coletadas.
Deixar o material colhido em lugar sombreado
at sua utilizao ou secagem e, se possvel, inici-la
imediatamente aps a coleta.
O benefciamento das plantas medicinais varia
de acordo com sua comercializao, mas a maioria
das plantas comercializada na forma dessecada
simplesmente.
A secagem das plantas tem por fnalidade reduzir
a ao das enzimas pela desidratao, permitindo
a conservao das plantas por mais tempo. Alm
disso, a eliminao da gua aumenta o percentual de
princpios ativos em relao ao peso. Aps a colheita,
as enzimas presentes nas plantas comeam a destruir
os princpios ativos, mas, com a diminuio do teor
de gua, elas vo perdendo seu poder e fcam inativas.
Se a secagem no for feita logo aps a colheita
(algumas horas), poder ocorrer a diminuio da
quantidade de princpio ativo.
103
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
As plantas no devem ser secas ao sol (com exceo
das razes e rizomas), pois os raios solares endurecem a
camada superfcial das clulas vegetais e a gua fca reti-
da, no consegue evaporar. J no caso das plantas ricas
em leos essenciais, estes evaporam com a incidncia
direta do sol.
O correto secar sombra, naturalmente, ou com o
uso de secadores (galpes com aquecimento e ventila-
o) ou estufas. A temperatura de secagem, em geral, va-
ria de 20 a 40 graus Celsius para sumidades foridas, fo-
res e folhas, e de 60 a 70 graus Celsius para cascas e razes.
Existem diversos tipos de secadores, mas o principal
cuidado que se deve ter que seja possvel controlar a
temperatura, para no ultrapassar o mximo tolerado
por cada tipo de planta, e no ocorrer infltrao de
fumaa no local de secagem, para no comprometer a
qualidade das plantas.
Secagem das plantas em casa
Pendurar as partes colhidas em local escuro e
arejado, amarradas em maos.
Tambm podem ser colocadas em sacos de papel
com vrios furinhos, pendurados, para abrigar as
plantas da luz e da poeira.
Deixar por cerca de duas semanas at a completa
secagem do material.
Depois de secas, acondicionar as plantas em
recipientes bem fechados.
Secagem das plantas em estufas ou secadores
Fazer a estufa ou galpo no sentido norte-sul (para
receber o sol por igual).
O aquecimento do ar deve ser indireto (calor
passando por canos dentro da estufa ou galpo).
Garantir boa ventilao no local.
A temperatura no deve exceder 40 graus Celsius
para folhas e fores e 65 graus Celsius para cascas,
razes e sementes.
No se deve revolver o material enquanto ele seca.
Utilizar estrados de trelia, redes ou telas de
arame para acomodar o material.
No colocar o material sobre a terra; se necessrio,
colocar sobre piso cimentado.
Para qualquer um dos tipos de secagem, devem-
se observar os seguintes cuidados, segundo Corra
Jnior et al. (1994).
Plantas aromticas devem ser secas separadamente
para evitar a mistura de odores. Plantas diferentes
devem fcar em bandejas diferentes.
Fazer camadas fnas que permitam a circulao
de ar entre as partes vegetais, para evitar a formao
de mofo e fermentao. Em geral, 3 cm para folhas e
de 15 a 20 cm para fores e sumidades foridas.
Separar as partes mais suculentas das mais
fnas de uma mesma planta, pois tm tempos de
secagem diferentes. Ex.: dente-de-leo (Taraxacum
ofcinale) e confrei (Symphytum ofcinale), quando
colhidos inteiros, separar as razes das folhas.
Caso se verifque uma secagem irregular nas
bandejas, recomenda-se alterar suas posies e
no revolver o material da bandeja, pois isto pode
danifcar o produto.
Ao fnal da secagem, as folhas, fores e sumidades
foridas devem ter de 5 a 10% de umidade; as
sementes, cascas e razes, de 12 a 20%.
A rea de secagem pode ser estimada em 10 a
20% da rea cultivada, de acordo com o tipo de
secagem que for usado (secador ou temperatura
ambiente).
Moagem
A moagem reduz o material vegetal e aumenta a
rea de contato entre o material slido e o lquido extra-
tor. A pulverizao pode ser feita atravs de um moinho
e a diviso grosseira por meio de secionamento (tesou-
ra, faca), por impacto (gral), ou por rasurao (proces-
sadores de alimentos).
Armazenamento
Colocar sempre o material seco em local arejado, es-
curo e sem umidade, livre de poeira e insetos, podendo
ter um desumidifcador e exaustor.
No misturar diferentes materiais numa s
embalagem.
Armazenar em sacos de pano ou caixas de madeira,
bem secos. O ideal armazenar em papel kraf duplo,
com a parte interior revestida de polietileno (encontra-
se venda no mercado).
Podem ser usados tambm potes de vidro ou loua,
bem limpos e bem vedados, aps ter certeza de que a er-
va est bem seca, inclusive o talinho (ponto de biscuit).
No acondicionar em sacos ou recipientes plsticos,
para evitar a umidade e a proliferao de microrganis-
mos, como, por exemplo, fungos e bactrias.
Evitar o contato com o cho e a parede.
Fazer etiquetas para identifcao de cada material,
contendo nome cientfco, data e peso, e armazenar,
no mximo por dois anos, quando em condies
adequadas.
9.3 QUALIDADE DA GUA PAR O
CONSUMO E IRRIGAO.
Linete Maria Menzenga Haraguchi
A epidemiologia moderna comeou em 1854,
quando o mdico ingls John Snow descobriu a rela-
104
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
o existente entre o consumo de gua contaminada
e a incidncia de clera em Londres. Mesmo antes do
trabalho de Pasteur, Snow usou a investigao epide-
miolgica para melhorar a sade pblica e, a partir
da, as aes relativas manuteno da potabilidade
da gua passaram a ser eleitas como prioritrias no
mbito da sade pblica.
A oferta de gua em quantidade e qualidade ade-
quada fator imprescindvel para a preveno de ris-
cos sade. Dos mltiplos usos da gua, h que se
destacar: abastecimento pblico (domstico e indus-
trial), irrigao agrcola, produo de energia eltrica,
lazer e recreao, preservao da vida aqutica.
A crescente expanso demogrfca e industrial das
ltimas dcadas causou o comprometimento dos cor-
pos dgua, rios, lagos, reservatrios. A gua que utili-
zamos pode ser retirada de mananciais superfciais ou
de reservatrios subterrneos (aquferos artesianos,
mais profundos, ou lenol fretico).
Pequenas comunidades so abastecidas por poos
rasos que captam gua em aquferos freticos, bastan-
te susceptveis contaminao, que pode ocorrer em
funo da inexistncia de redes coletoras de esgotos,
acarretando o emprego extensivo de fossas negras, e
pela escavao e revestimentos inadequados dos po-
os construdos sem a necessria proteo. Nestes
casos deve-se tomar cuidado com a possibilidade de
contaminao por fossas, postos de gasolina e outras
fontes de poluio difusa.
Aspectos legais (atualizado 2008)
A potabilidade de uma gua defnida atravs de
um conjunto de parmetros e padres estabelecidos
por normas e legislaes sanitrias. O estudo, a ava-
liao e o controle da qualidade das guas de abaste-
cimento no nosso pas esto associados fundamental-
mente a trs dispositivos legais:
Portaria MS n 518, de 25/03/2004, do Minis-
trio da Sade, que estabelece os procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle e vigilncia da
qualidade da gua para consumo humano e padro de
potabilidade. A gua potvel deve estar em conformi-
dade com o padro microbiolgico, turbidez, radio-
atividade, padro de aceitao de consumo, de subs-
tncias qumicas que representam risco para a sade,
entre outros;
Resoluo CONAMA n 357, de 17/03/2005,
do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que dispe
sobre a classifcao dos corpos de gua e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condies e padres de lanamento de
efuentes. As guas destinadas irrigao de hortali-
as, plantas frutferas e de parques, jardins, campos de
esporte e lazer devem obedecer a esta resoluo;
Resoluo CONAMA n 396, de 03/04/2008,
do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que dispe
sobre a classifcao das guas subterrneas, das con-
dies e padres de qualidade das guas, das diretrizes
ambientais para preveno, controle e enquadramento
das guas subterrneas.
Para fns de avaliao das condies da qualidade
de gua destinada ao consumo e irrigao, o consumi-
dor e o produtor devero efetuar um controle por meio
de anlises de variveis fsicas, qumicas e biolgicas,
visando proteo da qualidade dessas guas. A gua
potvel e de uso na irrigao devero estar em confor-
midade com os padres e periodicidade conforme es-
tabelecidos nas legislaes vigentes e as metodologias
analticas para determinao dos parmetros microbio-
lgicos e demais parmetros devem atender s especif-
caes das normas que disciplinem a matria.
Principal organismo indicador de contaminao
da gua:
Coliformes termotolerantes - subgrupo das bac-
trias do grupo coliforme que tem como principal
representante a Escherichia coli, de origem exclusiva-
mente fecal, cujo habitat o intestino humano e de
animais homeotrmicos. considerado o mais espe-
cfco indicador de contaminao fecal, assumindo
importncia como parmetro indicador da possibili-
dade da existncia de microorganismos patognicos,
responsveis pela transmisso de doenas de veicula-
o hdrica, tais como a febre tifoide, febre paratifoi-
de, disenteria bacilar, clera e outras.
Os principais agentes poluidores dos corpos
dgua so:
efuentes domsticos (esgotos) com matria org-
nica biodegradvel;
carga difusa urbana e agrcola advinda da drena-
gem destas reas (slidos em suspenso, fertilizantes,
defensivos agrcolas, fezes de animais);
organismos patognicos (transmissores de doen-
as de veiculao hdrica);
matria orgnica no biodegradvel (pesticidas e
detergentes);
efuentes industriais (metais pesados), entre outros.
Algumas medidas preventivas
O agricultor poder preservar a gua de seu
manancial tomando alguns cuidados dentro de sua
propriedade:
1 dispor adequadamente os esgotos das casas
atravs da construo de fossas secas ou spticas com
poo absorvente;
2 manter uma distncia mnima de 30 metros en-
tre a fossa e qualquer manancial de gua, e sempre em
cota mais baixa em relao ao poo de gua;
3 manter as reas de criao de animais distantes
no mnimo 30 metros de qualquer manancial de gua e
sempre em cota mais baixa em relao ao poo de gua;
4 proteger adequadamente os poos freticos
105
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
por meio da construo de mureta que impea o aces-
so de guas contaminadas ao poo e valetas diversoras
de gua de chuva, mantendo o poo sempre fechado.
Fonte: Comunicado CVS/EXP 37 de 27/06/91.
Doenas de transmisso hdrica
A maior parte das enfermidades transmitidas para
o ser humano pela gua causada por vrus, bactrias,
protozorios e helmintos (vermes intestinais). As enfer-
midades relacionadas com a gua so transmitidas pela
ingesto direta ou indireta de gua contaminada, deno-
minadas, portanto, enfermidades de veiculao hdrica.
A ocorrncia desse tipo de doena pode ser minimiza-
da ou at mesmo evitada mediante a adoo de prticas
adequadas de saneamento, como, por exemplo, coleta
e tratamento de esgotos domsticos e tratamento de
guas de abastecimento, inclusive a desinfeco de gua
de poos. Outro grupo de enfermidades est associado
com a falta de gua e as consequentes limitaes na hi-
giene pessoal. Embora no sejam de veiculao hdrica,
tais enfermidades relacionam-se com condies inade-
quadas de abastecimento de gua. Existem ainda do-
enas, especialmente verminoses, cuja ocorrncia est
ligada ao meio hdrico na medida em que uma parte do
ciclo de vida do agente infeccioso passa-se no ambiente
aqutico. Finalmente, merecem destaque as enfermida-
des transmitidas por vetores que se relacionam com a
gua, principalmente insetos que nascem ou que picam
dentro ou prximo de corpos dgua.
Dvidas quanto qualidade da sua gua, o que fazer?
Entre em contato com as autoridades competentes
da sua cidade.
Se voc estiver fazendo uso de gua proveniente de
rios, crregos, poos rasos, corpos dgua desconheci-
dos para consumo prprio, para irrigao de hortalias
ou de plantas medicinais, primeiramente verifque se
h lanamentos de esgoto, presena de indstrias qu-
micas, criao de animais, presena de caramujos em
lagoas, produo agrcola com usos de agrotxicos,
outras fontes poluentes nas proximidades, como fossa
negra, que podero contaminar a gua desses locais.
Entre em contato, solicite anlises fsico-qumicas, mi-
crobiolgicas e demais informaes nos seguintes r-
gos na cidade de So Paulo:
CETESB Companhia de Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de So Paulo.
A CETESB responsvel pelo acompanhamento da
qualidade das guas dos rios e reservatrios do Estado
de So Paulo, atravs da rede bsica de monitoramento
onde a caracterizao da qualidade da gua realizada
por meio de anlises de variveis fsicas, qumicas e
biolgicas, tanto da gua quanto do sedimento, alm
do monitoramento das guas subterrneas, visando
proteo da qualidade dessas guas. Para informaes
acesse a home page do rgo: htp://www.cetesb.
sp.gov.br/Agua/rios/informacoes.asp
Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 10 andar,
Alto de Pinheiros - So Paulo SP CEP 05459-900
Telefone: PABX (11) 3133-3000 / 3133-3075 /
Fax: 3133-3079
COVISA - Coordenao de Vigilncia em Sade da
Secretaria Municipal da Sade de So Paulo, Gerncia
de Vigilncia em Sade Ambiental, atravs do Progra-
ma Municipal de Vigilncia da Qualidade da gua para
Consumo Humano de So Paulo.
O Vigigua tem como objetivo realizar a vigilncia da
qualidade da gua para consumo humano no Munic-
pio de So Paulo, bem como detectar situaes de risco
sade relacionada ao seu consumo. Para informaes
acesse:
htp://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/
vigilancia_saude/ambiental/0002
Rua Santa Isabel n. 181, 5 andar -Vila Buarque So
Paulo - SP
CEP 01221-010 PABX (11) 3397-8200 / 3397-
8352 / 3397-8353 / Fax: 3397-8286.
CVS - Centro de Vigilncia Sanitria da Secretaria
de Estado da Sade de So Paulo. O Programa de
Vigilncia da Qualidade da gua para Consumo
Humano do Estado de So Paulo (Progua), sob
coordenao do CVS, tem por objetivo principal
colaborar na promoo e proteo da sade da
populao por meio da garantia da potabilidade
da gua destinada ao consumo humano de modo a
prevenir doenas de veiculao hdrica. Para maiores
informaes acesse:
htp://www.cvs.saude.sp.gov.br/saiba_mais_agua.asp
Avenida Dr. Arnaldo, 351, anexo 3 - 8 andar -
Cerqueira Csar - So Paulo SP
CEP - 01246-000 - PABX (11) 3065-4600 / 3065-
4796 - Fax: 3065-4801.
SABESP Companhia de Saneamento Bsico do
Estado de So Paulo, rgo subordinado Secretaria
de Saneamento e Energia.
Para a solicitao da coleta para anlises da qualidade
da gua fornecida pela Sabesp, desde a captao at os
pontos de consumo, quando houver alterao de cor,
cheiro, sabor ou existncia de impurezas, acesse a home
page do rgo: htp://www.sabesp.com.br (telefone
195).
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final_
novo2.php?cod_servico=753
Rua Costa Carvalho 300 - CEP: 05429-000
Telefone: 0800-0119911.
SSE Secretaria de Saneamento e Energia do
Estado de So Paulo. (11) 3218-5500 / 3218-5629.
htp://www.saneamento.sp.gov.br/
ANA - Agncia Nacional de guas. O objetivo geral
106
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
do PROGUA Nacional contribuir para a melhoria
da qualidade de vida da populao, especialmente nas
regies menos desenvolvidas do Pas, mediante planeja-
mento e gesto dos recursos hdricos simultaneamente
com a expanso e otimizao da infraestrutura hdri-
ca, de forma a garantir a oferta sustentvel de gua em
quantidade e qualidade adequadas aos usos mltiplos.
Setor Policial rea 5 Quadra 3 Blocos B L e M - CEP:
70610-200
htp://proagua.ana.gov.br/proagua/
Para dirimir dvidas quanto utilizao de recursos
hdricos, consulte o rgo abaixo:
DAEE Departamento de guas e Energia Eltri-
ca, rgo gestor dos recursos hdricos do Estado de So
Paulo, vinculado Secretaria de Saneamento e Energia.
Os recursos hdricos (guas superfciais e subterrneas)
constituem-se em bens pblicos a que toda pessoa fsica
ou jurdica tem direito ao acesso e utilizao, cabendo
ao poder pblico a sua administrao e controle. Por
isso, quem desejar utilizar ou interferir nas guas super-
fciais ou subterrneas, dever solicitar ao DAEE uma
licena (outorga).
Se uma pessoa quiser fazer uso das guas de um rio, lago
ou mesmo de guas subterrneas, por exemplo, captao
de gua para uso no abastecimento urbano, irrigao, bar-
ragens, canalizaes de rios, execuo de poos profun-
dos, ter que solicitar autorizao, concesso ou licena.
Informaes adicionais para a obteno de outorga
encontram-se em: htp://www.daee.sp.gov.br/cgi-bin/
Carrega.exe?arq=/outorgaefscalizacao/index.htm
Rua Boa Vista n 175 bloco B, 1 andar CEP 01014-
000 So Paulo. Telefones: PABX (11) 3293-8200 e
3293-8201
Atendimento ao Usurio Bacia do Alto Tiet - Telefo-
ne (11) 2915-5101 / 5111
Av. Dr. Francisco de Mesquita n 600, Vila Prudente,
CEP 03153-000 So Paulo.
Para dirimir outras dvidas, incluindo as questes
ambientais, sugerimos consultar a seguinte legisla-
o:
Decreto Federal n 24.643 (10.07.1934): decreta o
Cdigo de guas.
Decreto Estadual n 8.468 (08.09.1976): aprova o Re-
gulamento da Lei n 997 (31.05.1976), que dispe sobre
a Preveno e Controle da Poluio do Meio Ambiente.
Comunicado CVS-36 (27.06.1991): desinfeco
dos reservatrios de gua domiciliares - Informativo
Tcnico 1/91 do Programa Pr-gua.
Comunicado CVS/EXP-37 (27.06.1991): desinfec-
o de poos freticos - Informativo Tcnico 2/91 do
Programa Pr-gua.
Portaria CVS-21 (19.12.1991): disciplina o padro
bacteriolgico das guas de irrigao de plantaes de
hortalias e frutas rasteiras. Aguarda atualizao.
Lei Estadual n 7.663 (30.12.1991): estabelece
normas de orientao Poltica Estadual de Recursos
Hdricos bem como ao Sistema Integrado de Gerencia-
mento de Recursos Hdricos.
Resoluo Estadual SS-45 (31.01.1992): institui o
Programa de Vigilncia da Qualidade da gua para o
Consumo Humano PROGUA.
Agenda 21 Te United Nations Programme of Ac-
tion from Rio - Section II Conservation & Management
of Resources for Development Chapter 18 Protection
of the Quality & Supply of Freshwater Resources: Ap-
plication of Integrated Approaches to the Develop-
ment, Management & Use of Water Resources. 1992.
Decreto Estadual n 41.258 (31.10.1996) alterado
pelo Decreto n 50.667 (30.03.2006): aprova o Regula-
mento da Outorga de Direitos de Uso dos Recursos H-
dricos de que tratam os artigos 9 a 13 da Lei 7.663/91.
Portaria DAEE n 717 (12.12.1996): aprova a Norma
e os Anexos de I a XVIII que disciplinam o uso dos re-
cursos hdricos superfciais e subterrneos do Estado de
So Paulo.
Lei Federal n 9.433 (08.01.1997): institui a Poltica
Nacional de Recursos Hdricos, cria o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hdricos.
Lei Estadual n 10.083 (23.09.98) - Dispe sobre o
Cdigo Sanitrio do Estado.
Resoluo Estadual SS-48 (31.03.1999): dispe sobre
o transporte e comercializao de gua potvel atravs de
caminhes pipa.
Lei Federal n 9.984 (17.07.2000): dispe sobre a
criao da Agncia Nacional de guas ANA.
NBR ISO/IEC 17025:2001: Requisitos gerais para
competncia de laboratrios de ensaio e calibrao
ABNT.
Codex Alimentarius Code of Hygienic Practice for
Fresh Fruits and Vegetables (CAC/RCP 53-2003).
A/RES/58/217 International Decade for Action,
Water for Life, 2005-2015. Dcada Mundial de Ao.
ONU dez/2003.
Lei Municipal n 13.725 (09.01.2004) institui o C-
digo Sanitrio do Municpio de So Paulo.
Portaria MS n 518 (25.03.2004): estabelece os pro-
cedimentos e responsabilidades relativos ao controle e
vigilncia da qualidade da gua para consumo humano e
seu padro de potabilidade.
Resoluo Conjunta SMA/SERHS n 01
(23.02.2005): regula o procedimento para o licenciamen-
to ambiental integrado s outorgas de recursos hdricos.
107
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Resoluo CONAMA n 357 (17.03.2005): dispe
sobre a classifcao dos corpos de gua e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condies e padres de lanamento de
efuentes.
Resoluo Estadual SS-65 (12.04.2005): estabelece
os procedimentos e responsabilidades relativos ao
controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo
humano no Estado de So Paulo.
Decreto Federal n 5.440 (04.05.2005): estabelece
defnies e procedimentos sobre o controle de
qualidade da gua de sistemas de abastecimento e
institui mecanismos e instrumentos para divulgao de
informao ao consumidor sobre a qualidade da gua
para consumo humano.
Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater, 21st Edition, 2005.
Resoluo n 54 (28.11.2005): estabelece
modalidades, diretrizes e critrios gerais para a prtica de
reuso direto no potvel de gua.
Lei Estadual n 12.183 (29.12.2005): dispe sobre
a cobrana pela utilizao dos recursos hdricos do
domnio do Estado de So Paulo, os procedimentos para
fxao dos seus limites, condicionantes e valores e d
outras providncias.
Decreto Estadual n 50.667 (30.03.2006):
regulamenta dispositivos da Lei n 12.183, que trata
da cobrana pela utilizao dos recursos hdricos do
domnio do Estado de So Paulo.
Resoluo Conjunta SMA/SERHS/SES n 03
(21.06.2006): dispe sobre procedimentos integrados
para controle e vigilncia de solues alternativas
coletivas de abastecimento de gua para consumo
humano proveniente de mananciais subterrneos.
BRSIL. Ministrio da Agricultura, Pecuria e
Abastecimento. Boas Prticas Agrcolas (BPA) de
plantas medicinais, aromticas e Condimentares Ed.
preliminar Marianne Christina Schefer, Cirino Corra
Jnior; Coordenao, Maria Consolacion Udry, Nivaldo
Estrela Marques e Rosa Maria Peres Kornijezuk. Braslia:
MAPA/SDC, 2006. 48 p.
Portaria DAEE n 2.292 (14.12.2006): aprova a
Norma que disciplina os usos que independem de
outorga de recursos hdricos superfciais e subterrneos
no Estado de So Paulo - usos insignifcantes ou usos no
sujeitos outorga.
Decreto Estadual n 51.449 (29.12.2006): aprova
e fxa os valores a serem cobrados pela utilizao dos
recursos hdricos de domnio do Estado de So Paulo
nas Bacias Hidrogrfcas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundia.
Comunicado CVS-60 (08.03.2007): defne
procedimentos para cadastramento na explorao de
guas subterrneas soluo alternativa de gua para
consumo humano.
Portaria CVS-2 (28.03.2007): regulamenta a
Resoluo Conjunta SMA/SERHS/SES 03/06 no que
tange ao cadastramento na Vigilncia Sanitria - dispe
sobre o cadastramento da soluo alternativa coletiva
de abastecimento de gua para consumo humano
proveniente de mananciais subterrneos.
Comunicado CVS/CETESB/IG/DAEE 01
(10.07.2008): comunicado aos usurios de solues
alternativas coletivas de abastecimento de gua
para consumo humano proveniente de mananciais
subterrneos.
Resoluo CONAMA n 396 (03.04.2008):
dispe sobre a classifcao e diretrizes ambientais para
o enquadramento das guas subterrneas e d outras
providncias.
Resoluo CONAMA n 397 (03.04.2008): altera
o inciso II do 4 e a Tabela X do 5 do art. 34 da
Resoluo CONAMA n 357/05 e acrescenta os 6
e 7.
Decreto Municipal n 50.079 (07.10.2008):
regulamenta disposies da Lei n 13.725/04 que
institui o Cdigo Sanitrio do Municpio de So Paulo;
dispe sobre o Sistema Municipal de Vigilncia em
Sade, disciplina o Cadastro Municipal de Vigilncia
em Sade, estabelece os procedimentos administrativos
de vigilncia em sade, altera a denominao do
Departamento de Inspeo Municipal de Alimentos -
DIMA e revoga o Decreto n 44.577/04.
Resoluo CONAMA n 410 (04.05.2009):
prorroga o prazo para complementao das condies e
padres de lanamento de efuentes, previsto no art. 44
da Resoluo n 357/05, e no Art. 3 da Resoluo n
397/08.
Portaria 1931/2009-SMS.G (07.11.2009):
disciplina os procedimentos necessrios inscrio de
estabelecimentos e equipamentos de interesse da sade
no Cadastro Municipal de Vigilncia em Sade CMVS,
bem como alterao e atualizao dos dados constantes
do referido Cadastro. Revoga Portaria 1293/07 (SMS).
108
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Giardase Giardia lamblia
Tabela A Algumas doenas relacionadas com a gua contaminada e
seus agentes causadores (agente etiolgico), compiladas de vrias fontes.
109
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Fonte: Brasil: Ministrio da Sade, Secretaria de Vigilncia em Sade. Vigilncia e
controle da qualidade da gua para consumo humano - Braslia, 2006
Tabela B - Sntese das principais doenas relacionadas com a gua contaminada
#10
#11
AULAS PRTICAS
111
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
E
#10
#11
AULAS PRTICAS
112
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
AULAS PRTICAS
10.1 MONTAGEM DE UM CANTEIRO E
ADUBAO ORGNICA.
Ms. Ado Luiz Castanheiro Martins
Aula terica: ver aula n 7.
Aula prtica: preparo do solo, montagem do
canteiro para o plantio e adubao.
Apresentar os fatores relacionados ao clima
(temperatura, quantidade de luz solar, umidade,
altitude e latitude) e ao solo (textura, umidade,
fertilidade, pH) que podem afetar a produo das
plantas medicinais (biomassa, teor de princpios
ativos), bem como as exigncias para implantao
de hortas medicinais em pequenas reas (escolha
do local e das plantas medicinais, ferramentas
necessrias) e os tratos culturais da horta medicinal.
10.2 CONHECENDO AS PLANTAS
MEDICINAIS DO VIVEIRO DA ESCOLA
DE JARDINAGEM.
Oswaldo Barreto de Carvalho
O Campo Experimental Viveiro est
subordinado Escola de Jardinagem e executa servios
visando s aulas prticas dos cursos ali ministrados.
O Viveiro possui vrias espcies de plantas
medicinais, aromticas, condimentares, hortalias,
plantas arbustivas, herbceas, forferas, algumas
frutferas e de grande porte. No local, alm das
aulas prticas, so ministradas ofcinas e palestras
envolvendo o tema plantas e meio ambiente.
A aula prtica visa reconhecer as plantas medicinais
existentes no Campo Experimental da Escola de
Jardinagem, valorizando o conhecimento dos alunos:
apresentar as plantas existentes no campo;
focalizar as plantas mais utilizadas e os nomes
populares;
demonstrar as principais caractersticas
importantes na identifcao;
trocar experincias.
11.1 RVORES COM PROPRIEDADES
MEDICINAIS DO PARQUE IBIRPUER.
Mario do Nascimento Junior
Onlio Argentino Junior
Visita tcnica no Parque Ibirapuera com
reconhecimento das rvores e arbustos com
propriedades medicinais:
1. Abacateiro Persea americana Mill.
2. Acerola Malphighia glabra L.
3. Amora-preta Morus nigra L.
4. Angico Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
5. Ara Psidium catleyanum Sabine
6. Aroeira-mansa Schinus terebinthifolius Raddi
7. Cabreva Myroxylon peruiferum L. f.
8. Cafeeiro Cofea arabica L.
9. Canforeira Cinnamomum camphora (L.) J. Presl
10. Carambola Averrhoa carambola L.
11. Copaba Copaifera langsdorfi Desf.
12. Erva-baleeira Cordia curassavica (Jacq.) Roem.
& Schult.
13. Espinheira-santa Maytenus ilicifolia Mart. ex
Reissek
14. Eucalipto Eucalyptus spp.
15. Ginkgo Ginkgo biloba L.
16. Goiaba Psidium guajava L.
17. Guaatonga Casearia sylvestris Sw.
18. Ip-Roxo Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo
19. Jabuticaba Plinia truncifora (O. Berg) Kausel
20. Jaca Artocarpus heterophyllus Lam.
21. Jambolo Syzygium cumini (L.) Skeels
22. Jatob Hymenaea courbaril L.
23. Limo-cravo Citrus limonia Osbeck
24. Melaleuca Melaleuca leucadendra (L.) L.
25. Nspera Eriobotrya japonica (Tunb.) Lindl.
26. Oliveira Olea europaea L.
27. Pata-de-vaca Bauhinia forfcata Link
28. Pitanga Eugenia unifora L.
29. Rom Punica granatum L.
30. Sabugueiro Sambucus australis Cham. & Schl-
tdl. / S. nigra L.
31. Urucum Bixa orellana L.
Observao
Espcies da fora brasileira ameaadas de extino
que constam da Lista Ofcial da Portaria N 37-N, de
03/04/92 do Ibama.
Pau-brasil Caesalpina echinata Lam. Categoria:
em perigo (E).
Pinheiro-do-paran Araucaria angustifolia
(Bertol.) Kuntze Categoria: vulnervel (V).
Consultar a Resoluo SMA-48 (21.09.2004),
edio de 22/09/04 que publica a lista ofcial das
espcies da fora do Estado de So Paulo ameaadas
de extino.
11.2 VISITA QUADR DAS PLANTAS
MEDICINAIS DO VIVEIRO MANEQUINHO
LOPES.
Oswaldo Barreto de Carvalho
Aspecto Histrico e Cultural do Viveiro Manequi-
nho Lopes
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/
meio_ambiente/fauna_fora/viveiros/0002
Livreto Viveiro Manequinho Lopes - Diviso Tc-
nica de Produo e Arborizao SVMA/Depave-2
113
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Texto adaptado por
Helen Elisa C. R. Bevilacqua
Na dcada de 1920, o prefeito Jos Pires do Rio
decidiu criar um parque nos moldes dos parques
europeus, numa vrzea que se chamava, em tupi,
Ypy-ra-oura, ou pau-podre. Manuel Lopes de Oli-
veira, o Manequinho Lopes, entomologista e jor-
nalista, foi o primeiro administrador dessa rea. Ali
foram plantados eucaliptos australianos para dre-
nar o solo da vrzea, bem como diversas espcies
ornamentais nativas e exticas, destinadas arbo-
rizao da cidade e de seus parques e jardins. Orga-
nizou o viveiro semeando rvores como pau-ferro
(Caesalpinia ferrea var. leiostachya), ip (Tabebuia
spp.), pau-brasil (Caesalpinia echinata), tipuana
(Tipuana tipu), pau-jacar (Piptadenia gonoacan-
tha) e sibipiruna (Caesalpinia pluviosa var. pelto-
phoroides), alm de plantas arbustivas e herbceas,
notadamente forferas.
Em 1934, Manuel Lopes foi indicado Chefe da
Diviso de Matas, Parques e Jardins. Com seu conhe-
cimento, prestou inmeros servios e distribuiu bele-
za pela cidade. Aps seu falecimento, em fevereiro de
1938, o viveiro foi batizado com seu apelido Ma-
nequinho Lopes por um decreto do prefeito Fbio
Prado, de 14 de maro de 1938. O trabalho de Ma-
nequinho teve continuidade atravs de Arthur Etzel,
que administrou o Viveiro por mais de 50 anos.
Em 21 de agosto de 1954 foi criado o Parque
Ibirapuera, com 1.800.000 m, em torno do Vivei-
ro Manequinho Lopes. Ainda hoje os eucaliptos
plantados no Viveiro marcam a paisagem do Par-
que Ibirapuera.
Em 1993, Burle Marx elaborou um novo projeto
para o Viveiro, visando reintegr-lo ao Parque Ibira-
puera e valorizar suas edifcaes e rvores notveis.
Ao redor de cada estufa esto plantadas matrizes de
espcies que permitem no s a sua reproduo nos
canteiros, como tambm a sua valorizao paisagstica.
Atualmente o Viveiro ocupa uma rea de 48.000
m, estruturada com estufas, estufns, quadras e tela-
dos, utilizados na produo de espcies arbustivas,
herbceas, plantas de interior e plantas medicinais.
Produz cerca de 650 mil mudas/ano de cerca de 150
espcies de plantas herbceas e 120 espcies de plantas
arbustivas, destinadas ao paisagismo de parques, pra-
as, ruas, avenidas e outros logradouros pblicos.
O grande atrativo do Viveiro a quadra de plantas
medicinais, aromticas e condimentares, com cerca de
cinqenta espcies de matrizes, das quais se destacam
a alfazema (Lavandula dentata), o alecrim (Rosmarinus
ofcinalis), a melissa (Melissa ofcinalis), o manjerico
(Ocimum basilicum), a alfavaca-cheiro-de-anis (Oci-
mum selloi), a hortel (Mentha spp.) e o capim-limo
(Cymbopogon citratus).
F
o
t
o
:
P
e
d
r
o
H
e
n
r
i
q
u
e
N
.
d
a
C
u
n
h
a
#12
PLANTAS MEDICINAIS:
O QUE O
PROFISSIONAL
DE SADE
PRECISA SABER
#12
PLANTAS MEDICINAIS:
O QUE O
PROFISSIONAL
DE SADE
PRECISA SABER
116
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
12 PLANTAS MEDICINAIS E CONCEITOS
RELACIONADOS
Prof. Dr. Luiz Claudio Di Stasi
Plantas medicinais: conceitos bsicos que o pro-
fssional de sade precisa saber
O termo planta reconhecido imediatamente
por qualquer pessoa como uma espcie vegetal, um
ser vivo que no animal, um ser vivo geralmente fxo
em um determinado local, de onde retira todos os
elementos necessrios para sua sobrevivncia e para
suas relaes com o ambiente e com os outros seres
vivos, incluindo outras plantas, animais de grande e
pequeno porte, insetos, vrus, bactrias e tudo mais
que tenha vida. H, portanto, uma concepo global
e real do que seja uma planta. Se alguns seres vivos
como os lquenes, os fungos, musgos e outras cate-
gorias podem ou no ser classifcados como plantas,
no uma discusso importante aqui. O que importa
que uma planta sempre reconhecida como uma
espcie vegetal rasteira, herbcea ou arbustiva.
O termo medicinal vem para expressar justamen-
te o uso que se faz desta espcie, sua utilidade medi-
cinal, ou seja, voltada preveno ou tratamento de
uma doena ou ainda para aliviar determinado sin-
toma decorrente de uma doena. Assim, uma planta
medicinal aquela para a qual se atribui uma pro-
priedade medicinal. Essa atribuio de propriedade
medicinal , de forma geral, feita por indivduos da
espcie humana. Mesmo considerando que muitos
animais fazem uso das plantas para obterem vanta-
gens medicinais, ser a atribuio da idia de uso
medicinal pela espcie humana que permitir que
uma espcie vegetal, qualquer que seja ela, passe a
ser classifcada como planta medicinal.
A Organizao Mundial da Sade (OMS) refere
que as plantas medicinais so espcies vegetais a par-
tir das quais produtos de interesse teraputico po-
dem ser obtidos e usados na espcie humana como
medicamento. Neste conceito, a OMS tambm inclui
em sua lista de plantas medicinais outras espcies ve-
getais, fontes de compostos ativos com propriedade
teraputica, e o faz isto independentemente de serem
usadas pela populao como medicinais ou no.
No entanto, no este conceito que os pesqui-
sadores da rea reconhecem como verdadeiro, mas
aquele que refere o uso da espcie como medicinal,
ou seja, que reconhece o papel fundamental do co-
nhecimento popular e do uso que os seres humanos
fazem das espcies vegetais. Neste contexto, uma
planta medicinal qualquer espcie vegetal usada
com a fnalidade de prevenir e tratar doenas ou de
aliviar sintomas de uma doena.
O leitor deve perceber ainda que no conceito de
uma espcie vegetal como medicinal no se est atri-
buindo planta a caracterstica de que ela realmente
seja efcaz para a preveno ou tratamento de uma
doena, ou mesmo para o alvio de um sintoma. Ge-
ralmente essa atividade benfca est na planta, mes-
mo porque, se no fosse efciente, obviamente ela no
seria mais utilizada. O que no podemos saber nestes
casos se a efccia sufciente para permitir o trata-
mento desejado, ou se a planta usada como remdio
ser melhor ou mais potente que um outro medica-
mento disponvel na farmcia e, fnalmente, se ser
segura o sufciente para uso por todas as pessoas.
O leitor tambm deve perceber que se a planta
causar srios efeitos colaterais ou txicos no esta-
ria mais sendo utilizada como medicinal e passaria,
mesmo que popularmente, para uma outra categoria,
a de planta txica.
Isso no signifca de forma alguma que qualquer
planta, por ser usada por suas reputadas proprieda-
des teraputicas, seja desprovida de efeitos malfcos
para o organismo. O que determina o tipo de efeito
que pode ser observado o contexto em que a es-
pcie usada, priorizando-se seus esquemas de pre-
paro e posologia, conforme um diagnstico que ge-
ralmente no foi realizado por nenhum profssional
da rea de sade, mas por uma concepo de sade e
doena dentro de uma determinada cultura, popular
ou tradicional. Quando se usa determinada planta
fora de seu contexto e de seu sistema de concepo
sade-doena, ela pode produzir efeitos inesperados
e indesejveis. Atentemos para a idia de que pode
produzir esses efeitos e no que sempre os produzir.
Logo, importante diferenciar claramente os
termos medicinal versus txico. Estes dois conceitos
tambm englobam formas de compreenso diferen-
tes, uma delas por parte dos consumidores e dos in-
tegrantes da medicina popular e tradicional e outra
por parte do sistema ofcial de sade ou da medicina
ofcial e de seus profssionais.
Na medicina popular e na medicina tradicional
muito tranqila e clara a distino entre uma planta
txica e uma planta medicinal, pois ela se faz pela ob-
servao dos sintomas que a planta produz sobre o
organismo. Neste sistema, qualquer integrante de um
dos grupos sabe e diferencia claramente uma planta
da outra, de modo que aquelas reputadas como me-
dicinais vo se incorporando na prpria cultura e seu
uso vai se disseminando na populao em velocida-
des que dependem do meio de comunicao dispo-
nvel, mas normalmente pela tradio oral entre gera-
es ou na mesma gerao.
Em outro contexto, envolvendo o sistema da me-
dicina ofcial, esta diferenciao no to simples e
tampouco a mesma. Na medicina ofcial, as substn-
cias puras isoladas das plantas medicinais e usadas
como medicamentos so, em grande parte, origina-
das de plantas tradicionalmente reconhecidas como
txicas que, aps os devidos estudos de isolamento
das substncias ativas e utilizadas em doses devida-
mente estudadas, apresentam efeitos teraputicos
valiosos e, por tal, foram e so usadas como medi-
camentos. Por serem originalmente obtidas a partir
de espcies vegetais txicas, nunca so desprovidas
de efeitos colaterais e geralmente so pouco seguras
quando usadas em doses altas ou por tempo prolon-
gado. Se a discusso se limita s substncias isoladas
de plantas, deve-se ao fato de que a prescrio de
117
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
plantas como medicamento dentro do sistema da
medicina ofcial ainda muito incipiente e fonte de
um enorme preconceito por parte dos profssionais
de sade. Por outro lado, h a idia, disseminada por
muito tempo, e muitas vezes usada como argumento
tanto pelos profssionais de sade como pelos usu-
rios, de que as plantas medicinais no tm efeitos co-
laterais e txicos por serem produtos naturais.
Outro aspecto conceitual importante resulta da
seguinte questo: quando uso uma planta medicinal,
estou usando um remdio ou um medicamento? Se
para algumas pessoas isto muito bem delineado em
termos das diferenas de conceitos, a maioria dos
usurios, inclusive alguns profssionais de sade, ge-
ralmente usam estes termos como sinnimos, quan-
do na verdade no o so. Esta diferenciao essen-
cial e bsica para compreender claramente a diferente
natureza destes dois produtos. Podemos antecipar
que todo medicamento um remdio e nestas cir-
cunstncias os dois termos podem ser usados como
sinnimos. Por outro lado, nem todo remdio pode
ser um medicamento, de modo que, dependendo do
produto, processo ou procedimento de cura utiliza-
do, no seria possvel empregar os dois termos como
sinnimos.
O termo remdio expressa e se refere de modo
amplo a qualquer procedimento, processo ou pro-
duto de diferente natureza usado com a fnalidade de
cura ou preveno de doenas, incluindo o alvio de
sintomas. Neste conceito a fnalidade teraputica,
mas no representa em nenhum momento garantia de
efeito, o qual pode ou no ser alcanado. Obviamente
que grande parte dos remdios funciona e, em alguns
casos, so to ou mais efcientes do que compostos
qumicos puros comercializados como medicamen-
to. Um remdio, portanto, signifca uma promessa de
cura ou de alvio de um sintoma que pode representar
e na maioria dos casos representa uma promes-
sa que se concretiza na prtica. No entanto, pelo fato
de o remdio visar a uma determinada propriedade
medicinal, em seu conceito no est includo que seja
comprovadamente efcaz ou seguro para uso.
Neste sentido, importantssimo salientar que o
leitor no pode e no deve julgar que o remdio, por
no ter garantia de efccia e segurana, as quais so
estabelecidas por estudos e investigaes cientfcas,
tenha menor valor que um produto qumico com
comprovada efccia e segurana de uso. Novamente
se inclui aqui a questo do contexto de uso, como se
ver mais frente.
Por outro lado, para ser vendido como tal, um me-
dicamento deve passar por uma srie de estudos que
comprovem sua efccia para tratar ou prevenir deter-
minada doena ou determinado sintoma. Da mesma
forma, para ser um medicamento, um remdio deve
ter sido amplamente estudado para a verifcao dos
potenciais riscos de uso, efeitos colaterais, efeitos em
altas doses ou em tratamentos prolongados. E, fnal-
mente, deve ter sido estudado quanto melhor via
de administrao (oral, venosa, tpica, muscular),
melhor esquema de dosagem e aplicao, forma de
apresentao mais adequada, mecanismo de funcio-
namento e indicaes teraputicas.
Plantas medicinais e seu uso em diferentes con-
textos
O uso de plantas medicinais deve ser avaliado
considerando-se os diferentes contextos de uso. Isto
ir permitir a classifcao dos procedimentos de cura
em diferentes tipos de medicinas, as quais precisam
ser devidamente diferenciadas, visto que h diversas
prticas que envolvem o uso de plantas medicinais e
dos medicamentos produzidos a partir delas.
Restringindo-se todas as prticas teraputicas
disponveis apenas quelas que se utilizam de plantas
medicinais, excetuando-se diferentes princpios de
tratamento como a homeopatia, acupuntura e outros,
podemos identifcar trs diferentes tipos de medicina:
uma medicina ofcial, que pode variar de acordo com
o pas que se est considerando, uma medicina tradi-
cional, geralmente associada e estabelecida dentro de
grupos tnicos defnidos, e a medicina popular, que se
estabelece como uma mistura de infuncias culturais
mas que geralmente tem origem nas informaes da
medicina tradicional local.
Considera-se medicina ofcial a adotada pelo pas
em seus servios pblicos e privados de sade, ou
seja, a medicina que possui a regulamentao e auto-
rizao para ser praticada dentro do territrio de cada
pas e que a base dos cursos de formao dos pro-
fssionais de sade. No Brasil, assim como na maioria
dos pases ocidentais, a medicina ofcial a medici-
na aloptica, aquela que se estabelece nos hospitais,
postos de sade e em todos os servios privados de
sade. Nesta medicina, alm do diagnstico das do-
enas e de seus sintomas, est envolvida a prescrio
de medicamentos quimicamente defnidos e aprova-
dos para uso e que de certa forma deveriam constar
da farmacopia brasileira. At o presente momento,
esta medicina ofcial em grande parte baseada na
prescrio de frmacos quimicamente defnidos e
aprovados para uso e comercializao, independen-
temente de serem de origem natural ou sinttica. Tais
medicamentos podem ser obtidos pelo paciente no
mercado de farmcias e drogarias e, em alguns ca-
sos, gratuitamente nos servios pblicos de sade.
Est baseada quase estritamente no uso de frmacos
quimicamente defnidos devidamente estudados
quanto a seus efeitos farmacolgicos, toxicolgicos,
qumicos e farmacuticos. Envolvem, em geral, uma
posologia determinada, uma formulao adequada e
um controle de qualidade defnido, e seus usos e tem-
po de tratamento tambm so determinados.
importante ainda ressaltar que os profssionais
de sade podem prescrever trs diferentes tipos de
medicamentos na medicina ofcial aloptica: os me-
dicamentos ofciais, os medicamentos ofcinais e os
medicamentos magistrais.
O medicamento ofcial uma expresso utiliza-
da para se referir a um determinado composto qumi-
co inscrito na farmacopia de cada pas, que ofcializa
os medicamentos de uso corrente e consagrados pela
experincia como efcazes e teis do ponto de vista
teraputico. Este medicamento ofcial um produ-
118
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
to farmacutico, tecnicamente obtido ou elaborado,
com fnalidade profltica, curativa, paliativa ou para
fns de diagnstico. um produto que foi estudado
em todos os aspectos que garantam na formulao
fnal a efccia e segurana de uso dentro de uma de-
terminada posologia e forma de uso.
O medicamento ofcinal, tambm denomina-
do de medicamento farmacopico, todo medi-
camento de frmula declarada, de ao teraputica
comprovada, identifcado com um nome genrico,
ofcial ou no, e que se prepara na prpria farmcia.
Este medicamento deve apresentar uma frmula far-
macutica estvel, embalagem uniforme e fcar sujei-
to a registro prvio no Ministrio da Sade. No se
trata, portanto, de um medicamento prontamente
disponvel no mercado farmacutico, mas que ne-
cessita de um farmacutico para, em condies ade-
quadas, manipul-lo corretamente em seu estabeleci-
mento, garantindo suas caractersticas e, conseqen-
temente, seus efeitos benfcos.
O medicamento magistral no comercializa-
do de forma industrializada e requer a preparao
pelo prprio farmacutico de acordo com a correta
prescrio de um mdico, que deve pormenorizar a
composio, a forma farmacutica e a posologia. Di-
fere do medicamento ofcinal pelo fato de no estar
descrito nas farmacopias.
Entre essas trs formas de medicamentos pass-
veis de prescrio pelo profssional de sade, o medi-
camento ofcinal e o medicamento magistral podem
conter em sua composio espcies vegetais. Para o
medicamento ofcinal a incluso de espcies medi-
cinais deve estar descrita na farmacopia e, para o
magistral, deve ser includo por orientao mdica.
Neste contexto, tem se aberta de forma legal a pos-
sibilidade da incorporao de plantas medicinais em
um determinado medicamento. No entanto, no es-
to disponveis os conhecimentos necessrios sobre
as plantas medicinais brasileiras que permitam ao
medicamento magistral ser prescrito com segurana
para o usurio e para o profssional de sade. Deve-
se salientar que apenas nos casos em que se incluam
na preparao plantas tradicionalmente conhecidas
como seguras e efcazes, que tal procedimento po-
deria ser considerado adequado e seguro.
O contexto da medicina ofcial, portanto, aque-
le que est devidamente regulamentado pelos rgos
governamentais e nestes casos a prescrio de me-
dicamentos deve se basear no uso daqueles devida-
mente aprovados e liberados para comercializao
e respectivo consumo, considerando-se obviamente
as regras que compem todo o sistema teraputico
ofcial do pas.
A medicina tradicional pode ser inicialmente de-
fnida como uma medicina autntica de um determi-
nado grupo tnico, como um corpo de conhecimen-
tos que se forma ao longo de um enorme processo
de entendimento do que doena e de um imenso
reconhecimento da natureza como fonte de recursos
teraputicos efcazes. A medicina tradicional normal-
mente no recebe absolutamente nenhuma infun-
cia de outras culturas, especialmente da cultura oci-
dental, e se estabelece como uma prtica de uso de
plantas medicinais em rituais de cura que visam in-
tegrar o homem e a divindade ou sua espiritualidade.
Para a Organizao Mundial da Sade a medicina
tradicional se refere s prticas, abordagens e crenas
que incorporam produtos de origem vegetal, animal e
mineral, terapias espirituais, tcnicas manuais e exerc-
cios aplicados isolada ou em combinao e que visam
tratar, diagnosticar e prevenir doenas ou manter o
bem-estar. Ainda segundo a OMS, a medicina tradi-
cional poderia ser defnida como os conhecimentos,
as habilidades e as prticas de cuidado de sade, re-
conhecidas e aceitas por seu papel na manuteno da
sade e no tratamento das doenas, sendo uma medi-
cina baseada nas teorias, crenas e experincias indge-
nas que passam de gerao a gerao.
Assim sendo, a medicina tradicional representa
prticas mdicas que existem nas sociedades
humanas antes do surgimento da medicina moderna
e esta, por sua vez, teve sua origem nestas prticas.
A medicina tradicional envolve diferentes origens
e uma base flosfca distinta daquela que originou
a medicina moderna. Embora a medicina moderna
seja praticada em quase todo o planeta, a medicina
tradicional existe em todos os pases com diferentes
graus de importncia dentro do sistema teraputico.
O interesse pela medicina tradicional tem-se
ampliado muito nos ltimos anos, visto que a
populao dos mais variados pases est agora mais
preparada para reconhecer tais prticas como uma
boa abordagem para a manuteno da sade.
A medicina popular pode ser defnida e
reconhecida como as prticas de sade de
tratamento e preveno de doenas que se utilizam
das informaes e dos conhecimentos da medicina
tradicional, embora no reconhecida como um
conhecimento espontneo e autctone de um
determinado grupo tnico defnido, mas como um
corpo de informaes e prticas de sade gerado
a partir de uma enorme mistura de informaes,
especialmente sobre as virtudes dos produtos
naturais e de inmeros procedimentos de cura que
foram, ao longo do tempo, se incorporando no
conhecimento da populao e que representam
um conhecimento disseminado e impossvel de ser
reconhecido quanto sua origem.
Diferente da medicina tradicional, a medicina
popular recebe infuncias das mais variadas fontes
e origens, inclusive da prpria medicina ofcial. Um
exemplo comum desta infuncia est na prpria
nomenclatura de muitas plantas medicinais que,
devido a suas reputadas atividades teraputicas,
recebem nomes de medicamentos comerciais com
a mesma fnalidade. Alguns exemplos so as plantas
medicinais chamadas de anador, insulina e
atroveran, entre outras.
A populao, de forma geral, e os usurios das
plantas medicinais, de uma forma mais especfca,
se apropriam dos conhecimentos da medicina tradi-
cional mas utilizam estes produtos sem o seu carter
119
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
mgico e ritualstico. um tipo de conhecimento que
se dissemina por toda a sociedade, especialmente nas
camadas sociais e econmicas menos favorecidas,
onde tais informaes so muito mais valiosas. Nor-
malmente so informaes que passam de gerao a
gerao e, na mesma gerao, de pessoa a pessoa, mas
na atualidade tambm por veculos de comunicao,
como televiso, rdio e jornais. Apesar de existirem
na sociedade indivduos como benzedeiras, matei-
ros e outros que praticamente podem ser reconheci-
dos como especialistas e grandes conhecedores das
plantas medicinais, a medicina popular no tpica
ou especfca de um nico grupo tnico, sendo uma
prtica disseminada por toda a populao.
Finalmente necessrio apenas mais dois
pequenos comentrios. O primeiro referente ao fato
de que na medicina popular no existe uma separao
rigorosa entre mdico e paciente, de forma que os
conhecimentos utilizados pelos diferentes praticantes
so tambm de domnio pblico, diferente do que
ocorre na medicina ofcial e na medicina tradicional,
onde este conhecimento est restrito aos profssionais
de sade e ao sistema farmacutico vigente ou, no
segundo caso, aos especialistas de medicina tradicional
como os pajs, xams, curandeiros e outros. O
segundo est no fato de que, mesmo no tendo uma
diviso entre mdico e paciente, existe na medicina
popular alguns praticantes, ou seja, indivduos que
acumularam ricos conhecimentos no tratamento das
mais diversifcadas doenas. Dependendo da regio,
estes praticantes recebem diferentes denominaes,
mas de forma geral os mais conhecidos so os
mateiros, os rezadores e benzedeiras, as parteiras e
os raizeiros. Apesar de alguns praticantes deterem
grande parte dos conhecimentos, na medicina popular
estes conhecimentos esto disponveis a qualquer
usurio que, mesmo sem exercer nenhuma atividade
especializada que o caracterize como um praticante
da medicina popular, invariavelmente tambm
prescreve os produtos medicinais que conhece a seus
parentes e amigos, compartilhando e perpetuando
as informaes sobre estes produtos e esta prtica
popular de sade.
Fitoterapia e ftoterpicos
A ftoterapia a terapia baseada no uso de fto-
terpicos e o ftoterpico um medicamento usado
dentro do sistema aloptico, ou seja, no possui ne-
nhuma relao com os princpios que regem a home-
opatia. Assim sendo, a ftoterapia como especialida-
de mdica seria uma prtica mdica que se utiliza de
ftoterpicos como produto teraputico de origem
vegetal devidamente avaliado quanto sua efccia e
segurana de uso, alm de reunir em suas caractersti-
cas o controle de qualidade. muito importante que
se diferencie a prescrio de ftoterpicos da prescri-
o de plantas medicinais.
Assim sendo, a ftoterapia no a medicina ofcial
tendo em vista que os produtos teraputicos utiliza-
dos nesse sistema no incluem o arsenal qumico-far-
macutico disponvel no mercado que se caracteriza
por substncias quimicamente defnidas e avaliadas.
Da mesma forma, a ftoterapia no uma medicina
tradicional ou uma medicina popular, pois no preco-
niza o uso de plantas medicinais como ocorre nestes
dois sistemas que historicamente se estabeleceram
como excelentes prticas de sade. A ftoterapia pre-
coniza o uso de medicamentos preparados a partir de
plantas medicinais e de origem nos conhecimentos
da medicina tradicional e popular, mas devidamente
avaliados quanto sua efccia, segurana de uso e
controle de qualidade.
Um mdico ou qualquer profssional de sade ao
prescrever o ch de uma espcie medicinal para o tra-
tamento de uma doena ou alvio de um sintoma deve
reconhecer que no est praticando a ftoterapia, mas
utilizando-se e valorando uma prtica consagrada na
medicina tradicional ou em uma prtica popular de
sade. Deve-se aqui ter o cuidado de novamente no
julgar ou comparar estes diferentes sistemas, pois to-
dos so efcientes dentro de seu contexto.
Por outro lado, a ftoterapia se diferenciar da me-
dicina tradicional e popular no sentido de que seus
medicamentos precisam ser devidamente prepara-
dos e prescritos em obedincia a uma determinada
legislao de controle. A caracterizao da ftoterapia
ocorre quando se estabelece a prescrio de medica-
mentos devidamente avaliados dentro da legislao
de cada pas, as quais diferem enormemente entre si.
Os ftoterpicos tambm so classifcados como
medicamentos, ou seja, possuem efccia e segurana
de uso determinadas, assim como controle de qua-
lidade padronizado. No entanto, os ftoterpicos so
preparaes vegetais padronizadas que consistem de
uma mistura complexa de uma ou mais substncias
contidas na planta, sendo que de forma geral os prin-
cpios ativos responsveis por sua ao farmacolgica
so desconhecidos. Assim sendo, combinaes de
substncias conhecidas, mesmo de origem vegetal,
no podem ser consideradas como preparaes f-
toterpicas, pois na verdade trata-se de ftofrmacos,
produtos quimicamente defnidos usados na me-
dicina moderna e que tiveram sua origem ou foram
descobertos em espcies vegetais de uso tradicional
ou no. Da mesma forma, alguns dos medicamentos
homeopticos que so preparados com plantas me-
dicinais no so considerados ftoterpicos. As ca-
ractersticas fundamentais dos ftoterpicos, que os
diferenciam dos ftofrmacos, so que os princpios
ativos na maioria das vezes so desconhecidos, envol-
vem espcies vegetais ativas normalmente usadas na
medicina popular ou tradicional e que de forma geral
produzem efeitos colaterais e txicos muito menores
do que aqueles produzidos por substncias isoladas e
ou compostos qumicos de origem sinttica.
Um programa de ftoterapia, independentemen-
te de seu carter municipal, estadual ou nacional, se
baseia no uso de produtos ftoterpicos com efccia
e segurana devidamente avaliados, assim como um
controle de qualidade adequado que garanta as carac-
tersticas essenciais do produto, as quais permitem o
alcance dos efeitos benfcos sade sem o risco de
efeitos colaterais graves ou txicos. Assim sendo, a f-
toterapia no apenas e no pode ser a prescrio
de chs e preparados tradicionais de espcies vegetais
de valor medicinal, mas se baseia no uso de produtos
120
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
derivados de plantas, inclusive de extratos vegetais devi-
damente estudados quanto a seus efeitos farmacolgi-
cos e toxicolgicos, obedecendo legislao pertinente
do pas, para que possam ser prescritos com segurana
pelo profssional de sade e usados tambm com segu-
rana pelo paciente.
Desta forma, a ftoterapia deve ser vista como o
oferecimento de uma assistncia mdico-farmacutica
usando ftoterpicos estudados com base cientfca para
os pacientes, quer seja em localidades onde haja carn-
cia de atendimento primrio sade como uma terapia
disponvel e de fcil acesso, quer seja nas regies mais
industrializadas como uma terapia complementar ou
opcional medicina moderna ou ofcial.
A ftoterapia, portanto, pode ser exercida e implan-
tada em dois diferentes universos: como opo terapu-
tica nos consultrios de sade, e vinculada a programas
ofciais junto aos servios pblicos de sade. Este dois
universos precisam ser devidamente reconhecidos, es-
pecialmente em relao s suas caractersticas e princi-
pais problemas.
Restringindo a discusso da ftoterapia como pr-
tica mdica baseada no uso de ftoterpicos, o pro-
fssional de sade interessado e disposto a prescrever
produtos de origem vegetal com valor medicinal tem
a possibilidade de realizar estes procedimentos nestes
dois contextos, como ftoterapia e como prtica mdica
popular e tradicional incorporada, mas, neste segundo
caso, deve atentar para a problemtica toda discutimos
at aqui e tambm para o fato de que poder prescrever
produtos consagrados pelo uso popular e tradicional.
Ter sucesso apenas se possuir as garantias de que o pro-
duto a ser consumido pelo paciente seja efetivamente
aquele que foi prescrito.
Neste contexto, a ftoterapia poder se estabelecer
como uma prtica mdica efcaz quando organizada
como um programa ofcial de atendimento sade jun-
to aos servios pblicos. No h como, na situao atual,
que ela se estabelea fora de um contexto programtico,
pois se assim ocorrer seu sucesso ser limitado pelos
mesmos problemas discutidos acima. Devemos enten-
der um programa de ftoterapia como um programa
que garanta a qualidade de todas as etapas envolvidas na
cura do paciente, ou seja, a consulta e o diagnstico com
conseqente prescrio do ftoterpico ou planta me-
dicinal e o fornecimento deste produto para o paciente
com a qualidade necessria para que seja efcaz e seguro.
A implantao de programas com ftoterpicos de-
ver se pautar antes por polticas pblicas com objetivos
bastante claros, dos quais enumeramos os mais impor-
tantes:
a. implantar uma poltica nacional de plantas medici-
nais e ftoterapia;
b. promover uma percepo pblica da validade dos
ftoterpicos e garantir o acesso a esses produtos;
c. estabelecer padres adequados de controle e produ-
o de ftoterpicos;
d. fomentar o respeito pela integridade cultural dos co-
nhecimentos da medicina tradicional e popular;
e. estimular e fortalecer a pesquisa cientfca das plantas
medicinais;
f. incorporar nos sistemas educacionais e na formao
dos profssionais de sade contedo referente ao uso
dos ftoterpicos;
g. formular polticas de proteo e conservao dos
recursos genticos vegetais usados como recursos tera-
puticos.
Obviamente que a implantao de programas de fto-
terapia depende diretamente das caractersticas do local
onde ele ser implantado. No entanto, alguns aspectos
devem ser obedecidos por todos estes programas e deles
depende o sucesso teraputico do programa. Neste sen-
tido, poderemos detectar facilmente que seria complexo
pensar em um Programa Nacional de Fitoterapia, j que
uma proposta desta magnitude dever respeitar as carac-
tersticas regionais, estaduais ou municipais.
Outro aspecto essencial est no fato de que um
programa de ftoterapia em qualquer nvel, municipal,
estadual ou federal, depende da integrao de uma srie
de diferentes profssionais capacitados para que todas as
etapas de desenvolvimento do programa possam ser re-
alizadas com sucesso. Assim sendo, botnicos, agrno-
mos, farmacuticos, mdicos, enfermeiros, nutricionis-
tas, auxiliares de enfermagem e vrios outros profssio-
nais devem agir em conjunto e engajados diretamente
no programa, trabalhando no servio pblico de sade
ou em outras secretarias municipais, enquanto outros
atuarem como integrantes e assessores do programa,
#13
USO CONSAgRADO
DAS PLANTAS
MEDICINAIS
123
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#13
USO CONSAgRADO
DAS PLANTAS
MEDICINAIS
124
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
13.1 ALGUMAS PLANTAS REFERENCIA-
DAS PELO MINISTRIO DA SADE E OU-
TRS CONSAGRDAS PELO USO POPULAR.
Prof. Dr. Luis Carlos Marques
O Anexo B a este captulo apresenta uma lista
de espcies medicinais de uso consagrado e algu-
mas plantas pesquisadas pelo Programa de Pesquisas
de Plantas Medicinais da Central de Medicamen-
tos (PPPM-Ceme), com resultados divulgados em
2006, atravs do Ministrio da Sade, na publicao
A Fitoterapia no SUS e o Programa de Pesquisas de
Plantas Medicinais da Central de Medicamentos.
13.2 FITOTERPICOS: PERSPECTIVAS
DE NOVOS E ANTIGOS PRODUTOS.
Prof. Dr. Luis Carlos Marques
Contexto atual do mercado
O Brasil vive um perodo de franco crescimento
econmico e que precisa ser preservado para colocar
o pas defnitivamente num processo de crescimento
sustentvel.
Na rea de medicamentos, no entanto, o cenrio
no tem acompanhado esse perodo de crescimento
progressivo. Nos ltimos anos, o volume de vendas
das empresas farmacuticas tem oscilado muito, com
algumas delas atingindo patamares expressivos mas
outras mantendo-se estagnadas ou mesmo perdendo
mercado a olhos vistos.
Por que ocorrem tais diferenas? H vrias
respostas, mas a que quero destacar neste artigo
envolve um velho e conhecido aspecto dos
profssionais e empresas do setor: a necessidade de
constantes lanamentos de novos produtos. Esse
componente da indstria farmacutica, estendendo-
se ao ramo de cosmticos e mesmo de alimentos,
advm do senso comum dos consumidores de que
a cincia avana progressiva e inexoravelmente
e o surgimento de novos produtos igualmente
inevitvel. Na busca do atendimento a essa
caracterstica as empresas adotam algumas opes:
Lanamento de similares
uma estratgia adotada h dcadas, levando o
mercado a saturar-se de diferentes produtos base
dos mesmos ativos, com mnimas (quando existem)
diferenas. Em tal situao ocorre uma verdadeira
guerra de preos, promoes, bonifcaes, etc.,
prticas que estimulam o mercantilismo na rea, em
detrimento do acesso facilitado ou da melhoria na
oferta de produtos.
Lanamento dos genricos
Propalado nos ltimos anos como a grande
vedete do setor farmacutico, o genrico tem sido
responsvel pelo crescimento acentuado do setor,
na faixa de 25%, bem mais expressivo que os parcos
5% anuais do setor farmacutico como um todo
(Mercado, 2007). No entanto, o aumento progressivo
e agressivo das empresas nesse segmento acabou
transformando-o num novo setor de similares, pois
h enorme igualdade de ativos, formas farmacuticas,
doses, etc., promovendo agora um novo estmulo
bonifcao e concorrncia a toda prova.
Lanamento de associaes
Na ausncia de produtos inovadores e genricos
e na tentativa de evitarem os similares, algumas
empresas buscam associar ativos, ampliando um
pouco sua faixa de ao e de indicaes. No entanto,
as associaes so limitadas por regulamentos
sanitrios, com possibilidades cada vez mais
difcultadas.
Nesse contexto de grandes e progressivas
difculdades, a rea ftoterpica ainda continua sendo
uma seara alternativa, que permitiria s empresas a
busca, inicialmente, de produtos registrveis para
atender quela necessidade de renovao continuada
e, posteriormente, de produtos genuinamente
inovadores, para diferenciao at mesmo no plano
internacional.
Cadeia da pesquisa, desenvolvimento e inovao
PDI
Todos sabemos da grandiosidade da fora nacio-
nal, a qual teoricamente permitiria o desenvolvimen-
to expressivo de inmeros produtos ftoterpicos
teis teraputica. No entanto, apesar da exubern-
cia botnica, nos faltam muitos elos da cadeia de PDI
que pudessem facilitar o desenvolvimento esperado,
ao menos na qualidade e velocidade desejadas e ne-
cessrias para permitir uma competio ainda que
prxima dos produtos sintticos. Em linhas breves,
tais passos so os seguintes:
a. Etapa botnica. Necessidades enormes de co-
nhecer o que existe, identifcar as espcies, herbori-
z-las corretamente e aproximar a competncia bot-
nica existente das necessidades e do foco industrial.
Um exemplo claro dessa necessidade diz respeito
espcie vulgarmente chamada de muirapuama, co-
mercialmente denominada como sendo a espcie
Ptychopetalum olacoides mas correspondendo de
fato a outra espcie, a qual ainda, inacreditavelmente,
ningum sabe qual nem a identifcou adequada-
mente. E, apesar dessa evidente lacuna, infelizmente
so raros os profssionais farmacuticos que a enten-
dem e se dedicam a esta rea, atualmente num est-
gio de quase abandono dentro da profsso.
b. Etapa qumica. Esta rea, ao contrrio da ante-
rior, tem sido a estrela do interesse dos profssionais
farmacuticos nas ltimas dcadas, representando o
setor de maior desenvolvimento e estruturao. No
entanto, o foco totalmente distorcido, com acmu-
lo enorme de estudos ftoqumicos voltados a subs-
tncias inditas, as quais so testadas em modelos
de atividade biolgica, que pouco ou nada signif-
cam em termos de reais potenciais teraputicos (ex.:
mortalidade de moluscos, antioxidante in vitro, etc.).
Continuamos carentes de estudos ftoqumicos das
espcies nativas, inclusive daquelas clssicas, mes-
125
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
mo que sejam obtidas apenas substncias no
inditas, pois o indito neste caso o conheci-
mento qumico gerado. Necessitamos dos es-
foros qumicos para produo de padres, atu-
almente todos sendo importados a preos de
diamante de inmeros quilates. Continuamos
esperando os qumicos voltarem seus olhos
necessidade do desenvolvimento dos mtodos
analticos para controle de qualidade das es-
pcies, nativas e exticas, bem como para sua
validao em termos da legislao atual. Apesar
desse contexto, poucos so os sinais de que h
interesse efetivo neste assunto.
c. Etapa farmacolgica. Este outro segmen-
to bastante procurado e charmoso que, por v-
rios motivos e esforos, obteve tambm forte
crescimento e estruturao no pas. No entanto,
como no caso da qumica, o foco voltou-se ao
seu prprio umbigo, perdendo-se a viso hori-
zontal das necessidades do setor e da capacida-
de da farmacologia em supri-las. O ponto-chave
neste caso o absurdo esquema do modelo
farmacolgico, em que cada pesquisador mon-
ta uma tcnica, especializa-se nela e, a partir da,
busca plantas (ou o que for) para serem testa-
dos no seu modelo, gerando inmeros dados
cientfcos que abastecem as publicaes. Sur-
gem assim milhares de espcies antiinfamat-
rias, antilceras, antioxidantes e outras que
nunca tiveram tal utilizao popular nem so
seqenciadas para alguma pesquisa mais apro-
fundada ou geram produtos com tais proprie-
dades. Por exemplo: as espcies antiinfamat-
rias utilizadas em reumatologia (Tabela 1) so
todas oriundas de pesquisas e fora internacio-
nais e apenas uma delas tem origem na fora do
nosso continente (Sety & Sigal, 2005).
d. Etapa toxicolgica. Este outro gargalo
evidente, conhecido h muitos anos mas ainda sem
um enfrentamento resolutivo. Por tratar-se de etapa
legalmente exigida, passo seletivo para todos os
projetos de PDI e somente a partir dele se pode pensar
em seguimento para as etapas clnicas. No entanto,
atividade rotineira, repetitiva, etc., caractersticas
pouco atrativas para pesquisadores, o que leva
poucas instituies a oferecerem sua execuo como
atividade usual. Tal situao acarreta que os nicos
casos de instituies primariamente voltadas a esta
atividade ofeream servios a custos altos e prazos
igualmente dilatados. Como alternativa, algumas
empresas tm buscado instituies no exterior para
a execuo desta etapa, novamente evidenciando a
necessidade de investimento governamental para a
ampliao desta estrutura no pas.
126
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Cumprindo toda essa cadeia de atividades defnidas
e estabelecidas tcnica e legalmente, vrias empresas e
pesquisadores de todo o mundo tm obtido resultados
positivos e favorveis a vrios ftoterpicos, alguns novos
de fato na teraputica mas, na grande maioria, tratando-
se de espcies clssicas na ftoterapia tradicional mun-
Tabela 2. Fitoterpicos internacionais estudados, validados e presentes no mercado brasileiro
dial, ora aladas categoria de validao completa, s
vezes avaliadas de forma conjunta (produtos mistos)
ou mesmo revistas em novas indicaes ou resgatadas
em termos de menores efeitos colaterais ou interaes,
mantendo-se as mesmas importantes propriedades te-
raputicas.
Nesse contexto, sem querer esgotar todo o universo
desenvolvido nos ltimos anos, destaco a seguir (Tabe-
la 2) os ftoterpicos internacionais desenvolvidos nos
ltimos anos, alguns deles j lanados no Brasil e outros
ainda presentes em farmcias de manipulao ou em
vias de se consolidar comercialmente no pas.
Hypericum perforatum
(hiprico)
Grifonia simplicifolia
(grifonia)
Valeriana ofcinalis
(valeriana)
Valeriana ofcinalis +
Humulus lupulus
(valeriana+lpulo)
Valeriana ofcinalis +
Melissa ofcinalis
(valeriana+melissa)
Melissa ofcinalis
(melissa)
Curcuma longa
(aafro-da-terra)
Harpagophytum
procumbens
(garra-do-diabo)
Boswellia serrata
(incenso)
Glycine max
(soja)
Trifolium pratense
(trevo-vermelho)
127
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Fitoterpicos genuinamente nacionais
Vrias empresas farmacuticas nacionais conhe-
cem muito bem este cenrio, suas caractersticas e o
que precisa ser feito para a promoo adequada do de-
senvolvimento e inovao de produtos ftoterpicos.
O caso do produto Achefan, lanado recentemen-
te pelo laboratrio Ach, tem sido propalado de modo
quase exaustivo como um modelo de sucesso e como
primeiro produto ftoterpico genuinamente nacio-
nal. Pessoalmente, reconheo a viso e persistncia
do referido laboratrio, particularmente de seu presi-
dente, e da competncia da equipe de pesquisadores
e profssionais envolvidos, e o sucesso comercial que
o produto vem obtendo prova de que se tratar de um
projeto bem desenvolvido, que atende s exigncias
legais e expectativas dos prescritores, e que satisfaz s
necessidades dos pacientes.
Discordo apenas de um pequeno item que no in-
terfere nos aspectos positivos do produto Achefan: a
afrmao de que o primeiro.
De fato, se queremos alavancar o conceito de que
possvel tal realizao local, temos a obrigao his-
trica de conhecer e valorizar o passado, desse modo
embasando mais consistentemente nosso patamar
atual para vos futuros mais audaciosos. Dentro desse
conceito, gostaria de relatar alguns casos de produtos
ftoterpicos que me parecem pioneiros, de grande
capacidade de resistncia (comercial e tcnica) e que
compem o cenrio para os desenvolvimentos moder-
nos que esto sendo feitos e que certamente viro a ser.
1. Elixir de Vida Olina
Trata-se de um produto de ao digestiva com-
posto de seis espcies medicinais: aloe (Aloe ferox),
anglica (Angelica archangelica), canela (Cinnamomum
zeylanicum), galanga (Alpinia ofcinarum), genciana
(Gentiana lutea), mirra (Commiphora myrrha.) e rui-
barbo (Rheum palmatum). produzido pelo Labora-
trio Wesp, situado em Porto Alegre, RS.
Sua produo teve incio com o fundador, Sr. Joo
Wesp, imigrante alemo que chegou ao Brasil em 1911
e que fabricava artesanalmente o medicamento e o en-
velhecia em barris de carvalho. Junto com sua esposa
e flhos, embalava o elixir na prpria residncia e saa
montado em muares de carga, percorrendo as colnias
alems no interior do estado. Em 1919 teve de registrar
o produto com nome comercial, e no apenas com o
adjetivo de essncia de vida, acrescentando ento um
nome de mulher muito comum na Alemanha naquela
poca, Olina. Foi ento o primeiro medicamento re-
gistrado no Rio Grande do Sul. Com a colaborao
dos flhos, que trabalhavam ativamente em todos os
setores, a empresa evoluiu de pequena economia do-
mstica a um laboratrio respeitado e reconhecido
pela excelncia na qualidade de seus produtos. Atual-
mente continua gerenciado pelos familiares do funda-
dor, tendo frente seu neto (www.olina.com.br).
Trata-se, portanto, de um produto simples, envol-
vendo plantas clssicas de ao digestiva, presente no
mercado brasileiro h quase 100 anos. Compe o con-
ceito de ftoterpico tradicional, que vem sendo gradati-
vamente examinado em termos modernos, com vrios
estudos j realizados e publicados (MORES, 1998).
2. Giamebil
Este medicamento foi desenvolvido no Estado
de Pernambuco pelo laboratrio Hebron, com par-
ticipao de pesquisadores da Universidade Federal
de Pernambuco, particularmente do Instituto de An-
tibiticos, aproveitando o uso popular e pesquisas
pr-clnicas que mostravam o potencial amebicida da
hortel-mida (Mentha crispa) (Mello et al., 1985).
Continuao Tabela 2.
Caralluma fmbriata
(caraluma)
Phaseolus vulgaris
(faseolamina)
(feijo)
Hedera helix
(hera)
Pelargonium sidoides
(pelargnio)
Petasites hybridus
(petasita)
128
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Foram gastos aproximadamente cinco anos nessa
etapa e posteriormente o laboratrio patrocinou pes-
quisas adicionais, bem como o doutoramento de um
farmacutico de sua equipe, na Europa, para executar
testes essenciais credibilidade do medicamento (Di-
mech et al., 2006; Pianowski LF, 2000).
Trata-se, portanto, de outro produto oriundo da
ftoterapia popular, que passou pela cadeia de PDI nos
moldes regulatrios vigentes poca, sendo ento re-
gistrado formalmente e indo a mercado como um fto-
medicamento, sem dvida pioneiro no pas.
Alm desses dois casos citados como exemplos,
h outros produtos j fnalizados e comercializados
Tabela 3. Desempenho comercial de alguns ftomedicamentos brasileiros.
Fonte: IMS novembro 2007
que demonstram termos j um portflio mnimo do
qual devemos nos orgulhar como pas. Como mostra
do desempenho de alguns desses produtos, a Tabela 3
detalha alguns dados comerciais recentes.
Apesar disso, temos tambm a obrigao de
admitir ainda nossa incipincia em termos numricos
e de complexidade tcnica, fatores que devem ser
trabalhados para que os futuros desenvolvimentos
sejam mais expressivos e alcancem horizontes mais
estendidos.
OBS.: Referncias bibliogrfcas ver Captulo 18.
Mentha crispa
(hortel-mida)
Cordia curassavica
(erva-baleeira)
Cordia curassavica
(erva-baleeira)
Schinus terebinthifolius
(aroeira-mansa)
Uncaria tomentosa
(unha-de-gato)
Schinus terebinthifolius
(aroeira-mansa)
Pfafa glomerata
(ginseng-brasileiro)
#14
FARMACOVIgILNCIA
DE PLANTAS.
DADOS DO
CEATOX HCFMUSP
#14
FARMACOVIgILNCIA
DE PLANTAS.
DADOS DO
CEATOX HCFMUSP
132
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
14.1 EFEITOS ADVERSOS
RELACIONADOS AO USO DE
PLANTAS MEDICINAIS E SISTEMA DE
FARMACOVIGILNCIA DE PLANTAS.
Prof. Dr. Ricardo Tabach
1. INTRODUO
O uso de fitoterpicos requer, como para
outros medicamentos, uma criteriosa avaliao
por parte do mdico. Um aspecto particular dos
medicamentos fitoterpicos a crena de que
o que natural no txico ou no faz mal. O
ditado popular o que vem da terra no faz mal,
alm de equivocado, inibe as pessoas a relatarem
casos de reaes adversas com o uso de remdios
populares. Impe-se, portanto, para esta classe
de medicamentos, um sistema de coleta de casos
de reaes adversas, que informe classe mdica
e s autoridades, de forma rpida e eficiente, os
inconvenientes de tal uso.
No Brasil, um trabalho sistemtico de coleta
de dados sobre Reaes Adversas a Fitoterpicos
ainda pouco desenvolvido. Esta deficincia
prejudicial Sade Pblica, impedindo que as
autoridades tomem prontas providncias, em
casos de medicamentos que passem a apresentar
estas inesperadas e s vezes srias reaes
evitando, assim, a ecloso de novos casos.
No sentido de sanar esta falha, o Centro
Brasileiro de Informaes sobre Drogas
Psicotrpicas - CEBRID iniciou recentemente
um Sistema de Farmacovigilncia de Plantas
Medicinais, com o lanamento do Boletim
PLANFAVI (em formato eletrnico), de
periodicidade trimestral, e criou o Sistema
de Coleta de Informaes sobre Reaes
Adversas produzidas por Fitoterpicos e
Plantas Medicinais (RAMP-F). A proposta
deste trabalho estabelecer um sistema de
farmacovigilncia em relao aos fitoterpicos,
bem como criar um banco de dados sobre as
principais reaes adversas provocadas por
este tipo de medicamento. O boletim destina-
se fundamentalmente aos profissionais da
sade, com a finalidade de informar sobre os
potenciais riscos que os fitoterpicos, utilizados
indiscriminadamente ou associados a outros
medicamentos, podem causar, principalmente
quando consumidos na forma de automedicao,
sem acompanhamento mdico adequado.
Embora a fitoterapia seja uma importante
opo teraputica, no est isenta de riscos, que
precisam ser levados em considerao ao se optar
por este tipo de tratamento.
Com a implantao deste sistema e a
colaborao dos profissionais da sade, tanto no
sentido de nos enviar informaes a respeito de
reaes adversas como tambm na divulgao
deste boletim, o CEBRID espera contribuir para
o diagnstico sobre as reaes adversas causadas
pelo uso de fitoterpicos no Brasil.
2. CONSIDERAES GERAIS
Fitoterpicos so medicamentos, o que
significa que a toxicidade, as possveis interaes
medicamentosas e as reaes adversas devem ser
consideradas e avaliadas pelo mdico durante o
tratamento.
Fatores de risco relacionados ao uso de
fitoterpicos
Potencial txico
Caractersticas especificas do usurio
Risco de contaminao
Falta de regulamentao
Estes fatores aumentam a probabilidade de
ocorrncia de reaes adversas, intoxicaes e
outras complicaes decorrentes de seu uso.
Segundo Wong & Castro (2003), h outros
fatores que favorecem o aparecimento desses
eventos desagradveis, quais sejam:
1- Condies de cultivo da planta: solo,
temperatura, clima e condies tcnicas de
cultivo.
2- Interao pelo uso concomitante de outros
medicamentos (alopticos ou fitoterpicos):
antagonismos, sinergismos, alteraes da
biodisponibilidade.
3- Dificuldade em identificar ou distinguir
uma planta medicinal de outra planta que
pode ser txica ou incua: plantas de famlias
diferentes, mas morfologicamente semelhantes.
4- A falta de informao e divulgao dos
efeitos adversos ou txicos, agudos e crnicos,
dos fitoterpicos, envolvendo os aspectos
abaixo relacionados:
4a- ausncia de um levantamento preciso de
dados sobre reaes adversas;
4b- despreparo da populao em reconhecer
os sintomas, levando a uma subnotificao aos
servios de sade: os registros de notificaes
de problemas relacionados ao uso de
medicamentos naturais so escassos, porm
sua freqncia bem maior do que podemos
imaginar;
4c- ausncia de comunicao: o paciente no
informa e o mdico no pergunta sobre o uso de
fitoterpicos;
4d- a substituio de terapias consagradas ao
longo do tempo: apelo do natural. importante
salientar que o carter natural das plantas
medicinais no sinnimo de ausncia de riscos
para a populao usuria. Existem muitos relatos
de casos de hepatotoxicidade, crises depressivas
133
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
e falncias heptica e renal devido a estas
substituies sem acompanhamento mdico.
Embora os efeitos colaterais advindos do uso de
ftoterpicos sejam menos freqentes do que aqueles
derivados de drogas sintticas, muitos ensaios clnicos
bem delineados, realizados em outros pases, vem
confrmando a existncia destes efeitos (DArcy, 1993).
Encontram-se na literatura cientfca relatos de
complicaes cardacas, hepticas (Woolf et al.,
1994; Lai e Chan, 1999), renais (Abt et al., 1995),
hematolgicas (Ries & Sahud, 1975; Chan et al.,
1977; Ko, 1998) e intestinais (Sossai et al., 2007)
provocadas por ftoterpicos.
3. FARMACOVIGILNCIA DE PLANTAS
MEDICINAIS
Nas ltimas dcadas, temos observado o
renascimento da ftoterapia e este fenmeno contribui
para o eventual surgimento de reaes adversas;
contudo, o fato de que os produtos base de plantas
so classifcados como suplementos alimentares
em muitos pases, a difculdade para identifcar os
componentes no caso de ftoterpicos formados por
associaes de plantas (medicina asitica) bem como
a baixa qualidade de alguns produtos, difcultam o
relato de reaes adversas provocadas por plantas
medicinais.
Fitofarmacovigilncia: nova rea da pesquisa
cientfca. Devido popularidade/uso de plantas
medicinais, esta rea tem se tornado um aspecto
importante de sade pblica.
Entre 1968 e 1997, a OMS recebeu um total de
8985 relatos de eventos adversos relacionados ao
uso de plantas medicinais (Farah & Edwards, 2000).
Embora esse nmero seja apenas uma pequena
frao quando comparado aos eventos adversos
provocados por medicamentos alopticos, deve-
se levar em conta a inexistncia de uma cultura de
denncia com relao a tais produtos e tambm a
ausncia de rgos capazes de centralizar e monitorar
tais informaes.
Em 2006, com a elaborao da Poltica Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterpicos (Decreto Federal
n 5.813), houve a insero de terapias alternativas
e prticas populares (entre elas a ftoterapia) no
Sistema nico de Sade - SUS. Desde ento, prticas
relacionadas distribuio de ftoterpicos e a
implantao das Farmcias Vivas (Matos, 1998)
vm se tornando uma realidade no pas; em funo
disto, a necessidade de estudos toxicolgicos e a
implantao de polticas de ftofarmacovigilncia
devem ser tomadas como prioridade para a sade
pblica.
Como no existe ainda no Brasil
um trabalho sistemtico de coleta
de dados sobre reaes adversas a
ftoterpicos, o CEBRID criou o
Sistema de Farmacovigilncia de
Plantas Medicinais, com o lanamento
do Boletim n 1 do PLANFAVI (em
formato eletrnico), em 2007, com
periodicidade trimestral, alm da
implantao do Sistema de Coleta de
Informaes sobre Reaes Adversas
Produzidas por Fitoterpicos e Plantas
Medicinais (RMP-F).
PLANFAVI: uma necessidade (em verso
eletrnica no site: www.cebrid.epm.br
Diante do aqui exposto, fca claro que os riscos
relacionados ao uso de plantas medicinais so uma
realidade da qual no se pode mais fugir. Assim,
so necessrios maiores estudos a fm de explorar
os potenciais teraputicos e verifcar a toxicidade e
possveis riscos relacionados s plantas medicinais
utilizadas pela populao. Nota-se tambm
a necessidade da implantao de polticas de
ftofarmacovigilncia efcientes, a fm de tornar seu
consumo mais racional e, deste modo, minimizar os
riscos populao usuria.
14.2 FITOTERPICOS INTERES,
REAES ADVERSAS E TOXICIDADE.
Dr. Anthony Wong colaborao Eliane Gil R.
Castro
(CEATOX HCFMUSP)
Quanto toxicidade de plantas medicinais,
os dados do CEATOX HCFMUSP relativos
aos anos de 2002 set/2007 apresentados em
set/2008 durante o XX Simpsio de Plantas
Medicinais do Brasil e X Congresso Internacional
de Etnofarmacologia em So Paulo ilustram
alguns casos de intoxicaes envolvendo vrios
medicamentos, inclusive ftoterpicos
1 - CEATOX HCFMUSP - Ano 2002
setembro/2007
Total de notifcaes = 91283 casos
2 - Notifcaes - CEATOX por classe de agente
txico 2002 set./2007
Total: 91283 casos
Medicamentos = 55014
Fitoterpicos = 137
Outros = 36132
3 - Relatos de Casos com Fitoterpicos (137)
CEATOX-Ano 2002-2007
Allium sativum 1
134
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Boldo 9
Camomila+ Alcauz+ vit. C e D 1
Cscara Sagrada 12
Castanha da ndia 1
Catuaba 2
Cavalinha 1
Cimicifuga racemosa 3
Centella asiatica 2
Cordia verbenaceae (uso tpico) 2
Ginkgo biloba 13
Ginseng 2
Hypericum perforatum 10
Ioimbina 1
Isofavona 4
Kava kava 5
Xp Cscara Sagrada+ Piperazina* 2
Xarope guaco +agrio** 2
Beladona+Algodoeiro 1
Passifora 20
Persea gratissima + Glycine max 3
Sene 5
Spirulina 2
Valeriana - 15
No identifcados:
Frmula para emagrecer 8
Outros Fitoterpicos 10
5 - Relatos de RMs com Fitoterpico - 2007
CEATOX-HCFMUSP
Total= 13 casos
4 - CEATOX HCFMUSP - 2007
Total de notifcaes = 16.271 casos atendidos
Casos evolvendo Fitoterpicos = 44
Circunstncias:
Reaes adversas = 13
Acidentes= 15
Erro de administrao = 2
Tentativa de suicdio= 10
Informao= 4
#15
FORMAS DE USO DAS
PLANTAS MEDICINAIS E
INTERAES MEDICAMENTOSAS
137
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#15
FORMAS DE USO DAS
PLANTAS MEDICINAIS E
INTERAES MEDICAMENTOSAS
138
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
15.1 FORMAS DE USO DAS PLANTAS
MEDICINAIS.
Carlos Muniz de Souza
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Profa. Dra. Nilsa Sumie Yamashita Wadt
A planta medicinal fresca ou seca (droga vege-
tal) pode ser utilizada das mais diferentes formas,
descritas a seguir, com alguns exemplos.
In natura (em estado natural, sem processa-
mento)
Trata-se do uso da planta medicinal na forma
fresca, podendo ser utilizada como alimento (sala-
das, sucos, sopas, molhos), ch (infuso, decoco),
em aplicaes tpicas e como fonte de matria-pri-
ma para obteno de macerados e leos essenciais.
Exemplos:
Suco: vinagreira (Hibiscus sabdarifa), capim-limo
(Cymbopogon citratus).
Infuso: camomila (Matricaria chamomilla), melis-
sa (Melissa ofcinalis).
Decoco: catuaba (Trichilia catigua), gengibre
(Zingiber ofcinale).
Aplicao tpica: babosa (Aloe vera).
Sumo
O sumo obtido espremendo ou triturando a
planta medicinal fresca num pilo, liquidifcador ou
centrfuga. O pilo mais usado para as partes pouco
suculentas e, neste caso, deve-se acrescentar um pouco
de gua fltrada e triturar, aps uma hora de repouso
recolher o lquido obtido e utilizar logo em seguida,
pois este tipo de preparao sofre rpida degradao.
Exemplo: boldo-brasileiro (Plectranthus barbatus).
Infuso
A infuso ou popularmente denominado no
Brasil de ch o processo extrativo mais antigo e
primitivo, ainda hoje utilizado pela populao.
O preparo consiste em verter gua fervente (80
90 C) sobre a planta ou droga vegetal rasurada
geralmente folhas e fores, tampar e deixar em
repouso por cerca de 10 minutos. Os infusos para
tratamento de resfriado, gripe e problemas das
vias respiratrias em geral devem ser adoados e
tomados ainda morno a quente. Os indicados para
males do aparelho digestivo, indigesto, diarria,
etc., devem ser tomados mornos, frios ou gelados.
Os infusos devem ser preparados preferencialmente
em doses individuais para serem usados logo em
seguida. Entretanto se houver uma freqncia nas
doses, podem-se preparar quantidades maiores
para consumo no mesmo dia. Neste caso o ch deve
ser mantido fechado e guardado de preferncia na
geladeira. O uso da infuso alm de ser administrada
por via oral pode tambm servir de uso para outras
formas de administrao como banhos, compressas,
bochechos, gargarejos, etc.
Exemplos: Hortel (Mentha x piperita), Capim-
limo (C. citratus), Boldo-do-chile (Peumus boldus)
rasurado.
Decoco
A decoco ou cozimento envolve colocar a
planta ou droga vegetal rasurada na gua fria e
levar a fervura que poder variar de 5 a 20 minutos,
de acordo com a consistncia da parte da planta
utilizada. Aps o cozimento, deixar em repouso de
10 a 15 minutos e coar em seguida. Este processo
o mais indicado quando se utilizam as partes
mais duras do vegetal como cascas, razes, frutos e
sementes, e tambm folhas coriceas, para melhor
facilitar a extrao dos seus ativos.
Exemplos: Quina (Cinchona ofcinalis), Canela
(Cinnamomum zeylanicum), espinheira-santa
(Maytenus ilicifolia).
Macerao
Trata-se de expor a droga vegetal rasurada a
um determinado solvente a frio, a temperatura
ambiente, durante horas, dias ou semanas, num
recipiente fechado ao abrigo da luz. Geralmente
utilizada quando a droga constituda de ativos
termossensveis. A preparao pode ser feita em
gua (macerao aquosa) ou em lcool e gua
(hidroalcolica). No primeiro caso, o emprego da
gua fria e o contato dever permanecer por no
mximo 10 horas, pois pode fermentar. Este tipo
de preparado popularmente denominado guas
vegetais (gua-de-rosas, de malvas, etc.). No caso
de macerao hidroalcolica, o contato droga-
solvente se faz a frio durante um perodo de 24 a 48
horas, com agitao diria, geralmente com lcool
70 para se obter um macerado para uso externo
(loes). Para uso interno, o perodo de macerao
poder levar de uma semana a dez dias. Depois
de concludo o perodo de macerao, o produto
dever ser decantado e fltrado e completado o
volume esperado.
Exemplos: boldo-brasileiro (P. barbatus), Alho
(Allium sativum).
Digesto
A extrao realizada da matria-prima ve-
getal, em recipiente fechado, por um perodo
dias(hidroalcolico) ou horas sob agitao ocasional
e sem renovao de solvente, temperatura de 40 C.
Percolao
A droga vegetal moda colocada em percolador
(recipiente cnico cilndrico), atravs do qual
feito passar o lquido extrator (operao dinmica).
A percolao pode ser simples ou fracionada.
Tintura
Trata-se de um processo extrativo temperatura
ambiente pela ao de lcool ou de uma mistura
gua + lcool sobre a droga vegetal (tintura simples)
ou sobre uma mistura de ervas (tintura composta)
deixando em contato em um recipiente fechado
ao abrigo da luz por cerca de 8 a 10 dias. A tintura
simples corresponde a 1/5 do seu peso em planta
seca, quer dizer que 200 g de planta seca permitem
preparar 1.000 g de tintura. Terminado o tempo de
139
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
macerao necessrio, decantar, fltrar e colocar em
um frasco mbar para proteger da luz e guardar em
lugar fresco. Colocar uma etiqueta contendo o nome
popular, cientfco e a parte utilizada da planta,
o grau alcolico, uso interno ou externo, data do
preparo e a validade. Neste processo tambm pode
utilizar a planta fresca (500 gramas de planta para
1000 ml de produto fnal) e neste caso este recebe o
nome de alcoolatura. As tinturas podem ser simples
ou compostas, conforme preparadas com uma ou
mais matrias primas. (Farmacopia bras, 1988).
Exemplos: Tintura de uso externo arnica (Arnica
montana), Tintura uso interno Hera (Hedera helix).
Obs.: este processo legalmente defnido como
insumo farmacutico, devendo ser adquirido
de indstrias e farmcias especializadas, e no
preparado caseiramente.
Extrato fuido
a preparao lquida em que cada mililitro
de extrato contm os constituintes ativos
correspondentes a um grama de droga vegetal
(Farmacopia bras., 1988).
Elixir
uma preparao lquida, lmpida,
hidroalcolica, que apresenta teor etanlico na faixa
de 20 a 50% (V/V).
Xarope
Preparao farmacutica bastante popular
devido ao seu gosto agradvel e facilidade de
administrao, com no mnimo 40% de acar.
Trata-se de uma preparao espessada com acar,
usada geralmente para o tratamento de problemas
das vias respiratrias, tosse e bronquite. Adiciona-
se ao xarope parte do infuso, do cozimento ou da
tintura, conforme cada caso, com uma parte de
acar cristal. O xarope obtido a frio fltrado aps
3 dias de contato, com 3 a 4 agitaes fortes por dia.
O xarope a quente obtido fervendo-se a mistura
at desmanchar o acar, deixar esfriar e fltrar. O
xarope deve ser conservado em frasco limpo e bem
fechado, protegido da luz e em lugar fresco. Colocar
etiqueta contendo as informaes quanto aos
nomes vulgar e cientfco e a parte usada da planta,
tipo de preparao, data de preparo e validade. Esta
preparao no pode ser usada por longo perodo
e deve-se verifcar freqentemente se o xarope no
fermentou (azedou).
O xarope comum pode ser preparado por
dissoluo, a calor brando (60 C a 80 C), de 650 g
de acar cristal em 350 g de gua fltrada.
Ateno: A administrao de xaropes a pacientes
portadores de diabetes contra-indicada
(proibida).
Exemplo: xarope de guaco (Mikania glomerata e M.
laevigata).
Compressa
Trata-se de uma preparao de uso local (tpico)
que atua pela penetrao dos princpios ativos atravs
da pele. Utilizam-se panos, chumaos de algodo
ou de gaze embebidos em um infuso concentrado,
decocto, sumo ou tintura da planta dissolvida em
gua. A compressa pode ser quente ou fria.
Exemplo: tintura de calndula (Calendula
ofcinalis).
Cataplasma
Preparao feita com farinha de mandioca
ou fub de milho e gua, geralmente a quente,
adicionada ou no da planta triturada fresca ou seca,
chs ou outras preparaes. aplicada sobre a pele
da regio afetada entre dois panos fnos. utilizada
bem quente como revolutivo de furnculos, morno
nas infamaes dolorosas resultantes de contuses
e entorses.
Cuidado com plantas que possuem plos
ou ltex (seiva) que possam irritar e at causar
queimaduras na pele. Contra-indicado nas leses
de pele dos indivduos com diabetes, gestantes e
lactentes. Usar sob orientao mdica.
Exemplo: Erva-baleeira (Cordia verbenacea).
Banho
Prepara-se uma infuso ou decoco concentra-
da da planta medicinal, que deve ser fltrada e mis-
turada na gua do banho. Outra maneira indicada
colocar as ervas em um saco de pano frme e deix-
lo mergulhado na gua do banho, assim como, para
alguns casos, possvel colocar algumas gotas de
leo essencial. Os banhos podem ser parciais ou de
corpo inteiro e so normalmente indicados uma vez
por dia. Sua principal funo refrescar e eliminar
substncias presentes na pele, assim como irritaes
e coceira, aps avaliao do mdico. Aconselha-se
no utilizar tintura de plantas, nem mesmo diluda
em gua, pois pode causar ardor e irritaes nas re-
as ntimas (rgos genitais e nus).
Exemplos: alecrim (Rosmarinus ofcinalis), alfaze-
ma (Lavandula ofcinalis).
Bochecho e Gargarejo
Preparao utilizada para combater afeces da
garganta, amigdalites e mau hlito. Faz-se o boche-
cho ou o gargarejo com uma infuso concentrada,
quantas vezes for necessrio, tendo o cuidado de
no ingerir a preparao. Seu uso deve ser evitado
por crianas.
Exemplos: malva (Malva sylvestris), slvia (Salvia
ofcinalis).
Inalao
uma preparao que aproveita a ao combi-
nada de vapor de gua quente com o aroma das dro-
gas volteis. Sua preparao e uso exigem rigoroso
cuidado, principalmente quando se trata de crian-
as, devido ao risco de queimaduras.
No preparo, colocar a planta fresca ou seca a ser
usada numa vasilha com gua fervente, na propor-
140
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
o de uma colher de sopa da planta fresca ou seca
em 1/2 litro de gua, aspirar lentamente (contar
at 3 durante a inspirao e at 3 quando expelir o
ar), prosseguir assim ritmicamente por 15 minutos.
O recipiente pode ser mantido no fogo para haver
contnua produo de vapor ou acrscimo de gua
quente mantendo-se proporo de insumo vegetal.
Usa-se um funil de cartolina (ou outro papel duro);
ou ainda uma toalha sobre os ombros, a cabea e a
vasilha, para facilitar a inalao do vapor. No caso de
crianas deve-se ter muito cuidado, pois h riscos de
queimaduras, pela gua quente e pelo vapor, por isso
recomendado o uso de equipamentos eltricos es-
peciais para este fm e sob orientao mdica.
Exemplo: Eucalipto (Eucalyptus globulus).
Ungento, pomada
Preparado de sumo da planta fresca, ou um ch
forte da planta com gordura vegetal.
Colocar a gordura vegetal em material de vidro
ou porcelana e levar ao fogo em banho-maria at que
fque uma mistura homognea; acrescentar mistura
o sumo ou o infuso, ou decoccto, ou a tintura, homo-
geneizar e deixe esfriar. Guardar em pote de plstico
ou vidro.
Exemplo: Calndula (Calendula ofcinalis).
Azeite
um preparado para plantas aromticas, geral-
mente folhas, as quais possuem grande quantidade
de leo essencial.
As folhas frescas da planta so colocadas em um
recipiente, de preferncia de vidro mbar. Adiciona-
se azeite de boa qualidade at cobrir a quantidade
de planta utilizada. Deixa-se em repouso por no m-
nimo 30 dias, protegido da luz. Filtrar e manter em
frasco mbar.
Exemplos: alecrim (Rosmarinus ofcinalis), tomilho
(Tymus vulgaris).
15.2 CUIDADOS NECESSRIOS NO USO
DE PLANTAS MEDICINAIS.
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Profa. Dra. Nilsa Sumie Yamashita Wadt
As plantas contm substncias qumicas que
tanto podem ser responsveis por seus efeitos tera-
puticos quanto txicos e, portanto, no podem ser
utilizadas indiscriminadamente.
Enfatiza-se a importncia de os usurios e, prin-
cipalmente, os prescritores terem o conhecimento
real das plantas que sero utilizadas, principalmente
as medicinais, quanto aos estudos que comprovem a
efccia e segurana.
Alm do conhecimento e estudo sobre plan-
tas medicinais, necessrio considerar a origem e
a identifcao da matria vegetal para que, junta-
mente com as boas prticas agrcolas, seja possvel
assegurar produtos com qualidade, segurana e ef-
ccia garantida.
preciso tomar certos cuidados quanto aquisi-
o de plantas medicinais. Deve-se saber se a planta
correta e se est isenta de contaminao; no reco-
mendvel coletar plantas nas beiras de rios, crregos
poludos e nas proximidades de esgotos, nem nas
margens das estradas, que podero estar contamina-
das por poluentes.
Os remdios caseiros s devem ser usados com
as devidas orientaes, uma vez que seu uso inade-
quado pode ocasionar intoxicaes e queimaduras.
Recomenda-se sempre procurar a orientao de um
profssional de sade habilitado.
O usurio no deve suspender o uso da medica-
o que esteja utilizando para usar, por conta prpria,
plantas medicinais. Neste caso tambm se recomen-
da procurar a orientao de um profssional de sade.
Mesmo quando so indicadas corretamente, as
plantas podem provocar efeitos indesejveis se forem
ingeridas em grandes quantidades, muito concentra-
das ou por tempo prolongado.
Gestantes e lactentes no devem utilizar
plantas medicinais sem orientao mdica.
Lembramos que a ao de algumas plantas, embora
tradicionalmente conhecidas e utilizadas, ainda no
est cientifcamente comprovada, principalmente
para uso por gestantes e lactentes. Recomenda-
se enfaticamente, antes da utilizao de qualquer
planta medicinal ou ftoterpico, obter o diagnstico
correto da doena a ser tratada e a prescrio por um
profssional de sade especialista na rea e habilitado
para tal.
Deve-se procurar conhecer as plantas que so
txicas e aconselha-se ensinar s crianas que no
coloquem plantas na boca e nem as utilizem como
brinquedo.
No se deve usar plantas mofadas ou com pragas.
Por isso, o armazenamento de plantas medicinais
deve ser feito com os seguintes cuidados: evitar
locais que promovam a contaminao por mofo ou
insetos e exposio direta luz solar e umidade.
necessrio ter cuidado tambm quanto ao
preparado de plantas medicinais, pois existem
diferentes mtodos, como, por exemplo: infuso,
decoco, etc. Ainda, evitar o uso de recipientes de
ferro, alumnio, cobre ou plstico; dar preferncia aos
de vidro (que possam ser levados ao fogo), porcelana
ou barro.
necessrio conhecer no s a planta e a
quantidade para o preparo do ch ou ftoterpico,
como tambm a parte correta da planta a ser utilizada.
Outros cuidados quanto ao uso de plantas
medicinais: importante estar atento na hora de
usar as plantas, observando se a indicao para uso
interno (ingesto) ou externo (uso local). Muitas
plantas, como o confrei (Symphytum ofcinale) e a
arnica (Arnica montana), no devem ser ingeridas,
141
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
somente usadas em aplicaes de uso tpico, e em
casos de reaes de hipersensibilidade, suspender
o uso e procurar pronto atendimento. O uso das
plantas medicinais restrito ateno primria.
Cuidado com o uso nos casos de doenas crnicas:
para patologias de carter crnico e nos casos de
agravamentos das patologias no aconselhvel
o uso de ftoterapia. de extrema importncia o
acompanhamento mdico e laboratorial.
O usurio deve saber que um ftoterpico, por
estar baseado na alopatia, necessita de doses certas
e controladas, pois algumas plantas ou ftoterpicos
podem causar intoxicao, fotossensibilizao,
sinergismo, antagonismo, alterao dos efeitos,
reaes adversas e agravos sade.
As plantas medicinais devem ter certifcado de
idoneidade que apresente a identifcao botnica;
utilize matrizes certifcadas. Procure a planta pelo
nome cientfco, evitando o nome comum ou
popular, pois este varia localmente e pode designar
espcies diferentes.
Comprar ou adquirir plantas secas somente em
locais confveis que atestem a procedncia, tenham
embalagem adequada, rtulo com identifcao
correta, nomenclatura botnica, indicao de uso
(rgo e dose), data de validade, procedncia, peso
lquido, farmacutico responsvel.
preciso tomar os mesmos cuidados ao se
adquirir uma planta fresca: certifque-se que esteja
identifcada botanicamente com o nome cientfco
correto e um local de confana para compr-la ou
adquiri-la, onde se tenha a certeza de estar obtendo
realmente a planta desejada.
Mesmo apresentando a identifcao botnica
correta, importante o usurio reconhecer as
caractersticas da planta, fresca ou seca, identifcando-a
tambm pela textura, cor, odor, formato, etc., para
evitar ser enganado por uma identifcao errnea.
Tambm h contaminaes externas, como insetos
ou rgos incorretos misturados, entre outros, que
devem ser verifcados para garantir a qualidade da
droga vegetal.
aconselhvel manter-se informado a respeito
das propriedades das plantas medicinais e certifcar
que realmente haja dados na literatura cientfca,
de conhecimento pblico, sobre o uso da planta
medicinal, com comprovao da sua efccia e
segurana.
As plantas medicinais devem ser utilizadas com
muito critrio, iniciando-se pela identifcao real do
problema, com a ajuda e orientao do mdico para
o diagnstico correto da patologia e medidas tcnicas
adequadas. Depois da doena ou problema de
sade identifcado, necessrio saber quais plantas
e suas partes (caule, raiz, folhas, fores) devero ser
usadas para liberar o princpio ativo, onde adquiri-las
com segurana, a melhor forma de uso, as dosagens e
prescries, quando necessrios por profssional de
sade habilitado.
Pontos importantes: nomenclatura botnica,
parte usada, padronizao, forma de uso,
indicao, ao teraputica, dose diria, via de
administrao, possveis efeitos colaterais, interaes
medicamentosas, entre outros. Tire todas as suas
dvidas com o profssional de sade especialista na
rea, assim voc poder obter o efeito teraputico
esperado com o uso de uma planta medicinal ou
ftoterpico.
15.3 INTERES MEDICAMENTOSAS
COM FITOTERPICOS.
Profa. Dra. Nilsa Sumie Yamashita Wadt
Ginkgo biloba L. (ginkgo): com anticoagulantes
(varfarina, heparina, aspirina) devido atividade ini-
bitria do PAF (fator de agregao plaquetria); com
inibidoras da MAO (monoaminoxidase) (fenelzina,
tranilcipromina - Parnat, selegilina, moclobenida -
Aurorix); alguns casos de hipertenso em associao
com diurticos tiazdicos (hidrocorotiazida, clortali-
dona - Higroton).
Piper methysticum. G. Forst. (kava-kava): com
ansiolticos ou depressores do SNC, pois pode haver
potencializao dos efeitos (ex.: alprazolam + kava-
kava = depresso profunda). lcool potencializa
efeitos da kava-kava; reduo da efccia do levodopa
(tratamento de Parkinson); efeitos sinrgicos com
Hypericum perforatum (hiprico) e Valeriana ofcina-
lis (valeriana).
Hypericum perforatum L. (hiprico ou erva-de-
so-joo): aconselham-se cuidados com alimentos
que contenham tiramina (queijo, vinho e cerve-
ja hipertenso). H o prolongamento dos efeitos
narcticos de drogas indutoras de sono, antagoniza
os efeitos da reserpina e potencializa os efeitos dos
inibidores da MAO. No se recomenda tambm o
emprego junto com inibidores de recaptao de sero-
tonina (fuoxetina, sertralina) devido possibilidade
de gerar uma sndrome serotoninrgica, e tampouco
com contraceptivos orais, pois induz hemorragias in-
termenstruais; ou com loperamida, pela possibilida-
de de gerar episdios de delrio.
Mikania glomerata Spreng. (guaco): no se deve
empregar concomitantemente com anticoagulantes,
pois h potencializao de efeitos e pode antagonizar
a vitamina K. Pode aumentar a absoro de alguns
frmacos devido a suas saponinas.
Paullinia cupana Kunth (guaran): pode neutra-
lizar os efeitos dos barbitricos e inibir o clearence
do ltio. A meia vida da cafena aumentada na pre-
sena de anticonceptivos orais, fuoroquinolonas,
dissulfram, cimetidina e fenilpropanolamina; pode
diminuir a absoro de ferro; aumenta a resposta de
agonistas beta-adrenrgicos.
Panax ginseng C.A.Mey. (ginseng): diminui o
efeito depressor de substncias como fenobarbital e
anfetaminas; sinergismo com drogas antineoplsicas,
apario de sintomas manaco-depressivos em asso-
142
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
ciao com fenelzina; ao antiagregante plaquetria
e levemente hipoglicemiante. Potencializa a atividade
da aspirina, do diazepam e de estimulantes centrais
(caf, guaran), podendo levar a uma hipertenso, e
inibe efeitos nociceptivos, bem como da varfarina.
Rhamnus purshiana DC. (cscara-sagrada):
diminuio na absoro de algumas drogas,
potencializa efeitos de glicosdeos cardiotnicos
devido perda de potssio.
Passifora incarnata L. (maracuj): potencializa
frmacos inibidores da MAO, de barbitricos
hipnticos sedantes e da morfna. Pode haver
potencializao de efeitos com o uso concomitante
de lcool ou anti-histamnicos.
Valeriana ofcinalis L. (valeriana): potencializao
dos efeitos do lcool e drogas depressoras do SNC,
sinergismo com hiprico e kava kava.
Mentha x piperita L.: aumento do efeito
estrognico do estradiol.
Peumus boldus Molina: no se deve utilizar boldo
em casos de obstruo das vias biliares, nem em
patologias hepticas severas; no se recomenda na
gravidez e lactao.
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek (espinheira-
santa): pode reduzir o leite em mulheres que
amamentam.
Zingiber ofcinale Roscoe (gengibre): No
se recomenda administrar altas doses com
medicamentos para insufcincia cardaca,
coagulopatias e diabetes.
F
o
t
o
:
P
e
d
r
o
H
e
n
r
i
q
u
e
N
.
d
a
C
u
n
h
a
#16
A CONTRIBUIO
DOS ALIMENTOS
NA MANUTENO
DA SADE
#16
A CONTRIBUIO
DOS ALIMENTOS
NA MANUTENO
DA SADE
146
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
16 A CONTRIBUIO DOS
ALIMENTOS NA MANUTENO DA
SADE.
Oswaldo Barreto de Carvalho
Frutas, hortalias e cereais, que alm das proprie-
dades nutricionais, possuem substncias que possi-
bilitam aplicao na teraputica
ABACATE (Persea americana)
Fruta bastante energtica como alimento, pelos
seus nutrientes essenciais ao bom funcionamento do
organismo, rica em minerais como ferro, magnsio,
clcio, fsforo; vitaminas A, B
1
, B
2
, C, E; lecitina; pro-
tenas; acar; ftosterol; abacatina, que uma subs-
tncia oleosa com propriedades nutritivas e hidratan-
tes da pele, entre outros. Na medicina caseira e uso
popular, utilizado contra artrite, gota, problemas
renais, anti-radicais livres, preveno de problemas
de pele, etc. O ch das folhas ou brotos pode ser usa-
do para desarranjos menstruais e intestinais. A fruta
ou o ch das folhas ou do caroo pode ser usado na
cosmtica contra caspa e queda de cabelo.
ABACAXI (Ananas comosus)
Rico em minerais, clcio, cobre, ferro, manga-
ns, fsforo; vitaminas A, C; bromelina, que uma
enzima proteoltica (que auxilia na hidrlise das pro-
tenas). Pelo seu alto teor de fbras, auxilia na priso
de ventre e age como laxante natural, entre outras
propriedades. Popularmente usado nas afeces da
garganta, como expectorante e mucoltico nos res-
friados, tosses e bronquites, como auxiliar na diges-
to, na obesidade, na anemia. O suco um excelente
diurtico.
ABBOR (Cucurbita pepo)
um excelente alimento de alto valor nutritivo.
Da abbora tudo se aproveita. Rica em vitaminas A,
C, B
1
, B
2
, B
5
; minerais como clcio, fsforo e ferro.
As sementes descascadas e levemente torradas so
usadas popularmente para raquitismo e o suco da
abbora, para artrite e gota.
AGRIO (Nasturtium ofcinale)
Rico em vitaminas A e C e nos minerais: ferro,
enxofre e potssio. A associao de algumas substn-
cias confere ao agrio a propriedade de expectorante.
ALCACHOFR (Cynara scolymus)
Apresenta substncias de valor energtico e com
propriedades diurticas e digestivas, estimulantes do
fgado e da vescula. Atua como auxiliar na digesto
do leite. Popularmente utilizada como depurativa
e diurtica. Por ser um alimento rico em ferro, til
para o restabelecimento nos casos de anemia e do ra-
quitismo. A gua que sobra do cozimento da for no
deve ser desperdiada, podendo ser usada em caldos
e sopas.
ALFACE (Lactuca sativa)
Popularmente usada como calmante e indicada
para pessoas que tm insnia ou so muito tensas e
agitadas. utilizada na cosmtica em cremes para re-
juvenescer e acalmar a pele. Contm quantidades ra-
zoveis de vitaminas A e C e minerais como o clcio,
fsforo e ferro. Vale lembrar que quanto mais escuras
as folhas, maior a riqueza nutritiva.
ALHO (Allium sativum)
O alho atua como estimulante das mucosas, ex-
pectorante, anticatarral e como potente anti-sptico,
pela presena da alicina, que age como preventiva
de gripes e resfriados. Popularmente usado como
estimulante do apetite e da digesto. Usado h lon-
ga data como auxiliar no tratamento da hipertenso
e nos distrbios de triglicrides, colesterol e como
depurativo sanguneo. Para melhor aproveitamento
de suas propriedades nutritivas (vitaminas A, B e C,
protenas, for, iodo, clcio, ferro, fsforo), preventi-
vas e curativas, o alho deve ser consumido cru.
Lembrete: o alho pode agravar o quadro clnico
das pessoas que sofrem de presso baixa e, em exces-
so, pode causar dor de cabea, azia, vmitos e diar-
ria.
AMENDOIM (Arachis hypogaea)
Contm vitaminas B e E; minerais como clcio,
fsforo, ferro, cobre, potssio, enxofre; Devido
grande quantidade de leo, melhor consumi-lo em
pequenas quantidades, sem abusos, e suspender seu
uso em casos de distrbios do estmago, fgado, ve-
scula e intestino.
AMOR (Morus spp.)
Contm vitaminas C e E, com ao antioxidan-
te; minerais como sdio e potssio; frutose; taninos;
fbras e pectinas. Popularmente utilizada na pre-
veno de resfriados e no fortalecimento do sistema
imunolgico.
AVEIA (Avena sativa.)
Alimento integral e cereal de grande valor ali-
mentcio. Rico em protenas (destacando-se os se-
guintes aminocidos: lisina, arginina, histidina, cis-
tina, tirosina e cido glutmico); vitaminas B
1
e B
2
;
rico em minerais como fsforo e ferro; Alimento rico
que pode ser usado por crianas, pessoas debilitadas
e anmicas. A farinha de aveia, por conter muita fbra,
auxilia tambm no trnsito gastrintestinal.
BANANA (Musa x paradisiaca)
A banana uma fruta riqussima em nutrientes:
vitaminas A, B
1
, B
2
, B
5
, C; minerais como: ferro, mag-
nsio, potssio e clcio; serotonina; frutose (acar
que proporciona energia). Uso popular em casos de:
anemia e desnutrio alimentar, em razo do elevado
teor de ferro; como auxiliar na contrao muscular e
batimentos cardacos, pelo teor de potssio, evitando
cibras e fadiga, boa para os dentes e ossos pelo teor
de clcio. Facilita a digesto e evita priso de ventre e
147
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
a acidez do estmago, estimula os rins na depurao
de elementos txicos, ajuda no fortalecimento celu-
lar, entre outras funes. Popularmente, o corao da
banana e a prpria banana so utilizadas nas bronqui-
tes e a parte interna da casca, em queimaduras leves.
A banana-ma, por ser de fcil digesto, a mais in-
dicada para recm-nascidos e crianas e idosos.
Lembrete: deve ser consumida com moderao
pelos diabticos.
BATATA (Solanum tuberosum)
Contm vitaminas B e C; sais minerais, especial-
mente o potssio. No cozimento ou fritura, contudo,
boa parte desses componentes se perde, mantendo-
se o amido, que se transforma em acar no fnal da
digesto. Deve ser consumida com moderao pelos
diabticos. A solanina uma enzima inibidora dos
cidos estomacais. A casca, quando se apresenta es-
verdeada ou com pequenos brotos, indica a presena
deste alcalide txico que pode causar dor de cabea
e nos membros, enjos, vmitos, diarria e, depen-
dendo da quantidade e da sensibilidade da pessoa,
pode evoluir para um quadro mais grave. Por ser um
alimento de fcil digesto, a batata recomendada
aos convalescentes e s crianas com problemas gas-
trintestinais (diarrias no infecciosas).
BERINJELA (Solanum melongena)
Por ser rica em protenas utilizada pelos vegeta-
rianos em substituio carne, mas pobre em vita-
minas e sais minerais. Popularmente utilizada para
reduzir os nveis de colesterol. Como suco, a berinjela
considerada um bom diurtico; e, como uso local,
em furnculos de pele. A fritura no a sua melhor
forma de aproveitamento e sim, assada com a casca.
BETERRBA (Beta vulgaris)
um alimento de alto valor nutritivo, principal-
mente quando consumida crua e integralmente, ou
seja, raiz, talos e folhas. rica em vitaminas A, B
1
, B
2
e C. Contm ainda for, mangans, clcio, fsforo,
ferro, sdio, potssio, cloro, silcio, zinco e magnsio.
Possui cido glutrico, que composto de lisina, um
aminocido de grande importncia. Nos talos e nas
folhas se concentram as vitaminas e os sais minerais.
O suco muito nutritivo.
CAJU (Anacardium occidentale)
O pseudofruto ou pednculo contm polpa su-
culenta, rica em cido ascrbico (vitamina C), im-
portante antioxidante que inibe a ao dos radicais
livres e protege as clulas contra o envelhecimento
precoce. Fortalece o organismo debilitado. Contm
pectina, rico em fbras, que tm papel muito impor-
tante na digesto dos alimentos apressando o trnsito
intestinal. Os ndios da Amaznia usam o suco de seu
pseudofruto como preventivo contra gripes.
O verdadeiro fruto (castanha de caju) pobre em
protenas, mas tem boa dose de carboidratos, fonte
de energia, sendo muito apreciado depois de torrado.
Rico em minerais como ferro, clcio, potssio, zinco,
etc. O cardol, leo contido na casca do fruto de caju,
tem propriedades custica e anti-sptica.
Lembrete: o uso em estado fresco do fruto (cas-
tanha) pode provocar leses na pele, pois custico.
Quando as sementes so torradas perdem essa pro-
priedade e se tornam comestveis. Popularmente, o
cozimento da entrecasca da planta utilizado para
uso externo, em bochechos e gargarejos, como anti-
sptico e antiinfamatrio nos casos de feridas na
boca e afeces da garganta, embora a efccia e se-
gurana ainda no tenham sido comprovadas cienti-
fcamente.
CAQUI (Diospyros kaki)
O suculento fruto rico em vitaminas, em espe-
cial a vitamina A, e ainda vitaminas B
1
, B
2
, C, que for-
talecem o sistema imunolgico; minerais como ferro,
potssio e clcio; presena de cido galactognico
(necessrio s mes que amamentam); celulose; pec-
tina; fbras que estimulam o peristaltismo e aliviam a
priso de ventre.
CEBOLA (Allium cepa)
Tem alto poder nutritivo, curativo e preventivo,
alm de realar o sabor de outros alimentos salgados.
Fonte de vitaminas A, B e principalmente C; mi-
nerais como enxofre, for, fsforo, iodo, zinco, po-
tssio, fsforo, clcio, sdio, silcio, magnsio, cloro,
ferro, entre outros. cido sulfuroso de alilo, a alicina
presente no alho um poderoso anti-sptico e con-
siderado um antibitico natural, com potente ao
nas vias respiratrias, como mucoltico e como pre-
ventivo de estados gripais e resfriados. Glucoquinina
uma substancia tida popularmente como insulina
vegetal, embora sem comprovao de sua efccia.
Utilizada como estimulante das secrees digestivas,
depurativa do sangue, ao calmante, fortifcante. O
suco puro da cebola usado nas picadas de insetos.
O suco da cebola levemente assada ou crua, mistura-
do com mel e limo, para afeces respiratrias.
Lembrete: a cebola, quando muito cozida ou
frita, perde quase a totalidade do seu valor curati-
vo e nutritivo, pois perde a vitamina C e os demais
nutrientes, restando basicamente o sabor. A cebola
acentua problemas de quem sofre de acidez estoma-
cal ou formao de gases.
CENOUR (Daucus carota)
um alimento rico em propriedades nutricionais;
importante na alimentao da gestante, do beb, da
criana velhice. Rica em caroteno (ou pr-vitamina
A, que no organismo transforma-se em vitamina A).
Contm ainda vitaminas B, C, D e K; acar e mi-
nerais: cloro, for, magnsio, ferro, clcio, fsforo,
potssio, cobalto, iodo, mangans, silcio, etc. Popu-
larmente conhecida por sua ao sobre o sistema ner-
voso, imunolgico, na boa formao dos ossos e den-
tes, sendo o caroteno necessrio percepo visual
e ao complexo epitelial do corpo, portanto excelente
para os olhos e pele, fortalecendo cabelos e unhas. A
148
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
cenoura indicada para os casos de anemia, para dis-
trbios gastrintestinais, facilitando o funcionamento
dos intestinos; estimula a vescula, combate a priso
de ventre; como tnico e fortifcante do organismo
age nas vias respiratrias e equilibra o metabolismo
de outros alimentos.
Lembrete: comer a cenoura crua a melhor for-
ma de se aproveitar tudo o que ela tem de bom, sem
perder as propriedades nutricionais. Para o cozimen-
to o ideal o vapor. As folhas da cenoura tambm de-
vem ser aproveitadas, pois so ricas, principalmente,
em vitamina A.
COCO (Cocos nucifera)
Contm as vitaminas B
1
, B
2
, B
6
, C; minerais:
sdio, cloro e potssio, fsforo, clcio e magnsio,
essenciais vitalizao da pele e para um bom fun-
cionamento gastrintestinal. O potssio importante
para o sistema muscular, especialmente ao msculo
cardaco.
COUVES (Brassica spp.)
Ricas em vitamina A e, ainda, vitaminas B
1
, B
2
, B
5
e C; minerais: clcio, ferro, fsforo, potssio, iodo e
enxofre. As couves verdes so mais ricas em mine-
rais de que as brancas. Nada deve ser desperdiado,
como, por exemplo, nos brcolis, utilizar as fores, ta-
los e folhas, que auxiliam nas anemias por falta de fer-
ro e mantm o bom funcionamento dos rins, vescula
e intestinos, estimulando as defesas do organismo.
Popularmente usadas para clicas menstruais,
afeces renais, anemias pelo teor de ferro, sendo o
suco da couve e talos um bom tnico usado nos pro-
blemas digestivos e estomacais.
GOIABA (Psidium guajava)
O mais importante elemento encontrado na goia-
ba vermelha o licopeno, pigmento vermelho tam-
bm presente no tomate e na melancia, cuja funo
proteger o organismo contra o cncer de prstata,
embora sem comprovao cientfca da sua efccia.
Rica em vitaminas A, B2, B
3
, B
5
, C; minerais como o
clcio, ferro, fsforo; colina, com ao protetora do f-
gado, e rica em pectina. A goiaba um bom alimento
para a pele e para os olhos. Sua casca rica em favo-
nides e, quando verde, rica em tanino, possuindo
propriedades adstringentes e anti-spticas. As folhas
novas e brotos so utilizados popularmente na forma
de infuso no caso de disenteria no infecciosa.
LARNJA (Citrus sinensis)
A fruta fonte de vitaminas A, B e C; minerais:
clcio, fsforo, potssio e selnio; pectina (parte
branca entre a polpa e a casca), que faz com que o or-
ganismo no processe muita gordura e glicose; fbras
que facilitam o trnsito intestinal; favonides que re-
duzem o colesterol e fortalecem os vasos; limoneno,
encontrado no leo essencial contido na casca. Esses
agentes chamados biofavonides so anti-infamat-
rios das articulaes e protetores dos vasos sangune-
os, assim como a glutadiona, uma enzima com ao
protetora para as clulas e vasos. Excelente alimento
que fortalece o organismo, assim como os demais ci-
tros. Lembrando ainda que o limo usado popular-
mente para clculos renais, reumatismo e gota.
MA (Malus sp.)
Possui alto valor biolgico, sendo usada tambm
contra processos infamatrios internos e externos.
Rica em: vitaminas A, B
1
, B
2
e C; clcio, ferro, mag-
nsio, fsforo; pectina; cido mlico, que elimina de-
tritos metablicos
MAMO (Carica papaya)
Fruta riqussima em papana, enzima proteolti-
ca, ou seja, age contra a m digesto das protenas.
possuidora de alto valor biolgico e, portanto, a sua
principal indicao como digestiva nos casos de
alimentao pesada; atua tambm contra a fermen-
tao intestinal, ajuda a regular o intestino e o nvel
de colesterol. Usada contra processos infamatrios
internos e externos. Contm ainda vitaminas A, B
1
,
B
2
, B
5
, C; minerais: ferro, clcio, fsforo, potssio, etc.
MANGA (Mangifera indica)
Rica em vitaminas: A, B
1
, B
2
, B
5
e C; minerais
como o clcio, fsforo e potssio; fbras; carboidra-
tos produtores de energia para o consumo humano.
MARCUJ (Passifora sp.)
Rico em passiforina (folhas), substncia usada
contra doenas do sistema nervoso, que age dimi-
nuindo a ansiedade e atuando como sedativo, porm
sem causar dependncia. Rico em vitaminas: C, A,
B
1
, B
2
, B
3
; minerais como clcio, ferro e potssio. O
suco calmante, diurtico, depurativo e digestivo.
MEL
Alm de um rico alimento, tambm considera-
do um medicamento por sua riqueza em vitaminas:
A, do complexo B, C e K; substncias orgnicas de-
fensivas, como os cidos orgnicos: mlico, vnico,
ctrico, ltico, oxlico, frmico.
MELANCIA (Citrullus lanatus)
Rica em vitaminas: A, B
1
, B
5
e C; minerais como
o clcio, ferro, fsforo e potssio; fbras; licopeno;
cucurbitina, encontrada nas sementes e polpa, usa-
da popularmente como hipotensora e para afeces
renais e intestinais. Os minerais de sua composio
benefciam as clulas, evitando o cansao e o estresse.
O suco da melancia utilizado popularmente como
coadjuvante no tratamento da gota, artrite e para au-
mentar a diurese.
RCULA (Eruca sativa)
Hortalia com sabor picante e grande quantidade
de vitaminas A e C; minerais como potssio, enxofre
e ferro; auxilia na digesto, com ao especial sobre
149
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
o funcionamento dos intestinos. usada em saladas
cruas. Possui essncia sulfurada e nitrogenada que
age contra as doenas das vias respiratrias. O suco
da rcula, combinado com o de agrio, provoca uma
limpeza e desintoxicao no organismo.
SALSA (Petroselinum crispum)
uma das melhores fontes de vitamina A, funda-
mental para a proteo dos olhos, do aparelho respi-
ratrio e da pele. Rica tambm em vitaminas: B, C
e E; minerais como clcio, potssio, ferro, fsforo,
magnsio e enxofre. Presena de apiol, leo voltil
extrado das sementes, com propriedades cicatrizan-
tes, apiina, que usada em pequenas doses til para
amenorria ou dismenorria, e presena de miristi-
cina, encontrada no leo essencial. diurtica, esti-
mulante e depurativa, combate a formao de gases,
estimula a secreo gstrica (facilitando a digesto),
fortalece o sangue e popularmente usada no trata-
mento do reumatismo. Da salsa, tudo se aproveita:
folhas, razes e sementes, frescas ou secas.
TANGERINA (Citrus reticulata)
O suco da fruta, bem como a sua casca, so im-
portantes fontes de nutrientes. Rica em vitaminas: A,
B
2
, B
5
, B
6
e C; minerais como fsforo, ferro, potssio,
clcio, enxofre, magnsio; apresenta ainda, pectina,
favonides e cido frmico. Fruta que auxilia na ma-
nuteno do peso; favorece a absoro da vitamina C,
alm de melhorar a secreo de sucos intestinais e os
movimentos peristlticos. Popularmente, previne a
formao de clculos de oxalato de clcio, retarda o
envelhecimento e aumenta a expectativa de vida. Os
leos essenciais da tangerina atuam como analgsico e
relaxante. A casca contm limonides, segundo a Dra.
Clara Hasher, da Universidade de Illinois (EEUU),
que podem prevenir o cncer ao evitar os danos das
substncias txicas nas clulas do organismo.
Segundo Flvio Rotman em: A Cura Oppular
Pela Comida, 9 edio, a casca da tangerina concen-
tra a usina de sade da fruta, apresentando compara-
tivamente em relao ao seu suco porcentagens mui-
to maiores de vitamina: A = 700%, C = 290%, B
1
=
170%, B
2
= 220%, B
5
= 180% Clcio = 800%, Fsforo
= 140%, Ferro = 400%.
TOMATE (Solanum lycopersycum)
Rico em vitaminas: A, B
1
e E; minerais como
magnsio, mangans, ferro, fsforo, potssio, cido
oxlico, que inconveniente para quem tem proble-
mas de cido rico e clculos renais, devendo nestes
casos ser consumido sem as sementes; licopeno (pig-
mento vermelho), que atua na preveno de tumores
da prstata, mama, esfago, pulmo e pele. Segundo
o qumico e professor Lobo Franco, um tomate m-
dio contm 80% da necessidade diria de licopeno e
os favonides desse fruto inibem as enzimas respon-
sveis pela disseminao de clulas tumorais.
UVA (Vitis vinifera)
Contm glicose, de elevado valor energtico e
com propriedades diurticas; vitaminas A, B
1
, B
2
,
C; minerais como o fsforo, potssio, clcio e ferro;
frutose, etc. Popularmente usada para a falta de ape-
tite, como laxante regularizando o funcionamento
dos intestinos e evitando a fermentao e produo
de gases; para melhorar a circulao sangunea, no
combate ao colesterol alto e para melhorar a viso. A
casca na forma de suco ou vinho tinto contm res-
veratrol, utilizado como coadjuvante no tratamento
da hiperlipidemia e hipertenso leve; na preveno
da aterosclerose, inibindo a ao dos radicais livres
(antioxidante), reduz o depsito de gordura no f-
gado dos animais, etc. A quercetina encontrada na
casca regulariza os nveis de colesterol e melhora a
circulao sangunea. Caroo: o extrato da semente
da uva roxa contm protoantocianinas (PCO), que
so os antioxidantes mais poderosos na luta contra os
radicais livres. O suco da uva saboroso e refrescan-
te, porm, os diabticos devem tomar cuidado, pois
tambm rico em frutose, o acar natural da fruta.
#17
NUTRIENTE
E ALIMENTO
FUNCIONAL
#17
NUTRIENTE
E ALIMENTO
FUNCIONAL
152
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
17 NUTRIENTE E ALIMENTO
FUNCIONAL.
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Profa. Dra. Nilsa Sumie Yamashita Wadt
O organismo humano recebe os nutrientes
necessrios ao seu funcionamento por intermdio
da ingesto de alimentos. Nutrientes so substncias
qumicas que tm funes especfcas no organismo,
como por exemplo, as protenas, vitaminas, sais
minerais, carboidratos, lipdios e gua.
Segundo defnio da ANVISA (2002),
nutriente a substncia qumica encontrada em
alimento, que proporciona energia, ou necessria
para o crescimento, desenvolvimento e manuteno
da sade e da vida, ou cuja carncia resulte em
mudanas qumicas ou fsiolgicas caractersticas.
A gua um dos nutrientes mais importantes.
Solvente bsico para os produtos da digesto
indispensvel para eliminar os resduos atravs do
processo de fltrao pelos rins, regula a temperatura
do corpo, mantm as funes do organismo, ajuda
a evitar a priso de ventre, auxilia na digesto, etc. A
perda de lquido, atravs do suor, vmito, diarria,
pode levar desidratao. As principais fontes de
lquido so: gua potvel, sucos, caldos, chs, frutas
e vegetais.
O papel da alimentao equilibrada na
manuteno da sade est despertando o interesse da
comunidade cientfca, que tem produzido estudos
para comprovar a atuao de certos alimentos na
preveno de doenas, com base em pesquisas sobre
a alimentao de certas comunidades que tinham
baixas taxas de incidncia de algumas doenas,
comuns em outras comunidades com alimentao
diferente.
A alimentao deve ser variada e proporcionar os
nutrientes necessrios e os compostos bioativos que
podem reduzir o risco de doenas.
O alimento ou ingrediente que alegar
propriedades funcionais ou de sade pode, alm
de funes nutricionais bsicas, quando se tratar
de nutriente, produzir efeitos metablicos e ou
fsiolgicos e ou efeitos benfcos sade, devendo
ser seguro para consumo sem superviso mdica
(ANVISA,1999).
Visando a proteo sade da populao, a
ANVISA aprova o Regulamento Tcnico que
estabelece as diretrizes bsicas para anlise e
comprovao de propriedades funcionais e/ou de
sade alegadas em rotulagem de alimentos, bem
como o Regulamento Tcnico de procedimentos para
registro de alimento com alegao de propriedades
funcionais e/ou de sade em sua rotulagem. Os
alimentos funcionais necessitam de registro no
Ministrio da Sade (MS) e devem cumprir o
estabelecido na legislao especfca, especialmente
nas Resolues ANVISA 18 e 19, de 30/04/1999, e
suas republicaes.
A Resoluo RDC n 278, de 22/09/2005,
aprova as categorias de alimentos e embalagens
dispensados e com obrigatoriedade de registro e
o seu descumprimento constitui infrao sanitria
sujeitando os infratores s penalidades previstas
em lei.
O alimento funcional todo alimento ou bebida
que, consumido na alimentao cotidiana, fornece
energia para o corpo e uma nutrio adequada, alm
de proporcionar um benefcio sade, auxiliando
na reduo e preveno de diversas doenas, com
aspectos promissores como capacidade antioxidante,
modulao da atividade enzimtica, estmulo
resposta imune, modulao do metabolismo
hormonal, dentre outros.
Os alimentos funcionais e os nutracuticos tm
sido normalmente considerados sinnimos, no en-
tanto, os alimentos funcionais devem estar na forma
de alimento comum, ser consumidos como parte da
dieta e produzir benefcios especfcos sade, tais
como a reduo do risco de diversas doenas e a ma-
nuteno do bem-estar fsico e mental. As substn-
cias biologicamente ativas encontradas nos alimen-
tos funcionais podem ser classifcadas em grupos tais
como: probiticos, alimentos nitrogenados, pigmen-
tos e vitaminas, cidos graxos poliinsaturados, fbras,
etc. (MORES & COLLA, 2006).
Por sua vez, o nutracutico um alimento ou parte
de um alimento que proporciona benefcios mdicos
e de sade, incluindo a preveno e/ou tratamento
da doena. Tais produtos podem abranger desde os
nutrientes isolados, suplementos dietticos na forma
de cpsulas e dietas at os produtos benefcamente
projetados, produtos herbais e alimentos processados
tais como cereais, sopas e bebidas (KWAK & JUKES,
2001a; ROBERFROID, 2002; HUNGENHOLTZ,
2002; ANDLAUER & FRST, 2002).
Kruger & Mann (2003) defnem os ingredientes
funcionais como um grupo de compostos que
apresentam benefcios sade, tais como as alicinas
presentes no alho, os carotenides e favonides
encontrados em frutas e vegetais, os glucosinolatos
encontrados nos vegetais crucferos e os cidos
graxos poliinsaturados presentes em leos vegetais
e leo de peixe. Esses ingredientes podem ser
consumidos juntamente com os alimentos dos
quais so provenientes, sendo estes considerados
alimentos funcionais, ou individualmente, como
nutracuticos. Devem ter adequado perfl de
segurana, demonstrando adequao para o
consumo humano. No devem apresentar risco de
toxicidade ou efeitos adversos de drogas medicinais
(BAGCHI, et al., 2004).
Normalmente os produtos industrializados
com ao funcional so mais caros que o alimento
convencional. Isso ocorre, por exemplo, com o
leite enriquecido com mega 3, e seria mais fcil e
vantajoso o consumidor continuar ingerindo o leite
convencional e optar pela fonte natural de mega 3,
como por exemplo, peixe (sardinha), que tambm
oferecem outros nutrientes importantes, como
153
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
protenas de boa qualidade, vitaminas e minerais.
Portanto, o produto industrializado com carter
funcional no substitui, por completo, o alimento de
onde foi retirado o composto.
importante esclarecer que o simples consumo
desse tipo de alimento, com a fnalidade de amenizar
o risco de desenvolvimento de doenas, aumentar
as chances de atingir os objetivos propostos se o
seu consumo estiver associado a uma alimentao
equilibrada, hbitos de vida saudveis, isto , com o
consumo de alimentos pobres em gorduras saturadas
e ricos em fbras, encontradas em frutas, legumes,
verduras e cereais integrais. Associar esse hbito
alimentar saudvel com exerccios fsicos regulares,
ausncia de fumo e moderao no consumo de lcool
preserva a sade e melhora a qualidade de vida.
Pessoas que apresentem doenas ou alteraes
fsiolgicas ou doenas metablicas, mulheres
grvidas ou amamentando (nutrizes) devero
consultar o mdico antes de usar o produto
industrializado com carter funcional.
Exemplo de uma fonte alimentar rica em
protenas
SOJA (Glycine max (L.) Merr.)
um ingrediente da dieta oriental h milhares
de anos e, embora os ocidentais a evitem pelo sabor
pouco agradvel, muitos esto se benefciando das
vantagens atribudas leguminosa que na sua forma
convencional tem sido amplamente estudada. Com
presena de glicina, uma protena de alto valor biol-
gico, com propriedades teraputicas contra o esgota-
mento nervoso e a desnutrio. Alm do alto teor de
protena, possui fbras e todos os aminocidos essen-
ciais vida humana. A protena de soja tem uso po-
pular no alvio dos sintomas da menopausa, embora
os efeitos estrognicos da isofavona tenham efccia
considerada baixa. A lecitina de soja um derivado
da soja rico em fosfolipdios, protenas, vitaminas A,
E e K e vitaminas do complexo B. Nota-se tambm
Exemplos de compostos presentes nos alimentos funcionais
e alguns benefcios sade compilada de vrias fontes.
154
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
a presena de inositol e fsforo, que so responsveis
pelo melhor aproveitamento das vitaminas A, D e E, e
de serina, que um aminocido encontrado em muitos
tipos de protena.
Principais vitaminas:
VITAMINA A (caroteno ou retinol)
Vitamina essencial para o globo ocular e o sistema
epitelial (pele e mucosa), favorece o crescimento, au-
menta a imunidade, com ao anti-radicais livres. Sua
falta provoca distrbios relacionados acomodao
visual, cegueira noturna, metabolismo das clulas da
pele. Encontrada nas hortalias verdes e amarelas, fru-
tos amarelos sob a forma de um pigmento amarelo vivo
(caroteno).
Fontes: cenoura, brcolis, abbora, abacate,
broto de alfafa, acelga, espinafre, escarola, salsa, pi-
mento, milho, nabo, folhas de beterraba, caju, ma-
mo, manga, pssego, batata-doce, damasco, ps-
sego, ameixa, leo de fgado de peixe, queijo, ovos,
fgado, leite, etc.
Obs.: lipossolvel (solvel nas gorduras, no na
gua, por isso acumulativo no organismo) e termoest-
vel ( resistente ao calor, no resiste luz, especialmente
ultravioleta).
VITAMINA B
1
(tiamina)
Promove o bem-estar geral, protege contra as do-
enas nervosas, estimula o apetite, ajuda a digesto e a
assimilao dos alimentos. Favorece o crescimento e a
reproduo, melhorando a parte fsica e mental. til nas
doenas neurolgicas e no tratamento de estomatites e
herpes.
Algumas fontes: cereais integrais, aveia, centeio,
trigo, amendoim, castanha-do-par, tamarindo, feijo,
lentilha, gro-de-bico, soja, batata-doce, bardana, raba-
nete, semente de gergelim e girassol, folhas de cenoura,
espinafre, agrio, ameixa, damasco, banana, ma, en-
contrada tambm na levedura de cerveja, importante
fonte de todo o complexo vitamnico B.
VITAMINA B
2
(ribofavina)
til na anemia, no combate aos radicais livres, es-
senciais para a produo de energia no organismo, na
amamentao, no crescimento e bom para pele e cabe-
lo. Protege os atletas contra os radicais livres, de grande
importncia para o bem-estar e sade em geral.
Algumas fontes: amndoas, po de centeio inte-
gral, fgado de boi, brcolis, espinafre, folhas de nabo,
repolho, agrio, escarola, espinafre, vagem, feijo-bran-
co, soja, abacate, amendoim, nozes, cereais integrais,
sementes de girassol, gergelim, ameixa, pra, pssego,
damasco, carnes, ovos, leite e derivados.
VITAMINA B
3
(niacina)
Um dos membros do complexo B, que protege
os nervos e a circulao. essencial para a sntese dos
hormnios sexuais, bem como da cortisona, tiroxina e
insulina. Importante para as funes cerebrais, gastrin-
testinais, preveno da pelagra, propiciando uma pele
saudvel.
Algumas fontes: amendoim torrado, produtos
de trigo integral, fgado de boi, peixes, germe de trigo,
tambm no ovo, carne branca de frango, ameixa, etc.
VITAMINA B
5
(cido pantotnico)
Contribui para a formao das clulas, para manter
o crescimento normal, para proteger o metabolismo
e para o desenvolvimento do sistema nervoso e da
pele. fundamental no funcionamento adequado das
glndulas supra-renais e para a converso dos acares
e gorduras em energia. Auxilia a cicatrizao de feri-
mentos e previne o cansao. Sua defcincia ocasiona
manchas na pele e a pelagra, perda de apetite, erupes
cutneas, distrbios nervosos e digestivos.
Algumas fontes: cereais integrais, amendoim
com pele, arroz, trigo, leguminosas, frutas secas, cas-
tanha-do-par, tmara, frutos do mar, ovos, carne, f-
gado de boi, soro do leite.
VITAMINA B
6
(piridoxina)
Atua como as outras vitaminas do complexo B, na
assimilao das protenas e gorduras, evita perturba-
es nervosas e da pele. Promove a sntese de cidos
nuclicos, reduz espasmos musculares noturnos, ci-
bras nas pernas, dormncia nas mos e neurites nas
extremidades. Protege os nervos, a pele, auxilia na
produo das clulas do sangue, etc.
Algumas fontes: sementes e gros, farelo e germe
de trigo, tomate, banana, cacau, uva passa, abacate, me-
lo, fgo, melado, carnes, fgado, ovos, leite e derivados.
VITAMINA B
12
(cianocobalamina)
essencial na formao dos glbulos vermelhos
do sangue e usada no tratamento da anemia, auxilia
no crescimento, na digesto, nos nervos, na concen-
trao, memria e equilbrio. Promove o uso adequa-
do das protenas, acares e gorduras.
Algumas fontes: cereais integrais, algas, leite, car-
ne, fgado, rim e ovos. produzida por bactrias den-
tro do intestino.
VITAMINA C (cido ascrbico)
Fortalece o sistema imunolgico, oferecendo
proteo ao organismo, sendo um antioxidante pode-
roso. indispensvel a uma boa dentio, aos ossos,
gengivas saudveis, na formao do sangue, e con-
tribui para a resistncia dos capilares sanguneos;
indispensvel s glndulas de secreo internas e aos
olhos.
Algumas fontes: caju, goiaba, laranja, abacaxi,
limo, acerola, manga; alface, pimento, rcula, alho,
cebola, repolho, salsa, couve-for, espinafre, agrio, to-
mate, etc.
155
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
VITAMINA D (calciferol)
Regula e mobiliza a utilizao de clcio e fsforo no
organismo. indispensvel para o metabolismo, na for-
mao dos ossos, dentes e crescimento. Contribui para a
assimilao da vitamina A e, juntamente com as vitami-
nas A e C, auxilia na preveno de resfriados.
Algumasfontes: leos de fgado de peixe, sardinha, aren-
que, salmo, atum; leite e laticnios, alm de exposio ao sol;
VITAMINA E (tocoferol)
Vitamina lipossolvel que protege o organismo de
doenas cardiovasculares e estimula o sistema imunolgi-
co. Na preveno de doenas da pele, anti-radicais livres,
retarda o envelhecimento celular, servindo como antioxi-
dante para o tecido epitelial, mantendo a pele sadia. im-
portante no processo reprodutivo, do crescimento e do
sistema nervoso. Fonte de energia muscular, causa alvio
nas cibras, distenses musculares e alivia o cansao.
Algumas fontes: germe de trigo, aveia, soja, trigo
integral, folhas verdes, espinafre, brcolis, couve, abaca-
te, banana, sementes oleaginosas, nozes, leos vegetais,
gema de ovo.
VITAMINA H (biotina)
Importante para a sntese do cido ascrbico; es-
sencial para o metabolismo normal de gorduras e prote-
nas, em conjunto com as vitaminas B
2
, B
3
, B
6
, A, man-
tendo a pele saudvel.
Algumas fontes: arroz integral, banana, leite, leve-
dura de cerveja, noz, castanha, amndoa, frutas, fgado
bovino, gema de ovo, rim.
VITAMINA K (derivado de nafoquinona)
a vitamina anti-hemorrgica, essencial formao
da protrombina, substncia que assegura a coagulao
do sangue. Responsvel pela coagulao sangunea e
protege os vasos sanguneos de distrbios gerais.
Algumas fontes: germe e farelo de trigo, alfafa,
aveia, soja, batata, cebola, repolho, couve, espinafre, ce-
noura, algas, iogurte, leo de fgado de bacalhau, gema
de ovo.
CIDO FLICO (folacina ou vitamina M ou
vitamina B
9
)
Essencial para a formao dos glbulos
vermelhos do sangue e na preveno da anemia.
necessrio ao crescimento celular e essencial para a
diviso das clulas do organismo. Est associado a
vrios processos orgnicos, ajuda no metabolismo
protico e importante para a produo de
cidos nuclicos (RNA e DNA). Na gestao e na
amamentao, consulte o seu mdico.
Algumas fontes: vegetais de folhas verde-
escuras, cenoura, cereais integrais, feijo, lentilha,
trigo, farinha de centeio, fgado de galinha, leite,
gema de ovo, melo, abric, abbora.
VITAMINA P (complexo C, biofavonides)
Necessria para a perfeita absoro e
funcionamento da vitamina C, impedindo que ela
seja destruda pela oxidao. Os biofavonides
so as substncias que proporcionam a tonalidade
amarela e alaranjada aos alimentos ctricos. Os
favonides so responsveis pela cor dos alimentos.
Aumentam a resistncia dos vasos capilares e
regulam a absoro da vitamina C, aumentando sua
efccia.
Algumas fontes: limo, laranja e frutas ctricas
em geral, abric, amoras silvestres, cereja.
Principais minerais
CLCIO
Formao, composio e conservao dos ossos,
dentes e tecidos. til no combate osteoporose, indis-
pensvel para o aproveitamento do fsforo e contribui
para manter o equilbrio do ferro. Regula o ritmo card-
aco. Favorece a coagulao do sangue. Proporciona resis-
tncia contra infeces e neutraliza o excesso de cidos de
carnes, ovos, queijos e gorduras. Para que o clcio seja ab-
sorvido, o organismo deve possuir vitamina D sufciente.
Algumas fontes: cereais integrais, sementes de ger-
gelim e de girassol, algas, nabo, folhas de mostarda, cou-
ves, slvia, alface, salsa, salso, beterraba, batata-doce,
cebola, couves, espinafre, laranja, milho, chicria, ervi-
lha, feijo, amendoim, nozes, brcolis, coentro, raiz de
ltus, bardana, dente de leo, produtos lcteos, castanha
de caju e uva.
COBRE
Auxilia na formao da hemoglobina, necessrio na
absoro e na utilizao do ferro e indispensvel na uti-
lizao da vitamina C. Confere estabilidade emocional,
ajuda na boa formao ssea, a manter a energia.
Algumas fontes: couves, alface, espinafre, centeio,
lentilha e batata, banana, passas, ameixa, cereja, damas-
co, avel, amndoa, tmara e fgo seco.
ENXOFRE
Trabalha com as vitaminas do complexo B no me-
tabolismo basal do corpo, contribui para a formao
e regenerao dos tecidos, vital para a sade da pele,
cabelo e unhas. importante para o metabolismo do
fgado, auxilia na secreo da bile, etc.
Algumas fontes: todas as couves, cebola, todas as
oleaginosas, aveia, trigo, germe de trigo, agrio, ma,
uva, castanha, carne magra, feijo, peixe, ovo, repolho.
FERRO
Indispensvel formao da hemoglobina, plasma
sanguneo e albumina muscular. Auxilia o transporte do
oxignio do sangue para as clulas do organismo. til no
combate anemia, essencial para a formao dos ossos e
msculos, ajuda no crescimento, promove resistncia s
156
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
enfermidades, evita a fadiga, bom para a tonalidade
da pele.
Algumas fontes: arroz integral, aveia, abbora,
gros de leguminosas, lentilha, feijo, ervilha, gro
de bico, salsa, salso, alho-por, nas verduras verdes,
couves, agrio, espinafre, aspargo, inhame, semen-
te de gergelim, abbora, banana, cereja, pra, ma,
uva, beterraba, abacate, cebola, repolho, gema, fgado
de boi, marisco cru, amendoim, algas, mel, ameixa.
FLOR
constituinte dos ossos e dos dentes, fortalece os
ossos, diminui as cries dentrias, embora em exces-
so possa descolorir os dentes.
Algumas fontes: gua fuorada, frutos do mar,
gelatina, alho, aspargos, beterraba, brcolis, cenoura,
couves, cebola, amndoa.
FSFORO
Combate o cansao mental, a fadiga e junto com
o clcio fortalece os ossos. Aumenta a resistncia dos
atletas. importante no crescimento celular, cons-
tituinte dos ossos e dos dentes, normaliza o metabo-
lismo, promove a contrao do msculo cardaco e
importante para as funes pulmonar e renal. Partici-
pa do metabolismo do clcio e do acar, transporta
os cidos graxos e necessrio ao metabolismo das
vitaminas. A vitamina D e o clcio so indispensveis
para que o fsforo funcione adequadamente.
Algumas fontes: cereais integrais, lentilha, gro-
de-bico, ervilha, alcachofra, abbora, agrio, alho po-
r, algas, aveia, nabo, semente de girassol, castanha-
de-caju e castanha-do-par, amndoas, aveia, abaca-
te, abacaxi, ameixa, avel, banana e laranja.
IODO
indispensvel ao bom funcionamento da glndula
tireide, ao equilbrio, ao crescimento e ao metabolis-
mo. Aumenta a energia, estimula a oxidao, a circula-
o dos alimentos, infuenciando na absoro intestinal.
Algumas fontes: todas as algas, frutos do mar, al-
cachofra, agrio, alho, couves, cebola, cenoura, aspar-
go, espinafre, repolho, rabanete, tomate, aveia, feijo
e centeio.
MAGNSIO
indispensvel ao metabolismo do clcio, fs-
foro, sdio e potssio e da vitamina C; ao funciona-
mento dos sistemas nervoso e muscular e formao
dos ossos e dos dentes.
Algumas fontes: sal, arroz integral, algas, feijes,
lentilha, folhas verdes, oleaginosas, fgo, limo, milho
amarelo, aveia, pepino, couves, couve-rbano, cebola,
espinafre, tomate, ma, fgo, cereja, laranja, passas,
tmaras e abacate.
MANGANS
Atua no aproveitamento da biotina, vitaminas B
1
e C, nos processos reprodutivo e de crescimento, no
metabolismo dos acares e das gorduras, no bom
funcionamento da prstata e sistema nervoso central
e necessrio para a boa estrutura ssea.
Algumas fontes: cereais integrais, alface, agrio,
beterraba, cenoura, cebolinha, chicria, couve-for,
espinafre, pepino, banana, ma, uva, amndoas,
amendoim e nozes.
POTSSIO
Ajuda nas contraes musculares e transmisso
dos impulsos nervosos. necessrio ao tnus mus-
cular e nervoso, contribui no equilbrio cido-base e
regula o equilbrio de gua no organismo. Normaliza
os batimentos cardacos e o ritmo do corao, til
na preveno e tratamento da hipertenso. O pots-
sio carrega os impulsos nervosos que proporcionam
energia aos msculos.
Algumas fontes: frutas secas, fava, ervilha seca,
azeitona verde, oleaginosas, sementes, tomate, horte-
l, agrio, batata, espinafre, melo, banana, algas, soja,
arroz integral, tmara, amndoa, uva, abacaxi, laranja,
gua-de-coco, pepino, aveia, couve, germe de trigo,
arroz integral, cevada, castanhas, etc. Obs.: A hipo-
glicemia (baixo teor de acar no sangue) provoca
a perda de potssio, assim como ocorre num jejum
prolongado ou numa diarria grave. Nessas condi-
es procure o mdico e hospital com urgncia.
SDIO
constituinte do plasma sanguneo, mantm o
teor de gua nas clulas e no lquido intercelular. Par-
ticipa do equilbrio cido-base, contribui na forma-
o da blis, atua na contratura muscular, indispen-
svel para o crescimento normal, juntamente com o
potssio. As dietas com alto teor de sdio (sal) geral-
mente so responsveis por muitos casos de presso
alta e o consumo abusivo de sdio provoca a defci-
ncia de potssio.
Algumas fontes: algas marinhas, sal marinho,
mariscos, rins, vegetais verdes, trigo integral, farelo e
germe de trigo, frutos secos, cenoura, beterraba, alca-
chofra, salso, azeitona, escarola, ervilha, feijo, fava
verde, tangerina, ameixa seca e castanha.
ZINCO
indispensvel para a sntese de protenas, dirige
a contratilidade dos msculos, importante para a
estabilidade sangunea, no desenvolvimento dos r-
gos reprodutores, manuteno do sistema enzimti-
co e das clulas, auxilia na cicatrizao de ferimentos
internos e externos. Ajuda na preveno de manchas
brancas nas unhas (procure o seu mdico-dermato-
logista).
Algumas fontes: bife, germe de trigo, semente
de abbora, ovo, leite desidratado no gorduroso e
mostarda em p.
#18
BIBLIOgRAFIA
#18
BIBLIOgRAFIA
160
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
18. REFERNCIAS
ABREU, I.N. et al. Propagao in vivo e in vitro
de Cissus sicyoides, uma planta medicinal. Acta Ama-
znica, Manaus, v.33, n.1, p.1-7, 2003.
ABREU JUNIOR, H. Prticas alternativas de
controle de pragas e doenas na agricultura: co-
letnea de receitas. Campinas: Emopi, 1998.
AKERELE, O., HEYWOOD, V.; SYNGE, H.
Te conservation of medicinal plants. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1991. 363 p.
graf.
AKHONDZADEH S. et al. Melissa ofcinalis ex-
tract in the treatment of patients with mild to mod-
erate Alzheimers disease: a double-blind, random-
ized, placebo controlled trial. J. Neurol Neurosurg
Psychiatry 74: 2003.
ALMEIDA FILHO, L.A. et al. Comprimento de
estaca de aluman para propagao vegetativa. Hor-
ticultura Brasileira, v.18, p.986-987, 2000. (Traba-
lho apresentado no Simpsio Latinoamericano de
Plantas Medicinais, Aromticas e Condimentares,
2000, So Pedro, SP).
ALONSO, J. Tratado de ftofrmacos y nutra-
cuticos. Rosrio: Corpus Libros, 2003.
AMDUR, M.O.; DOULL, J.; KLAASSEN, C.D.
Toxicology the basic science of poisons. 40. ed.
New York: Pergamon Press, 1991.
AMINUDDIN, R.D.; GIRCH, A.; KHAN, S.
Treatment of through herbal drugs from Orissa, In-
dia. Fitoterapia, v.64, n.6, p.545-548, 1993.
AMOROZO, M.C.M. A abordagem etnobotni-
ca na pesquisa de plantas medicinais. In: DI STASI,
L.C. (Org.). Plantas medicinais: arte e cincia: um
guia de estudo interdisciplinar. So Paulo: Editora
Unesp,1996. p.47-68.
AMOROZO, M.C.M.; GLY, A. Uso de plan-
tas medicinais por caboclos do baixo Amazonas,
Barcarena, PA, Brasil. Boletim do Museu Paraen-
se Emlio Goeldi (Srie Botnica) ,v. 1, n. 4, p. 47-
131, 1988.
ANDLAUER, W.; FRST, P. Nutraceuticals: a
piece of history, present status and outlook. Food Re-
search International. v. 35, p. 171-176, 2002.
ANDERSON, M.E. Detemination of glutathione
and glutathione disulfde in biological samples. Meth.
Enzymol. 113, 548-555, 1985.
ANDRDE FILHO, A.; CAMPOLINA, D.;
DIAS M.B. Toxicologia na prtica clnica. Belo Hor-
izonte: Folium Comunicao, p. 263-293, 2001.
ANDREATINI R.; LEITE J.R. Efect of valepotri-
ates on the behaviour of rats on the elevated plus maze
during bdz withdwawal. Eur. J. Pharmacol., 260:
233-5, 1994.
AROLD, G. et al. No relevant interaction with al-
prazolam, cafeine, tolbutamide, and digoxin by treat-
ment with a low-hyperforin St Johns wort extract.
Planta Med., Apr; 71(4):331-7, 2005.
ASSOCIAO NACIONAL DE FARMACU-
TICOS MAGISTRIS. Fitoterapia magistral: um
guia prtico para a manipulao de ftoterpicos. So
Paulo: Anfarmag, 2005.
AUTEROCHE, B.; NAVAILH, P. O diagnstico
na medicina chinesa. So Paulo: Andrei, 1986.
BALBACH, A. A fora nacional na medicina na-
tural. So Paulo: Vida Plena, 1995. Vol. 2.
BALBACH, A. As frutas na medicina domsti-
ca. 21. ed. Itaquaquecetuba, SP: EDEL, s.d.
BALBACH, A. As hortalias na medicina do-
mstica. 26. ed. Itaquaquecetuba, SP: EDEL, s.d.
BALM, F. Plantas medicinais. So Paulo: He-
mus, 1978.
BARROSO, G.M. et al. Sistemtica de Angios-
permas do Brasil. Viosa: UFV, 1986. Vol. 3, 326 p.
BELL, C.J., GALL, D.G. and WALLACE J.L. Dis-
ruption of colonic electrolyte transport in experimen-
tal colitis. Am. J. Physiol. 268, G622-G630, 1995.
BESSEY, O.A., LOWRY, O.H., BROOK, M.J.
Rapid colorimetric method for the determination
of alkaline phosphatase in fve cubic mililiters of se-
rum. J. Biol. Chem. 164, 321-329, 1946.
BETONI, J.E.C.; MANTOVANI, R.P.; BARBO-
SA, L.N.; DI STASI, L.C.; FERNANDEZ-JUNIOR,
A. Synergism between plant extract and antimicrobial
drugs used on Staphylococcus aureus diseases. Mem.
Inst. Oswaldo Cruz 101(4): 387-390, 2006.
BEWLEY, J.D.; BLACK, M. Seeds: physiology of
development and germination. 2. ed. New York: Ple-
num Press, 1994. 445p.
BIASI, L.A.; COSTA, G. Propagao vegetativa
de Lippia alba. Cincia Rural: Santa Maria, v.33, n.3,
p.455-459, 2003.
BICUDO, C.E.M; PRDO, J. (Trad.). Cdigo
internacional de nomenclatura botnica (Cdigo
de Saint Louis, 2000). So Paulo: IBt/IAPT/SBSP,
2003.
BIESKI, I.G.C.; DE LA CRUZ, M.G. Quintais
medicinais: mais sade, menos hospitais. Cuiab:
Governo do Estado de Mato Grosso, 2005.
BLANK, A.F.; OLIVEIR, A.S.; ARRIGONI-
BLANK, M.F.; FAQUIN, V. Efeitos da adubao qu-
mica e da calagem na nutrio de melissa e hortel-
pimenta. Horticultura Brasileira: Braslia, v.24, n.2,
p.195-198, 2006.
BONA, C.M. et al. Estaquia de trs espcies de
Baccharis. Cincia Rural: Santa Maria, v.35, n.1,
p.223-226, 2005a.
BONA, C.M. et al. Propagao por estaquia de
Baccharis articulata (Lam.) Pers., Baccharis trime-
ra (Less.) A.P. de Candolle e Baccharis stenocepha-
la Baker com uso de auxinas. Revista Brasileira de
Plantas Medicinais: Botucatu, v.7, n.2, p.26-31,
2005b.
BOOTH N.H.; McDONALD L.E. Farmacolo-
gia e teraputica em veterinria. 6. ed. Guanabara
Koogan, 2006.
BORELLA, J.C. et al. Infuncia da adubao
mineral (N-P-K) e sazonalidade no rendimento e teor
de favonides em indivduos masculinos de Baccharis
161
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
trimera (Asteraceae) - Carqueja. Revista Brasileira
de Plantas Medicinais, v.4, p.99-102, 2001.
BORSATO, A.V. Rendimento e composio
qumica do leo essencial da camomila submetida
secagem em camada fna. Curitiba, 2006. 144p. Tese
(Doutorado) Universidade Federal do Paran.
BOTSARIS, A.S. As frmulas mgicas das
plantas. Rio de Janeiro: Record/Nova Era, 1997.
BOTSARIS, A.S. Fitoterapia chinesa e plantas
brasileiras. So Paulo: cone, 1995.
BRDFORD, M.M. A rapid and sensitive
method for the quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the principle of
protein-dye binding. J. Biol. Chem.164, 321-329,
1976.
BRSIL. Ministrio da Agricultura, Pecuria e
Abastecimento. Boas Prticas Agrcolas (BPA) de
plantas medicinais, aromticas e Condimentares
Ed. preliminar Marianne Christina Schefer, Cirino
Corra Jnior; Coordenao, Maria Consolacion
Udry, Nivaldo Estrela Marques e Rosa Maria Peres
Kornijezuk. Braslia: MAPA/SDC, 2006. 48 p.
BRSIL. Ministrio da Agricultura e Reforma
Agrria. Regras para anlise de sementes. Braslia:
SNDA/DNDV/CLAV, 1992. 365p.
BRSIL, E.C. Nveis de nitrognio, fsforo e
potssio na produo de mudas de jaborandi. In:
REUNIO BRSILEIR DE FERTILIDADE DO
SOLO E NUTRIO DE PLANTAS, 22. Anais.
Manaus: SBCS, p. 666-667, 1996.
BRSIL. Ministrio da Sade. Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria. Resoluo n. 18, de 30 de
abril de 1999. Aprova o Regulamento Tcnico
que estabelece as diretrizes bsicas para anlise e
comprovao de propriedades funcionais e ou de
sade alegadas em rotulagem de alimentos. Dirio
Ofcial da Unio: Braslia, DF, 03. maio. 1999.
BRSIL. Ministrio da Sade. Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria. Resoluo n. 19, de 30 de
abril de 1999. Aprova o Regulamento Tcnico
de procedimentos para registro de alimento com
alegao de propriedades funcionais e ou de sade
em sua rotulagem. Dirio Ofcial da Unio:
Braslia, DF, 03. maio. 1999.
BRSIL. Ministrio da Sade. Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria. Resoluo RDC n. 2, de 07
de janeiro de 2002. Aprova o Regulamento Tcnico
de substncias bioativas e probiticos isolados com
alegao de propriedades funcional e ou de sade.
Dirio Ofcial da Unio: Braslia, DF, 09. jan. 2002.
BRSIL. Ministrio da Sade. Secretaria de
Polticas de Sade. Coordenao-Geral da Poltica
de Alimentao e Nutrio. Alimentos regionais
brasileiros. Braslia, DF: 2002.
BRSIL. Ministrio da Sade. Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria. Resoluo RDC n. 48, de
16 de maro de 2004. Dispe sobre o registro de
medicamentos ftoterpicos. Dirio Ofcial da
Unio: Braslia, DF, 18. mar. 2004.
BRSIL. Ministrio da Sade. Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria. Resoluo RDC n. 267, de
22 de setembro de 2005. Regulamento Tcnico de
Espcies Vegetais para o Preparo de Chs. Dirio
Ofcial da Unio: Braslia, DF, 23. set. 2005.
BRSIL. Ministrio da Sade. Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria. Resoluo RDC n. 276, de
22 de setembro de 2005. Regulamento Tcnico para
Especiarias, Temperos e Molhos. Dirio Ofcial da
Unio: Braslia, DF, 23. set. 2005.
BRSIL. Ministrio da Sade. Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria. Resoluo RDC n. 278,
de 22 de setembro de 2005. Aprova as categorias
de Alimentos e Embalagens Dispensados e com
Obrigatoriedade de Registro. Dirio Ofcial da
Unio: Braslia, DF, 23. set. 2005.
BRSIL. Ministrio da Sade. Secretaria
de Cincia, Tecnologia e Insumos Estratgicos.
Departamento de Assistncia Farmacutica. A
ftoterapia no SUS e o Programa de Pesquisas de
Plantas Medicinais da Central de Medicamentos.
Braslia, DF: 2006.
BRSIL. Ministrio da Sade. Secretaria de
Vigilncia em Sade. Textos bsicos de sade.
Braslia, DF: 2006. 212 p. (Srie B).
BRSIL. Ministrio da Sade. Secretaria de Cin-
cia, Tecnologia e Insumos Estratgicos. Departamen-
to de Assistncia Farmacutica. Poltica Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterpicos. Braslia, DF:
2007.
BRSIL. Ministrio da Sade. Agncia Nacional
de Vigilncia Sanitria. Instruo Normativa n 5, de
11 de dezembro de 2008. Determina a publicao da
Lista de Medicamentos Fitoterpicos de Registro
Simplifcado. Dirio Ofcial da Unio: Braslia, DF,
12. dez. 2008.
BRITO, A.R.M.S.; BRITO, A.A.S. Medicinal
plant research in Brazil: data from regional and na-
tional meetings. In: BALICK MJ, ELISABETSKY
E, LAIRD AS, editors. Medicinal resources of the
Tropical Forest: biodiversity and its importance to
human health. New York: Columbia University Press,
1996. P. 386-401.
BROOKES, J. Te garden book: designing, crea-
ting and maintaining your garden. New York: Crown
Publishers, 1984.
BRUNETON, J. Farmacognosia: ftoqumica
plantas medicinales. 2. ed. Zaragoza: Acribia, 2001.
BURGOS, A.M.L. et al. Propagacin del ans
de campo Ocimum selloi (Lamiaceae) por medio de
esquejes. In: COMUNICACIONES CIENTFICAS
Y TECNOLGICAS. Resumos. Corrientes: Uni-
versidad Nacional del Nordeste, 2004. Disponvel em:
<http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2004/5-
Agrarias/A-031.pdf>. Acesso em 28 jun. 2006.
CALNAN, C.D. Dermatitis from Schefera.
Contact Dermatitis, v.7, n.6, p.341, 1981.
CARIB, J.; CAMPOS, J.M. Plantas que ajudam
o homem: guia prtico para a poca atual. 5. ed. So
Paulo: Cultrix/Pensamento, 1997.
CARLINI, E.L.A. et. al. Estudo de ao antil-
cera gstrica de plantas brasileiras: Maytenus ilicifo-
162
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
lia (espinheira-santa) e outras. Braslia: CEME/AFIP,
1988. 87p.
CARVALHO, N.M.; NAKGAWA, J. Semen-
tes: cincia, tecnologia e produo. 4. ed. Jaboticabal,
SP: FUNEP, 2000. 588p.
CARVALHO, P. L. de. A proteo da biodiversi-
dade brasileira: o caso das plantas medicinais. 2009.
Artigo em hipertexto. Disponvel em: <htp://www.
infobibos.com/Artigos/2009_2/Biodiversidade/in-
dex.htm>. ltimo acesso em 29/04/2009.
CASTRO, L.O. & CHEMALE, V. M. Plantas
medicinais, condimentares e aromticas. Guaba:
Agropecuria, 1995.
CENTRO DE PESQUISAS DE HISTRIA
NATURL. Conhea o verde. So Paulo: CPHN,
1985/88.
CSAR, H.P. Hortas e hortalias. 2.ed. So
Paulo: Melhoramentos, 1955. 320p. Col. Biblioteca
Agronmica Melhoramentos.
CLEMENT, C.R.; ALEXIADES, M.N. Etnobo-
tnica e biopirataria na Amaznia. In: CAVALCAN-
TE, T.B. Tpicos atuais em botnica: palestras con-
vidadas do 51 Congresso Nacional de Botnica. Bra-
slia: Embrapa/SBB, 2000. p. 250-2.
COELHO, R.G., DI STASI, L.C.; VILEGAS, W.
Chemical constituents from the infusion of Zollernia
ilicifolia Vog. and comparison with Maytenus species.
Z. Naturforsch 58:47-52, 2003.
COELHO SILVA, R. Levantamento de plantas
medicinais em comunidades de Rio Novo do Sul,
Ivonha, Itapemirim e Cachoeiro do Itapemirim. In:
ENCONTRO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS,
1, 1988, Rio Novo do Sul. Anais. Vitria. Emater/
ES/MEPES, 1989. p. 13-27.
COMISIN AMAZNICA DE DESARRO-
LLO Y MEDIO AMBIENTE. Amaznia sin mitos.
Bogot: Tratado de Cooperacin Amaznica, 1992.
111p.
CONSERVATION INTERNATIONAL. Biodi-
versity hotspots: Atlantic Forest. htp://www.bio-
diversityhotspots.org,2003. htp://www.biodiversi-
tyhotspots.org/xp/hotspots/atlantic_forest/Pages/
default.aspx
CONTE L.A. Shaman pharmaceuticals approach
to drug development. In: BALICK, M.J.; Elisabetsky
E, ELISABETSKY, E., LAIRD, A.S., editors. Medici-
nal resources of the Tropical Forest: biodiversity and
its importance to human health. New York: Columbia
University Press, 1996. p.94-100.
COPELAND, L.O.; McDONALD, M. Principles
of seeds science and technology. New York: Chap-
man Hall, 1995. 409p.
CORREIA, E. Aspectos da propagao sexuada e
vegetativa da arnica brasileira (Solidago chilensis Meyen
Asteraceae). In: MING, L.C. et al. Plantas medici-
nais, aromticas e condimentares: avanos na pesqui-
sa agronmica. Botucatu: Unesp, 1998. Vol. 2., p.193-
208.
CORRA JNIOR, C.; MING, L.C., SCHEFFER,
M.C., Cultivo de plantas medicinais, condimentares
e aromticas. 2. ed. Jaboticabal: Funep, 1994.
CORRA JUNIOR, C., MING, L.C.; SCHE-
FFER, M.C. Cultivo de plantas medicinais, condi-
mentares e aromticas. Curitiba: Emater Paran,1991.
151p.
CORRA, A.D., SIQUEIR-BATISTA, R.;
QUINTAS, L.E.M., Plantas medicinais do cultivo
teraputica. 2. ed. Petrpolis: Vozes, 1999.
COSTA, A.F. Farmacognosia, 2. ed. Lisboa: Fund.
Calouste Gulbenkian, v.3, 1972.
COSTA, A.F. Farmacognosia, 5. ed. Lisboa: Fund.
Calouste Gulbenkian, v.1 e 2, 1994.
COSTA, L.C. Viva melhor: com a medicina natu-
ral. Itaquaquecetuba: Missionria, 1996.
COSTA, L.C.B.; PINTO, J.E.B.P.; BERTOLUC-
CI, S.K.V. Comprimento da estaca e tipo de substrato
na propagao vegetativa de atroveran. Cincia Rural,
v.37, n.4, jul-ago, 2007.
COSTA, M.; DI STASI, L.C.; KIRIZAWA, M.;
MENDAOLLI, S.L.J.; GOMES, C. and TROLIN,
G.G. Screening in mice of some medicinal plants used
for analgesic purposes in the State of So Paulo. Part II.
J. Ethnopharmacol. 27:25-33, 1989.
COTON, C. M. Ethnobotany: principles and
applications. Chichester (England): John Wiley &
Sons, 1996. 424 p.
CRUZ, G.F. Desenvolvimento de sistema de cul-
tivo para hortel-rasteira (Mentha x villosa Huds.).
Fortaleza, 1999. 35 p. Dissertao (Mestrado) - Uni-
versidade Federal do Cear.
CRUZ, G.L. Dicionrio das plantas teis do
Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, s.d.
CRUZ, G.L. Livro verde das plantas medici-
nais e industriais do Brasil; Belo Horizonte, MG:
1965. 2 volumes.
CURTIS, G.H.; MACNAUGHTON, W.K.;
GALL, D.G.; WALLACE, J.L. Intraluminal pH mod-
ulates gastric prostaglandin synthesis. Can. J. Phy-
siol. Pharmacol., 73: 130-134, 1995.
DALLA COSTA, M.A. Processo de produo
agrcola da cultura da camomila no municpio de
Mandirituba - PR. Curitiba, 2001. 69p. Dissertao
(Mestrado) Universidade Federal do Paran.
DAVID, R.; CARDE, J.P. Coloraton difrentielle
des pseudophylles de Pin maritime au moyen du rac-
tif de Nadi. Comptes Rendus de lAcademie des
Sciences, Pais, Serie D 258: 1338-1340, 1964.
DELATORRE, M.C. Sade no Vale do Ribeira,
1 Simpsio sobre Ocupao do Vale do Ribeira, So
Paulo, 1982.
DIMECH G.S.; GONALVES E.S.; ARJO
A.V.; ARRUDA V.M.; BARTELLA-EVNCIO L.;
WANDERLEY A.G. Avaliao do extrato hidroalco-
lico de Mentha crispa sobre a performance reprodu-
tiva em ratos Wistar. Rev. Bras. Farmacogn. vol.16
no.2, Apr./June 2006.
DI STASI L.C.; HIRUMA C.A.; GUIMARES
E.M; SANTOS C.M. Fitoterapia 1984; 65:529.
163
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
DI STASI, L.C. Arte, cincia e magia. In: DI STA-
SI, L.C. (Org.). Plantas medicinais: arte e cincia:
um guia de estudo interdisciplinar. So Paulo: Unesp,
1996. p.15-21.
DI STASI, L.C. Plantas medicinais: verdades e
mentiras: o que os usurios e os profssionais de sa-
de precisam saber. So Paulo: Unesp, 2007.
DI STASI, L.C.; HIRUMA-LIMA, C.A. (Org.).
Plantas medicinais na Amaznia e Mata Atlntica.
2.ed. So Paulo: Unesp, 2002.
DI STASI, L.C. Amoebicidal compounds from
medicinal plants. Parassitologia (Italy) 37:29-29,
1995.
DI STASI, L.C. An integrated approach to iden-
tifcation and conservation of medicinal plants in the
tropical forest a Brazilian experience. Plant Genetic
Resources 3(2): 199-205, 2005.
DI STASI, L.C. CAMUESCO, D.; NIETO, A.;
VILEGAS, W.; ZARZUELO, A. GLVEZ, J. Intesti-
nal antiinfammatory activity of paepalantine, an iso-
coumarin isolated from the capitula of Paepalanthus
bromelioides, in the trinitrobenzenesulphonic acid
model of rat colitis. Planta Medica 70:1-6, 2004.
DI STASI, L.C. Plantas medicinais: arte e cin-
cia: um guia de estudo interdisciplinar. Fundao edi-
tora Unesp, So Paulo, 230p, 1995.
DI STASI, L.C. Tropical Atlantic Forest (Mata
Atlntica): potential source of the new products with
CNS activity. Arquivos Brasileiros de Fitomedici-
na 11(3): 143-146, 2003.
DI STASI, L.C.; COSTA, M.; MENDAOLLI,
S.L.J.; KIRIZAWA, M.; GOMES, C. and TROLIN,
G.G. Screening in mice of some medicinal plants used
for analgesic purposes in the State of So Paulo. J. Eth-
nopharmacol. 24:205-211, 1988.
DI STASI, L.C.; TIEN, O.S.; QUEIROZ, M;
GUIMARES, E.M.; CARVALHAES, M.A.;
OLIVEIR, G.P.; KKINAMI, S.H. Cinc. Cult.
1989; 419.:911-914.
DI STASI L.C.; OLIVEIR, G.P.; CARVAL-
HAES, M.A.; QUEIROZ-JUNIOR, M.; TIEN, O.S.;
KKINAMI, S.H.; REIS, M.S. Medical plants popu-
larly used in the Brazilian Tropical Atlantic Forest.
Elsevier Science B.V. Fitoterapia 73 (2002) 74-87.
DI STASI, L.C.; GOMES, J.C.; VILEGAS, W.
Studies on anti-allergic constituents in the leaves and
stems of Anchietia salutaris. Chem. Pharm. Bull 47(6):
890-893, 1999.
DI STASI, L.C.; HIRUMA-LIMA, C.A. Plantas
medicinais na Amaznia e na Mata Atlntica. So
Paulo: Editora Unesp, 2002. 604p.
DI STASI, L.C.; QUEIROZ, M.; CARVALGHA-
ES, M.A.; OLIVEIR, G.P. e REIS, M.S. Plantas Me-
dicinais na Floresta Tropical Atlntica (SP): Subs-
dios para um programa de melhoria da qualidade de
vida. XIII Simpsio de Plantas Medicinais do Bra-
sil, Fortaleza, CE, 320, 1994.
DI STASI, L.C.; TIEN, O.S.; QUEIROZ, M.;
GUIMARES, E.M.; CARVALHAES, M.A.; OLI-
VEIR, G.P. e KKINAMIM, S.H. Educao am-
biental na regio do Vale do Ribeira, SP: uma tentativa
de mudana de conduta. Cincia e Cultura 41(9):911-
914,1989.
DI STASI L.C.; GUIMARES, SANTOS E.M.;
SANTOS, C.M.; HIRUMA, C.A. Plantas medi-
cinais na Amaznia. So Paulo: Editora da Unesp,
1989.
DURIGAN, G.; SIQUEIR, M.F.; FRNCO,
G.A.D.C. Treats to the cerrado remnants of the State
of So Paulo, Brazil. Scientia Agricola 64(4): 355-
363, 2007.
EDIRISINGHE, J. S. Traditional anti-malarials:
Sri Lankan experience. Parasitology Today, v. 3, n. 4,
p. 119, 1987.
EEL JIA, J. Chan Tao conceitos bsicos: medi-
cina tradicional chinesa, Lien Chi e meditao. So
Paulo: cone, 2004.
EHLERS, E. Emprendedorismo e conservao
no interior do Estado de So Paulo. RER 45(1): 185-
203, 2007.
EHLERT, P.A.D. et al. Propagao vegetativa da
alfavaca-cravo utilizando diferentes tipos de estacas
e substratos. Horticultura Brasileira, Braslia, v.22,
n.1, p.10-13, 2004.
EITEN, G. Te cerrado vegetation of Brazil. Bo-
tanical Review 38: 201-341, 1972.
ELOFF, J.N. A sensitive and quick microplate
method to determine the minimal inhibitory con-
centration of plant extracts for bacteria. Planta Med.
64(8):711-3, 1998.
ESSNCIA de vida Olina. Histrico. www.olina.
com.br acessado em 24 maro 2008.
ETKIN, N.L. Antimalarial plants used by Hausa
in northern Nigeria. Tropical Doctor, v. 27, p. 12-6,
1997.
EXPOSIO DE MOTIVOS: poltica munici-
pal de mudanas climticas para So Paulo. Barueri,
SP: Minha Editora, 2009. Coleo Ambientes Verdes
e Saudveis. Vol. 3. Projeto Ambientes Verdes e Sau-
dveis, vrios colaboradores.
FARMACOPIA BRSILEIR. 4. ed. So Pau-
lo: Atheneu, 1988. parte 1.
FERREIR, M.A.J.F.; BRZ, L.T.; ARNHA,
M.T.M.; MASCA, M.G.C.C. Caracterizao de cul-
tivares de camomila de diferentes origens. CON-
GRESSO LATINO-AMERICANO DE HORTI-
CULTUR, 1995, Foz do Iguau.
FERRI, M.G. et al. Glossrio ilustrado de bot-
nica. So Paulo: Ebratec/Edusp, 1978.
FIGUEIREDO, G.M.; LEITO-FILHO, H.F.;
BEGOSSI, A. Hum Ecol 1993; 214.: 419-430.
FIGUEIREDO, G.M.; LEITO-FILHO, H.F.;
BEGOSSI, A. Hum Ecol 1997; 252.: 353-360.
FONSECA, R. L.; MORBIOLO S. R. Modela-
gem para auxlio em estudos de controle biolgico de
Lantana camara L. (Verbenaceae). In: IV SIMPSIO
BIOTA /FAPESP, Dez. 2003. Resumos.
FOSSAT, A.G. A cura pelas plantas, pelas fo-
lhas, pelos frutos, pelas razes. 10. ed. Rio de Janei-
164
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
ro: Eco.
FRNCISCO NETO, J. Manual de horticultura
ecolgica: guia de auto-sufcincia em pequenos es-
paos. So Paulo: Nobel, 1995-1999.
FRNCISCO NETO, J. Manual de horticultura
ecolgica: guia de auto-sufcincia em pequenos es-
paos. So Paulo: Nobel, 1995-1999.
FRNCO, L. L. As incrveis 50 frutas com po-
deres medicinais. 2.ed. Curitiba: Ed. do Autor, 2001.
FREITAS, P.C.D. Apostila do treinamento tec-
nolgico: ftoterapia e ftoterpicos. So Paulo: USP,
1996. Apostila.
FURLAN, M.R. Cultivo de plantas medicinais.
Cuiab: Sebrae/MT, 1998.
FURLAN, M.R. Cultivo de plantas medicinais.
2. ed. Cuiab: Sebrae/MT, 1999.
GARCIA, R.J.F. Classifcao, identifcao e
nomenclatura de plantas fanergamas. So Paulo:
PMSP/SVMA, 2005. Apostila.
GEMTCHJNICOV, I.D. Manual de taxono-
mia vegetal. So Paulo: Agronmica Ceres, 1976.
GENNARO, A. R.Remington. A cincia e a pr-
tica da farmcia. 20. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
GESSLER, M.C., MSUYA, D.E., NKUNYA,
M.H.H., MWASUMBI, L.B., SCHR, A., HEIN-
RICH, M., TANNER, M. Traditional healers in Tan-
zania: the treatment of malaria with plant remedies.
Journal of Ethnopharmacology, v. 9, n. 7, p. 504-8,
1995.
GFELLER R.W; MESSONNIER S.P. Toxicolo-
gia e envenenamento em pequenos animais. 2. ed.
So Paulo: Roca, 2006.
GIAMEBIL. www.hebron.com.br acessado em
24 maro 2008.
GOLDFRNK, L.R.; FLOMENBAUM,N.E.;
LEWIN, N.A.; WEISMAN, R.S.; HOWLAND,
M.A. Goldfranks toxicologic emergencies. 4. ed.
California: Appleton & Lange, 1990.
GOLDFRNK, L. R.; FLOMENBAUM, N. E.;
HOFFMAN, R. S.; HOWLAND, M. A.; LEWIN, N. A.;
LEWIS S. N: Goldfranks toxicologic emergencies. 8.
ed. New York: Te McGraw-Hill Companie, 2006.
GOMES, J.C.; DI STASI, L.C.; SGARBOSA, F.
and BARTA, L.E.S. Pharmacological evaluation of
the inhibitory efect of extracts from Anchietia salutar-
is on the histamine release induced in the rat and the
guinea pig. Int. Arch. Allergy Immunol 103:188-
193, 1994.
GONZALEZ, F.G.; DI STASI, L.C. Antiulcero-
genic and analgesic efects of the Wilbrandia ebracte-
ata. Phytomedicine 9: 125-134, 2002.
GONZALEZ, F.G; PORTELA, T.Y.; STIPP, E.J.;
DI STASI, L.C. Antiulcerogenic and analgesic efects
of the Maytenus aquifolium, Sorocea bomplandii and
Zolernia ilicifolia. Journal of Ethnopharmacology
71(1): 41-47, 2001.
GRFF, S. Fundamentos de toxicologia clni-
ca. So Paulo: Atheneu, s.d. Srie Clnica Mdica Ci-
ncia e Arte.
GUIA RURL. Horta sade. Edio especial
do Guia Rural. So Paulo: Abril. 338p.
HAMMERSHOY, O. Allergic contact dermatitis
from Schefera. Contact Dermatitis: v.7, n.1, p. 57-
8, 1981.
HARTMANN, H.T; KESTER, D.E. Propagaci-
n de plantas: princpios e prticas. Mxico: CEC-
SA, 1981. p.237-346.
HAYDEN, L.J.; THOMAS, G.; WEST, G.B. In-
hibitors of gastric lesions in the rat. J. Pharm. Phar-
macol. 30: 244-246, 1978.
HEYDECKER, W. Stress and seed germination.
In: KHAN, A.A. Te physiology and biochemistry
of seed dormancy and germination. Amsterdan:
North-Holland Publishing Company, 1977. p. 237-
282.
HIRSCH, S. Manual do heri ou a flosofa chi-
nesa na cozinha. Rio de Janeiro: Edio da autora, s.d.
HOEHNE F. C. Plantas e substncias vegetais
txicas e medicinais. Reimpresso. So Paulo: De-
partamento de Botnica do Estado, 1978.
HOMMA, A. K. O. Uma tentativa de interpreta-
o terica do extrativismo amaznico. Acta Amaz-
nica, n.12, v.2. 1982, p. 251-255.
HSU, H.; CHEN, Y.; CHEN, S.; HSU, C; CHEN,
C.; CHANG, H. Matria mdica oriental: um guia
conciso. So Paulo: Roca; 1999.
HUI, H.Y.; BAI, N.Z. Teoria bsica da medicina
tradicional chinesa. Trad. de D. Kaufman. So Pau-
lo: Atheneu, 2001.
HUNGENHOLTZ, J.; SMID, E.J. Nutraceutical
production with food-grade microorganisms. Cur-
rent Opinion in Biotechnology. v. 13, p. 497-507,
2002.
IICOUVILLON, G.A. Rooting response to dif-
ferent treatments. Acta Horticulturae, Leuven,
v.277, p.187-196, 1988.
ITHO, S. F. Rotina no atendimento do intoxi-
cado. 3. ed. Vitria, 2007. cap. 5, p.275- 314.
IUCN THE INTERNATIONAL UNION FOR
CONSERVATION OF NATURE AND NATURL
RESOURCES. Guidelines on the conservation of
medicinal plants. Gland: Switzerland. 1993. 50 p.
JACOB, P. Cidade e meio ambiente: percepes
e prticas em So Paulo. 2. ed. So Paulo: Annablume,
2006. 206p.
JACOBS, B.E.M. Ervas: como cultivar e utilizar
com sucesso. So Paulo: Nobel, 1995. 215p.
JENSEN, W.A. Botanical histochemistry: prin-
ciples and practice. San Francisco, CA: Freeman, 1962.
JOHANSES, D.A. Plant microtechnique. New
York: McGraw-Hill, 1940.
JOLY, A.B. Botnica: introduo taxonomia ve-
getal. 11. ed. So Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1993.
JOLY, C.A., BICUDO, C.E.M. (Org.) Biodiver-
165
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
sidade do estado de So Paulo, Brasil: sntese do
conhecimento ao fnal do sculo XX. So Paulo: Fa-
pesp, 1999. cap. 7.
JUNYING, G. et al. Matria mdica chinesa.
Beijing: Ediciones en Lenguas Estranjeras, 1999.
KRMELI, F.; ELIAKON, R.; OKON, E,
RCHMILEWITZ, D. Gastric and mucosal damage
by etahanol is mediated by substance P and prevented
by ketotifen, a mast cell stabilizer. Gastroenterology
10:1206-1216, 1994.
KTZUNG, B. G. Farmacologia bsica e clni-
ca. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
KLAASSEN, C.D. Casaret and Doulls Toxico-
logy: the Basic Science of Poisons, 6. ed. New York:
Mc Graw Hill; v. 5, p. 965- 976, 2001.
KRWISZ, J.E., SHARON, P., STENSON, W.F.
Quantitative assay for acute intestinal infammation
based on myeloperoxidase activity. Assessment of in-
fammation in the rat and hamster model. Gastroen-
terology 87, 1344-1350, 1984.
KROIS, S.A.L. Research applications. In: Te
laboratory rat, vol. II, Ed. Baker, H.J. Hussel, J. and
Weisbroth, S.H., Academic Press, Inc. New York, pp
2-28, 1980.
KRUGER, C. L.; MANN, S. W. Safety evaluation
of funcional ingredients. Food and Chemical Toxi-
cology. v. 41, p.793-805, 2003.
KURIYAN, R. et al. Efect of Caralluma fmbriata
extract on appetite, food intake and anthropometry in
adult Indian men and women. Appetite 48: 2007.
KWAK, N.; JUKES, D.J. Functional foods. Part 1:
the development of a regulatory concept. Food Con-
trol. v. 12, p. 99-107, 2001a.
LABOURIAU, L.G. A germinao das semen-
tes. Washington: Organizao dos Estados America-
nos, 1983. 174p.
LEITE, J. P. V. Fitoterapia: bases cientfcas e tec-
nolgicas. So Paulo: Atheneu, 2009.
LIM, G.P. et al. Te curry spice curcumin reduc-
es oxidative damage and amyloid pathology in an al-
zheimer transgenic mouse. Te Journal of Neuros-
cience 21: 2001.
LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas orna-
mentais no Brasil: arbustivas, herbceas e trepadei-
ras. 2. ed. So Paulo: Plantarum, 1999.
LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas orna-
mentais no Brasil: arbustivas, herbceas e trepadei-
ras. 3. ed. So Paulo: Plantarum, 2001.
LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil. 3.ed.
So Paulo: Plantarum, 2000.
LORENZI, H.; BACHER, L.; LACERDA M.;
SARTORI, S. Frutas brasileiras e exticas cultiva-
das: de consumo in natura. So Paulo: Plantarum,
2006.
LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas medici-
nais no Brasil: nativas e exticas. Nova Odessa, SP:
Plantarum, 2002. 512 p.
LORENZI, H.; MATOS F.J.A. Plantas medici-
nais no Brasil: nativas e exticas. 2.ed. Nova Odessa,
SP: Plantarum, 2008. 544p.
LU, H.C. Curas herbais chinesas. So Paulo: Ro-
ca, 1999.
MABBERLEY D.J. Te plant-book: a portable
dictionary of the vascular plants. 2nd ed. Cambridge
University Press, 1997.
MACIOCCIA, G. Os fundamentos da medici-
na chinesa. So Paulo: Roca, 1996.
MARCHESE, J.A.; BROETO, F.; MING, L.C.
et al. Perfl dos consumidores de plantas medicinais
e condimentares do municpio de Pato Branco (PR).
Horticultura Brasileira, Braslia, v. 22, n. 2, p. 332-
335, 2004.
MARIOT, A.; DI STASI, L.C.; REIS, M.S. Gene-
tic diversity in natural populations of Piper cernuum.
Journal of Heredity 93:365-369, 2002.
MARONI, B.C.; DI STASI, L.C.; MACHADO,
S.R. Plantas medicinais do cerrado de Botutucatu:
guia ilustrado. So Paulo: Editora Unesp, 2006. 194p.
MARTINS, E.R.; CASTRO, D.M.; CASTELLA-
NI, D.C.; DIAS, J.E. Plantas medicinais. Viosa:
UFV, 1995. 220 p.
MARTINS, E.R. et al. Essential oil in the taxon-
omy of Ocimum selloi Benth. Journal of the Brazil-
ian Chemical Society, Campinas, v.8, n.1, p.29-32,
1997.
MARONI, B.C.; DI STASI, L.C.; MACHADO,
S.R. Plantas medicinais do cerrado de Botucatu.
So Paulo: Unesp, 2006.
MATOS, F.J.A. Plantas medicinais: guia de se-
leo e emprego de plantas usadas em ftoterapia no
nordeste do Brasil. Fortaleza: UFC, 2002.
MATOS, F.J.A. Farmcias vivas: sistema de utili-
zao de plantas medicinais projetado para pequenas
comunidades. 4. ed. rev. ampl. Fortaleza: UFC, 2002.
MATSUDA, H.; Li, Y.; YOSHIKWA, M. Gas-
troprotetion of escins Ia, Ib, IIa, and IIb on ethanol-
induced gastric mucosal lesions in rats. Eur. J. Phar-
macol., 373: 63-70, 1999.
MAZARO, R.; DI STASI, L.C.; VIEIR Filho,
S.A.; KEMPINAS, W.G. Decrease in sperm number
afer treatment of rats with Austroplenckia populnea.
Contraception 62: 45-0, 2000.
MAZARO, R; DI STASI, L.C.; KEMPINAS,
W.G. Efects of the hydromethanolic extract of Aus-
troplenckia populnea (Celastraceae) on reproductive
parameters of male rats. Contraception 66(3): 205-
209, 2002.
MAZIA, D.; BREWER, P.A.; ALFERT, M. he
cytochemistry staining and measurement of protein
with mercuric bromophenol blue. Biology Bulletin
104: 57-67, 1953.
MELEK, F.R.; MIYASE, T.; KHALIK, S.M.A.;
EL-GINDI, M.R. Triterpenoid saponins from Schef-
fera arboricola. Phytochemistry, v. 63, n. 4, p. 401-
407, 2003.
MELLO A.C.; SANTANA C.F.; ALMEIDA E.R.
Primeiras observaes sobre o uso da Mentha crispa e
outros vegetais no tratamento das parasitoses intesti-
166
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
nais. Encontro Anual do Centro de Cincias Bio-
lgicas da Universidade Federal de Pernambuco.
Recife, 1985.
MERCADO brasileiro cresce 25% ao ano. Cor-
reio Popular, 13 de julho, 2007.
MINDELL, E. Guia das vitaminas. So Paulo:
Abril, 1986.
MING, L. C.; SILVA, S. M. P.; SILVA, M. A. S.;
HIDALGO, A. F.; MARCHESE, J. A.; CHAVES, F.
C. M. Manejo e cultivo de plantas medicinais: algu-
mas refexes sobre as perspectivas e necessidades no
Brasil. In: COELHO et al. (Org.). Diversos olhares
em etnobiologia, etnoecologia e plantas medici-
nais. Cuiab: Unicen, 2003. p.149-156.
MING, L. C. Infuncia da adubao orgnica na
produo de biomassa, rendimento e teor de leo es-
sencial de Lippia alba (Mill.) N. E. Br.- Verbenaceae.
Curitiba, 1992. Dissertao de Mestrado, Universida-
de Federal do Paran. 169p.
MIRNDA, E.E.; MATOS, C. Brazilian rain
forest colonization and biodiversity. Agriculture,
Ecosystems and Environments, n.40, p. 275-296,
1992.
MIZUI, T.; DOTEUCHI, M. Efect of poly-
amines on acidifed ethanol- induced gastric lesions
in rats. Jpn. J. Pharmacol. 33: 939-945, 1983.
MOMENT, V.G. et al. Propagao vegetativa
por estaquia de mentrasto em diferentes substratos.
Revista Cincia Agronmica, Fortaleza, v.33, n.2,
p.5-12, 2002.
MONTANARI JNIOR, I.; FIGUEIR, G. M.;
MAGALHES, P. M.; RODRIGUES N. Infuncia
da fertilizao NPK na biomassa e no teor de alcali-
de de Atropa belladona Linn. Revista Brasileira de
Fisiologia Vegetal, v.5, p.71, 1993.
MORES, F.P.; COLLA, L.M. Alimentos funcio-
nais e nutracuticos: defnies, legislao e benef-
cios sade. Revista Eletrnica de Farmcia, v. 3, n.
2, p. 109-122, 2006.
MORES, L.A.S. et al. Phytochemical character-
ization of essential oil from Ocimum selloi. Anais da
Academia Brasileira de Cincias, Rio de Janeiro,
v.74, n.1, p.183-186, 2002.
MORES, M.O. Avaliao toxicolgica clnica e
laboratorial do ftoterpico Essncia de Vida Olina
em voluntrios sadios. XV Simpsio de Plantas Me-
dicinais do Brasil. guas do Lindia, 1998.
MORGAN, R.: Enciclopdia das ervas e plan-
tas medicinais. So Paulo: Hemus.
MORIMOTO, Y.; SHIMOHAR, K.; OSHI-
MA, S.; SUKMOTO, T. Efects of the new anti-ul-
cer agent KB-5492 on experimental gastric mucosal
lesions and gastric mucosal defensive factors, as com-
pared to those of terprenone and cimetidine. Jap. J.
Pharmacol. 57: 495-505, 1991.
MORRIS, G.P.; BECK, P.L.; HERRIDGE, W.;
DEPEW, W., SZCEWCZUK, M.R. and WALLACE,
J.L. Hapten-induced model of chronic infammation
and ulceration in the rat colon. Gastroenterology 96,
795-803, 1989.
MORS, W.B.; RIZZINI C.A.; PEREIR N.A.
Medicinal plants of Brazil. Portland, USA: Book
News, 2000.
MLLER, S.F. et al. A combination of valerian
and lemon balm is efective in the treatment of rest-
lessness and dyssomnia in children. Phytomedicine
13: 2006.
MYERS, N.; MITERMEIER, R.A.; MITER-
MEIER, C.G.; FONSECA, G.A.; KENT, J. 2000.
Biodiversity hotspots for conservation priorities. Na-
ture 403: 853-858.
NICOLOSO, F.T. et al. Comprimento da estaca
de ramo no enraizamento de gingseng brasileiro (Pfa-
fa glomerata). Cincia Rural, Santa Maria, v.31, n.1,
p.57-60, 2001.
OGA, S. Fundamentos da toxicologia. So Pau-
lo: Atheneu, 1996. Cap. 2.2, p.111-120.
OGA, S; BATISTUZZO, J.A.O.; CAMARGO,
M.M.A.: Fundamentos da toxicologia. 3. ed. So
Paulo: Atheneu, 2008.
OLIVEIR, F.; AKISSUE, G. Farmacognosia.
Rio de Janeiro: Atheneu, 1994.
OLIVEIR, F.; AKISSUE, G. Fundamentos da
farmacobotnica. Rio de Janeiro: Atheneu, 1989.
Cap. 16, p.203-216.
OLIVEIR, M.G. et al.. Pharmacologic and toxi-
cologic efects of two Maytenus species in laboratory
animal. J. Ethnoplarmacol. 1991.
OLIVEIR, R.B.; GODOY, S.A.P.; COSTA, F.B.
Plantas txicas: conhecimento de preveno de aci-
dentes. Ribeiro Preto: Holos, 2003, 64p.
ORNELAS, H.M.; DI STASI, L.C.; CURI, P.R.
e SALATA, E. Efeito de plantas medicinais sobre a
infeco pelo Plasmodium berghei em camundongos.
Rev. Cienc. Farm. 12:71-80, 1990.
PANIZZA, S. Plantas que curam: cheiro de ma-
to. 25. ed. So Paulo: Ibrasa, 1997.
PALOMINO, J.C.; MARTIN, A.; CAMACHO,
M.; GUERR, H.; SWINGS, J.; PORTALES, F. Re-
sazurin microtiter assay plate: simple and inexpensive
method for detection of drug resistance in Mycobac-
terium tuberculosis. Antimicrob Agents Chemo-
ther. 46(8):2720-2, 1992.
PARK, Y. K. et al. Biotransformaes de isofavo-
nas de soja. Biotecnologia, Cincia & Desenvolvi-
mento, n. 20, p. 12-14, 2001.
PARKER, E.P. A neglected human resource in
Amazonia: the amazon caboclo. In: POSEY, D.A. &
BALE, W. (Ed.) Resource management in Amazo-
nia: indigenous and folk strategies. Advances in Eco-
nomic Botany, v. 7, p. 249-259, 1989.
PENNA, L. de P. Jardins/Hortas. 6. ed. Rio de
Janeiro: Artenova, 1974. 183p.
PEREIR, A.M.S.; MENEZES JNIOR, A.;
CMAR, F.L.A.; FRNA, S.C. Efeito da aduba-
o na produo de biomassa de Mikanea glomerata
(guaco). In: SIMPSIO DE PLANTAS MEDICI-
NAIS DO BRSIL, 14. Anais. Florianpolis: UFSC.
1996.
167
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
PIANOWSKI, L.F. Desenvolvimento farma-
cutico de um produto ftoterpico. Porto, 82p. Te-
se de Doutorado - Universidade do Porto, 2000.
PIO CORREA, M. Dicionrio das plantas teis
do Brasil e das exticas cultivadas. 2. ed. 6 volumes.
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1984.
PIRES, M.O.; SANTOS, I.M. Construindo o cerra-
do sustentvel: experincias e contribuies das ONGs.
Braslia: Grfca Nacional, 2000.147p.
PLANTAMED: Lantana cmara. Disponvel em:
<htp://www.plantamed.com.br/ESP /Lantana ca-
mara. htm>
PLL, E. Medicinal plants from the Peten, Gua-
temala. Acta Horticulturae, n.330, p. 93-100, 1993.
PRNCE, G.T. What is ethnobotany? Journal of
Ethnopharmacology, v.32, p.209-216, 1991.
PREFEITUR MUNICIPAL DE CAMPINAS.
Memento de ftoterapia. Campinas: Secretaria Mu-
nicipal de Sade, 2004. Apostila.
PREFEITUR DO MUNICPIO DE SO
PAULO. Como fazer uma horta. So Paulo: Secre-
taria Municipal de Abastecimento, s.d., 63p. Apostila.
PREFEITUR DO MUNICPIO DE SO
PAULO. Horta: cultivo de hortalias. So Paulo:
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente,
2006. 85p. Apostila.
PURVIS, M.J.; COLLIER, D.C.; WALLS, D. Lab-
oratory tecniques in botany. London: Buterwor-
ths, 1964.
QUEIROZ, M.S. Curandeiros do mato, curandei-
ros da cidade e mdicos: um estudo antropolgico
dos especialistas em tratamento de doenas na regio
de Iguape-SP. Cincia e Cultura, v. 32, n. 1, p. 31-47,
1980.
RTER, J.A.; RIBEIRO, J.F. e BRIDGEWA-
TER, S. Te Brazilian cerrado vegetation and threats
to its biodiversity. Annals of Botany. 80: 223-230,
1997.
RVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E.
Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2001, 906p.
REIS, M.S. Manejo sustentado de plantas me-
dicinais em ecossistemas tropicais. In: Di Stasi, L.C.
(org.) Plantas medicinais: arte e cincia: um guia
de estudo interdisciplinar. So Paulo: Editora Unesp,
1996. p.199-215.
REIS, M.S.; MARIOT, A.; DI STASI, L.C. Manejo
de populaes naturais de plantas medicinais na Flo-
resta Atlntica. In: Diegues AC, e Viana VM, editors.
Comunidades tradicionais e manejo dos recursos
naturais da mata atntica. So Paulo: Nupaub-Las-
trop-USP, 2000. p. 95-102.
REVISTA BRSILEIR DE PLANTAS ME-
DICINAIS. Brazilian Journal of Medicinal Plants.
Botucatu: Fundao Instituto de Biocincias, 2000.
RIBEIRO, J.E.L.S., HOPKINS, M.J.G., VICEN-
TINI, A., SOTHERS, C.A., COSTA, M.A.S.; BRITO,
J.M., SOUZA, M.A.D., MARTINS, L.H.P., LOHM-
ANN, L.G., ASSUNO, P.A.C.L., PEREIR, E.C.,
SILVA, C.F., MESQUITA, M.R., PROCPIO, L.C.
Flora da Reserva Ducke: guia de identifcao das
plantas vasculares de uma foresta de terra frme na
Amaznia Central. Manaus: INPA. 1999. 816p.
RIET-CORREA F.; MENDEZ M.C.; SCHILD,
A.L. Intoxicaes por plantas e micotoxinas em
animais domsticos. Pelotas: Hemisfrio Sul do Bra-
sil, 1993. Vol.1.
RIGUEIRO, M. P. Plantas que curam: manual
ilustrado de plantas medicinais. 4. ed. So Paulo: Pau-
lus, 1992.
RIZZINI, C.T. Latim para biologistas. Rio de Ja-
neiro: Academia Brasileira de Cincias, 1978.
ROBERFROID, M. Functional food concept
and its application to prebiotics. Digestive and Liver
Disease. v. 34, Suppl. 2, p. 105-10, 2002.
RODRIGUES, E.; WEST, J.E. International re-
search on biomedicines from tropical rain Forest. In-
terciencia 20(3): 140-143, 1995.
RODRIGUEZ E.; WEST J.E. Interciencia 1995;
20(3):140.
RODRIGUES, R.R.; BONONI, V.L.R., orgs. Di-
retrizes para conservao e restaurao da biodi-
versidade no Estado de So Paulo. So Paulo: Insti-
tuto de Botnica, 2008. 248p.il.
ROGANS, E. Fitoterapia chinesa: guia prtico.
So Paulo: Callis, 1997.
ROVERTI, D.S. Plantas medicinais: Projeto
Alecrim. So Paulo: Unimarco, 1999.
SANCHEZ DE MEDINA, F., GALVEZ, J., RO-
MERO, J.A. and ZARZUELO, A. Efect of quercitrin
on acute and chronic experimental colitis in the rat. J.
Pharm. Exp. Ter. 278, 771- 779, 1996.
SARTRIO, M. L.; TRINDADE, C.; RESEN-
DE, P.; MACHADO, J. R. Cultivo orgnico de plan-
tas medicinais. Viosa, MG: Aprenda Fcil, 2000.
SADE VITAL. Guia prtico de plantas me-
dicinais. So Paulo: Abril, 2000. Especial n.12.
SCAVONE, O.; PANIZA, S. Plantas txicas. So
Paulo: Codac/USP, 1980.
SCHMITZ, M.; JCKEL M. Comparative study
for assessing quality of life of patients with exogenous
sleep disorders treated with a hops-valerian prepa-
ration and a benzodiazepine drug. Wien Med Wo-
chenschr, 148(13):291-8, 1998.
SCHVARTSMAN, S. Plantas venenosas. So
Paulo: Sarvier, 1979.
SCHVARTSMAN, S. Plantas venenosas e ani-
mais peonhentos. 2. ed. So Paulo: Sarvier, 1992.
SEGREDOS E VIRTUDES DAS PLANTAS
MEDICINAIS. Readers Digest Brasil, 1999.
SEGREDOS E VIRTUDES DAS PLANTAS
MEDICINAIS. 2.ed. Readers Digest Brasil. 2004.
SEITO, L.N.; MAZARO, R.; DI STASI, L.C. An-
tiulcerogenic and analgesic efects of the Austroplenck-
ia populnea in mice. Phytotherapy Research 16:193-
196, 2002.
SEMINRIO Internacional de Meio Ambiente.
168
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Ci. & Cult. 39(3):241-249,1987.
SETY, A.R.; SIGAL, L.H. Herbal medica-
tions commonly used in the practice of rheumatol-
ogy: mechanisms of action, efcacy, and side efects.
Semin Arthritis Rheum. 2005 Jun; 34(6):773-84.
SHAY, H. A simple for the uniform production
of gastric ulceration in rat. Gastroenterol. 5: 43-61,
1945.
SIKIRIC, P.; SEIWERTH, S.; GRBAREVIC,
Z.; e cols. Te infuence of a novel pentadecapeptide,
BPC 157, on N-G-nitro-L-arginine methylester and
L-arginine efects on stomach mucosa integrity and
blood pressure. Eur. J. Pharmacol., 332(1): 23-33,
1997.
SIMES, C.M.O.; SCHENKEL E.P.; GOS-
MANN, G.; MELLO J.C.P.; MENTZ L.A.; PETRO-
WICK P.R.: Farmacognosia: da planta ao medica-
mento. 2. ed. Porto Alegre/Florianpolis: Ed. UFR-
GS, 2000. Cap. 35, p:755-788.
SINGH, V.K.; ALI, Z.A. Folk medicines in prima-
ry health care: common plants used for the treatment
of fevers in India. Fitoterapia, v.65, n.1, p.68-74, 1994.
SOS Mata Atlntica e Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Aeroespaciais). Atlas dos remanescentes
forestais da Mata Atlntica perodo 1995-2000:
relatrio fnal. So Paulo: 2002.
SOS Mata Atlntica; Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Aeroespaciais) e ISA (Instituto Socioambien-
tal). Atlas da evoluo dos remanescentes fores-
tais e ecossistemas associados no domnio da Mata
Atlntica no perodo 1990-1995. So Paulo: 1998.
SOUZA, V.C. e LORENZI, H. Botnica Siste-
mtica: guia ilustrado para identifcao das famlias
de angiospermas da fora brasileira, baseado em APG
II. Nova Odessa, SP: Plantarum, 2005.
SPOERKE JUNIOR, D.G.; SMOLINSKE, S.C.
Toxicity of houseplants. Boston: CRC Press, 1990.
STUMPF, P.K. ; CONN, E.E. Te biochemistry
of plants: a comprehensive treatise. New York: Aca-
demic Press, vol 7, Secondary Plant Products, 1981.
STEVENS, D.; BUCHAN, U. Enciclopdia del
jardn: planifcacin, plantacin, diseo. Barcelona:
Blume, 1997.
SVEDENSEN, A.B.; VERPOORTE, R. Chro-
matography of alkaloids. New York: Elsevier Scien-
tifc Publishing Company, 1983.
TAKGI, K.; OKBE, S.; SASIKI, R. A new
method for the production of chronic gastric ulcer in
rats and the efect of several drugs on its healing. Jap.
J. Pharmacol., 19:418-426, 1969.
TALBOT, S. M. e HUGHES, K. Suplementos
dietticos para profssionais de sade. Rio de Ja-
neiro: Guanabara Koogan, 2008.
TESKE, M.; TRENTINI, A.M.M. Compndio
de ftoterapia. 3. ed. Paran: Herbarium, 1997.
TISSOT-SQUALI, M.L. Introduo botnica
sistemtica. Iju, RS: Uniju, 2006.
TOKRNIA C.H.; DBEREINER J.; SILVA
M.F. Plantas txicas da Amaznia a bovinos e ou-
tros herbvoros. Manaus: Instituto Nacional de Pes-
quisa da Amazonia - INPA, 1979. 95p.
TYLER, V.E.; BRDY, L.R.; ROBBERS, J.E.
Pharmacognosy, 9. ed. Philadelphia: Lea & Febiger,
1988.
UNIVERSIDADE DE SO PAULO. Paisagem
e ambiente. So Paulo: USP/FAU, n.8, 1995.
USHIMARU, P.I.; SILVA, M.T.N.; DI STASI,
L.C.; BARBOSA, L.; FENANDEZ-JUNIOR, A. An-
tibacterial activity of medicinal plant extracts. Brazi-
lian J. Microbiology 38: 717-719, 2007.
VIEIR, L.S. Fitoterapia da Amaznia: manual
de plantas medicinais. 2. ed. So Paulo: Agronmica
Ceres, 1992. 347p.
VIERTLER, R.B. Mtodos antropolgicos como
ferramenta para estudos em etnobiologia e etnoeco-
logia. In: AMOROZO, M.C. et al. (ed.). Mtodos de
coleta e anlise de dados em etnobiologia, etnoe-
cologia e disciplinas correlatas. Rio Claro-SP: Un-
esp/CNPq, 2002. p.11-29.
WAGNER, H.; BLADT, S. Plant drug analysis: a
thin layer chromatography atlas. Berlim: Springer, 1996.
WAGNER, H.; WISENAUER, M. Fitoterapia:
ftofrmacos, farmacologia e aplicaes clnicas. 2. ed.
So Paulo: Pharmabooks, 2006.
WANDERDEY, M.G.L. (Coord.). Flora fanero-
gmica do estado de So Paulo. So Paulo: Fapesp/
Hucitec, v. 2., 2002.
WITAICENIS, A.; ROLDO, E.F.; SEIRO, L.N.;
ROCHA, N.P.; DI STASI, L.C. Pharmacological and
toxicological studies of Drimys angustifolia Miers.
(Winteraceae). Journal of Ethnopharmacology
111: 541-546, 2007.
YAMAMUR, I. Alimentos: aspectos energti-
cos. So Paulo: Centro de Estudos Marina e Martin
Harvey, 2001.
YOUNGKEN H.W. Tratado de farmacognosia.
Mxico, DF: Editorial Atlante, 1959.
YU, C.S.; FEI, L. Guia clnico de ervas e frmu-
las na medicina chinesa. So Paulo: Roca; 1996.
OBS.
Nos Captulos 2 - Historico das plantas medicinais
e Legislao e 9 - Horta medicinal comunitria e
Qualidade da gua encontram-se demais refern-
cias de legislao sobre os temas em pauta.
NA INTERNET:
htp://www.abnt.org.br
htp://www.abf.com.br
htp://www.abifsa.org.br
htp://www.agricultura.gov.br
htp://www.agricultura.sp.gov.br/
htt p: //www. ambi entebrasi l . com. br/com-
poser.php3?base=./agropecuario /index.
html&conteudo=agropecuario/plantas_toxicas/ca-
mara.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.
169
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./ges-
tao/artigos/rio92.html
htp://www.ambiente.sp.gov.br/destaque/2004/se-
tembro/25_plantas.htm
htp://www.anvisa.gov.br/legis/index.htm
http://www.anvisa.gov.br/alimentos/comissoes/
tecno.htm
http://www.anvisa.gov.br/alimentos/comissoes/
tecno_lista_alega.htm
http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anali/index.
htm
htp://www.arbolesornamentales.com/Bauhiniava-
riegata.jpg
htp://www.aultimaarcadenoe.com/fora4.htm
htp://www.biologico.sp.gov.br
htp://www.biota.org.br/info/index
ht t p: //www. bi ot a . or g. br /publ i /banco/
index?show+47436865
htp://www.bireme.br/php/index.php
htp://www.brasilrepublica.com/sudeste.htm
htp://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/informaco-
es.asp
htp://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legis-
lacao/estadual/resolucoes/2004_Res_SMA_48.pdf
htp://www.ciagri.usp.br/planmedi/planger.htm
http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final_no-
vo2.php?cod_servico=753
http://www.cpatsa.embrapa.br/catalogo/livrorg/
medicinaisconservacao.pdf
htp://www.cpqba.unicamp.br
htp://www.cf.org.br
htp://www.crfsp.org.br
htp://www.ctnbio.org.br
htp://www.cvs.saude.sp.gov.br
htp://www.cvs.saude.sp.gov.br/saiba_mais_agua.asp
http://www.daee.sp.gov.br/cgi-bin/Carrega.
exe?arq=/outorgaefscalizacao/index.htm
htp://www2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/meio_
ambiente/fauna_fora/viveiros/0002
htp://www.embrapa.br
http://www.esalq.usp.br/trilhas/medicina/mapa-
med.php
htt p: //www.estadao.com. br/estadaodeho-
je/20090331/not_imp347435,0.php
htp://www.fazendadocerrado.com.br
htp://www.fda.gov
htp://www.furp.sp.gov.br/
htp://www.focruz.br
htp://www.fi.no
htp://www.greenpeace.org.br
htp://www.hebron.com.br
h t t p : / / w w w . h e r b a r i o . c o m . b r /
dataherb10/1612pot19.htm
htp://www.iac.sp.gov.br/PAM/Especies/Espinhei-
raSanta.htm
htp://www.ial.sp.gov.br
htp://www.ibama.gov.br
htp://www.ibama.gov.br/legis
htp://www.ibot.sp.gov.br
htp://www.ibpm.org.br
htp://www.iclei.org/lacs
htp://www.iforestal.sp.gov.br
htp://www.imprensaofcial.com.br/PortalIO/DO/
BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2004/
executivo%20secao%20i/setembro/22/Pag_0026.
pdf&pagina=26&data=22/09/2004&caderno=Exec
utivo I
htp://www.infobibos.com/Artigos/2009_2/Biodi-
versidade/index.htm
htp://www.inmetro.gov.br
htp://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_No-
ticia=1834
htp://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/resumo-
desforestamento.pdf
htp://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do
htp://www.manualmerck.net/
http://www.mct.gov.br/index.php/content/
view/15172.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/
view/19340.html
http://www.mct.gov.br/index.php/content/
view/77746.html
htp://www.margao.pt/especiaria.php?id=49
http://www.metafro.be/prelude/prelude_pic/
Phyllanthus_niruri3.jpg
htp://www.merck.com/mmpe/index.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.
cfm?codlegitipo=3
htp://www.naturalnet.com.br/ervas-a.html
htp://www.nhm.ac.uk/jdsm/research-curation/re-
search/projects/linnaean-typifcation/index.dsml
http://www.nzenzeflowerspauwels.be/AgerCony.
jpg
htp://www.olina.com.br
htp://www.opas.org.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Decreto/D5440.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
d3607.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decre-
to/1990-1994/D98830.htm
htp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.
htm
170
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
htp://www.plantamed.com.br
htp://www.sabesp.com.br
htp://www.saude.gov.br
htp://www.saudenainternet.com.br/portal/saude_
inicio.php
htp://www.saudenainternet.com.br/doutormadru-
ga/respostas_14.shtml
htp://www.sbfgnosia.org.br
htp://www.sobrafto.com.br
htp://www.sosma.org.br
htp://www.sosma.org.br/index.php?section=proje
ct&action=listProjects
htp://www.sosma.org.br/index.php?section=conte
nt&action=contentDetails&idContent=392
htt p: //www. sosmatatl anti ca.org. br/i ndex.
php?section=info&action=agua
htp://www.sosmatatlantica.org.br/index.php?secti
on=info&action=unidades
htp://www.todafruta.com.br
htp://www.tropicos.org
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agen-
da21_18.shtml
htp://www.unesco.org/water/water_celebrations/
decades/water_for_life.pdf
htp://www.unesp.br/aci/clipping/310309i.php
http://www.unilavras.edu.br/pesquisa/farmacia_
verde_vida/index.html
htp://www.who.int
htp://www.wwf.org.br
htp://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.
php?id=108#
htp://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.
php?id=109
htp://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.
php?id=110
htp://especiais.jornalnacional.globo.com/jnespecial/
htp://jusvi.com/artigos/39937/2
http://noticias.ambientebrasil.com.br/noticia/
listar/?cat=88
h t t p : / / p i b. s o c i o a mb i e n t a l . o r g / p t /
noticias?id=64801
http://picasaweb.google.com/monitoriafito/Plan-
tasMedicinais#5223801783427634578
htp://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/meio_
ambiente/fauna_fora/viveiros/0002
htp://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/
vigilancia_saude/ambiental/0002
htp://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/vi-
gilancia_controle_qualidade_agua.pdf
htp://sanfern.iies.es/arboles2/bau1.jpg
#19
ANEXOS
173
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
#19
ANEXOS
174
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
FAMLIA E ESPCIES
Nome popular
ADOXACEAE (CAPRIFOLIACEAE)
Sambucus nigra
(1)
L.
Sabugueiro
ALISMATACEAE
Echinodorus grandiforus
(1)
(Cham. & Schltdl.)
Micheli
Chapu-de-couro
ALLIACEAE (LILIACEAE)
Allium cepa
(1,2)
L.
Cebola
Allium sativum
(1,2)
L.
Alho
AMARNTHACEAE (CHENOPODIACEAE)
Chenopodium ambrosioides
(1)
L.
Erva-de-santa-maria
ANACARDIACEAE
Schinus terebinthifolius Raddi
Arueira
APIACEAE
Coriandrum sativum
(1,2)
L.
Coentro
Hydrocotyle exigua (Urb.) Malme
Erva-terrestre
%
3,0
18,0
2,0
20,5
14,0
3,5
2,5
2,0
PU
F
Fl
F
F
Bb
C
Bb
Bb
Bb
Bb
Bb
Bb
Bb
F
F
F
F
F
F
Sem
Sem
F
F
F
PT
I
I
I
D
Mag
I
F
Mal
F
I
Mag
D
F
Mag
F
I
Mag
I
F
I
I
I
F
I
REC
FC
F
Cul
Cul
Esp
F
Cul
FFS
Usos medicinais
Febre, tosse
Dores musculares, gripe
Distrbios renais e hepticos, dor de cabea, de barriga, nas costas,
gripes, diabetes, sedativa, lombrigas (Ascaris lumbricoides)
Distrbios renais, analgsico (principalmente dor de cabea)
Bronquite
Emtico, contra parasitas intestinais
Comestvel como condimento
Gripe, hipertenso
Uso tpico para alvio da dor de cabea
Uso interno para gripe, tosse e hipertenso
Bronquite, principalmente para crianas
Enxaqueca
Comestvel como condimento
Uso interno ou externo como antiinfamatrio
Folhas trituradas para uso tpico em edemas
Uso interno para reumatismo, bronquite, parasitas intestinais, febre,
citica e uso externo para doenas da pele
Cicatrizante, analgsica e contra coceiras
Internamente contra reumatismo
Cicatrizante e contra gengivite
Clica menstrual, hipertenso
Dor de garganta
Dor de cabea, enxaqueca
Condimento
Tosse, bronquite
19. ANEXOS DA PUBLICAO DO CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS
ANEXO A:
Lista de espcies medicinais da Mata Atlntica. Ver item 1.3 - Plantas Medicinais na Mata Atlntica
Prof. Dr. Luiz Claudio Di Stasi et al.
175
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Petroselium crispum
(1,2)
(Mill.) Fuss
Salsa
Pimpinela anisum
(1,2)
L.
Erva-doce
ARECACEAE
Euterpe edulis
(2)
Mart.
Palmiteiro
ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia sp.
Milomem
ASPHODELACEAE (LILIACEAE)
Aloe vera
(1)
(L.) Burm.f.
Babosa
ASTERCEAE
Acanthospermum australe
(1)
(Loef.) Kuntze
Carrapicho
Achillea millefolium
(1)
L.
Novalgina
Ageratum conyzoides
(1)
L.
Mentrasto
Artemisia absinthium
(1)
L.
Losna
Artemisia sp.
Lorde
2,0
39,0
6,0
2,0
6,0
8,0
26,0
9,0
16,0
4,0
F
R
F
F
Sem
Sem
Sem
Est
Est
F
F
F
F
F
F
F
F
R
R
PT
F
F
F
F
I
I
F
I
I
D
F
S
F
D
I
S
Mag
F
D
I
D
I
B
I
I
B
Mag
I
Cul
Cul
F
F
Cul
Esp
Cul
Esp
Cul
Esp
Depurativa
Distrbios renais
Condimento
Expulso de vermes intestinais, sedativa, gripes, febre, dor de barriga,
constipao, tosse, diarria, clica uterina
Insnia, febre, dor de barriga e os mesmos usos que a infuso de folhas
Txico para o sistema nervoso central (citados efeitos colaterais)
Mastigar as sementes para dor de dente
Uso interno contra dor de barriga, hemorragias e externamente contra
picada de cobra
Aps processo industrial utilizado na alimentao
Distrbios estomacais e hepticos, principalmente contra nusea e
vmito
Dor de barriga, constipao, gripes, tosse, parasitas intestinais
Antiinfamatrio, cicatrizante, analgsico (principalmente dor de ca-
bea)
lcera
Uso tpico contra edemas, dores em geral, infeces
Antiinfamatrio (uso interno e externo)
Febre, dor de cabea, dores em geral, distrbios estomacais, gripe
Dores em geral, febre, distrbios estomacais
Analgsico (interno), antireumtica, contra clicas menstruais
Anti-sptica, contra infeces da pele
Amenorrica, dores em geral, distrbios hepticos
Analgsica (principalmente dor de barriga e de cabea), Antiemtica,
contra nusea, distrbios estomacais e hepticos, parasitas intestinais
Elimina piolho
lceras, distrbios hepticos, gripe
Uso interno para amenorria
176
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
FFS
F
Esp
Esp
Cul
Cul
FC
Esp
Cul
Cul
Analgsica, diurtica, contra distrbios renal, intestinal e estomacal,
hipertenso e diabetes
Uso externo contra edemas
Uso externo contra edemas
Obesidade e para desintoxicao do corpo
Analgsica, diurtica, antiinfamatria, antipirtica
Diurtica, emagrecedor, contra distrbios estomacais, hepticos e
renais, derrame cerebral
Analgsica
Uso externo contra edemas, febre
Uso externo contra edemas, febre
Uso externo contra reumatismo
Antiinfamatria, contra distrbios estomacais
Hepatite
Hepatite
Hepatite
Diarria, distrbios intestinais, dor de barriga
Infeces em geral, dor de barriga, distrbios renais e depurativa
Sedativa para crianas (insnia)
Uso interno contra tosse, clica renal, diarria, nusea, erupes da
pele, febre, gripe, dor de cabea, dor de barriga, constipao, sedativa e
expulso de vermes intestinais. Uso externo para infeces nos olhos
Sedativa para crianas, distrbios estomacais, parasitas intestinais
Nusea, vmito, dor de barriga (uso interno), doenas de pele (uso
externo)
Tosse, bronquite
Uso externo contra dores musculares, infeces
Sedativo, distrbios digestivos (uso interno)
Para regular a menstruao
Distrbios estomacais-hepticos
Dor de barriga, nuseas, gastrite, m digesto
I
B
D
I
I
D
D
I
B
B
Mag
B
I
I
I
I
I
I
I
I
X
Mal
D
D
I
Mag
F
F
F
R
F
PA
F
F
F
R
F
F
F
PT
PA
Fr
F
F
Sem
F
F
PT
PT
Fl
F
F
33,0
4,0
9,0
2,0
2,5
46,0
38,0
11,0
0,5
29,0
Baccharis trimera
(1)
(Less.) DC.
Carqueja
Baccharis
(4)
sp.
Vassoura-rainha
Bidens pilosa
(1)
L.
Pico
Gnaphalium purpureum L.
Macela
Lactuca sativa
(2)
L.
Alface
Matricaria chamomilla
(1)
L.
Camomila
Mikania glomerata
(1)
Spreng.
Guaco
Solidago microglossa DC.
Arnica
Tagetes erecta L.
Cravo (cravo-de-defunto)
Vernonia
(1)
sp.
Boldo
177
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
F
F
Cul
Cul
Cul
Cul
Cul
F
F
Cul
Infeces em geral
Uso interno contra sflis, como depurativo
Diabetes, distrbios hepticos
Cicatrizante, lceras (uso externo)
Bronquite, febre em crianas
Distrbios hepticos, estomacais, infamaes, dor de barriga
Cicatrizante (uso externo)
Diurtico, contra anemia
Uso interno contra infamaes
Uso tpico das sementes trituradas contra infamao
Comestvel como salada
Tosse, gripe, bronquite
Distrbios da tireide, bronquite, anemia
Gripe, bronquite
Distrbios da tireide, bronquite, anemia
Comestvel como salada
Gripe, tosse, coqueluche
Gripe, tosse, coqueluche
Comestvel
Dor de barriga
Dor de barriga, dor nas costas, citico, lcera
Cicatrizante (uso externo)
Gargarejo da infuso para infeces na boca, gengivite, dor de dente
B
I
I
Mag
D
D
Mal
Mal
Mag
F
F
X
D
I
D
F
I
X
F
I
I
I
I
F
F
F
F
Sem
F
F
R
Sem
Sem
F
F
F
PA
Est
F
Fl
Fl
Fr
F
F
F
F
9,0
10,5
5,5
5,0
1,0
12,0
9,0
1,0
3,0
1,5
BIGNONIACEAE
Jacaranda caroba
(3)
(Vell.) DC.
Caroba
Jacaranda sp.
Carobinha
BIXACEAE
Bixa orellana
(1,3)
L.
Urucum
BORGINACEAE
Symphytum ofcinale
(1)
L.
Confrei
BRSSICACEAE
Brassica nigra
(2)
(L.) W.D.J.Koch
Mostarda
Nasturtium ofcinale
(2)
R.Br.
Agrio
CARICACEAE
Carica papaya
(2)
L.
Mamo
CELASTRCEAE
Maytenus aquifolium
(4)
Mart.
Espinheira-santa
Maytenus ilicifolia
(1)
Mart. ex Reissek
Espinheira-santa
CONVOLVULACEAE
Ipomoea batatas
(2)
(L.) Lam..
Batata-doce
178
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
F
Cul
Cul
FFS
Cul
Cul
Cul
FC
F
FS
Hipertenso, como diurtico
Diarria
Hepatite, dor de barriga
Queimaduras
Sementes trituradas contra parasitas intestinais
Comestvel
Rinite
Distrbios hepticos, como emagrecedor
Hipertenso, como sedativo
Comestvel
lcera, gastrite
lcera, gastrite
Depurativa
Bronquite, principalmente em crianas
Tosse, bronquite
Bronquite, asma, como estimulante do apetite
Tnico para criana
Comestvel
Bronquite, principalmente para crianas
Tosse, bronquite
Dor de barriga, gripe, febre, infeces em geral, distrbios hepticos,
estomacais, como diurtico
Diurtico, contra infeces em geral
Analgsico (principalmente contra dor de cabea e de barriga), contra
diarria
Diarria, parasitas intestinais, distrbios hepticos
Uso tpico contra conjuntivite
I
D
I
Mag
F
F
Mal
I
D
F
D
D
D
I
X
Mal
I
F
I
X
I
Mal
I
D
Mag
F
F
Est
Fr
Sem
Fr
Fr
PA
B
Fr
F
R
Est
F
C
F
C
Fr
F
C
R
R
F
F
F
15,0
1,5
3,0
3,5
1,5
14,0
1,0
2,0
5,0
11,0
COSTACEAE (ZINGIBERCEAE)
Costus arabicus
(1)
L.
Cana-do-brejo
CUCURBITACEAE
Cucurbita maxima
(2)
Duchesne ex Lam.
Abbora
Lufa cylindrica M. Roem.
Buchinha
Momordica charantia L.
Melo-de-so-caetano
Sechium edule
(2)
(Jacq.) Sw.
Chuchu
Wibrandia ebracteata
(4)
Cogn.
Taiui
DIOSCOREACEAE
Dioscorea alata L.
Inhame
FABACEAE/CAESALPINIOIDEAE
Hymenaea courbaril
(1,2)
L.
Jatob
Hymenaea sp.
Juta
Senna occidentalis
(1)
(L.) Link
Fedegoso
179
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
F
F
Cul
F
F
F
FS
Esp
Esp
Cul
Cul
Diurtico, hipoglicmico, contra hipertenso, dores nas costas
Diurtico, hipoglicmico, contra hipertenso, dores nas costas
Reumatismo
Dor de barriga, diarria (uso tpico)
Tosse, gripe, dor de barriga, diarria (uso interno)
Constipao
Distrbios hepticos e estomacais
Antiinfamatria, cicatrizante (uso externo)
lcera, dor de barriga
Dores em geral, gripe, reumatismo, clicas menstruais
Uso externo contra infeces em geral
Para regular a menstruao (amenorria)
Analgsica
Uso interno contra gripe, reumatismo, hipotenso, distrbios estoma-
cais, dores em geral, uso externo na cicatrizao
Dor de garganta
Uso externo contra dores musculares, reumatismo, uso interno contra
gripe, tosse
Sedativa para crianas, contra distrbios estomacais, gripe, tosse, hi-
pertenso
Cicatrizao (uso externo)
Gripe, tosse
Cicatrizao (uso externo)
Uso tpico como analgsico
Contra parasitas intestinais, diarria, bronquite, dor de barriga, tosse,
como sedativa
Estimulante de apetite para crianas
Para expulso de parasitas intestinais
I
D
Mal
B
D
I
I
Mag
D
I
B
I
D
I
Mag
I
I
B
D
S
Mag
I
F
D
F
F
Sem
F
F
F
F
C
F
R
R
PT
F
F
F
F
F
F
R
F
F
F
F
Sem
17,5
2,0
3,0
1,5
10,5
4,5
6,0
11,0
1,0
3,0
41,2
FABACEAE/CERCIDEAE
Bauhinia forfcata
(1)
Link.
Pata-de-vaca
FABACEAE/FABOIDEAE
Bowdichia sp.
Sucupira
Cajanus cf. cajan (L.) Millsp.
Guandu
Cymbosema roseum Benth.
Flor-da-terra
Myrocarpus fondosus Allemo
Cabreva
Zollernia ilicifolia
(4)
(Brongn.) Vogel
Espinheira-santa
LAMIACEAE
Hyptis crenata Pohl. ex Benth.
Mentrasto
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
Rubim
Leucas martinicensis (Jacq.) R.Br.
Cordo-de-frade
Melissa ofcinalis
(1)
L.
Melissa
Mentha x piperita
(1,2)
L.
Hortel
180
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Cul
Cul
Cul
Cul
Cul
Cul
Cul
Cul
Cul
F
Comestvel como condimento
Para expulso de parasitas intestinais (principalmente Ascaris lumbri-
coides, Entamoeba hystolitica e Giardia lamblia), clculo renal, febre,
gripe, bronquite, dor de barriga
Gripe, tosse
Abortivo
Gripe
Para expulso de parasitas intestinais (principalmente Ascaris lumbri-
coides), como analgsico
Tosse, bronquite
Tosse, bronquite
Comestvel como condimento
Infeces em geral, tosse, bronquite
Constipao
Comestvel como condimento
Uso tpico contra micoses
Bronquite, tosse
Diarria, distrbios estomacais, dor de cabea, como sedativo para
crianas
Tosse, dor de cabea
Tosse, dor de cabea
Comestvel como condimento
Tosse, bronquite
Comestvel como condimento
Distrbios renais, como diurtico
Sedativo para crianas, analgsico, contra constipao, hipertenso
Abortivo
Comestvel como condimento
Distrbios intestinais, hepticos, dor de barriga, dor de cabea, como
emtica e abortiva
Abortiva, contra constipao, dor de barriga
Diurtica, antipirtica, analgsica (principalmente dor de barriga),
clculo renal
Diurtica, antipirtica, analgsica (principalmente dor de barriga),
clculo renal
Dores em geral, febre
F
I
X
D
I
I
X
I
F
I
D
F
B
X
D
X
X
F
X
F
I
I
D
F
I
D
D
I
D
F
F
F
F
R
F
F
F
F
F
F
F
F
F
R
R
F
F
F
F
R
PA
F
F
F
F
F
F
C
24,0
1,0
16,5
3,5
23,0
2,0
10,5
11,0
14,0
8,0
Mentha pulegium
(1)
L.
Poejo
Mentha spicata
(1)
L.
Hortel-preta
Ocimum basilicum
(1,2)
L.
Alfavaco
Ocimum campechianum
(1,2)
Mill.
Manjerico
Ocimum gratissimum
(1,2)
L.
Alfavaca
Origanum vulgare
(1,2)
L.
Manjerona
Rosmarinus ofcinalis
(1,2)
L.
Alecrim
LAURCEAE
Laurus nobilis
(2)
L.
Louro
Persea americana
(2)
Mill.
Abacate
LOGANIACEAE
Strychnos triplinervia
(1)
Mart.
Quina-cruzeiro
181
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Cul
Cul
Cul
F
F
F
Cul
Cul
Cul
Esp
FFS
Dor de barriga
Antiinfamatria e contra diarria
Diarria
Dores musculares, dor de cabea
Dores musculares, dor de cabea
Cicatrizante
Distrbios intestinais, febre
Uso externo contra reumatismo
Uso externo contra infamao
Dor de barriga
Tosse, asma
Bronquite
Inalao com o vapor para bronquite, sinusite, gripe
Dor de barriga, gripe, febre, hipertenso, como diurtico
Coceira, sarna
Diarria
Dor de barriga
Diarria
Uso externo contra hemorrida, doenas de pele, edema, uso interno
contra diarria
Comestvel
Antiinfamatria cicatrizante (uso externo)
Em gargarejo como anti-sptico bucal, uso externo como antiinfama-
trio
I
B
D
B
B
Mal
D
D
D
I
Mag
X
D
I
B
I
I
D
I
F
D
I
F
C
Fr
PA
Fl
F
F
F
C
F
B
B
F
F
F
Bb
F
B
Fr
Fr
F
F
7,5
1,5
4,5
1,0
5,0
2,0
12,5
4,0
7,0
24,0
12,0
LYTHRCEAE (PUNICACEAE)
Punica granatum L.
Rom
MALVACEAE
Gossypium barbadense
(3)
L.
Algodo
Malva parvifora L.
Malva
Sida sp.
Capi
MENISPERMACEAE
Cissampelos
(1)
sp.
Abutua
MORCEAE
Sorocea ilicifolia
(4)
Miq.
Espinheira-santa
MUSACEAE
Musa acuminata
(2)
Colla
Banana
MYRTACEAE
Eucalyptus globulus
(3)
Labil.
Eucalipto
Eugenia sp.
Pitanga
Psidium guajava
(2)
L.
Goiaba
Psidium cf. guineense Sw.
Ara
182
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Cul
FFS
Cul
F
Cul
Esp
FC
F
F
F
FC
F
Syzygium jambos (L.) Alston
Jambo
NYCTAGINACEAE
Boerhavia difusa L.
Erva-tosto
OXALIDACEAE
Averrhoa carambola
(2)
L.
Carambola
PAPAVERCEAE (FUMARIACEAE)
Fumaria sp.
Fel-da-terra
PASSIFLORCEAE
Passifora coccinea
(2)
Aubl.
Maracuj
PHYLLANTHACEAE (EUPHORBIACEAE)
Phyllanthus tenellus
(1)
Roxb.
Quebra-pedra
PIPERCEAE
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth
Salva-vida
Piper cernuum
(1)
Vell.
Pariparoba
Piper gaudichaudianum
(4)
Kunth
Jaborandi
Piper cf.lhotzkyanum Kunth
Apeparuo
Piper regnelli
(4)
(Miq.) C.DC.
Pariparoba
Pothomorphe umbellata
(1)
(L.) Miq.
Caapeba
1,0
8,0
2,0
1,0
3,0
16,5
7,0
22,0
26,5
18,5
10,5
22,0
F
F
PT
F
Fr
Fr
PT
PT
F
F
Fr
Fr
PA
PT
F
F
F
F
F
R
F
F
R
F
F
F
F
F
I
I
I
I
S
F
B
I
I
Mag
S
F
I
I
I
I
D
I
D
F
I
F
F
I
I
D
I
Mag
Diabetes
Parasitas intestinais, principalmente Ascaris lumbricoides
Hepatite, diarria
Diabetes, hipertenso, distrbios renais
Utilizado como agente refrescante
Comestvel
Uso tpico para hemorrida
Uso interno contra distrbios estomacais
Uso interno como sedativo
Para aliviar os sintomas da asma
Sedativo
Comestvel e utilizado como agente refrescante
Para expulso de clculos renais, contra diarria
Diurtica, contra dor de barriga
Para expulso de clculos renais, distrbios hepticos
Sedativo, contra dor de barriga
Facilita a digesto, contra hipertenso, distrbios estomacais, gripe,
gastrite
Analgsica (principalmente dor de barriga), contra hepatite, distrbios
renais
Uso tpico para aliviar dores musculares
Analgsica, contra clicas abdominais
Para dor de dente
Para dor de dente
Uso interno como antiinfamatrio, contra distrbios hepticos
Distrbios, hepticos, renais e estomacais
Analgsico, antiinfamatria
Distrbios hepticos, nusea
Uso tpico para aliviar dores musculares
Distrbios hepticos
183
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Esp
Cul
Cul
FS
Esp
F
Cul
Cul
PLANTAGINACEAE
Plantago sp.
Tanchagem
POACEAE
Cymbopogon citratus
(1)
(DC.) Stapf
Capim-sidrol (limo)
Saccharum ofcinarum
(2,3)
L.
Cana-de-acar
POLYGONACEAE
Polygonum hydropiperoides Michx.
Erva-de-bicho
PORTULACACEAE
Portulaca oleracea L.
Verduega
PTERIDACEAE
Adiantum sp.
Avenca
ROSACEAE
Prunus domestica L.
Ameixa
RUBIACEAE
Cofea arabica
(2)
L.
Caf
X
I
S
D
I
D
D
I
I
B
I
S
F
I
X
D
B
I
S
I
D
D
D
I
I
D
I
F
F
F
F
R
F
R
B
F
F
F
F
F
F
F
F
F
C
Sem
Fr
F
Fr
C
F
Fr
Fr
Fr
11,0
35,5
3,0
8,0
6,0
4,0
3,5
2,5
Gargarejo para infamaes na boca
Sedativa, contra diarria, gripe, dor de cabea, dores musculares, reu-
matismo, febre, hipertenso, dores em geral
Como agente refrescante, sedativa
Gripe, reumatismo
Antidiurtico
Diurtica, contra hipertenso
Distrbios renais, parasitas intestinais
Diurtica e contra parasitas intestinais
Hipertenso
Para eliminar piolho, contra coceiras, hemorridas
Uso interno como anti-hemorrgica
lceras, dor de barriga
Mastigar a folha para lceras, dor de barriga
Gripe, tosse
Coqueluche
Dores em geral (principalmente dor de cabea)
Antiinfamatria
Dor de barriga, diarria
Usada para lavar os olhos nas irritaes
Distrbios hepticos, dor de barriga
Diarria
Diarria
Diarria
Abortiva, contra diabetes, dor de cabea
Abortiva
Estimulante
Beber depois de secar os frutos e moer (at virar p)
184
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Cul
Cul
Esp
Cul
Cul
FS
Cul
F
F
Esp
RUTACEAE
Citrus limonum
(2)
Risso
Limo
Ruta graveolens
(1,2)
L.
Arruda
SMILACACEAE (LILIACEAE)
Smilax sp.
Sarsa-parreira
SOLANACEAE
Solanum granuloso-leprosum
(3)
Dunal
Fumo-bravo
Solanum lycopersicum
(2)
L.
Tomate
Solanum paniculatum L.
Jurubeba
Solanum tuberosum
(2)
L.
Batata
URTICACEAE
Parietaria sp.
Paretria
Cecropia peltata
(1)
L.
Embaba
VERBENACEAE
Lippia alba
(1)
(Mill.) N.E.Br
Erva-cidreira
8,5
6,0
6,0
3,0
1,0
2,0
1,0
1,5
19,0
29,5
Fr
Fr
C
F
C
Fr
F
F
F
F
F
F
R
PT
F
Fr
Fr
F
F
F
F
R
F
B
F
R
F
F
S
I
X
I
I
S
I
Mag
X
D
B
I
I
F
Mag
F
F
D
I
I
B
B
D
X
I
I
B
X
Gripe
Gripe
Gripe
Diarria, gripe
gripe
Como agente refrescante
Clicas menstruais, diarria, dor de cabea, febre
Uso tpico contra dor de cabea, enxaqueca
Tosse
Abortiva
Uso externo contra dores em geral
Diurtica
Diurtica
Cicatrizao (uso externo)
Uso tpico contra queimaduras
Distrbios da prstata
Comestvel como salada
Parasitas intestinais, distrbios estomacais
Distrbios estomacais
Distrbios renais
Uso tpico contra infeces em geral
Uso tpico contra infeces em geral
Tosse, bronquite, gripe
Tosse
Sedativa, contra hipertenso, clica estomacal, nusea, gripe
Gripe, tosse
Cicatrizante (uso externo)
Tosse, bronquite
185
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
7,5
2,0
2,5
12,0
Stachytarpheta polyura Schauer
Gervo
Verbena sp.
Verbena
VIOLACEAE
Anchietea salutaris A. St.-Hil.
Cip-suma
ZINGIBERCEAE
Zingiber ofcinale
(1,2)
Roscoe
Gengibre
Tosse, bronquite
Distrbios hepticos
Dor de barriga, constipao
Uso externo contra sarna, coceira, uso interno contra asma
Uso externo contra sarna, coceira, uso interno contra asma
Dor de barriga
Tosse, gripe
X
I
I
I
D
X
D
FS
F
F
Cul
R
F
R
F
PA
R
R
Tabela 1 - Plantas Medicinais utilizadas na
regio da Mata Atlntica, So Paulo, Brasil
Legendas:
%=porcentagem relativa entre 200 informantes
que citaram a planta;
PU=PARTE DA PLANTA UTILIZADA:
B=broto, Bb=bulbo, Fl=Flor, Fr=fruto, F=folha,
R=raiz, Sem=sementes, Est=estipe(caule),
C=casca, PA=parte area, PT=planta toda;
PT=PREPARO TRDICIONAL:
B=banho, D=decoco, F=fresco, I=infuso,
S=suco, Mal=macerado em lcool, Mag=macerado
em gua, IC=infuso do colmo, X=xarope;
REC=RECURSO: F=foresta, Cul=cultivo,
FC=Floresta e cultivo, Esp=espontnea no
jardim e em formao secundria, FS=formao
secundria, FFS=foresta e formao secundria;
(1)=economicamente explorada como
planta medicinal, (2) economicamente
explorada como alimento, (3) economicamente
explorada na forma crua para outros usos,
(4)=economicamente explorada como
adulterao outra planta medicinal;
L.C. Di Stasi et al. / Fitoterapia 73 (2002) 74 -
87, publicada pela Elsevier Science B.V.
A Tabela acima foi traduzida por Helen Elisa
C. R. Bevilacqua e revisada por Sumiko Honda
com autorizao do autor.
A responsabilidade da identifcao das
plantas do Herbrio BOTU, do Departamento
de Botnica do Instituto de Biocincias de
Botucatu, UNESP-SP. O Herbrio Municipal de
So Paulo realizou a reviso da grafa dos nomes
cientfcos e a atualizao da nomenclatura
conforme a identifcao original, adequando
tambm ao sistema baseado em APGII.
186
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
ANEXO B:
ALGUMAS PLANTAS MEDICINAIS
CITADAS NESTE TRBALHO
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Prof. Dr. Luis Carlos Marques
Profa. Dra. Nilsa Sumie Yamashita Wadt
Sumiko Honda
As fchas das plantas medicinais deste Anexo
compilam informaes encontradas em literatura,
apresentando aquelas de consenso.
As plantas esto relacionadas em ordem alfabti-
ca pelo nome popular freqentemente utilizado em
So Paulo. Os demais nomes populares conhecidos
tambm so listados.
Para as plantas que podem ser encontradas sob
diferentes nomes cientfcos na literatura, apresen-
tada a sinonmia mais freqente.
As famlias botnicas seguem a classifcao se-
gundo o APG II (Angiosperm Phylogeny Group II),
baseada em estudos flogenticos at o nvel molecu-
lar. Comparado aos sistemas de classifcao anterio-
res, como o de Cronquist, neste sistema algumas fa-
mlias botnicas desapareceram (como Chenopodia-
ceae e Flacourtiaceae) e outras foram criadas (como
Asphodelaceae e Siparunaceae).
Para um gnero que, na reclassifcao, foi trans-
ferido de uma famlia botnica para outra (em que
fca melhor posicionado), sem que a famlia qual
pertencia tenha sido extinta, apresentada tambm
esta famlia, precedida de anteriormente. Caso o g-
nero tenha pertencido a uma famlia botnica que foi
extinta (porque todos os seus gneros foram reposi-
cionados em outra), essa famlia extinta ser apresen-
tada precedida de antiga.
Neste anexo so apresentadas algumas plantas
cujas aes ainda no esto comprovadas cientifca-
mente, mas que so tradicionalmente conhecidas e
utilizadas. Outras foram apresentadas como exem-
plos de casos de confuso, devido semelhana em
seus nomes populares.
Quando a planta foi pesquisada pelo Programa de
Pesquisas de Plantas Medicinais da Central de Medi-
camentos (PPPM-CEME), com resultados divulga-
dos em 2006, atravs do Ministrio da Sade (MS),
na publicao A Fitoterapia no SUS e o Programa de
Pesquisas de Plantas Medicinais da Central de Medi-
camentos, feita meno como PPPM-Ceme.
Por ser importante, enfatizado que o uso de
plantas medicinais ou de ftoterpicos para sinto-
mas leves usual e pode ser feito com o conheci-
mento tradicional familiar. Mesmo assim, os usu-
rios/pacientes devem fcar alertas para a piora dos
sintomas ou sua repetio, que podem ser indicati-
vos de doenas mais graves que exigem diagnstico,
tratamento e acompanhamento por um profssional
da sade qualifcado. Evitar o consumo em excesso
e por longos perodos. No caso de reaes alrgi-
cas/hipersensibilidade, interromper o tratamento e
procurar pronto atendimento.
1) ALECRIM - Rosmarinus ofcinalis L.
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
Planta subarbustiva e lenhosa, originria da regio Me-
diterrnea da Europa, cultivada em hortas e jardins do
Brasil. Possui folhas aromticas, lineares, coriceas, de
aproximadamente 3 cm de comprimento e produz pe-
quenas fores azul-rosadas ou branca - azuladas.
Famlia botnica: Lamiaceae (Labiatae)
Nomes populares: rosmarino, alecrim-comum,
alecrim-de-casa, alecrim-de-cheiro, alecrim-de-horta,
alecrim-de-jardim, alecrim-rosmarinho, erva-cooada,
erva-da-graa, for-de-olimpo, rosa-marinha, herba
rosmarinii, rosmarin.
Parte usada: folhas.
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(cineol, alfa-pineno, borneol e cnfora), diterpeno
(rosmaricina), taninos, colina, saponina cida, cidos
orgnicos e favonides.
Algumas propriedades: diversos usos, tais como car-
minativo, espasmoltico, rubefasciente e antimicrobia-
no (uso externo).
Culinria: temperos e molhos.
Infuso (ch): aparelho digestivo (gases, m diges-
to), anti-sptico.
Fitocosmtico: tnico capilar (loo capilar, xampu);
leo (cabelo e pele).
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: usar
com cautela e sob orientao mdica. No indicado
em altas doses por via oral, pois abortivo; provoca
irritaes gastrintestinais, podendo causar gastrite, gas-
trenterite, nefrite e demais complicaes. O seu uso du-
rante a noite pode alterar o sono. fotossensibilizante e
a sua essncia pode ainda ser irritante para a pele.
Contra-indicao: diabetes, hipertenso, hipertrofa
da prstata, doenas infamatrias da pele, indivduos
com diarria, gestantes, lactantes e crianas.
187
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: de-
vido toxicidade por via oral, o seu uso indicado
apenas por via tpica (uso externo). Contra-indicado
para gestantes e lactantes.
4) - ARNICA - Arnica montana L.
A verdadeira arnica originria de regies montanho-
sas do norte da Europa e raramente cultivada no Bra-
sil. uma planta herbcea de 20 a 60 cm de altura, com
as folhas basais dispostas em roseta e fores amarelas
reunidas em captulos isolados sobre um caule foral
ereto.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: arnica-da-montanha e arnica-ver-
dadeira.
Partes usadas: principalmente os captulos (infores-
cncias).
Principais componentes qumicos: leos essenciais,
lcoois terpnicos incluindo lactonas sesquiterpni-
cas, taninos, cidos fenlicos, favonides e outros.
2) ALFAVACO - Ocimum gratissimum L.
Arbusto de folhas lanceoladas, de aproximadamente 8
cm de comprimento, speras, com margens serreadas e
aroma de cravo-da-ndia. Flores rseas ou amarelo-esver-
deadas, dispostas em racemo (cacho). Originria da sia,
tornou-se subespontnea no Brasil. confundida com
outras espcies igualmente populares, muito apreciadas
e utilizadas no Brasil e popularmente denominadas de
manjerico, alfavaca, alfavaca-cheirosa ou baslico, dentre
outros nomes (Ocimum basilicum, Ocimum selloi, etc.).
Famlia botnica: Lamiaceae (Labiatae)
Nomes populares: alfavaca, alfavaca-cravo, manjerico-
cheiroso, etc.
Partes usadas: planta inteira, folhas.
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(eugenol, cineol, cariofleno e ocimeno).
Algumas propriedades: infuso (ch): digestivo esto-
macal (azia), intestinal (gases, clicas).
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: fotos-
sensibilizante devido ao leo essencial e seu uso no
indicado em gestantes, lactantes e crianas.
3) ARNICA-DO-MATO - Porophyllum ruderale
(Jacq.) Cass.
Nativa, uma erva anual bastante ramifcada, com
at 1,20 m de altura. Possui folhas membranceas,
elpticas, de cor cinza-azulada, aromticas e com
margens crenadas.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: arnica-paulista, arnica, couve-
marinho, couvinha, erva-fresca, couve-cravinho, cra-
vorana, cravo-de-urubu no Nordeste, etc.
Partes usadas: folhas, a planta toda.
Principais componentes qumicos: favonides, ta-
ninos e alcalides.
Algumas propriedades: somente para uso externo
(via tpica): compressas e tinturas para traumatis-
mos, contuses (hematomas, reumatismos), picadas
de insetos; h alguma pesquisa preliminar sobre efei-
to em Leishmaniose cutnea.
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
F
o
n
t
e
:
L
O
R
E
N
Z
I
,
H
.
;
M
A
T
O
S
F
.
J
.
A
.
P
l
a
n
t
a
s
m
e
d
i
c
i
n
a
i
s
n
o
B
r
a
s
i
l
:
n
a
t
i
v
a
s
e
e
x
t
i
c
a
s
.
2
.
e
d
.
N
o
v
a
O
d
e
s
s
a
,
S
P
:
P
l
a
n
t
a
r
u
m
,
2
0
0
8
.
p
.
1
5
7
.
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
188
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Nomes populares: aloe, babosa-grande, babosa-medici-
nal, erva-de-azebre, caraguat, ale-do-cabo, ales.
Originria de regies de climas quentes e ridos, prova-
velmente da frica, cresce espontaneamente em vrias
regies do Brasil. Possui caule curto e fores amarelas.
Aloe arborescens Mill.
Nomes populares: ale, babosa.
De folhas menores que a Aloe vera, esta espcie desenvol-
ve, conforme o crescimento, um caule cilndrico, coroado
pelas folhas. Produz fores vermelhas.
Algumas propriedades: agente tpico de propriedades
antiinfamatrias, analgsicas, anti-spticas e cicatrizantes.
Uso externo (tpico), somente em pele ntegra e sadia,
na forma de compressa (com infuso ou tintura diluda
em gua), gel e creme, para leses secundrias a contu-
ses, traumatismos, entorses, hematomas, distenses
musculares e dores reumticas. Utilizada tambm na f-
tocosmtica (xampu e loes capilares).
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: usar ape-
nas topicamente devido toxicidade por via oral. Deve
ser descartada a possibilidade de fraturas, luxaes ou
rupturas musculares. Usar apenas em pele ntegra e sa-
dia. Com o uso prolongado podem ocorrer dermatoses
edematosas e eczema e, em indivduos sensibilizados,
dermatite de contato. Contra-indicado para gestantes e
lactantes. O uso interno provoca nuseas, vmitos, dor
estomacal, clicas, arritmias cardacas, agitao, convul-
so, podendo evoluir ao coma e cncer heptico.
5) ARRUDA - Ruta graveolens L.
F
o
t
o
:
M
a
r
i
a
d
e
L
o
u
r
d
e
s
d
a
C
o
s
t
a
2
0
0
9
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
de que protege as pessoas do mau olhado e as defende
contra doenas.
um subarbusto perene, de caule lenhoso na parte in-
ferior. Tem folhas pinadas, com fololos elpticos verde-
azulados e fortemente aromticos.
Famlia botnica: Rutaceae
Nomes populares: arruda-comum, arruda-domstica,
arruda-fedorenta, ruta, ruta-de-cheiro-forte, arruda-dos-
jardins, erva-arruda, etc.
Parte usada: toda a planta.
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(metilcetonas), glicosdeos favonides, rutina, derivados
cumarnicos, saponina, alcalides.
Algumas propriedades: o sumo obtido por expresso
das folhas, em compressas e cataplasma, tem ao analg-
sica, antiinfamatria e em reumatismos.
Um preparado das folhas cozidas pode ser pulverizado
em plantas como repelente de insetos, como os pulges.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: devido
sua alta toxicidade, informaes tcnicas recentes desacon-
selham totalmente o uso da arruda na medicina caseira para
uso interno (ch). Sua ingesto pode causar hemorragias
graves e levar morte. considerada abortiva por conter
princpios ativos que so txicos, em especial sobre o tero.
Mesmo por via tpica, usar com cautela e sob orientao
por ser fotossensibilizante, podendo causar queimaduras
na pele quando exposta ao sol. O uso no indicado em
gestantes, lactantes, crianas e pessoas com pele sensvel.
6) - BABOSA/ LOE Aloe spp.
Plantas herbceas de folhas alongadas, grossas e suculen-
tas, margeadas por espinhos e dispostas em roseta no caule.
Quando as folhas so feridas, escoa um lquido viscoso, ama-
relado, malcheiroso e amargo (compostos antraquinnicos).
Famliabotnica: Asphodelaceae (anteriormente, Liliaceae)
Aloe vera ( L.) Burm f. (sin.: Aloe barbadensis Mill.).
Originria do sul da Europa (Itlia e Blcs), cultivada
no Brasil como planta medicinal e pela crena popular
189
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
L
O
R
E
N
Z
I
, H
.;
M
A
T
O
S
F
.J
.
A
. P
l
a
n
t
a
s
m
e
d
i
c
i
n
a
i
s
n
o
B
r
a
s
i
l
:
n
a
t
i
v
a
s
e
e
x
t
i
c
a
s
c
u
l
t
i
v
a
d
a
s
.
2
.e
d
. N
o
v
a
O
d
e
s
s
a
, S
P
:
P
l
a
n
t
a
r
u
m
, 2
0
0
8
p
.4
4
3
F
o
t
o
:
N
i
l
s
a
S
.
Y
.
W
a
d
t
C
e
r
r
o
S
a
n
C
r
i
s
t
b
a
l
-
C
h
i
l
e
2
0
0
7
Partes usadas: suco amarelo (antraquinonas, resinas) e
polpa transparente (mucilagem ou gel de babosa).
Principais componentes qumicos: antraquinonas
glicosiladas, resina, mucilagens, cidos orgnicos e en-
zimas.
Algumas propriedades:
Ao cicatrizante e anti-sptica (uso externo).
Sumo fresco da polpa transparente das folhas (compres-
sa): cicatrizante de queimaduras e ferimentos superf-
ciais da pele, entorses e contuses.
Cosmtica: tratamento dos cabelos.
Uso interno: deve ser orientado por profssionais de
sade.
Gel mucilaginoso: estimulante imunolgico.
Resina com antraquinonas: laxativo que deve ser
orientado por profssionais.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: o uso
interno deve ser feito com cautela e sob orientao m-
dica, no excedendo nunca s doses recomendadas de
xaropes e outros remdios que podem causar nefrite
aguda. Contra-indicado para gestantes, crianas, lactan-
tes e portadores de afeces uterinas, cistites, disente-
rias, colites e prostatites.
7) BELDROEGA - Portulaca oleracea L.
Erva rasteira de folhas de 1 a 2 cm de comprimento,
talos rosados, originria da Europa. Hoje cresce espon-
taneamente em todo o territrio brasileiro, em solos
agrcolas ricos em matria orgnica, sendo considerada
indicadora de bom padro de fertilidade do solo.
Famlia botnica: Portulacaceae
Nomes populares: beldroega-pequena, beldroega-
vermelha, beldroega-da-horta, caaponga, porcelana,
bredo-de-porco, onze-horas, salada-de-negro, ora-pro-
nobis, etc. Na comunidade da UBS, popularmente
denominada de blsamo, nome no encontrado para
esta planta na literatura.
Parte usada: planta inteira.
Principais componentes qumicos: vitamina C, sais de
potssio, carotenides, cido oxlico, mucilagens, resinas,
leo essencial e alcalides em pequenas concentraes.
Algumas propriedades: culinria (folhas, talos e se-
mentes): saladas, sopas, caldos e refogados.
Infuso (folhas e ramos): digestivo estomacal, proble-
mas gastrintestinais.
Sumo e compressa (folhas): favorece a cicatrizao
de feridas.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao:
estudos com esta planta revelaram a sua riqueza em
cido oxlico e sais de potssio. No se deve colher e
comer as folhas murchas, usando-se somente as tenras
e verdes. Se ingeridas por animais ruminantes (vaca),
as folhas murchas podem provocar meteorismo (um
acmulo de gases no organismo) que eventualmente
paralisa o funcionamento do aparelho digestivo e
pode levar morte. Uso no indicado em gestantes,
lactantes e crianas.
8) BOLDO DO-CHILE - Peumus boldus Molina.
rvore originria do Chile, que pode atingir at 15
metros de altura. Suas folhas so duras, oval-elpticas,
de colorao cinzento-esverdeadas e salpicadas
de pequenas proeminncias. Esta planta no
cultivada no Brasil, sendo que as folhas para ch so
importadas.
Famlia botnica: Monimiaceae
Nomes populares: boldo; boldo-verdadeiro.
Parte usada: folhas.
Principais componentes qumicos: alcalides
(boldina), glicosdeos favonides, leos essenciais
190
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
(ascaridol, eucaliptol, cineol, eugenol e alfapineno)
e taninos.
Algumas propriedades: colagogo, colertico;
aes antiespasmdicas e estimulante das secrees
gstricas (estomquica), utilizada em dispepsias no
ulcerosas, distrbios gstricos e afeces hepticas.
O leo essencial possui ao anti-sptica. (uso
externo)
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: o uso
em altas doses ou prolongado (durante meses) pode
ocasionar fenmenos txicos com perturbaes
visuais e auditivas.
Abortivo, causa hemorragia interna, sendo contra-
indicado para gestantes, lactantes, crianas menores
de seis anos, pacientes com clculos renais, distrbios
do sistema nervoso central e do sistema respiratrio.
O ascaridol considerado um dos leos essenciais
mais txicos, podendo causar irritao renal, vmitos
e diarria.
Em casos de clculos biliares deve ser usado com
orientao mdica.
9) BOLDO-PELUDO - Plectranthus barbatus
Andr. (sin.: Coleus barbatus (Andrews) Benth. e
Coleus forskohlii (Willd.) Briq.).
Arbusto provavelmente originrio da ndia e de
cultivo comum no Brasil, observando-se o uso das
suas folhas em todos os Estados. Folhas suculentas,
pilosas, amargas, de margens denteadas, medindo
de 5 a 8 cm de comprimento. Suas fores so azul-
arroxeadas, arranjadas em inforescncias.
Famlia botnica: Lamiaceae (Labiatae)
Nomes populares: falso-boldo, boldo-nacional,
boldo-brasileiro, boldo-do-brasil, boldo, boldo-da-
terra, boldo-de-jardim, boldo-silvestre, boldo-do-
reino, malva-santa, malva-amarga, sete-dores, alum,
folha-de-oxal, etc.
Parte usada: folhas frescas.
Principais componentes qumicos: leos
essenciais (guaieno e fenchona), favonides,
saponinas, alcalides, etc.
Algumas propriedades: infuso, macerao, sumo
com folhas frescas: nas dispepsias (azia e m digesto)
e por ser amargo, alm de estimular a digesto,
auxilia nas afeces hepticas (ressaca alcolica) e
vesiculares, agindo como colertico e colagogo.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao:
usar com cautela, pois h informaes confitantes.
Embora as pesquisas do PPPM-Ceme indiquem que
Plectranthus barbatus no tem efeito txico, cita-se
em literatura que grandes doses ou o uso prolongado
causam irritao gastrintestinal e alterao da presso
arterial. Recomenda-se maior critrio em quadros
crnicos no diagnosticados, devendo o mdico
afastar a hiptese de outras patologias como hepatite,
parasitoses (exemplo, esquistossomose), cncer e
demais. Uso no indicado em gestantes, lactantes
e crianas e no recomendado para pacientes com
clculos biliares.
10) - CALNDULA - Calendula ofcinalis L.
Herbcea anual, originria dos pases do
Mediterrneo e das Ilhas Canrias, utilizada em
todo o mundo na medicina tradicional desde a Idade
Mdia. cultivada no Brasil para fns ornamentais.
Atinge 30-60 cm de altura, possui folhas ssseis de 6
a 12 cm de comprimento e inforescncias terminais
do tipo captulo, amarelas a alaranjadas.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: margarida-dourada, maravilha-
dos-jardins, bonina, malmequer, malmequer-
dos-jardins, for-de-todos-os-males, verrucria,
maravilha, etc.
Parte usada: inforescncias (captulos).
Principais componentes qumicos: leos
essenciais, carotenides, favonides, mucilagens,
saponinas, resinas e princpio amargo.
Alguns usos e propriedades: antiinfamatrio e
cicatrizante de uso externo.
Aplicaes teraputicas:
- ferimentos de pele de origens diversas,
preferencialmente limpos (no infectados), com
propriedades cicatrizantes (ativao do metabolismo
de glicoprotenas, nucleoprotenas e do tecido
conjuntivo, com marcante reepitelizao); pode ser
usado tambm em escaras (lceras de presso);
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
8
191
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
- aplicao em processos dermatolgicos diversos
como intertrigo, eczemas mido e seco, dermatites,
picadas de insetos, acne (combinar com ativo
anti-sptico como tomilho ou prpolis), varizes e
hemorridas.
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
8
.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: uso in-
terno apenas com orientao mdica; no utilizar na gra-
videz e lactao. Em caso de hipersensibilidade planta,
descontinuar o uso e procurar pronto atendimento.
11) CAMOMILA Matricaria chamomilla L. (sin.:
Matricaria recutita L., Chamomilla recutita (L.) Raus-
chert)
Herbcea anual originria do sul da Europa e aclimata-
da na sia Central e pases latino-americanos, inclusive
na regio sul do Brasil.
Atinge um metro de altura, possui folhas recortadas e
aromticas. Captulos com fores centrais amarelas e as
marginais com a lgula branca.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: matricaria, maanilha, camomila-
romana, camomila-comum, macela, camomila-dos-
alemes, camomila-da-alemanha, camomila-verdadei-
ra, camomila, camomila-vulgar.
Parte usada: for (captulos forais secos).
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(azuleno), favonides, substncia amarga, cumarinas e
sais minerais.
Alguns usos e propriedades: seus principais efeitos
so como antiinfamatrio tpico, para distrbios di-
gestivos e como antiespasmdico, e para insnia leve.
Como antiinfamatrio emprega-se tanto extratos
hidroalcolicos, como tinturas, como formas farma-
cuticas contendo 0,5% de leos essenciais e infuses.
Seu uso est direcionado para infamaes dermato-
lgicas diversas, como eczema infantil, bem como em
aplicaes nas reas de proctologia e angiologia. Pode
ser utilizada a infuso em infamaes oculares aps a
avaliao e indicao de um profssional da sade. A
mesma infuso pode ser aplicada na mucosa bucal em
bochechos em casos de afas e gengivites.
J as atividades digestiva e antiespasmdica podem ser
obtidas pelo uso da infuso e tambm de tinturas. Os
efeitos decorrem da estimulao das secrees digesti-
vas, ao antissptica sobre bactrias fermentadoras e
ao relaxante sobre a musculatura lisa intestinal. Usar
em processos digestivos leves e espasmos gastrointesti-
nais igualmente leves e clicas infantis.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: pode
causar alergia em pessoas sensveis a espcies da fam-
lia Asteraceae; em caso de hipersensibilidade a planta,
descontinuar o uso. Relata-se interferncia na absoro
de ferro no uso concomitante com suplementao des-
te mineral.
Observar periodicamente a presena de insetos, que
depositam ovos no receptculo oco da inforescn-
cia, os quais eclodem durante o armazenamento.
L
O
R
E
N
Z
I
, H
.;
M
A
T
O
S
F
.J
.
A
. P
la
n
t
a
s
m
e
d
i
c
i
n
a
i
s
n
o
B
r
a
s
i
l
:
n
a
t
iv
a
s
e
e
x
t
i
c
a
s
. 2
.e
d
. N
o
v
a
O
d
e
s
s
a
, S
P
:
P
la
n
t
a
r
u
m
, 2
0
0
8
p
.1
2
7
192
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
12) CNFOR-DE-JARDIM Artemisia
camphorata Vill.
Erva rasteira, de folhas profundamente recortadas
e fololos fliformes, com aroma de cnfora, cultiva-
da em regies de altitude do sul e sudeste do Brasil,
tendo as mesmas aplicaes e usos externos da losna
(Artemisia absinthium L.), a espcie mais cultivada e
utilizada.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: cnfora, canfrinho, cnfora-rasteira.
Parte usada: folhas
Principais componentes qumicos: leos essenciais,
princpios amargos, favonides e cidos orgnicos.
Algumas propriedades:
Somente uso externo, ao anti-sptica e como cica-
trizante.
Infuso ou decocto: lavagens e compressas locais para
dores musculares, contuses e picadas de inseto.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: no
uso externo, a pele deve estar ntegra, sadia e no in-
fectada. Jamais fazer uso interno, devido toxicidade.
Uso no indicado em gestantes, lactantes e crianas.
13) - CAPIM-LIMO - Cymbopogon citratus (DC.)
Stapf (sin.: Andropogon citratus DC.).
um capim originrio da sia. Forma touceiras, tem
rizoma curto e folhas fnas e longas, muito aromticas.
Cultivada em quase todos os pases das regies tropicais.
Famlia botnica: Poaceae (Gramineae)
Nomes populares: capim-cidreira, erva-cidreira,
capim-santo, ch-de-estrada, capim-catinga, capim-
cheiroso, capim-cidrilho, capim-de-cheiro, capim-
ciri, patchuli, grama-cidreira, capim-cidro, etc.
Parte usada: folhas.
Principais componentes qumicos: leos essen-
ciais (citral, mirceno), alcalides, saponinas, cumari-
nas e favonides.
Algumas propriedades: principalmente como anal-
gsico (uso interno), como antigripal para dores no
corpo. Ao sedativa no foi confrmada pela CEME.
Refresco: ch das folhas, associado com suco de li-
mo e gua.
Infuso (ch das folhas frescas): provoca a transpira-
o, ao digestiva, espasmoltica suave, nos resfriados.
Compressas (folhas): dores musculares.
leo essencial: aromatizante de ambiente.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: PPPM-
Ceme no detectou efeito txico, mas cuidado com
os microfragmentos das folhas que podem causar mi-
croleses nas mucosas do aparelho digestivo. Uso no
recomendado para hipotensos. H relatos de alguma
diminuio do volume urinrio talvez decorrente da
ao hipotensora.
14) CARQUEJA - Baccharis trimera (Less.) DC. e
outras.
Diversas espcies nativas das Amricas e que ocorrem
no sul e sudeste do Brasil.
So de difcil identifcao, pois existem diversas esp-
cies com aspectos semelhantes. As carquejas so plan-
tas herbceas, perenes e caracterizam-se por possuir o
caule e ramos verdes, com expanses trialadas. Atin-
gem at 1 m de altura e apresentam sabor amargo.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: carqueja-amargosa, carqueja-do-
mato, carque, carqueja-amarga, bacanta, bacrida, cac-
lia, condamina, vassoura, vassoura-de-boto, bacria,
caclia-amarga, quina-de-cocomine, quina-de-conda-
mine, tiririca-de-babado, etc.
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
o
b
u
o
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
.
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
193
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
.
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
.
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
Parte usada: partes areas.
Principais componentes qumicos: substncias
amargas, leo essencial, substncias resinosas e sapo-
ninas.
Algumas propriedades: estimulante digestivo, leve-
mente diurtico; foi verifcada ao hipotensora pelo
PPPM-CEME.
Infuso (ch das hastes forferas secas): tnico amargo
com ao digestiva (estomacal, biliar e intestinal), an-
tiinfamatria, ao hipotensora, leve ao diurtica.
Indstria de bebidas: em virtude das suas proprieda-
des amargas.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao:
PPPM-Ceme no detectou efeito txico. Usar com
cautela e sob orientao mdica durante a gestao e
lactao. No utilizar em casos de clculos biliares.
15) - CATINGA-DE-MULATA Tanacetum vulga-
re L.
Erva entouceirante, ereta, aproximadamente 80 cm
de altura, aromtica, originria da Europa e cultivada
no Brasil como ornamental. As folhas so muito re-
cortadas e as fores, reunidas em corimbos de cap-
tulos, so amarelas.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: tanaceto; tansia; atansia-das-
boticas; erva-lombrigueira; tasneira, anil-bravo,
boto-amarelo, palma, tanaceto-comum, etc.
Parte usada: captulos forais.
Principais componentes qumicos: leos
essenciais (tujona, tanacetina, cnfora e borneol),
cidos, tanino, resina, sesquiterpenos, escopoletina
e compostos poliacetilnicos.
Algumas propriedades: uso externo (popular )
como repelente de insetos, antiinfamatrio.
Infuso (ch): usos populares como tnica,
antiespasmdica e digestiva.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao:
a efccia e a segurana da planta ainda no so
comprovadas e intoxicaes podem acontecer pela
presena de tuiona (txica). Grvidas e nutrizes no
devem fazer uso.
16) - CAVALINHA - Equisetum arvense L., E.
hyemale L. e outras.
Subarbusto do grupo das Pteridftas que vegeta,
preferencialmente, em terrenos midos. Apresenta
rizomas subterrneos e caules (haste) areos
eretos, de colorao esverdeada, fstulosos (ocos)
e estriados, que podem alcanar 60 cm de altura
ou mais. As folhas so pequenas, escamiformes,
geralmente soldadas entre si na base, simulando
uma bainha com vrias pontas, envolvendo o
caule nos ns. Os ramos areos estreis podem ser
ramifcados (exemplo, E. arvense) ou no (exemplo,
E. hyemale), sendo que os ramos frteis no se
ramifcam e terminam em estrbilos produtores de
esporos.
Famlia botnica: Equisetaceae
Nomes populares: cavalinha, rabo-de-cavalo, lixa-
vegetal, cana-de-jacar, cauda-equina, cauda-de-
raposa, cola-de-cavalo, erva-carnuda, equiseto, etc.
Parte usada: parte area (haste/caule estril).
Principais componentes qumicos: sais minerais,
principalmente cido silcico, potssio, fsforo,
mangans, favonides, alcalides, taninos,
saponinas, cidos orgnicos.
Algumas propriedades: usada na medicina caseira
na forma de ch como diurtico (maior atividade
diurtica no E. hyemale), com ao adstringente e
auxiliar no tratamento de processos reumticos
e osteoporose, bem como nos problemas de
recalcifcao de fraturas.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao:
apresenta um fator antinutricional (tiaminase),
que inativa a tiamina (vitamina B
1
) e a falta deste
nutriente pode provocar leses no sistema nervoso
central. Em altas concentraes pode provocar
irritaes no sistema urinrio, cefalias, anorexia,
fadiga possivelmente devido presena de
alcalides. Topicamente pode provocar dermatite
seborrica. Contra-indicado para gestantes e
lactantes e pacientes com insufcincia renal.
194
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
17) CIP-DE-SO-JOO Pyrostegia venusta
(Ker Gawl.) Miers.
Trepadeira lenhosa e vigorosa de ampla distribuio
no Brasil, comum em beira de estradas, pastagens e
em reas cultivadas.
Nos meses de junho a julho, apresenta vistosas fores
alaranjadas, muito ornamentais.
Famlia botnica: Bignoniaceae
Nomes populares: for-de-so-joo, cip-bela-for,
cip-de-fogo, marquesa-de-belas, cip-de-lagarto.
Parte usada: partes areas.
Principais componentes qumicos: glicosdeos,
carotenides, rutina, compostos fenlicos,
favonides, taninos.
Algumas propriedades: planta que apresenta
pouco estudo e, embora considerada txica,
so mencionados usos na medicina popular,
externamente, para vitiligo e outras aplicaes.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao:
registro de pirostegina, um glicosdeo cianognico
provavelmente relacionado com a toxidez da planta.
F
o
t
o
:
S
i
m
o
n
e
J
u
s
t
a
m
a
n
t
e
D
e
S
o
r
d
i
2
0
0
8
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
8
18) COLNIA - Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.
Burt. & R.M. Sm. (sin.: Alpinia nutans (L.) Roscoe e
Alpinia speciosa (Blume) D. Dietr.)
Originria da sia, robusta erva rizomatosa entoucei-
rante cultivada no Brasil como planta medicinal e or-
namental. Produz belos cachos de fores externamen-
te brancas e internamente carmim e amarelas.
Famlia botnica: Zingiberaceae
Nomes populares: alpinia, falso-cardamomo, paco-
v, gengibre-concha, jardineira, louro-de-baiano, vin-
div, falsa-noz-moscada, shell ginger, etc.
Parte usada: rizoma (sem raiz), folha e for.
Principais componentes qumicos: leo-resina, favo-
nides, alcalides e leo-essenciais (cineol, terpineol).
Algumas propriedades: PPPM-Ceme verifcou a ao
anti-hipertensiva, mas no confrmou ao diurtica.
Infuso (ch das folhas): ao hipotensora nos casos
de presso alta; ch das fores (uso popular) como ch
aromtico.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: PPPM-
Ceme no detectou efeito txico.
No recomendado para hipotensos (presso baixa) e
contra-indicado para gestantes e lactantes. Os hiperten-
sos devero fazer o monitoramento com seu mdico e
seguir rigorosamente as suas orientaes.
O ch recm-preparado deve fcar com colorao ama-
relada, ser mantido sob refrigerao e renovado diaria-
mente.
19) CONFREI - Symphytum ofcinale L.
Erva perene, originria da Europa e sia, aclimatada no
Brasil e em diversas partes do mundo, desde a antiga
Grcia. Tem caule curto, folhas pilosas, speras e lanceo-
ladas, de aproximadamente 30 a 40 cm de comprimento.
Famlia botnica: Boraginaceae
Nomes populares: consolida-maior, conslida, cons-
lida-do-cucaso, erva-do-cardeal, lngua-de-vaca, orelha-
de-vaca, erva-encanadeira-de-osso, leite-vegetal-da-rs-
sia, confrei-russo, capim-roxo-da-rssia, etc.
Partes usadas: folha e rizoma.
Principais componentes qumicos: alantona, taninos,
195
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
saponinas triterpnicas, cidos rosmarnico, mucilagem,
alcalides pirrolizidnicos.
Algumas propriedades: uso apenas externo, como ci-
catrizante de pequenas feridas. Compressas (decocto das
folhas): uso local, como cicatrizante e antiinfamatrio
nas contuses e luxaes.
Cataplasma (razes modas): cicatrizante e hemosttico,
uso local para picadas de insetos, pequenas feridas no
infectadas e contuses.
Cosmtica: sabonetes e cremes.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: uso ape-
nas externo, como cicatrizante de pequenas feridas, no
infectadas e no muito profundas; no fazer uso por v-
rias semanas.
Considerando a atividade txica dos alcalides presen-
tes, o uso interno, via oral, est proibido pelo Ministrio
da Sade, pois pode ocasionar o aparecimento de toxi-
cidade heptica, principalmente. A infuso (ch das fo-
lhas e rizomas) pode provocar graves intoxicaes que
podero aparecer trs a quatro anos depois.
20) EMBABA - Cecropia spp.
rvore de rpido crescimento e rusticidade,
comumente encontrada em matas secundrias.
Atinge de 6 a 14 m de altura, com ramifcao apenas
no topo. So caracterizadas por suas grandes folhas
palmatilobadas e longamente pecioladas, tronco oco e
rolio, marcado pela cicatriz das folhas cadas.
Famlia botnica: Urticaceae (antiga Cecropiaceae)
Partes usadas: folha e secundariamente as cascas.
Principais componentes qumicos: favonide (iso-
vitexina) e triterpenides, taninos, resinas, cumarinas,
alcalides e glicosdeo ambaina.
Algumas propriedades: infuso (ch das folhas secas
e picadas): ao diurtica e anti-hipertensiva.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: usos
no recomendados para hipotensos (presso baixa)
e os hipertensos devero fazer o monitoramento com
seu mdico e seguir rigorosamente as suas orientaes.
Contra-indicado para gestantes e lactantes.
Cecropia glazioui Snethl.
Nomes populares: Embaba-vermelha
Mais comum na encosta Atlntica, desde a Bahia
at o Paran. Apresenta brotos avermelhados e a face
inferior da folha prateada e spera ao tato. Estudos
do PPPM- Ceme confrmaram a ao hipotensora e
anti-hipertensiva e no verifcaram efeito txico.
Cecropia hololeuca Miq.
Nomes populares: Embaba-prateada
Mais freqente na zona serrana do Sul da Bahia at
So Paulo e Minas Gerais e na foresta de altitude
da serra da Mantiqueira. Apresenta brotos e folhas
novas inteiramente prateadas.
Cecropia pachystachya Trcul (Sin. C. adenopus
Mart. ex Miq.)
Nomes populares: Embaba-branca, fgueira-
de-sururinan, rvore-da-preguia, pau-de-lixa,
umbaba-do-brejo, etc.
Espcie mais distribuda no pas, podendo ser
encontrada, em terrenos midos do Cear at Santa
196
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Catarina, no interior e na faixa litornea, e nos estados
de Minas Gerais, Gois e Mato Grosso do Sul.
(fotos: LORENZI, H.; MATOS F.J.A. Plantas medicinais no
Brasil: nativas e exticas cultivadas. 2.ed. Nova Odessa, SP:
Plantarum, 2008. p.520 e 521.)
21) - ERVA-BALEEIR Cordia curassavica (Jacq.)
Roem. & Schult. (sin.: Cordia verbenacea DC. e Varro-
nia verbenacea (DC.) Borhidi).
Nomes populares: maria-preta, catinga-de-baro,
cordia, balieira-cambar, erva-preta, maria-milagrosa,
salicinia, maria-rezadeira, camarinha, etc.
Famlia: Boraginaceae
um arbusto de at 2,5 m de altura, nativo do Brasil e
amplamente distribudo por toda costa sudeste, prin-
cipalmente em reas abertas da orla litornea. Ereto,
ramifcado, com a extremidade dos ramos um tanto
pendente e hastes revestidas por casca fbrosa. Folhas
simples, aromticas, de aproximadamente 9 cm de
comprimento. Flores pequenas, brancas, dispostas em
inforescncias racemosas.
Parte usada: folhas.
Principais componentes qumicos: artemetina, fa-
vonides, triterpenos.
Algumas propriedades: usada h centenas de anos
em aplicaes tpicas no tratamento de dores mus-
culares, contuses, artrite reumatide, como antiinfa-
matrio.
A folha amplamente utilizada na medicina caseira,
principalmente nas regies litorneas do Sudeste e
Leste, onde considerada antiinfamatria, anti-artr-
tica, analgsica, tnica e anti-ulcerognica. Para reu-
matismos, artrite reumatide, gota, dores musculares,
nevralgias e contuses, recomendado o seu ch que
tambm empregado para a cicatrizao de feridas ex-
ternas no infectadas.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: uso t-
pico pode provocar reaes de sensibilizao.
22) FALSA-ERVA-CIDREIR Lippia alba
(Mill.) N.E. Br.
Originrio da Amrica do Sul, arbusto que cresce es-
pontaneamente em quase todo o territrio brasileiro.
Pode apresentar-se com ramos arqueados, com folhas
ovaladas, speras, aromticas, margens serreadas e
inforescncias de cor lils na base das folhas. H va-
riedades de cultivo com prevalncia de um ou outro
terpeno do leo essencial.
Famlia botnica: Verbenaceae
Nomes populares: erva-cidreira-falsa, erva-cidreira-
brasileira, falsa-melissa, cidreira-carmelitana, ch-de-
tabuleiro, erva-cidreira-do-campo, ch-de-estrada,
alecrim-do-campo, cidreira, cidreira-crespa, cidreira-
brava, alecrim-selvagem, salva-limo, salvia.
Parte usada: partes areas.
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(citral, mirceno, limoneno e carvona) e favonides.
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
9
197
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
.
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
.
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
Algumas propriedades: infuso (ch das folhas fres-
cas): calmante (insnia); espasmoltica suave, alivian-
do pequenas crises de clicas, ao digestiva; hipoten-
sor leve.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: no
recomendada para hipotensos (presso baixa) e con-
tra-indicado para gestantes e lactantes. Pesquisas do
PPPM-Ceme no verifcaram ao hipntica e ansiol-
tica e constataram toxicidade pelo modelo experimen-
tal utilizado.
23) ERVA-DE-SANTA-MARIA - Chenopodium
ambrosioides L.
Nativa das Amricas Central e do Sul, principalmente
Mxico e Antilhas, onde j era utilizada pelos indge-
nas. Erva anual de at 1m de altura, ramosa, de cheiro
forte caracterstico.
Famlia botnica: Amaranthaceae (antiga Cheno-
podiaceae)
Nomes populares: nas regies Sul e Sudeste: erva-
de-santa-maria ou mastruo; no Nordeste: mastruo,
mastruz ou mentruz; mentruo; mentrasto, erva-for-
migueira; erva-das-cobras; erva-das-lombrigas; erva-
santa, erva-mata-pulgas, erva-pomba-rota, cambrsia,
ch-do-mxico, ch-dos-jesutas, quenopdio, etc.
Parte usada: folhas.
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(principalmente ascaridol e outros), saponinas, favo-
nides, cidos orgnicos, dentre outros.
Algumas propriedades: uso local em contuses trau-
mticas como antiinfamatria, cicatrizante e anti-sp-
tica. Repelente de insetos como pulgas, percevejos e
piolhos. A atividade anti-helmntica no foi totalmente
confrmada pelos estudos do PPPM-Ceme.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: usar
com cautela e sob orientao mdica, devido a sua
toxicidade, verifcada no modelo experimental do
PPPM-Ceme. Tem como um dos componentes o
ascaridol, que uma substncia txica para o fgado
e para os rins. Doses excessivas, em uso interno,
causam vertigens, vmitos e dores de cabea. Contra-
indicado para gestantes, lactantes, crianas, pessoas
com problemas de audio e idosos.
24) - ESPINHEIR-SANTA - Maytenus ilicifolia
Mart. ex Reissek e M. aquifolium Mart.
rvore de pequeno porte, nativa das matas do sul
do Brasil. Tem folhas coriceas, elpticas, de margem
espinescente e at 9 cm de comprimento.
Nas regies Sudeste e Sul, ocorre Maytenus
aquifolium Mart., com folhas subcoriceas,
igualmente espinescente nas margens e de at 15 cm
de comprimento, de usos similares.
Nessas regies, a espcie Sorocea bonplandii (Baill.)
W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer, rvore latescente
da famlia Moraceae, tambm chamada pelas
populaes tradicionais da Mata Atlntica de
espinheira-santa e usada contra dores de estmago,
sendo a planta adulterante de Maytenus ilicifolia.
Famlia botnica: Celastraceae
Nomes populares: espinheira-divina, maiteno,
salva-vidas, coromilho-do-campo, espinho-de-deus,
cancerosa, cancrosa, sombra-de-touro, cancorosa,
cancorosa-de-sete-espinho, espinheira-santa, etc.
Parte usada: folhas.
Principais componentes qumicos: taninos,
favonides, alcalides, triterpenos e traos de
minerais e oligoelementos.
Algumas propriedades: confrmada ao em
gastrites e lceras gstricas pela CEME.
198
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Infuso (ch): digestiva e para afeces gstricas
(dispepsias, hiperacidez, gastrites e lceras).
Infuso, decocto ou emplastro de folhas picadas:
afeces da pele.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: sem
efeito txico, pelo PPPM-Ceme.
Obs.: tanto M. ilicifolia quanto M. aquifolium foram
avaliadas positivamente pela pesquisa da Escola
Paulista de Medicina patrocinada pela Ceme.
25) ESTOMALINA - Vernonanthura condensata
(Baker) H. Rob. (sin.: Vernonia condensata Baker).
Arbusto de 2 a 5 m de altura, originrio da frica e
freqentemente cultivado nos quintais. Suas folhas
tm textura membrancea, margens serrilhadas e
de 5 a 12 cm de comprimento, com sabor amargo
seguido de doce quando mastigadas.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: boldo-baiano; boldo-japons;
boldo-chins; boldo-goiano; boldo-de-gois;
alum; aluman; aloma; luman; rvore-do-pinguo;
alcachofra; fgatil; heparm; cidreira-da-mata;
macelo; etc.
Parte usada: folhas.
Principais componentes qumicos: saponinas;
substncias amargas (lactonas sesquiterpnicas),
glicosdeo cardiotnico (vernonina), favonides,
leo essencial.
Algumas propriedades: infuso: carminativa,
analgsica, til no tratamento de distrbios gstricos
e hepticos, dispepsias no ulcerosas e colecistite.
Recentemente verifcou-se tambm sua atividade
antiinfamatria em uso interno.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao:
contra-indicado para gestantes e lactantes.
26) FUNCHO - Foeniculum vulgare Mill.
Erva aromtica nativa da Europa, das regies
prximas ao Mediterrneo, e cultivada em todo o
Brasil. Atinge de 40 a 90 cm de altura, possui folhas
pinadas com fololos reduzidos a flamentos e fores
pequenas, amarelas, reunidas em umbelas.
Famlia botnica: Apiaceae (Umbeliferae)
Nomes populares: erva-doce, funcho-doce, erva-
doce-de-cabea, fnochio, erva-doce-brasileira, falsa-
erva-doce, falso-anis, folho-de-forena, folho-doce,
funcho-bastardo, funcho-comum, funcho-vulgar,
funcho-italiano, pinochio, etc.
Partes usadas: frutos e ocasionalmente a base do
pecolo da folha fresca.
Principais componentes qumicos: leo essencial
(anetol), cidos, cumarinas, favonides e esterides.
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
.
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
Algumas propriedades: infuso dos frutos
secos: digestivo, estomquico, carminativo,
antiespasmdico suave (para clicas infantis),
expectorante e tambm estimulante da lactao.
Culinria (raiz aperitiva): salada da base do pecolo
das folhas (aromtico, digestivo e carminativo); frutos
como condimento e aromatizante de alimentos.
leo essencial dos frutos: sabor e odor a
medicamentos, licores e guloseimas. O leo essencial
tem efeito estimulante (por massagens).
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: o
modelo experimental utilizado nas pesquisas do
PPPM-Ceme detectou toxicidade e no verifcou ao
sedativa, hipntica, ansioltica, anticonvulsivante e/
ou neurolptica.
27) - GENGIBRE - Zingiber ofcinale Roscoe
Erva rizomatosa, ereta, com cerca de 50 cm de altura,
originria da sia. Adaptou-se bem em todas as
regies de clima tropical e no Brasil.
O rizoma ramifcado, de cheiro e sabor picante,
agradvel.
Famlia botnica: Zingiberaceae
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
.
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
199
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Nomes populares: gengivre, gingibre, mangarati,
mangarataia, etc.
Parte usada: rizoma.
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(gingerona, canfeno, borneol, cineol e citral), resina
(gingerol), saponinas.
Algumas propriedades: como condimentar, aro-
mtico, ao estimulante digestiva, nas dispepsias e
carminativo nas clicas fatulentas; antiinfamatrio
(artroses), para nuseas e vmitos (de viagens, de ps-
operatrio, de gravidez).
Culinria (especiaria aromtica e condimento): tem-
peros, molhos, sopas, em saladas, conservas, sucos,
licores, bebidas refrigerantes, doces e confeitos.
Ch, com rizoma fatiado (uso interno): digestivo, carmi-
nativo (nas clicas fatulentas) e para nuseas e vmitos.
Emplastros e compressas (uso externo): antiinfama-
trio (dores da artrose).
Cosmtica: perfumes.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: na
nusea e vmito da gravidez utilizar um tero da dose
usual e seguir obrigatoriamente a orientao mdica.
Contra-indicado para portadores de clculos biliares.
Fotos: Juscelino N. Shiraki 2008
28) GUACO Mikania spp.
Trepadeiras sublenhosas, perenes, sem gavinhas,
com folhas opostas.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: guaco-de-cheiro, guaco-liso,
guaco-trepador, uaco, cip-almecega-cabeludo, cip-
catinga, cip-sucuriju, corao-de-jesus, erva-cobre,
erva-das-serpentes, erva-decobra, erva-de-sapo,
erva-dutra, etc.
Parte usada: folhas (sem os caules).
Principais componentes qumicos: guacosdeos
(cumarina), leo essencial, resinas, taninos, saponi-
nas, cidos orgnicos e substncias amargas.
Algumas propriedades: confrmada ao broncodi-
latodora pela CEME, broncodilatador contribuindo
com a expectorao, mas sem ao antitussgena.
Infuso (ch): para afeces respiratrias em estados
gripais.
Xarope: expectorante e broncodilatador.
Decocto: em gargarejo e bochecho nos casos de in-
famaes da boca e garganta.
Tintura (uso externo): aplicao local, em frices ou
compressas, nas partes afetadas por dores reumticas
ps-traumticas.
Extrato ou tintura (uso interno): expectorante e
broncodilatador.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: estu-
dos do PPPM-Ceme no acusaram efeito txico, mas
a presena de cumarinas pode provocar alteraes na
coagulao com sangramentos e levar a um aumento
do fuxo menstrual. No deve ser utilizado por mu-
lheres com menstruao abundante, gestantes, lac-
tantes, crianas menores de um ano, pacientes com
problemas hepticos, com quadros diarricos, de
vmitos, hipertensos e cardiopatas. Recomenda-se
maior critrio em quadros respiratrios crnicos no
diagnosticados, devendo o mdico afastar hipteses
de: tuberculose, pneumonias bacterianas, cncer,
verminoses (com ciclo pulmonar), amidalites bacte-
rianas purulentas, etc.
Em doses teraputicas no causa efeitos colaterais,
entretanto evitar a utilizao por tempo prolongado,
pois o uso crnico pode levar a acidentes hemorrgi-
cos. No usar com anticoagulantes.
Mikania glomerata Spreng.
Originria da Amrica do Sul, ocorrendo na
Argentina, Paraguai, Uruguai e nas regies sul e
sudeste do Brasil e cultivada em outros estados.
200
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Suas folhas so lustrosas, aromticas, subcoriceas,
glabras, imperfeitamente triangulares a ovadas,
com um lbulo triangular a cada lado na base,
pentanervadas, com 8 a 12 cm de comprimento por
6 a 8 cm de largura.
Mikania laevigata Sch. Bip. ex Baker
Tambm originria do Sul do Brasil, de So Paulo ao
Rio Grande do Sul.
Suas folhas so mais grossas, brilhantes e aromticas
que as da Mikania glomerata. So ovadas ou ovado-
lanceoladas, glabras, com base arredondada,
trinervadas, com 7 a 15 cm de comprimento por 2 a
5 cm de largura.
Fotos: Linete M. Menzenga Haraguchi 2009
29) HIPRICO Hypericum perforatum L.
Planta subarbustiva ereta, originria da Europa e su-
bespontnea na Amrica do Norte, ainda de cultivo
raro no Brasil.
Tem cerca de 1 metro de altura, apresenta fores ama-
relas e folhas simples, cartceas, com pontos translci-
dos quando vistas contra a luz.
Famlia botnica: Hypericaceae, anteriormente Clu-
siaceae (Gutiferae)
Nomes populares: erva-de-so-joo, milfurada, ore-
lha-de-gato, alecrim-bravo, mil-facadas, hiperico.
Parte usada: partes areas.
Principais componentes qumicos: leo essencial
(mono e sesquiterpenos, cetonas e lcoois alifticos),
favonides (hiperosdeo, hiperforina, rutina), antra-
quinonas, pigmento hipericina, cidos fenlicos.
Algumas propriedades: indicado para estados de-
pressivos leves a moderados, no endgenos.
Decocto, tintura ou extrato padronizado (uso inter-
no): antidepressiva.
leo (uso externo): adstringente, analgsico, antiinfa-
matrio, cicatrizante e anti-sptico.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: quan-
do ingerido, o usurio deve evitar exposio ao sol,
pois seu efeito fotossensibilizante pode provocar quei-
maduras, ulceraes e eritemas. Contra-indicado para
gestantes, crianas e indivduos com depresso crni-
ca. Incompatvel com outras plantas e medicamentos;
seu uso deve ser feito com cautela e obrigatoriamente
sob orientao mdica.
30) - HORTELS e MENTAS - Mentha spp.
So as denominaes populares para diversas espcies
(e hbridos) do gnero Mentha. Ervas aromticas de 30
a 60 cm de altura, originrias de regies temperadas da
Europa e sia.
O gnero Mentha um dos mais complexos para se de-
fnir botanicamente, devido hibridizao espontnea
entre as espcies.
Famlia botnica: Lamiaceae (Labiatae)
Partes usadas: folhas e sumidades floridas (ramos florais).
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(mentol, mentona, cineol e limoneno), favonides, ta-
nino e resina.
Algumas propriedades: ao digestiva, carminativa,
antiespasmdica, colagoga.
L
O
R
E
N
Z
I
, H
.;
M
A
T
O
S
F
.J
.
A
. P
l
a
n
t
a
s
m
e
d
i
c
i
n
a
i
s
n
o
B
r
a
s
i
l
:
n
a
t
i
v
a
s
e
e
x
t
i
c
a
s
. 2
.e
d
. N
o
v
a
O
d
e
s
s
a
, S
P
:
P
l
a
n
t
a
r
u
m
, 2
0
0
8
p
.2
9
7
201
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Pesquisas do PPPM-Ceme para Mentha spicata, verif-
caram ao anti-helmntica.
Culinria: saladas, sucos, gelia, condimento de carnes,
molhos e massas.
Infuso (ch), uso interno: estomacal (m digesto,
nusea e vmito), intestinal (gases e clicas), colagogo.
Uso externo: para afeces da pele como anti-sptico.
Outros usos: na aromaterapia e na cosmstica.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: o leo
essencial fotossensibilizante e no recomendado para
uso oral, pois doses elevadas tm ao abortiva e hepa-
totxica. A essncia irrita a mucosa ocular (conjuntiva)
e contra-indicada para gestantes, lactentes, crianas de
pouca idade e pessoas com clculos biliares.
Mentha x piperita L.
Nomes populares: hortel-pimenta, menta-inglesa,
hortel-apimentada, hortel-das-cozinhas, menta-
inglesa, sndalo.
Mentha x piperita var. citrata
Mentha arvensis L.
Nomes populares: menta, hortel-doce, hortel-
japonesa ou vique
Mentha spicata L. (sin.: M. viridis (L.) L.)
Nomes populares: menta, hortel-crespa, hortel-
das-hortas ou hortel-levante
Fotos: Maria de Lourdes da Costa 2008
31) - LOSNA - Artemisia absinthium L.
Originria da Europa, adaptou-se bem no Brasil,
onde mantida em hortas e jardins. uma planta
subarbustiva que cresce at aproximadamente 1 m
de altura. Tem caule piloso e folhas profundamente
recortadas, verde-acinzentadas na face superior e
esbranquiadas na face inferior, aromticas e com
forte sabor amargo.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: losna-comum, losna-maior, los-
ma, absinto, acinto, acintro, ajenjo, alenjo, artemsia,
grande-absinto, erva-santa, alvina, aluna, for-de-dia-
na, gotas-amargas, erva-dos-vermes, erva-dos-velhos,
sintro, erva-de-santa-margarida, erva-do-fel.
Parte usada: partes areas.
Principais componentes qumicos: leo essencial
(tuiona), absintina (mistura de pelo menos quatro
substncias amargas), resinas, tanino, cidos e
nitratos.
Algumas propriedades: ao anti-sptica,
cicatrizante, digestiva, carminativa, colagoga e
emenagoga.
Infuso (ch das folhas e fores): estimulante de
apetite, distrbios da digesto.
F
o
t
o
:
M
a
r
i
a
d
e
L
o
u
r
d
e
s
d
a
C
o
s
t
a
2
0
0
8
202
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Decocto da planta fresca (uso externo, em pele
ntegra e sadia): lavagens e compressas locais para
dores musculares, contuses e picadas de inseto, por
sua ao anti-sptica e cicatrizante.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: usar
com cautela, sob orientao mdica. No se deve
usar o suco ou extrato da losna, pois ele altamente
txico. Por causa da presena da tujona ou tuiona, um
de seus componentes, cujo teor maior na forao,
sua administrao em altas doses causa vmitos,
clicas gastrintestinais, dor de cabea, zumbido nos
ouvidos e distrbios do sistema nervoso central. Uso
contra-indicado para gestantes, lactantes e crianas.
32) - LOSNA-BRVA - Artemisia vulgaris L.
Considerada planta invasora de terrenos cultivados,
disseminada pela sia Central, Europa, norte da
frica e aclimatada no resto do mundo, inclusive no
Brasil, com exceo da Amaznia.
Erva anual de at 0,60 m de altura, com folhas
profundamente recortadas, de cor verde na face
de cima e prateada em baixo, sabor amargo e odor
caracterstico.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
F
o
n
t
e
:
h
t
t
p
:
/
/
p
i
c
a
s
a
w
e
b
.g
o
o
g
l
e
.c
o
m
/
m
o
n
i
t
o
r
i
a
f
i
t
o
/
P
l
a
n
t
a
s
M
e
d
i
c
i
n
a
i
s
Nomes populares: erva-de-so-joo; artemgio; for-
de-so-joo; artemsia-comum; artemsia-verdadeira;
artemsia-vulgar; artemigem; artemija; artemige; los-
na; anador; absito-selvagem; absinto; isopo-santo, etc.
Parte usada: a planta toda.
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(cineol e tuiona), artemisina, princpios amargos, fa-
vonides, taninos, resinas e saponinas.
Algumas propriedades: tnico da circulao sang-
nea, digestiva, analgsica e antiespasmdica, cicatri-
zante e anti-sptica. Pesquisas do PPPM-Ceme con-
frmaram ao anticonvulsivante.
Uso local: em dores reumticas, escaras e feridas. Utili-
zada no moxabusto.
Uso interno: para dispepsia, clicas menstruais.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: pes-
quisas do PPPM-Ceme confrmam que a planta t-
xica para o gado e para o homem. Deve ser usada sob
orientao mdica, pois em dosagem acima da indica-
da pode se tornar prejudicial ao sistema nervoso, pro-
vocando efeitos colaterais como excitao do sistema
nervoso central e convulses, alm de vasodilatao,
reaes alrgicas, hepatonefrites, etc. Contra-indicado
para gestantes e lactantes.
33) MARCUJ-AZEDO - Passifora edulis Sims
Trepadeira arbustiva, cujos galhos se fxam por meio
de gavinhas. espontnea da Amrica tropical e am-
plamente cultivada, especialmente no nordeste do
Brasil. Possui folhas trilobadas, fores vistosas solitrias
e fruto do tipo baga, de cor amarelada a vincea.
Famlia botnica: Passiforaceae
Nomes populares: maracuj, maracuj-de-suco,
maracuj-do-mato, maracuj-liso, maracuj-peroba,
maracujazeiro, maracuj-cido, etc.
Partes usadas: folhas.
Principais componentes qumicos: favonides
(crisina, isovitexina), alcalide (passiforina), pectinas
e cidos orgnicos.
Algumas propriedades: confrmada pela CEME,
efeito calmante maior, isto , para crises nervosas agi-
tadas, com aumento na fala, estado motor e aumento
da ingesta alimentar.
Culinria (frutos): preparao de bebidas, sucos, do-
ces e gelias, etc.
Infuso e principalmente decoco (folhas secas):
ao calmante nos casos de ansiedade de origem ner-
vosa e insnia.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: detec-
tado algum efeito txico pelo PPPM-Ceme em trata-
mento prolongado e altas doses devido a presena de
um glicosdeo cianognico, que, por hidrlise, pode
se transformar em cido ciandrico, txico, recomen-
dando-se a fervura demorada do ch para elimin-lo.
Evitar doses altas e o tratamento repetido por longos
perodos, no sendo recomendado para hipotensos
(presso baixa), gestantes e lactantes.
34) MELISSA - Melissa ofcinalis L.
Planta herbcea perene, de 30 cm de altura, originria
da Europa e sia e cultivada no Brasil. Possui folhas
F
o
t
o
:
J
u
s
c
e
l
i
n
o
N
.
S
h
i
r
a
k
i
2
0
0
8
203
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
aromticas, membranceas, ovaladas, rugosas e de
margens serradas.
Famlia botnica: Lamiaceae (Labiatae)
Nomes populares: erva-cidreira, cidreira, erva-ci-
dreira-verdadeira, cidrilha, melitia, ch-da-frana, li-
monete, citronela-menor, melissa-romana, erva-lusa,
salva-do-brasil, ch-de-tabuleiro, etc.
Parte usada: folhas e ramo foral (sumidades foridas).
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(citral, citronelal, citronelol, limoneno, linalol e gera-
niol), taninos, cidos triterpenides, favonides, mu-
cilagens, resinas e substncias amargas.
Algumas propriedades: digestiva, carminativa, anti-
sptica e antiespasmdica. Ao hipntica e ansioltica
no verifcada pelo PPPM-Ceme.
Estudos recentes demonstraram efeitos antioxidante
e anticolinestersico, com benefcios em quadros de
demncia tipo Alzheimer.
A essncia apresenta efeitos antivirais, teis em qua-
dros de herpes labial.
Culinria: tempero para saladas, molhos, sucos e aro-
matizante de alimentos.
Infuso (ch): calmante nos casos de ansiedade, insnia
e transtornos de origem nervosa (cefalia, vertigens);
digestiva (azia, m digesto); espasmoltica suave, ali-
viando pequenas crises de clica; analgsica nas dores
de gripes e resfriados.
Suco ou decocto (uso externo): aliviar e acalmar dores.
leo essencial (uso local): anti-sptica.
Compressas (folhas): picadas de insetos.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: a sua
essncia ligeiramente txica (verifcado pelos mode-
los do PPPM-Ceme), podendo, mesmo em pequenas
doses, causar entorpecimento, perda da respirao, di-
minuio da pulsao e do ritmo cardaco. Usos no re-
comendados para hipotensos (presso baixa) e contra-
indicado para gestantes e lactantes.
35) - MENTRSTO - Ageratum conyzoides L.
Nativa no Brasil, erva anual aromtica, comum em hor-
tas, lavouras, pomares, etc.
Bem ramifcada e pilosa, cresce at 1 m e pode apresen-
tar pequenas fores roxas, lilases ou brancas, arranjadas
em captulos.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: erva-de-so-joo, pico-roxo, ca-
tinga-de-bode, erva-de-so-jos, erva-de-santa-lcia,
camar-opela, mentraste, catinga-de-baro, caclia-
menstrasto, cria, maria-preta, etc.
Partes usadas: folhas ou parte area sem as fores, fresca
ou seca.
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(beta-cariofleno e precocenos), quercetina, canferol,
cidos, favonides, cumarinas, alcalides pirrolizidni-
cos, pigmentos, mucilagens.
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
8
F
o
n
t
e
:
L
O
R
E
N
Z
I
, H
.;
M
A
T
O
S
F
.J
.
A
. P
l
a
n
t
a
s
m
e
d
i
c
i
n
a
i
s
n
o
B
r
a
s
i
l
:
n
a
t
i
v
a
s
e
e
x
t
i
c
a
s
. 2
.e
d
. N
o
v
a
O
d
e
s
s
a
, S
P
:
P
l
a
n
t
a
r
u
m
, 2
0
0
8
p
.1
1
5
Alguns usos e propriedades: pesquisas do PPPM-
Ceme confrmaram ao para tratamento de artrose,
principalmente pelo efeito analgsico.
Extrato alcolico, ungento ou compressa, de uso local:
analgsico e antiinfamatrio para contuses e dores ar-
ticulares. Hemosttica e cicatrizante de ferimentos.
Decocto (uso interno): analgsica, antiinfamatria,
anti-reumtica e para clicas menstruais.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: embo-
ra as pesquisas do PPPM-Ceme no tenham indicado
efeitos txicos, recomendvel que sejam usadas para
fns medicinais somente a planta sem ramos forfe-
ros, que concentram alcalides pirrolizidnicos, com
204
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
ao hepatotxica; de todo modo evitar uso prolon-
gado e sem superviso mdica. Contra-indicado para
gestantes e lactantes.
36) MENTRUZ - Coronopus didymus (L.) Sm.
Erva anual, nativa da Amrica do Sul, incluindo
o sudeste brasileiro. Possui caule ramifcado e
prostrado, de 20 a 35 cm de comprimento. As folhas
so profundamente divididas, de sabor ardido e
cheiro de agrio. Seus frutos esfricos dispostos em
cachos so caractersticos.
Famlia botnica: Brassicaceae (Cruciferae)
Nomes populares: mastruo; mentruz-rasteiro;
mastruz-mido; mastruo-dos-ndios; erva-de-
santa-maria; erva-formigueira, etc.
Parte usada: parte area.
Principais componentes qumicos: leo essencial,
substncias sulfuradas , sais minerais e vitaminas.
Algumas propriedades: usada popularmente para
afeces gstricas, dores musculares e feridas pela
ao anti-sptica.
Repelente de pulgas e percevejos.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao:
contra-indicado para gestantes e lactantes.
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
L
i
v
r
o
L
O
R
E
N
Z
I
, H
.;
M
A
T
O
S
F
.J
.
A
. P
l
a
n
t
a
s
m
e
d
i
c
i
n
a
i
s
n
o
B
r
a
s
i
l
:
n
a
t
i
v
a
s
e
e
x
t
i
c
a
s
. 2
.e
d
. N
o
v
a
O
d
e
s
s
a
, S
P
:
P
l
a
n
t
a
r
u
m
, 2
0
0
8
p
.1
2
4
37) PICO-PRETO - Bidens pilosa L.
Erva anual originria das regies tropicais da
Amrica. Atinge de 50 a 130 cm de altura, apresenta
aroma caracterstico e considerada indicadora de
solos frteis. Possui folhas compostas pinadas, com
fololos serreados e frutos do tipo aqunio, pretos
com ganchos aderentes.
Famlia botnica: Asteraceae (Compositae)
Nomes populares: erva-pico, fura-capa, piolho-de-
padre, pico-do-campo, cuambu, guambu, paconva,
carrapicho, macela-do-campo, pico-amarelo, pico-
das-horas, carrapicho-de-duas-pontas, carrapicho-
de-agulha, carrapicho-pico, coambi, cuambri,
amor-seco, pico-pico, etc.
Parte usada: planta inteira.
Principais componentes qumicos: favonides,
esteris, taninos, acetilenos.
Alguns usos e propriedades: uso na medicina po-
pular como digestivo, diurtico, antiinfamatrio e
anti-sptico.
Infuso (ch): digestivo (popularmente no trata-
mento de ictercia e males do fgado de origem no
infecciosa); diurtico (afeces das vias urinrias).
Compressas (suco das folhas): infamaes da pele e
feridas de origem no infecciosa;
Gargarejo (ch das folhas): infamaes da garganta;
Banhos e lavagens externas: em leses da pele causa-
da pela sarna;
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: con-
tra-indicado durante a gravidez.
38) - QUEBR PEDR - Phyllanthus spp.
Vrias espcies do gnero Phyllanthus recebem esse
nome e so utilizadas popularmente para as mesmas
fnalidades.
So ervas anuais, nativas da Amrica. comum a sua
ocorrncia em fendas de caladas, terrenos baldios,
quintais e jardins.
Phyllanthus niruri L. e Phyllanthus tenellus Roxb.
so espcies frequentes em So Paulo e de difcil
diferenciao.
P. niruri se apresenta com aproximadamente 30 cm
de altura, tem folhas oblongas, assimtricas na base,
205
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
F
o
t
o
:
S
o
n
i
a
A
.
D
a
n
t
a
s
B
a
r
c
i
a
2
0
0
8
F
o
n
t
e
:
M
a
r
i
a
d
e
L
o
u
r
d
e
s
d
a
C
o
s
t
a
2
0
0
8
com 6mm de comprimento; as fores possuem 3
estames, um pouco unidos na base.
P. tenellus atinge 80 cm de altura, suas folhas so
obovadas a largamente elpticas, simtricas na base,
com 7 a 12 mm de comprimento; as fores tm 5
estames livres.
Famlia botnica: Phyllanthaceae (anteriormente,
Euphorbiaceae)
Nomes populares: erva-pombinha, arrebenta-
pedra, quebra-pedra-branca, saxifraga, arranca-
pedras, conami, erva-pomba, fura-parede, quebra-
panela, saudade-da-mulher, sade-da-mulher, etc.
Parte usada: partes areas.
Principais componentes qumicos: favonides,
lignanas, triterpenides e alcalides.
Algumas propriedades: confrmado o efeito antiliti-
sico pelos estudos da CEME e outros que se seguiram
pelos mesmos grupos. Esse efeito decorre de: aes
analgsica, dilatadora do ureter, levemente diurtica,
interferncia na formao dos clculos diminuindo
seu tamanho e irregularidade de forma, em conjun-
to contribuindo menor formao e eliminao dos
clculos formados. Pode contribuir ao aumento da
efccia da litotripsia (procedimento mdico para eli-
minao de clculos por aplicao de ondas).
Infuso (ch da planta fresca ou seca): diurtico, dis-
soluo e eliminao de clculos renais com efeito
analgsico.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: estu-
dos do PPPM-Ceme indicam Phyllanthus niruri sem
efeito txico, mas devido presena de alcalide,
com potencial ao txica, no se deve ultrapassar
as doses recomendadas e no fazer uso prolongado.
Doses excessivas podem produzir hipotenso, prova-
velmente devido ao efeito diurtico.
contra-indicado para gestantes, lactentes, em pato-
logias crnicas descompensadas como diabete melit-
tus, insufcincia cardaca e em patologias urinrias
associadas a cncer, tuberculose, insufcincia renal,
entre outras.
O ch da planta, aps fltrao, deve ser conservado
em geladeira e o que no for consumido durante o
dia deve ser desprezado, devendo ser preparado novo
ch a cada dia.
39) - ROM - Punica granatum L.
Arbusto, provavelmente originria da sia e cultiva-
da em quase todo o mundo, inclusive no Brasil, de at
3 m de altura e folhas elpticas. Produz fores alaran-
jado-avermelhadas e frutos arredondados, de casca
coricea amarela ou vermelha, coroados pelo clice.
Famlia botnica: Lythraceae (antiga Punicaceae)
Nomes populares: romanzeiro, romanzeira, romei-
ra, granada, milagrada, milagreira, miligr, milgrada,
miligrana, milgreira, romeira-de-granada, etc.
Partes usadas: casca do fruto e arilo (envoltrio sumo-
so das sementes).
Principais componentes qumicos: casca do fruto:
taninos, resinas, pigmentos (antocianinas), alcalides.
Arilo: cidos orgnicos, vitamina C, acares.
Algumas propriedades: na culinria: frutos comes-
tveis que fornecem grande quantidade de ativos an-
tioxidantes, teis preveno de muitas doenas;
Decoco da casca do fruto (pericarpo): bochechos
e gargarejos para infamaes da boca e garganta
(gengivites e faringites), banhos de assento para afec-
es vaginais (vaginites).
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: a in-
gesto de altas doses do extrato alcolico do fruto
pode produzir intoxicao no sistema nervoso cen-
tral, provocando paralisao dos nervos motores,
convulses e complicaes respiratrias, devendo
ser evitado o uso interno de suas partes contendo al-
calides. Uso proibido para gestantes (emenagoga e
estimulante do tero) e crianas com menos de 12
anos, salvo sob orientao mdica.
206
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
40) SLVIA - Salvia ofcinalis L.
Herbcea ornamental e aromtica de 20 a 60 cm, nativa
da regio mediterrnea da Europa. Possui folhas lance-
oladas, de aproximadamente 6 cm de comprimento,
revestidas de plos esbranquiados.
Famlia botnica: Lamiaceae (Labiatae)
Nomes populares: salva, slvia-comum, salva-comum,
salva-das-boticas, salva-dos-jardins, salva-ordinria, ch-
da-frana, ch-da-grcia, erva-sagrada, sabi, salveta, sal-
das-boticas, salva-de-remdio, etc.
Parte usada: folhas.
Principais componentes qumicos: leos essenciais
(borneol, cineol, cnfora e tuiona), cido rosmarnico,
favonides, taninos, substncia estrognica, substncia
amarga e saponinas.
Algumas propriedades: principalmente como estimu-
lante digestivo e carminativo; para uso interno e externo
de infamaes da mucosa da boca e garganta. Tambm
com propriedades hipoglicemiantes, calmantes (ansio-
lticas), anticolinestersicas (til em demncias) e ainda
como reguladora do ciclo menstrual devido s substn-
cias estrognicas.
Droga vegetal com indicao para transpirao excessiva.
Culinria (folhas): como condimento na culinria de
vrios pases.
Infuso (ch das folhas e ramos forais frescos ou secos):
ao digestiva (azia, m digesto), auxilia na eliminao
de gases do aparelho digestrio; ao na sudorese exces-
siva das mos e axilas; infamaes da mucosa bucal e
larngea.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: contra-
indicado para gestantes, lactantes e pacientes epilticos.
Evitar o consumo em excesso e por longos perodos.
41) TANCHAGEM - Plantago spp.
Ervas acaules, que crescem espontaneamente em terre-
nos baldios, solos cultivados e pastagens. Possuem fo-
lhas dispostas em roseta basal, lminas membranceas e
nervuras destacadas. Caracterizam-se pelas hastes onde
as fores se dispem em espigas. Plantago major L. (ori-
ginria da Europa e Sibria) e Plantago lanceolata L. (ori-
ginria da Europa e sia), tornaram-se subespontneas
do Nordeste ao Sul do Brasil. A Plantago australis Lam.,
chamada tambm de cinco-nervos e lngua-de-vaca,
nativa do sul e sudeste do Brasil, alm de ocorrer na
Amrica-do-Norte e Amrica-Central.
Famlia botnica: Plantaginaceae
Nomes populares: tansagem, tranchagem, plantagem,
transagem, sete-nervos, tanchs, etc.
Partes usadas: folhas e sementes.
Principais componentes qumicos: favonides, es-
terides, mucilagens, taninos, saponinas, cidos orgni-
cos, alcalides e sais minerais.
Algumas propriedades: folha: cicatrizante, diurtica e
anti-hemorrgica.
Sementes (ricas em mucilagens) so empregadas como
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
a
r
i
a
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
F
o
t
o
:
L
i
n
e
t
e
M
.
M
e
n
z
e
n
g
a
H
a
r
a
g
u
c
h
i
2
0
0
9
antiinfamatrios, reguladores intestinais.
Culinria: folhas cozidas em caldos, sopas, refogados.
Infuso (ch das folhas): uso interno, diurtica, antiin-
famatria e cicatrizante; em gargarejos, faringite, gen-
givite, estomatite, traquete, amigdalite no bacterianas.
Cataplasma (folhas amassadas em pilo): picadas de in-
setos e afeces da pele.
Precaues/Toxicidade/Contra-indicao: embora
o PPPM-Ceme no tenha verifcado efeito txico, seu
uso no recomendado para gestantes e lactantes.
Em Plantago major, estudos do PPPM-Ceme no veri-
fcaram ao antiinfamatria, analgsica e antipirtica.
Plantago major
Plantago lanceolata
207
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
ANEXO C:
PLANTAS E PRINCPIOS ATIVOS.
Helen Elisa Cunha de Rezende Bevilacqua
Linete Maria Menzenga Haraguchi
Prof. Dr. Luis Carlos Marques
Profa. Dra. Nilsa Sumie Yamashita Wadt
Sumiko Honda
Uma planta com valor teraputico, nutricional ou t-
xico tem, entre seus componentes qumicos, substncias
capazes de atuar sobre os organismos, infuenciando suas
funes.
Se a interao dessas substncias qumicas com o nos-
so organismo produz efeitos desejveis, como o alvio de
dores, correo de presso arterial alterada, regulao de
temperatura corporal, etc., atuando no alvio de sintomas
das doenas, as plantas que as possuem sero consideradas
plantas medicinais.
Plantas txicas so aquelas que produzem substncias
com o potencial de causar intoxicaes em seres humanos
ou em animais. Mas a humanidade j se aproveitou dessas
plantas, utilizando essas substncias para envenenar fechas
na caa ou como veneno para peixes. Em tempos recentes,
foram utilizadas como importante fonte de frmacos ou de
modelos moleculares de substncias ativas.
As plantas so capazes de produzir um arsenal imenso
de substncias, tanto metablitos primrios (essenciais
sobrevivncia da planta) como secundrios. Esses ltimos
que j foram considerados pelos cientistas como produto
de dejeto da planta, so compostos produzidos com gasto
de energia, para que as plantas, seres fxos ao solo, possam
exercer a sua comunicao com o mundo, funcionando
como sinais qumicos, trazendo-lhes benefcios.
Esses compostos, embora aparentemente no essenciais
sobrevivncia da planta (metablitos secundrios), partici-
pam de processos que garantem a perpetuao das espcies
em seus ambientes. Por exemplo, atravs do sabor desagrad-
vel ou da toxicidade afastam predadores, pelo odor ou colo-
rao podem atrair polinizadores e dispersores. Essas subs-
tncias, chamadas de metablitos secundrios das plantas, de
alguma forma mimetizam aquelas normalmente existentes
em nosso organismo, infuenciando-o no seu funcionamen-
to e, neste contexto, passam a se chamar princpio ativo.
Os principais grupos de princpios ativos (metablitos
secundrios) presentes nas plantas constam da tabela 2
deste anexo.
208
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Nome popular e cientfco das plantas citadas
na Tabela 2 do ANEXO C
gar algas dos gneros Gelidium, Gracilaria,
Gelidiella e Pterocladia
Alecrim Rosmarinus ofcinalis
Alfazema Lavandula angustifolia e L. ofcinalis
Alho Allium sativum
Babosa Aloe vera e A. arborescens
Blsamo-de-tolu - Myroxylon balsamum
Barbatimo Stryphnodendron adstringens (sin.:
S. barbatimam)
Benjoim Styrax spp.
Caf Cofea arabica
Calndula - Calendula ofcinalis
Camomila Matricaria chamomilla
Cnfora-de-jardim - Artemisia camphorata
Canela-da-china Cinnamomum zeylanicum
Capim-limo Cymbopogon citratus
Cscara-sagrada - Rhamnus purshiana
Castanha-da-ndia - Aesculus hippocastanum
Chamb Justicia pectoralis
Confrei Symphytum ofcinale
Cravo-da-ndia - Syzygium aromaticum (sin.: E.
caryophyllata)
Cumaru-de-cheiro Amburana cearensis
Digitlis Digitalis purpurea e D. lanata
Erva-doce - Pimpinella anisum
Espirradeira Nerium oleander
Eucalipto Eucalyptus globulus e E. citriodora
Fucus Fucus sp. (alga)
Funcho - Foeniculum vulgare
Ginkgo Ginkgo biloba
Ginseng - Panax ginseng
Goiabeira Psidium guajava
Guaran Paullinia cupana
Guaco Mikania glomerata e M. laevigata
Hamamlis - Hamamelis virginiana
Incenso Boswellia serrata
Hortel Mentha x piperita, M. spicata e outras
Linhaa Linum usitatissimum
Malva Malva sylvestris
Mama-cadela Brosimum gaudichaudii
Mandioca-brava - Manihot esculenta
Maracuj Passifora edulis, P. alata e P. incarnata
Melissa Melissa ofcinalis
Menta - Mentha arvensis
Manjerico - Ocimum basilicum
Mulungu Erythrina spp.
Organo - Origanum vulgare
Pimenta-vermelha e pimento - Capsicum spp
Quina Cinchona spp.
Rom - Punica granatum
Ruibarbo Rheum palmatum
Salsinha Petroselinum crispum
Slvia - Salvia ofcinalis
Sene - Senna alexandrina
Tabaco Nicotiana tabacum
Tanchagem Plantago major, P. lanceolata e P.
australis
Terebentina leo resina de Pinus spp.
Tomilho Tymus vulgaris
Trevo-cheiroso Melilotus ofcinalis
209
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
PRINCPIOS ATIVOS
leos essenciais
Mucilagem
Taninos
Alcalide
Metilxantinas
AO
eupptica (digestiva)
estimulante do apetite.
demulcente (protetora de mucosa)
e emoliente (protetora da pele)
laxante e regulador do sistema gastrintestinal
ao sobre o sistema nervoso:
analgsica, sedativa, anestsica, calmante, estimulante,
tnico, entre outras
carminativa (antifatulenta) contra gases intestinais
e antiespasmdica (contra a clica)
rubefaciente
estimula a microcirculao local
anti-sptica
(bactericida/
bacteriosttica).
e antiinfamatria
ao sobre o
sistema nervoso
anti-infamatria,
anti-sptica,
cicatrizante e
anestsica local
EXEMPLOS DE FONTE
Condimentos, folhas: organo, manjerico, slvia e
tomilho
Folhas e fores de malva; gel das folhas da babosa,
tanchagem (toda)
Fucus e gar, sementes de tanchagem e linhaa
Folhas maracuj e tabaco (no utilizar), casca da
quina e mulungu, beladona (inteira-txica), boldo
Frutos de erva-doce e funcho, folhas de melissa e
hortel, inforescncias de camomila
Folhas de menta, cnfora-de-jardim e alecrim
Inforescncias da camomila e calndula, cravo-da-
ndia, alho
Canela-da-china, cravo-da-ndia, folhas de menta,
tomilho e slvia
Casca de barbatimo, folhas e casca de hamamlis,
folhas e razes de confrei e tanchagem, casca do
fruto da rom
Broto goiabeira, folhas tanchagem
Sementes do caf e guaran estimulante
Inforescncias de camomila e alfazema, folhas
frescas de melissa e capim-limo
de uso tpico
estimulante
uso externo: em feridas,
queimaduras, hemorridas e
infamao local
uso interno: diarria
sedativa ou calmante
Folhas de eucalipto e hortel vias respiratrias e expectorante.
Folhas e talo da salsinha vias urinrias
Tabela 2 - Principais grupos de princpios ativos (metablitos secundrios) presentes nas plantas.
210
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
PRINCPIOS ATIVOS
Fenlicos
Glicosdeo cardiotnico
Glicosdeo saponnico
Glicosdeo favonide
Glicosdeo antraquinnico
Glicosdeo cianogentico
Goma-resinas
leo-resinas
Glicosdeo cumarnico
AO
rubefaciente e vesicante
cardiotnica
vasoprotetora e anti-edema
aumenta a resistncia dos vasos capilares
estimulante do peristaltismo intestinal, efeito laxante
libera cido ciandrico (txico)
antiinfamatria
anti-sptica, cicatrizante
tnico-estimulante do metabolismo
antiinfamatria
expectorante, antiinfamatria
fotossensibilizante (txico)
broncodilatadora
anticoagulante
EXEMPLOS DE FONTE
Pimenta-vermelha e pimento
Espirradeira, dedaleira (obs.: no utilizar as plantas,
toxicidade)
Semente de castanheiro-da-ndia
Folhas de Ginkgo, Citrus
Casca de cscara-sagrada, folhas e frutos do sene,
raiz ruibarbo, folha de babosa (resina)
Mandioca-brava
Incenso
Resina de benjoim
Raiz de ginseng (Panax ginseng)
Inforesc. de calndula, camomila e arnica
Blsamo-de-tolu, terebentina, gengibre
Folhas e razes de mama-cadela
Folha de guaco e chamb, casca e semente de
cumaru-de-cheiro
Folhas e fores de trevo-cheiroso
Tabela baseada em: FREITAS, P.C.D. Apostila do treinamento tecnolgico: ftoterapia e ftoterpicos. So Paulo: USP, 1996. (Apostila).
ANEXO D: INFORMAES SOBRE O
CULTIVO E USO DE ALGUMAS PLANTAS
MEDICINAIS
Nome popular
Alecrim
Alfavaco
Alho
Arnica-do-
mato
Aroeira-
mansa
Arruda
Babosa ou
loe
Beldroega
Boldo-do-
chile
Boldo-peludo
Calndula
Camomila
Nome cientfco
Rosmarinus ofcinalis
Ocimum gratissimum
Allium sativum
Porophyllum ruderale
Schinus terebinthifolius
Ruta graveolens
Aloe vera
Portulaca oleracea
Peumus boldus
Plectranthus barbatus
Calendula ofcinalis
(*) Matricaria recutita
Propagao
sementes,
estacas
sementes,
estacas
bulbilho
(dente)
sementes
sementes,
estacas
sementes,
estacas
brotos laterais
sementes,
estacas
uma planta
extica
sementes,
estacas
sementes
sementes
Condies de
cultivo
sol pleno/solo
arenoso e seco
sol pleno/solo rico
e bem drenado
sol pleno/solo rico
e bem drenado
sol pleno/solo rico
sol pleno/solo
arenoso e mido
sol pleno/solo rico
e bem drenado
sol pleno/solo
arenoso
meia sombra ou sol
pleno, solo rico/
mido
no cresce no Brasil
sol pleno/solo
arenoso e seco
sol pleno/solo rico
e mido
sol pleno/solo rico
e mido
Parte usada
folhas
folhas
bulbos
planta toda
Casca do caule
e frutos
folhas e fores
gel mucilagino-
so das folhas
folhas, fores e
talos
folhas
folhas
fores
captulos
forais/fores
Colheita
ano todo
antes da
forao
150 dias aps
o plantio
antes da
frutifcao
frutifcao
forescimento
ano todo
ano todo
-
ano todo
forescimento
forescimento
Classifcao
ANVISA
Especiaria
Droga vegetal
-
D.V, Especiaria
Fitoterapia
-
Especiaria
Droga Vegetal
-
Fitoterapia
-
D.V., Ch
Fitoterapia
Droga Vegetal
Fitoterapia
Droga Vegetal
Ch, D.V.
Fitoterapia
PPPM-
CEME
-
-
X
-
X
-
-
-
-
X
-
X
Tabela 3 Informaes sobre o cultivo e uso de algumas plantas medicinais citadas no trabalho.
211
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
212
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
X
-
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
-
-
Ch
Droga Vegetal
Ch
Droga Vegetal
-
Fitoterapia
-
Droga vegetal
-
Ch, D.V.,
Especiaria
Fitoterapia
Fitoterapia
Droga Vegetal
Ch
Especiaria
aps
forescimento
antes do
forescimento
6 meses aps
o plantio
5 meses aps
o plantio
ano todo
4 meses aps
o plantio
ano todo
ano todo
ano todo
frutifcao
2 ano/anual
3-4 meses
aps plantio
folhas/hastes
e rizomas
folhas
folhas
partes
areas
folhas
razes
folhas e razes
partes areas
planta toda
frutos
folhas
folhas, frutos e
talos
sol pleno/solo
mido
sol pleno/solo rico
sol pleno/solo todo
tipo
sol pleno/solo todo
tipo
sol pleno ou parcial
/solo areno -
argiloso
sol pleno ou
parcial/solo rico/
mido
sol pleno/solo rico
e mido
sol pleno/solo rico
sol pleno/solo todo
tipo
sol pleno/solo
arenoso, bem
drenado
sol pleno e
parcial/solo rico e
profundo
sol pleno/solo
leve, frtil e bem
drenado
rizomas,
sementes
sementes,
estacas
diviso de
touceira
sementes,
estacas
diviso de
touceira
diviso de
touceira
sementes
estacas
sementes
sementes
sementes
sementes
Costus spicatus
Artemisia camphorata
Cymbopogon citratus
Baccharis trimera
Alpinia zerumbet
Symphytum ofcinale
Cecropia glazioui
Lippia alba
Chenopodium
ambrosioides
Pimpinella anisum
Maytenus ilicifolia
Foeniculum vulgare
Cana-do-
brejo
Cnfora-de-
jardim
Capim-limo
Carqueja
Colnia
Confrei
Embaba-
vermelha
Erva-cidreira
falsa
Erva-de-
santa-maria
ou mentruz
Erva-doce ou
anis
Espinheira-
santa
Funcho ou
erva-doce
213
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
-
X
-
-
X
-
-
-
-
-
X
Especiaria, D.V.,
Fitoterapia
Fitoterapia
Droga vegetal
-
Ch
Ch, D.V.,
Especiaria
Fitoterapia
-
Especiaria
Especiaria
Especiaria
Fitoterapia
Droga Vegetal
Ch
Droga Vegetal
8-10 meses
aps o plantio
6 meses aps
o plantio
6 meses aps
o plantio
ano todo
antes do
forescimento
6 a 8 meses
aps o plantio
folhas bem
desenvolvidas
ano todo
ano todo
ano todo
vero, ano
todo
rizomas
folhas
folhas
fores
sumidades
foridas e
ramos/folhas
fores e folhas
folhas
folhas e talos
folhas e talos
partes areas
folhas
sol pleno/solo leve,
bem drenado e rico
sol pleno e parcial/
solo argiloso,
mido e rico
sol pleno e parcial/
solo argiloso,
mido e rico
sol pleno/solo todo
tipo
sol pleno ou
sombreado/ solo
rico
sol pleno e parcial/
solo argiloso,
drenado e mido
sol pleno ou meia
sombra/solo
argiloso
sol pleno ou meia
sombra/solo rico
sol pleno ou meia
sombra/solo rico
sol pleno/solo rico
e bem drenado
sol pleno/solo rico
e bem drenado
rizoma
estacas
estacas
sementes
diviso de
touceira,
estacas de
caule
rizoma,
estacas,
diviso de
touceira
estacas,
alporquia
sementes,
estacas
sementes,
estacas
sementes
sementes
Zingiber ofcinale
Mikania glomerata
Mikania laevigata
Hibiscus sabdarifa
Mentha x piperita
Artemisia absinthium
Laurus nobilis
Ocimum basilicum
Origanum majorana
Passifora incarnata
Passifora edulis
Gengibre
Guaco
Guaco
Hibisco
Hortel ou
hortel-
pimenta
Losna ou
absinto
Louro
Manjerico ou
baslico
Manjerona
Maracuj,
passifora
Maracuj-
azedo
214
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
X
-
X
-
-
X
-
-
-
-
-
sumidades
foridas e
folhas
folhas e
ramos
partes areas
sem as fores
folhas
folhas
partes areas
planta toda
casca do fruto
folhas e talos
folhas
fores
Melissa ofcinalis
Mentha arvensis
Ageratum conyzoides
Bidens pilosa
Eugenia unifora
Phyllanthus niruri
Phyllanthus tenellus
Punica granatum
Petroselinum crispum
Salvia ofcinalis
Sambucus nigra
Ch
Droga Vegetal
Fitoterapia
Ch
Especiaria
Droga Vegetal
Droga Vegetal
Ch
Droga Vegetal
Droga Vegetal
-
Droga Vegetal
Especiaria
Especiaria
Droga Vegetal
Fitoterapia
Droga Vegetal
ano todo
ano todo
forescimento
ano todo
primavera
2-3 meses
aps o plantio
2-3 meses
aps o plantio
3 anos (na
frutifcao)
ano todo
ano todo
forescimento
sol pleno/solo rico
sol pleno/solo rico
e mido
sol pleno/solo
mido
sol pleno/solo
argiloso e bem
drenado
sol pleno/solo rico
sol pleno, parcial/
solo todo tipo,
mido
sol pleno, parcial/
solo todo tipo,
mido
sol pleno/solo rico
e mido
sol pleno/solo rico
sol pleno/solo rico
sol pleno/solo rico
sementes,
diviso de
touceira
diviso de
touceira,
estacas,
estolo
sementes
sementes
sementes
sementes
sementes
sementes,
estacas
sementes
sementes,
estacas
estacas
Melissa, Erva-
cidreira
Menta ou
Hortel-doce
Mentrasto ou
erva-de-so-
joo
Pico-preto
Pitanga
Quebra-pedra
Quebra-pedra
Rom
Salsa
Slvia
Sabugueiro
215
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
-
-
-
X
X
-
X
Especiaria
Fitoterapia
Droga Vegetal
Fitoterapia
Droga Vegetal
-
Especiaria
Especiaria
antes da
forao
frutifcao
antes da
forao
ano todo
antes da
forao
ano todo
frutifcao
folhas e talos
fololos/folhas
e frutos
folhas
folhas
folhas e razes
folhas e talos
sementes
sol pleno/solo rico
sol pleno/solo
profundo
sol pleno/solo
arenoso e rico
sol pleno, parcial/
solo mido
sol pleno/solo todo
tipo
sol pleno/solo todo
tipo, bem drenado
sol pleno/solo todo
tipo
sementes
sementes
sementes
sementes
sementes
sementes,
estacas,
diviso de
touceira
sementes
Satureja hortensis
Senna alexandrina e S.
corymbosa
Tanacetum parthenium
Plantago major
Petiveria alliacea
Tymus vulgaris
Bixa orellana
Segurelha
Sene
Tanaceto ou
artemsia
Tanchagem
Tipi
Tomilho
Urucum
Tabela 3 do Anexo D elaborada por:
AdoLuizCastanheiroMartins, CarlosMunizdeSouza, HelenElisaCunhadeRezendeBevilacqua, JuscelinoNobuo
Shiraki, LineteMariaMenzengaHaraguchi, MarcosRobertoFurlan, OswaldoBarrettodeCarvalho, SumikoHonda
Na coluna Classifcao ANVISA
(Atualizado em Maro/2010), para:
Ch = vide Regulamento Tcnico de Espcies Vegetais para o Preparo
de Chs constante da Resoluo ANVISA RDC n 267/05 e ANVI-
SA RDC 219/06 que aprova a incluso do uso das espcies vegetais e
parte(s) de espcies vegetais para o preparo de chs em complementa-
o s espcies aprovadas pela Resoluo ANVISA RDC n. 267/05;
Especiaria = vide Regulamento Tcnico para Especiarias, Temperos e
Molhos constante da Resoluo ANVISA RDC n 276/05;
Fitoterapia = vide Lista de Medicamentos Fitoterpicos de
Registro Simplifcado constante da Instruo Normativa n
05, de 11.12.2008.
Droga Vegetal = Resoluo RDC n10, de 09.03.2010 que
dispe sobre a notifcao de drogas vegetais junto ANVISA.
*Nome em conformidade com a Resoluo RDC 10/10 e
constante do Anexo E segundo as regras de nomenclatura botnica.
PPPM-CEME = Algumas Plantas Estudadas pelo
Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais da Central
de Medicamentos. Resultados divulgados pelo Ministrio
da Sade-2006: A Fitoterapia no SUS e o Programa
de Pesquisas de Plantas Medicinais da Central de
Medicamentos.
OBS.: D.V. = droga vegetal solo rico = solo rico em matria orgnica
216
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
ANEXO E:
FAMLIA BOTNICA E NOMENCLATUR
BOTNICA DAS PLANTAS CITADAS NO
TRBALHO, POR ORDEM ALFABTICA DE
NOME POPULAR.
Sumiko Honda
NOME POPULAR
Abacateiro
Abacaxi
Abbora
Abbora
Abricot
Absinto, losna
Abuta
Abutua
Aafro
Aafro-da-terra, crcuma
Aa
Acerola
Agave
Agrio
Alamanda
Alcachofra
Alcauz
Alecrim
Alecrim-pimenta
Alface
Alfavaca, alfavaco
Alfavaca-cheiro-de-
anis, atroveram
Alfavaca-cheirosa,
alfavaco, manjerico
ou baslico
FAMLIA BOTNICA
Lauraceae
Bromeliaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Rosaceae
Asteraceae
Menispermaceae
Menispermaceae
Iridaceae
Zingiberaceae
Arecaceae
Malpighiaceae
Agavaceae
Brassicaceae
Apocynaceae
Asteraceae
Fabaceae/ Faboideae
Lamiaceae
Verbenaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
NOME CIENTFICO
Persea americana Mill. = P. gratissima
C.F. Gaertn.
Ananas comosus (L.) Merr. = Ananas
sativus Schult. & Schult. f.
Cucurbita maxima Duchesne ex Lam.
Cucurbita pepo L.
Prunus americana Marshall
Artemisia absinthium L.
Abuta spp.
Cissampelos sp.
Crocus sativus L.
Curcuma longa L.
Euterpe oleracea Mart.
Malpighia glabra L. = M. punicifolia L.=
M. emarginata DC.
Agave sp.
Nasturtium ofcinale R. Br.
Allamanda cathartica L.
Cynara scolymus L. = C. cardunculus L.
Glycyrrhiza glabra L.
Rosmarinus ofcinalis L.
Lippia sidoides Cham.
Lactuca sativa L.
Ocimum gratissimum L.
Ocimum selloi Benth.
Ocimum basilicum L.
217
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Ocimum gratissimum L.
Lavandula angustifolia Mill., L. ofcinalis
Chaix e L. dentata L.
Gossipium herbaceum L. e G. barbadense
L.
Allium sativum L.
Aloe arborescens Mill., Aloe ferox
Mill. e Aloe vera ( L.) Burm f. = Aloe
barbadensis Mill.
Althaea ofcinalis L.
Amburana cearensis (Allemo) A.C. Sm.
Prunus domestica L.
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb = P.
amygdalus Batsch
Arachis hypogaea L.
Morus spp.
Morus nigra L.
Carapa guianensis Aubl.
Carapa procera DC.
Angelica archangelica L.
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
Pimpinella anisum L.
Anthurium sp.
Piper cf. lhotzkyanum Kunth
Psidium catleyanum Sabine e Psidium cf.
guineense Sw.
Annona coriacea Mart.
Arnica montana L.
Solidago microglossa DC.
Lamiaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Alliaceae/ Liliaceae
anteriormente
Asphodelaceae/ Liliaceae
anteriormente
Malvaceae
Fabaceae/ Faboideae
Rosaceae
Rosaceae
Fabaceae/ Faboideae
Moraceae
Moraceae
Meliaceae
Meliaceae
Apiaceae
Fabaceae/ Mimosoideae
Apiaceae
Araceae
Piperaceae
Myrtaceae
Annonaceae
Asteraceae
Asteraceae
Alfavaco, alfavaca
Alfazema
Algodo
Alho
loe, babosa,
Altia
Amburana, cumar-
de-cheiro
Ameixa
Amndoa
Amendoim
Amora
Amora-preta
Andiroba
Andirobinha
Anglica
Angico
Anis, erva-doce
Antrio
Apeparuo
Ara
Araticum
Arnica
Arnica
218
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Solidago chilensis Meyen = S. microglossa
DC. var. linearifolia (DC.) Baker
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.
Lithraea sp.
Schinus sp.
Schinus terebinthifolius Raddi
Solanum aculeatissimum Jacq.
Ruta graveolens L.
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. =
Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.
Schinus terebinthifolius Raddi
Schefera actinophylla (Endl.) Harms =
Brassaia actinophylla Endl.
Vernonanthura phosphorica (Vell.)
H.Rob. = Vernonia polyanthes Less.
Ocimum selloi Benth.
Avena sativa L.
Adiantum sp.
Rhododendron spp.
Olea europaea L.
Ilex sp.
Aloe arborescens Mill., Aloe ferox
Mill. e Aloe vera ( L.) Burm f. = Aloe
barbadensis Mill.
Sedum sp.
Myroxylon balsamum (L.) Harms
Musa x paradisiaca L. e M. acuminata
Colla
Monstera deliciosa Liebm.
Asteraceae
Asteraceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Solanaceae
Rutaceae
Asteraceae
Anacardiaceae
Araliaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Poaceae
Pteridaceae
Ericaceae
Oleaceae
Aquifoliaceae
Asphodelaceae/ Liliaceae
anteriormente
Crassulaceae
Fabaceae/ Faboideae
Musaceae
Araceae
Arnica-do-campo
Arnica-do-mato
Aroeira
Aroeira-brava
Aroeira-mansa, arueira
Arrebenta-cavalo
Arruda
Artemsia, tanaceto
Arueira, aroeira-mansa
rvore-polvo, chefera
Assa-peixe
Atroveram, alfavaca-
cheiro-de-anis
Aveia
Avenca
Azalas
Azeitona, oliveira
Azevinho
Babosa, loe
Blsamo
Blsamo-de-tolu
Banana
Banana-de-macaco
219
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Stryphnodendron adstringens (Mart.)
Coville = S. barbatimam Mart.
Arctium lappa L.
Ocimum basilicum L.
Solanum tuberosum L.
Ipomoea batatas (L.) Lam.
Atropa belladonna L.
Portulaca oleracea L.
Styrax spp., Styrax benzoin Dryand
Solanum melongena L.
Beta vulgaris L.
Vernonia sp.
Vernonanthura condensata (Baker) H.
Rob. = Vernonia condensata Baker
Plectranthus barbatus Andrews =
Coleus barbatus (Andrews) Benth. = C.
forskohlii (Willd.) Briq.
Peumus boldus Molina
Plectranthus barbatus Andrews =
Coleus barbatus (Andrews) Benth. = C.
forskohlii (Willd.) Briq.
Plectranthus neochilus Schltr.
Lufa cylindrica M. Roem.
Pothomorphe umbellata (L.) Miq.
Myrocarpus fondosus Allemo
Myroxylon peruiferum L. f.
Aglaonema spp.
Cofea arabica L.
Fabaceae/ Mimosoideae
Asteraceae
Lamiaceae
Solanaceae
Convolvulaceae
Solanaceae
Portulacaceae
Styracaceae
Solanaceae
Amaranthaceae/
Chenopodiaceae antiga
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Monimiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Cucurbitaceae
Piperaceae
Fabaceae/ Faboideae
Fabaceae/ Faboideae
Araceae
Rubiaceae
Barbatimo
Bardana
Baslico, manjerico,
alfavaca-cheirosa ou
alfavaco
Batata
Batata-doce
Beladona
Beldroega, verduega
Benjoim
Berinjela
Beterraba
Boldo
Boldo-baiano,
estomalina
Boldo-brasileiro,
boldo-peludo
Boldo-do-chile
Boldo-peludo, boldo-
brasileiro
Boldo-rasteiro
Buchinha
Caapeba
Cabreva
Cabreva
Caf-de-salo
Cafeeiro
220
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Picrolemma sprucei Hook. F.
Anacardium occidentale L.
Calendula ofcinalis L.
Lantana camara L.
Matricaria chamomilla L. = Matricaria
recutita L.= Chamomilla recutita (L.)
Rauschert
Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh.
Saccharum x ofcinarum L.
Costus spicatus (Jacq.) Sw., C. arabicus L.
= C. brasiliensis K. Schum.
Cinnamomum zeylanicum Blume= C.
verum J. Presl
Artemisia camphorata Vill.
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl
Cannabis sativa L.
Sida sp.
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf =
Andropogon citratus DC.
Tropaeolum majus L.
Diospyros kaki L.f.
Caralluma fmbriata Wall.
Averrhoa carambola L.
Jacaranda caroba (Vell.) DC.
Jacaranda sp.
Baccharis trimera (Less.) DC. e B.
genistelloides (Lam.) Pers.
Acanthospermum australe (Loef.)
Kuntze
Simaroubaceae
Anacardiaceae
Asteraceae
Verbenaceae
Asteraceae
Myrtaceae
Poaceae
Costaceae/ Zingiberaceae
anteriormente
Lauraceae
Asteraceae
Lauraceae
Cannabaceae
Malvaceae
Poaceae
Tropaeolaceae
Ebenaceae
Apocynaceae/ Asclepiadaceae
antiga
Oxalidaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Caferana
Caju , cajueiro
Calndula
Cambar,
cambarazinho ou
lantana
Camomila
Camu-camu
Cana-de-acar
Cana-do-brejo
Canela, Canela-da-ndia
Cnfora-de-jardim
Canforeira
Cnhamo
Capi
Capim-limo
Capuchinha
Caqui
Caraluma
Carambola
Caroba
Carobinha
Carqueja
Carrapicho
221
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Amaranthus spp.
Aniba canelilla (Kunth) Mez
Rhamnus purshiana DC.
Aesculus hippocastanum L.
Bertholletia excelsa Bonpl.
Tanacetum vulgare L.
Trichilia catigua A. Juss.
Equisetum arvense L., E. hyemale L. e
Equisetum spp.
Allium cepa L.
Daucus carota L.
Centella asiatica (L.) Urb.
Prunus cerasus L.
Camellia sinensis (L.) Kuntze = Tea
sinensis L.
Hydnocarpus sp.
Justicia pectoralis Jacq.
Echinodorus macrophyllus (Kunth)
Micheli e E. grandiforus (Cham. &
Schltdl.) Micheli
Tevetia peruviana (Pers.) K. Schum. =
T. neriifolia Juss. ex Steud.
Schefera actinophylla (Endl.) Harms =
Brassaia actinophylla Endl.
Schefera arboricola (Hayata) Merr.
Sechium edule (Jacq.) Sw.
Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.
Amaranthaceae
Lauraceae
Rhamnaceae
Hippocastanaceae
Lecythidaceae
Asteraceae
Meliaceae
Equisetaceae
Alliaceae/ Liliaceae
anteriormente
Apiaceae
Apiaceae
Rosaceae
Teaceae
Salicaceae/ Flacourtiaceae
antiga
Acanthaceae
Alismataceae
Apocynaceae
Araliaceae
Araliaceae
Cucurbitaceae
Chloranthaceae
Caruru
Casca-preciosa, pau-
rosa
Cscara-sagrada
Castanha-da-ndia
Castanha-do-par
Catinga-de-mulata,
quintide
Catuaba
Cavalinha
Cebola
Cenoura
Centela-asitica
Cereja
Ch (verde)
Chalmogra
Chamb, trevo-do-par
Chapu-de-couro
Chapu-de-napoleo
Chefera, rvore-polvo
Chefera
Chuchu
Cidro, erva-cidreira,
erva-cidreira-do-mato
222
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Senecio cruentus (Masson ex L'Hr.) DC.
Senecio douglasii DC.
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers
Anchietea salutaris A. St.-Hil.
Cymbopogon sp.
Clivia miniata Regel
Cocos nucifera L.
Coriandrum sativum L.
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burt. &
R.M. Sm. = A. nutans (L.) Roscoe = A.
speciosa (J.C. Wendl.) K. Schum.
Diefenbachia spp., D. picta Schot, D.
seguine (Jacq.) Schot, D. amoena Bull.
Symphytum ofcinale L.
Copaifera langsdorfi Desf., C. multijuga
Hayne, C. reticulata Ducke e Copaifera
spp.
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
Leucas martinicensis (Jacq.) R. Br.
Euphorbia milii Des Moul. = E. splendens
Bojer ex Hook.
Philodendron bipinnatifdum Schot ex
Endl. = P. selloum K. Koch
Brassica spp.
Syzygium aromaticum (L.) Merr. &
L.M. Perry = Eugenia caryophyllata
Tunb.
Tagetes erecta L. e T. patula L.
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.
Amburana cearensis (Allemo) A.C. Sm.
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Violaceae
Poaceae
Amaryllidaceae
Arecaceae
Apiaceae
Zingiberaceae
Araceae
Boraginaceae
Fabaceae/ Caesalpinioideae
Araceae
Lamiaceae
Euphorbiaceae
Araceae
Brassicaceae
Myrtaceae
Asteraceae
Fabaceae/ Faboideae
Fabaceae/ Faboideae
Cinerria
Cinerria
Cip-de-so-joo
Cip-suma
Citronela
Clvia
Coco
Coentro
Colnia
Comigo-ningum-pode
Confrei
Copaba
Copo-de-leite
Cordo-de-frade
Coroa-de-cristo
Costela-de-ado
Couves
Cravo-da-ndia
Cravo-de-defunto
Cumar
Cumar-de-cheiro,
amburana
223
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Teobroma grandiforum (Willd. ex
Spreng.) K. Schum.
Curcuma longa L.
Cestrum nocturnum L.
Digitalis purpurea L. e D. lanata Ehrh.
Taraxacum ofcinale (L.) Weber ex
F.H.Wigg.
Mimosa pudica L.
Cecropia peltata L.
Cecropia pachystachya Trcul = C.
adenopus Mart. ex Miq.
Cecropia hololeuca Miq.
Cecropia glazioui Snethl.
Cordia curassavica (Jacq.) Roem. &
Schult. = Cordia verbenacea DC. =
Varronia verbenacea (DC.) Borhidi
Aloysia citriodora Palau
Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.
Melissa ofcinalis L.
Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC.
= S. apiosyce (Mart. ex Tul.) A.DC. =
Citrosma apiosyce Mart. ex Tul.
Siparuna guianensis Aubl. = S. camporum
(Tul.) A.DC. = Citrosma campora Tul.
Lippia alba (Mill.) N.E.Br
Malvaceae/ Sterculiaceae
antiga
Zingiberaceae
Solanaceae
Plantaginaceae/
Scrophulariaceae
anteriormente
Asteraceae
Fabaceae/ Mimosoideae
Urticaceae/ Cecropiaceae
antiga
Urticaceae/ Cecropiaceae
antiga
Urticaceae/ Cecropiaceae
antiga
Urticaceae/ Cecropiaceae
antiga
Boraginaceae
Verbenaceae
Chloranthaceae
Lamiaceae
Siparunaceae/ Monimiaceae
anteriormente
Siparunaceae/ Monimiaceae
anteriormente
Verbenaceae
Cupuau
Crcuma, aafro-da-
terra
Dama-da-noite
Dedaleira
Dente-de-leo
Dormideira
Embaba
Embaba-branca
Embaba-prateada
Embaba-vermelha
Erva-baleeira
Erva-cidreira
Erva-cidreira, erva-
cidreira-do-mato, cidro
Erva-cidreira, melissa
Erva-cidreira-do-mato
Erva-cidreira-dos-
campos
Erva-cidreira-falsa
224
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Polygonum hydropiperoides Michx. e P.
punctatum Elliot
Chenopodium ambrosioides L. =
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin
& Clemants = Teloxys ambrosioides (L.)
W.A. Weber
Cimicifuga racemosa (L.) Nut.
Hypericum perforatum L.
Ageratum conyzoides L.
Pimpinella anisum L.
Foeniculum vulgare Mill.
Ilex paraguariensis A. St.-Hil.
Solanum americanum Mill. = S. nigrum
L.
Hydrocotyle exigua (Urb.) Malme
Boerhavia difusa L.
Sansevieria trifasciata Prain var. laurentii
(De Wild.) N.E. Br.
Sansevieria trifasciata Prain
Sansevieria trifasciata Prain "Hahnii"
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek e M.
aquifolium Mart.
Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burguer,
Lanj. & Wess. Boer e S. ilicifolia Miq.
Nerium oleander L.
Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
Polygonaceae
Amaranthaceae/
Chenopodiaceae antiga
Ranunculaceae
Hypericaceae/ Clusiaceae
anteriormente
Asteraceae
Apiaceae
Apiaceae
Aquifoliaceae
Solanaceae
Apiaceae
Nyctaginaceae
Ruscaceae/ Liliaceae
anteriormente
Ruscaceae/ Liliaceae
anteriormente
Ruscaceae/ Liliaceae
anteriormente
Celastraceae
Fabaceae/ Faboideae
Moraceae
Apocynaceae
Asteraceae
Erva-de-bicho
Erva-de-santa-maria,
mastruo
Erva-de-so-cristvo
Erva-de-so-joo,
hiprico
Erva-de-so-joo,
mentrasto
Erva-doce, anis
Erva-doce, funcho
Erva-mate
Erva-moura, maria-
pretinha
Erva-terrestre
Erva-tosto
Espada-de-santa-
brbara
Espada-de-so-jorge
Espadinha-rani,
roseta-de-so-jorge
Espinheira-santa
Espinheira-santa
Espinheira-santa
Espirradeira
Estvia
225
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Estomalina, boldo-
baiano
Eucalipto
Ffa
Fedegoso
Feijo
Fel-da-terra
Figueira-do-inferno
Figueiras
Flor-das-almas
Flor-da-terra
Flor-de-maio
Flor-de-outubro
Folha-da-fortuna
Fumo-bravo
Funcho, erva-doce
Galanga
Garra-do-diabo
Genciana
Gengibre
Gergelim
Gervo
Giesta
Asteraceae
Myrtaceae
Amaranthaceae
Fabaceae/ Caesalpinioideae
Fabaceae/ Faboideae
Papaveraceae/ Fumariaceae
antiga
Solanaceae
Moraceae
Asteraceae
Fabaceae/ Faboideae
Cactaceae
Cactaceae
Crassulaceae
Solanaceae
Apiaceae
Zingiberaceae
Pedaliaceae
Gentianaceae
Zingiberaceae
Pedaliaceae
Verbenaceae
Fabaceae/ Faboideae
Vernonanthura condensata (Baker) H.
Rob. = Vernonia condensata Baker
Eucalyptus globulus Labill. e E. citriodora
Hook.
Hebanthe paniculata Mart. = Pfafa
paniculata (Mart.) Kuntze
Senna occidentalis (L.) Link
Phaseolus vulgaris L.
Fumaria sp.
Datura stramonium L.
Ficus spp.
Senecio brasiliensis (Spreng.) Less.
Cymbosema roseum Benth.
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran
Schlumbergera sp.
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. =
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken
Solanum granuloso-leprosum Dunal = S.
erianthum D.Don
Foeniculum vulgare Mill.
Alpinia ofcinarum Hance
Harpagophytum procumbens DC. ex
Meisn.
Gentiana lutea L.
Zingiber ofcinale Roscoe
Sesamum indicum L. (nom. cons.) =
Sesamum orientale L.
Stachytarpheta polyura Schauer
Spartium junceum L.
226
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Ginkgo biloba L.
Panax ginseng C.A. Mey.
Pfafa glomerata (Spreng.) Pedersen
Psidium guajava L.
Grifonia simplicifolia (M. Vahl ex DC.)
Baill.
Casearia sylvestris Sw.
Mikania glomerata Spreng. e M. laevigata
Sch. Bip. ex Baker
Cajanus cajan (L.) Millsp. = Cajanus cf.
indicus Spreng.
Paullinia cupana Kunth
Hamamelis virginiana L.
Hemerocallis spp.
Hedera helix L.
Senecio mikanioides Oto ex Walp.
Hedera canariensis Willd. var. variegata
(Paul) G.M. Schulze
Hibiscus sabdarifa L.
Hypericum perforatum L.
Mentha verticillata L. = M. sativa L.
(nom. illeg.)
Mentha x piperita L.
Mentha x villosa Huds.
Mentha spicata L. = M. viridis (L.) L.
Mentha arvensis L.
Mentha crispa L.
Ginkgoaceae
Araliaceae
Amaranthaceae
Myrtaceae
Fabaceae/ Caesalpinioideae
Salicaceae/ Flacourtiaceae
antiga
Asteraceae
Fabaceae/ Faboideae
Sapindaceae
Hamamelidaceae
Hemerocallidaceae/ Liliaceae
anteriormente
Araliaceae
Asteraceae
Araliaceae
Malvaceae
Hypericaceae/ Clusiaceae
anteriormente
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Ginkgo
Ginseng
Ginseng-brasileiro
Goiabeira
Grifonia
Guaatonga
Guaco
Guandu
Guaran
Hamamlis
Hemeroclis, lrio-
amarelo e lrio-comum
Hera
Hera-alem
Hera-canadense
Hibisco, vinagreira
Hiprico, erva-de-so-
joo
Hortel
Hortel, hortel-
pimenta
Hortel-comum
Hortel-crespa,
hortel-preta, menta
Hortel-doce, menta
Hortel-mida
227
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Hydrangea macrophylla (Tunb.) Ser.
Boswellia carterii Birdw.
Boswellia serrata Roxb.
Dioscorea alata L.
Xanthosoma violaceum Schot
Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes =
Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich.
Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.)
Standl. = T. avellanedae Lorentz ex
Grieseb. = Handroanthus impetiginosus
(Mart. ex DC.) Matos
Tabebuia spp.
Pilocarpus microphyllus Stapf ex
Wardleworth, P. jaborandi Holmes e P.
pennatifolius Lem.
Piper gaudichaudianum Kunth
Plinia truncifora (O. Berg) Kausel =
Myrciaria truncifora O. Berg
Artocarpus heterophyllus Lam.
Syzygium jambos (L.) Alston = Eugenia
jambos L.
Syzygium cumini (L.) Skeels = S.
jambolanum (Lam.) DC.
Smilax brasiliensis Spreng. e S. japicanga
Griseb.
Hymenaea courbaril L.
Abrus precatorius L.
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schot
= P. oxycardium Schot
Rhaphidophora aurea (Linden & Andr)
Birdsey
Hydrangeaceae/ Saxifragaceae
antiga
Burseraceae
Burseraceae
Dioscoreaceae
Araceae
Rubiaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Rutaceae
Piperaceae
Myrtaceae
Moraceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Smilacaceae/ Liliaceae
anteriormente
Fabaceae/ Caesalpinioideae
Fabaceae/ Faboideae
Araceae
Araceae
Hortnsia
Incenso
Incenso
Inhame
Inhame-bravo
Ipecacuanha
Ip-roxo
Ip-roxo (ip-rosa)
Ips
Jaborandi
Jaborandi
Jabuticaba
Jaca
Jambo
Jambolo
Japecanga
Jatob
Jequiriti
Jibia
Jibia-dourada
228
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Solanum sisymbrifolium Lam.
Ziziphus joazeiro Mart.
Caesalpinia ferrea Mart. var. leiostachya
Benth.
Solanum paniculatum L.
Hymenaea sp.
Piper methysticum G. Forst.
Lantana camara L.
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Citrus x aurantium L.
Citrus limonum Risso
Citrus limonia Osbeck
Linum usitatissimum L.
Lilium sp.
Hemerocallis spp.
Lilium longiforum Tunb.
Spathiphyllum wallisii Regel
Lilium longiforum Tunb.
Convallaria sp.
Artemisia sp.
Artemisia absinthium L.
Artemisia vulgaris L.
Laurus nobilis L.
Humulus lupulus L.
Malus sp.
Solanaceae
Rhamnaceae
Fabaceae/ Caesalpinioideae
Solanaceae
Fabaceae/ Caesalpinioideae
Piperaceae
Verbenaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Linaceae
Liliaceae
Hemerocallidaceae/ Liliaceae
anteriormente
Liliaceae
Araceae
Liliaceae
Ruscaceae/ Liliaceae
anteriormente
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Lauraceae
Cannabaceae
Rosaceae
Jo
Ju
Juc, pau-ferro
Jurubeba
Juta
Kava-kava
Lantana, cambar ou
cambarazinho
Laranja
Laranja-amarga
Limo
Limo-cravo
Linhaa
Lrio
Lrio-amarelo, lrio-
comum e hemeroclis
Lrio-branco, lrio-de-
defunto
Lrio-da-paz
Lrio-de-defunto,
lrio-branco
Lrio-do-vale
Lorde
Losna, absinto
Losna-brava
Louro
Lpulo
Ma
229
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Gnaphalium purpureum L.
Ephedra sinica Stapf
Malva sylvestris L. e M. parvifora L.
Pelargonium sp.
Brosimum gaudichaudii Trcul
Carica papaya L.
Ricinus communis L.
Manihot sp. e M. esculenta Crantz
Mandragora ofcinalis L.
Mangifera indica L.
Ocimum campechianum Mill. = O.
micranthum Willd.
Ocimum basilicum L.
Origanum majorana L. = Majorana
hortensis Moench
Origanum vulgare L.
Passifora coccinea Aubl.
Passifora incarnata L.
Passifora edulis Sims
Passifora alata Curtis
Ptychopetalum olacoides Benth.
Achyrocline satureioides (Lam.) DC.
Solanum americanum Mill. = S. nigrum
L.
Chenopodium ambrosioides L. =
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin
& Clemants = Teloxys ambrosioides (L.)
W.A. Weber
Asteraceae
Ephedraceae
Malvaceae
Geraniaceae
Moraceae
Caricaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Solanaceae
Anacardiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Passiforaceae
Passiforaceae
Passiforaceae
Passiforaceae
Olacaceae
Asteraceae
Solanaceae
Amaranthaceae/
Chenopodiaceae antiga
Macela
Mahuang
Malva
Malvo
Mama-cadela
Mamo
Mamona, rcino
Mandioca-brava
Mandrgora
Manga
Manjerico
Manjerico, alfavaca-
cheirosa, alfavaco ou
baslico
Manjerona
Manjerona, organo
Maracuj
Maracuj, passifora
Maracuj-azedo
Maracuj-doce
Marapuama, mirant,
muirapuama
Marcela
Maria-pretinha, erva-
moura
Mastruo, erva-de-
santa-maria
230
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Hyoscyamus niger L.
Melaleuca leucadendra (L.) L.
Citrullus lanatus (Tunb.) Matsum. &
Nakai
Momordica charantia L.
Melissa ofcinalis L.
Mentha spicata L. = M. viridis (L.) L.
Mentha arvensis L.
Hyptis crenata Pohl ex Benth.
Ageratum conyzoides L.
Coronopus didymus (L.) Sm.
Achillea millefolium L.
Aristolochia sp.
Ptychopetalum olacoides Benth.
Commiphora myrrha (T. Nees) Engl. e
Commiphora spp.
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Ptychopetalum olacoides Benth.
Erythrina spp. e E. verna Vell. = E.
mulungu Mart. ex Benth.
Eriobotrya japonica (Tunb.) Lindl.
Azadirachta indica A. Juss.
Achillea millefolium L.
Asclepias curassavica L.
Olea europaea L.
Papaver somniferum L.
Solanaceae
Myrtaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Asteraceae
Aristolochiaceae
Olacaceae
Burseraceae
Brassicaceae
Olacaceae
Fabaceae/ Faboideae
Rosaceae
Meliaceae
Asteraceae
Apocynaceae/ Asclepiadaceae
antiga
Oleaceae
Papaveraceae
Meimendro
Melaleuca
Melancia
Melo-de-so-caetano
Melissa, erva-cidreira
Menta, hortel-crespa,
hortel-preta
Menta, hortel-doce
Mentrasto
Mentrasto, erva-de-
so-joo
Mentruz
Mil-folhas, novalgina
Milomem
Mirant, marapuama,
muirapuama
Mirra
Mostarda
Muirapuama, mirant,
marapuama
Mulung
Nspera
Nim
Novalgina, mil-folhas
Ofcial-de-sala
Oliveira, azeitona
pio, papoula
231
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Organo, manjerona
Orelha-de-elefante
Palmiteiro
Papoula, pio
Paretaria
Pariparoba
Pariparoba
Passiflora, maracuj
Pata-de-vaca
Pau-brasil
Pau-ferro, juc
Pau-jacar
Pau-rosa
Pau-rosa, casca-preciosa
Peiote
Pelargnio
Pequi
Pssego
Petasita
Pico-preto
Pimenta-vermelha e
pimento
Pinho-paraguaio
Pinheiro
Pinheiro-do-paran
Lamiaceae
Araceae
Arecaceae
Papaveraceae
Urticaceae
Piperaceae
Piperaceae
Passiforaceae
Fabaceae/ Cercideae
Fabaceae/ Caesalpinioideae
Fabaceae/ Caesalpinioideae
Fabaceae/ Mimosoideae
Lauraceae
Lauraceae
Cactaceae
Geraniaceae
Caryocaraceae
Rosaceae
Asteraceae
Asteraceae
Solanaceae
Euphorbiaceae
Pinaceae
Araucariaceae
Origanum vulgare L.
Philodendron domesticum G.S. Bunting
Euterpe edulis Mart.
Papaver somniferum L.
Parietaria sp.
Piper cernuum Vell.
Piper regnelli (Miq.) C. DC.
Passifora incarnata L.
Bauhinia forfcata Link e B. variegata L.
Caesalpina echinata Lam.
Caesalpinia ferrea Mart. var. leiostachya
Benth.
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.
Macbr.
Aniba rosaeodora Ducke = A. duckei
Kosterm.
Aniba canelilla (Kunth) Mez
Lophophora williansii (Lem. ex Salm-
Dyck) J.M. Coult.
Pelargonium sidoides DC.
Caryocar brasiliense Cambess.
Prunus persica (L.) Batsch
Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B.
Mey. & Scherb.
Bidens pilosa L.
Capsicum annuum L.
Jatropha curcas L.
Pinus spp.
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
232
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Eugenia unifora L., Eugenia sp.
Mentha pulegium L.
Euphorbia pulcherrima Willd. ex
Klotzsch
Citrus reticulata Blanco
Primula spp.
Licaria puchury-major (Mart.) Kosterm.
Phyllanthus niruri L. e P. tenellus Roxb. =
P. corcovadensis Mll. Arg.
Cinchona ofcinalis L., Cinchona spp.
Strychnos triplinervia Mart.
Tanacetum vulgare L.
Euphorbia pulcherrima Willd. ex
Klotzsch
Ricinus communis L.
Punica granatum L.
Sansevieria trifasciata Prain "Hahnii"
Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
Eruca sativa Mill.
Rheum palmatum L. e Rheum spp.
Sambucus spp., S. australis Cham. &
Schltdl. e S. nigra L.
Brugmansia suaveolens (Humb. &
Bonpl. ex Willd.) Bercht. & C. Presl =
Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex
Willd.
Salix alba L.
Myrtaceae
Lamiaceae
Euphorbiaceae
Rutaceae
Primulaceae
Lauraceae
Phyllanthaceae/
Euphorbiaceae anteriormente
Rubiaceae
Loganiaceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Lythraceae/ Punicaceae antiga
Ruscaceae/ Liliaceae
anteriormente
Lamiaceae
Brassicaceae
Polygonaceae
Adoxaceae/ Caprifoliaceae
anteriormente
Solanaceae
Salicaceae
Pitanga
Poejo
Poinstia, rabo-de-arara
Ponc, tangerina
Prmula
Puxuri
Quebra-pedra
Quina
Quina-cruzeiro
Quintide, catinga-de-
mulata
Rabo-de-arara,
poinstia
Rcino, mamona
Rom
Roseta-de-so-jorge,
espadinha-rani
Rubim
Rcula
Ruibarbo
Sabugueiro
Saia-branca,
trombeteira
Salgueiro
233
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Salsa, salsinha
Salva-vida
Slvia
Saracura-mir
Sarsa-parreira
Segurelha
Sene
Serralha
Sete-sangrias
Sibipiruna
Soja
Sucuba
Sucupira
Tabaco
Taiui
Tanaceto, artemsia
Tanchagem
Tangerina, ponc
Tinhoro
Tipi
Tipuana
Apiaceae
Piperaceae
Lamiaceae
Rhamnaceae
Smilacaceae/ Liliaceae
anteriormente
Lamiaceae
Fabaceae/ Caesalpinioideae
Asteraceae
Lythraceae
Fabaceae/ Caesalpinioideae
Fabaceae/ Faboideae
Apocynaceae
Fabaceae/ Faboideae
Solanaceae
Cucurbitaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Rutaceae
Araceae
Phytolaccaceae
Fabaceae/ Faboideae
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss =
P. sativum Hof (nom. nud.) = Apium
crispum Mill.
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth
Salvia ofcinalis L.
Ampelozizyphus amazonicus Ducke
Smilax sp.
Satureja hortensis L.
Senna alexandrina Mill. e S. corymbosa
(Lam.) H.S.Irwin & Barneby
Sonchus oleraceus L.
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.
Macbr.= C. balsamona Cham. & Schltdl.
Caesalpinia pluviosa DC. var.
peltophoroides (Benth.) G.P. Lewis
Glycine max (L.) Merr.
Himatanthus sucuuba (Spruce ex Mll.
Arg.) Woodson
Bowdichia sp.
Nicotiana tabacum L.
Wilbrandia ebracteata Cogn.
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. =
Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.
Plantago major L., P. australis Lam., P.
tomentosa Lam. e P. lanceolata L.
Citrus reticulata Blanco
Caladium sp.
Petiveria alliacea L.
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze
234
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Solanum lycopersicum L. = Lycopersicon
esculentum Mill.
Tymus vulgaris L.
Melilotus ofcinalis (L.) Pall.
Justicia pectoralis Jacq.
Trifolium pratense L.
Triticum aestivum L.
Tripterygium wilfordii Hook.f.
Brugmansia suaveolens (Humb. &
Bonpl. ex Willd.) Bercht. & C. Presl =
Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex
Willd.
Ficus pumila L.
Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. &
Schult) DC.
Urtica dioica L.
Urera sp. e Urtica sp.
Bixa orellana L.
Vitis vinifera L.
Valeriana ofcinalis L.
Baccharis sp.
Verbena sp.
Portulaca oleracea L.
Hibiscus sabdarifa L.
Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.
Rob. = Polymnia sonchifolia Poepp.
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe
Juniperus communis L.
Solanaceae
Lamiaceae
Fabaceae/ Faboideae
Acanthaceae
Fabaceae/ Faboideae
Poaceae
Celastraceae
Solanaceae
Moraceae
Rubiaceae
Urticaceae
Urticaceae
Bixaceae
Vitaceae
Valerianaceae
Asteraceae
Verbenaceae
Portulacaceae
Malvaceae
Asteraceae
Zingiberaceae
Cupressaceae
Tomate
Tomilho
Trevo-cheiroso
Trevo-do-par, chamb
Trevo-vermelho
Trigo
Triptergio
Trombeteira, saia-
branca
Unha-de-gato
Unha-de-gato
Urtiga
Urtigas
Urucum
Uva
Valeriana
Vassoura-rainha
Verbena
Verduega, Beldroega
Vinagreira, hibisco
Yacon
Zedoria
Zimbro
#20
gLOSSRIO
#20
gLOSSRIO
238
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
20. GLOSSRIO
Ao adstringente: qualidade das substncias que
diminuem secrees de modo geral, caracterizadas
pela presena de substncias polifenlicas que
precipitam protenas. Usado externamente, um
adstringente pode estancar pequenos sangramentos
ou diminuir a liberao de secreo sebcea das
glndulas da pele. J, internamente, pode reduzir
uma diarria no infecciosa, agindo na parede do
intestino.
Afeco: alterao da sade, enfermidade,
perturbao patolgica localizada em determinado
rgo do corpo humano.
Alcalide: composto qumico nitrogenado do
metabolismo secundrio dos vegetais que atua no
sistema nervoso e cardiovascular das pessoas, s
vezes de forma txica. Plantas com alcalides devem
ser usadas sob orientao mdica.
Alelopatia: atualmente, a alelopatia defnida
como processo que envolve metablitos secundrios
produzidos por plantas, algas, bactrias e fungos que
infuenciam o crescimento e desenvolvimento de
sistemas biolgicos. Segundo Molisch, alelopatia
a capacidade de as plantas, superiores ou inferiores,
produzirem substncias qumicas que, liberadas no
ambiente de outras, infuenciam de forma favorvel
ou desfavorvel o seu desenvolvimento.
Alopatia: sistema de medicina que
combate as doenas por meios contrrios a elas,
procurando conhecer a etiologia e combater as
causas. Os medicamentos so catalogados como
antiinfamatrios, antiasmticos, antigripais, etc.
Blsamo e resina: so exsudatos vegetais de
aspecto semipastoso (resinoso), formados por resinas
e gomas diludas em leos essenciais. Apresentam
uma srie de aes farmacolgicas decorrentes
principalmente da frao resinosa.
Biodiversidade: termo representativo para
designar a riqueza e a diversidade das espcies sobre
a Terra. A biodiversidade pode ser referida desde os
nveis de organizao celular at os de ecossistemas.
Carminativo: que facilita a eliminao de gases
do aparelho digestivo.
Caule: estrutura adaptada funo de conduo
de seiva entre a raiz e as folhas. Tambm realiza a
sustentao de ramos, folhas, fores e frutos.
Ch: produto constitudo de uma ou mais partes
de espcie ou espcies vegetais inteiras, fragmentadas
ou modas, com ou sem fermentao, tostadas ou
no, preparado por infuso ou decoco.
Colagogo: medicamento que atua estimulando o
fuxo de bile para dentro do duodeno.
Colertico: medicamento que atua aumentando
a concentrao e volume da secreo biliar.
Composto secundrio: substncia presente nas
plantas, que no faz parte do metabolismo primrio,
representado pela fotossntese e pela respirao.
Desempenha inmeras funes nas espcies
vegetais, como defesa contra predadores, atrao de
polinizadores e dispersores, colorao e outras.
Decoco: extrao dos princpios ativos de
um vegetal (for, folha, casca, rgos subterrneos
ou sementes) por contato, por certo tempo, em
solvente (gua normalmente) em ebulio. Utilizada
para estruturas duras e de natureza lenhosa, com
substncias termoestveis.
Digesto: extrao da matria-prima vegetal
realizada em recipiente fechado, por um perodo (dias
ou horas), sob agitao ocasional e sem renovao de
solvente, temperatura de 40 C.
Dispepsia: distrbio da funo digestiva
(difculdade de digesto).
Droga: substncia qumica capaz de produzir
respostas benfcas ou prejudiciais em um
organismo vivo.
Droga vegetal: planta medicinal ou suas partes
que, aps processos de coleta, estabilizao e secagem
(ntegra, triturada ou pulverizada), utilizada na
teraputica como matria-prima para a elaborao de
medicamentos graas a seus princpios ativos.
Elixir: preparao lquida, lmpida, hidroalcolica,
com teor etanlico na faixa de 20 a 50% (V/V).
Erva: planta em geral de pequeno porte, de
caule macio e malevel, normalmente rasteira e
que no sofre crescimento secundrio ao longo
do seu desenvolvimento. denominada erva
daninha quando causa dano ao desenvolvimento
de uma cultura principal, por competio em gua,
nutrientes, luz, etc. Geralmente espontnea e
melhor adaptada s condies locais.
Especiaria: produto constitudo de parte
(razes, rizomas, bulbos, cascas, folhas, fores,
frutos, sementes, talos) de uma ou mais espcies
vegetais, empregado para agregar sabor ou aroma aos
alimentos e bebidas.
Etnofarmacologia: cincia que estuda
o conhecimento popular sobre frmacos, de
determinado grupo tnico ou social, relacionado
a sistemas tradicionais de medicina. O mtodo
etnofarmacolgico investiga as possibilidades e
hipteses referentes aos conhecimentos tradicionais,
buscando empiricamente o que provoca os efeitos
dos frmacos tradicionais.
Etnobotnica: cincia que estuda e interpreta
a histria e a relao das plantas nas sociedades
antigas e atuais, com enfoque em vrios ramos
do conhecimento humano, como a histria,
antropologia, botnica, farmacologia, ecologia, etc.
A Etnobotnica utiliza e valoriza o conhecimento
tradicional dos povos, possibilitando entender suas
239
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
culturas, bem como a utilizao prtica das plantas
em prol da sadia qualidade de vida e do meio
ambiente.
Eupptica: estimulante das funes digestivas.
Extrato: concentrado dos componentes
extrados de uma planta. Os extratos so preparados
por percolao, macerao ou outros mtodos
adequados e validados, utilizando como solvente
etanol, gua ou outro solvente adequado.
Extrato fuido: preparao lquida em que cada
mililitro de extrato contm os constituintes ativos
correspondentes a 1 g de droga (Farmacopia Bras.,
1988).
Farmcias Vivas: Projeto criado pelo Prof. F.
J. de Abreu Matos e institudo pela Universidade
Federal do Cear com o objetivo de estimular o
uso correto de plantas medicinais selecionadas
atravs da comprovao de sua efccia e segurana
teraputicas em substituio ao tradicional uso
emprico de plantas pela comunidade, cuja flosofa
e informaes tcnico-cientfcas tm servido de
parmetro para a implantao de diversos Programas
Estaduais e Municipais de Fitoterapia.
Frmaco: substncia ativa, droga, insumo
farmacutico ou matria-prima empregada para
modifcar ou explorar sistemas fsiolgicos ou
estados patolgicos em benefcio da pessoa qual
administrado.
Fitocomplexo: conjunto de substncias ativas,
derivadas tanto do metabolismo primrio quanto
secundrio, responsveis em conjunto pelos efeitos
teraputicos tradicionais das drogas vegetais.
Fitofrmaco: substncia qumica isolada, obtida
de espcies vegetais, que pode ser usada como
medicamento ou para outra fnalidade. No se
caracteriza como um ftoterpico por estar isolada.
Fitomedicamento: nomenclatura recente,
no ofcial, utilizada e propagada por laboratrios
farmacuticos com a inteno de representar os
ftoterpicos preparados com extratos padronizados
e que cumpriram todos os requisitos legais em
termos de estudos de segurana, efccia e qualidade.
Fitoterapia: do grego phyton = planta + therapia
= tratamento. Tratamento das doenas com utilizao
de remdios de origem vegetal, caracterizado pelo
uso de plantas medicinais em suas diferentes formas
farmacuticas. Seu princpio est baseado na alopatia.
Fitoterpico: medicamento obtido
exclusivamente de matrias-primas ativas vegetais,
constitudo algumas vezes pela prpria droga
pulverizada, ou obtido dela por um processo simples
de extrao, como tintura, alcoolatura, extrato
vegetal, etc. caracterizado pelo conhecimento da
efccia e dos riscos de seu uso, assim como pela
reprodutibilidade e constncia de sua qualidade.
Forma farmacutica: forma distinta de
preparao do produto fnal em que as substncias
teraputicas so aplicadas aos doentes em preparaes
simples, como os chs obtidos por infuso, tinturas,
extratos, ps, xaropes, entre outros, com a fnalidade
de facilitar a administrao, assegurar a efcincia
teraputica e a sua conservao.
Glicosdeo: composto qumico que apresenta
em sua estrutura uma poro de acar, geralmente a
glicose, e outra de no acar, denominada genina ou
aglicona, a qual normalmente se encontra associada
ao farmacolgica ou txica da planta. Tem relao
com o termo heterosdeo, mais amplo, ao referir-se
a outros acares que no exclusivamente a glicose.
Glicosdeo antraquinnico: princpio
ativo natural relacionado metil-antraquinona
e seus derivados. Apresenta ao estimulante do
peristaltismo intestinal e por isso conhecido por
laxante de contato.
Glicosdeo cardiotnico: princpio ativo
que tem a propriedade de aumentar a fora de
contrao do corao. Substncia cuja genina
apresenta propriedades cardiotnicas ou age no nvel
cardiovascular. Muitas plantas txicas possuem esta
substncia.
Glicosdeo cianogentico: substncia capaz de
liberar, quando hidrolisada, molculas de cianeto,
altamente txicas.
Glicosdeo cumarnico: substncia cuja genina
apresenta uma lactona derivada da esterifcao do
cido cumarnico. Suas atividades farmacolgicas
so variadas sendo muito importante o efeito
anticoagulante exercido pelas cumarinas.
Glicosdeo favonidico: substncia fenlica
com mltiplas funes, que pode ser encontrada
nas frutas e vegetais, desempenhando papis
fundamentais na vida dos vegetais, funcionando
como atrativo e auxiliar do processo de polinizao
executado por insetos. Entre suas atividades
farmacolgicas esto o aumento da resistncia e a
permeabilidade das paredes dos vasos e capilares
do sistema circulatrio; ao antitrombtica; ao
antiinfamatria, etc.
Glicosdeo saponnico: a saponina um agente
tensoativo que tem a propriedade de diminuir
a tenso superfcial da gua e capaz de fazer
espuma. Substncia irritante para tecidos e mucosas,
causa espirros, irritao nos olhos e no deve ser
administrada por via subcutnea, intramuscular
e endovenosa, pois tem ao hemoltica. Com
propriedade tnica estimulante do metabolismo,
ao rubefaciente, etc.
Goma: composto polissacardicos de origem
vegetal, geralmente produzido na planta a partir
da transformao bacteriana de celulose e amido,
podendo atuar como protetor de mucosa, entre
outros efeitos.
240
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
Hepatotxico: pode provocar problemas no fgado.
Herbrio: coleo de plantas que geralmente
passaram por um processo de prensagem, secagem
e identifcao. Tais plantas so ordenadas de acordo
com um determinado sistema de classifcao e so
conservadas de modo a constituir referncia para a
pesquisa bsica e aplicada em biologia, agricultura,
farmcia, medicina, gentica e outros fns cientfcos.
Homeopatia: sistema de tratamento de doenas
por meio de doses infnitamente pequenas de
substncias capazes de produzir em indivduos
sadios sintomas semelhantes aos da doena que est
sendo tratada. Segue a Lei dos Semelhantes simila
similibus curantur segundo a qual os semelhantes
so curados pelos semelhantes. O mesmo agente que
causa uma molstia capaz de cur-la. Por exemplo, a
quina atua na febre malrica porque doses da quina
desencadeiam uma reao txica e sintomas similares
ao da malria. Na homeopatia so utilizados produtos
de origem dos reinos vegetal, animal, mineral ou de
outra origem.
Infeco: ato ou efeito de infeccionar-se;
qualidade ou estado daquilo que est infeccionado;
contaminao; penetrao e multiplicao de
micrbios no organismo.
Infuso: extrao realizada pela adio de gua
fervente sobre o material vegetal (droga vegetal
ou planta), deixando-se em contato por algum
tempo. Utilizada para estruturas moles (rasuradas),
fnamente pulverizadas ou com ativos volteis e
instveis ao calor. Recomenda-se a ingesto aps
cerca de 30 minutos.
Lactante / nutriz: mulher que aleita, que
amamenta; ama de leite.
Lactente: ser que ainda mama.
Litase: formao de pedras ou clculos em
qualquer das atividades do organismo.
Macerao: extrao realizada da matria-prima
vegetal, em recipiente fechado, por um perodo (dias
ou horas), sob agitao ocasional e sem renovao de
solvente, normalmente a temperatura ambiente.
Medicamento: substncia ou conjunto de
substncias devidamente estudadas quanto efccia
e segurana de uso e com controle de qualidade
determinado. Produto farmacutico, tecnicamente
obtido ou elaborado, com fnalidade profltica,
curativa ou para fns de diagnsticos.
Medicina alternativa: prticas mdicas no-
convencionais (acupuntura, ftoterapia, homeopatia
e outras) e que diferem da medicina ofcial aloptica.
Com o tempo deixou de ser usada por trazer na
expresso a idia de que seria uma alternativa aos
medicamentos disponveis.
Medicina ofcial ou medicina moderna:
prticas mdicas alopticas, caractersticas e ofciais
da maioria dos pases ocidentais.
Medicina tradicional: prticas mdicas populares
que fazem parte do conhecimento popular e so
usadas na preveno e no tratamento de doenas.
Mucilagem: compostos polissacardicos de
origem vegetal, produto do metabolismo normal em
paredes celulares, usada como emoliente, colide
protetor ou cola. Pode atuar como antiinfamatrio
(uso externo) e laxativo (interno).
Nome vulgar ou popular: nome pela qual a
planta conhecida na regio. Uma mesma planta
pode ser conhecida por diferentes nomes populares,
podendo variar de acordo com a regio, e espcies
diferentes podem possuir nome popular idntico.
Pectina ou substncia pctica: carboidratos
(molculas de acar) que fcam concentrados nas
paredes das clulas dos vegetais. encontrada em
todas as partes da planta e em maior quantidade nos
frutos maduros. Pode atuar como antidiarrico e
promover sensao de saciedade quando ingerida 15
minutos antes das refeies.
Percolao: processo de extrao em que a droga
vegetal moda colocada em percolador (recipiente
cnico cilndrico), atravs do qual feito passar o
lquido extrator (operao dinmica). A percolao
pode ser simples ou fracionada.
Planta medicinal: aquela que possui
substncias denominadas de princpios ativos e
que tm aes farmacolgicas, capazes de provocar
reaes no organismo.
Planta txica: espcie vegetal que, em contato
com um organismo vivo, provoca efeitos txicos e
at mesmo letais.
Princpio ativo (p.a.): substncia ou classe
qumica (alcalide, favonide, tanino, entre outros)
presente nas espcies vegetais cuja ao farmacolgica
conhecida e responsvel, total ou parcialmente,
pelos efeitos teraputicos do ftoterpico, produzindo
diferentes respostas em um organismo.
Tanino: substncia adstringente que reage com
protenas, retrai o tecido lesado e forma uma camada
protetora que ajuda na cicatrizao de feridas,
diminuindo a irritao e com ao antissptica.
encontrado principalmente em frutos imaturos e em
cascas.
Tintura: soluo extrativa alcolica ou
hidroalcolica preparada a partir de matrias-primas
vegetais, de tal modo que uma parte da droga
extrada com cinco ou dez partes de lquido extrator
1 ml de tintura deve corresponder aos componentes
solveis de 100 ou 200 mg de droga (Farmacopia
Bras., 1988). A tintura pode ser simples ou compostas,
conforme seja preparada com uma ou mais matrias-
primas. (Farmacopia Bras., 1988).
Tnico: qualidade da substncia que revigora e
estimula o organismo debilitado.
241
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
leo essencial: mistura de compostos qumicos
vegetais volteis e aromticos, de composio qumi-
ca complexa, com diferentes funes orgnicas. Ex.:
leo essencial de cravo (eugenol); eucalipto (cine-
ol); menta (mentol). Com atividade farmacolgica
diversa e s vezes polivalente: ao antissptica, ex-
pectorante, eupptica, carminativa, etc.
Raiz: rgo de fxao da planta ao solo, cuja
funo bsica a absoro de gua e nutrientes
minerais.
Reao adversa a medicamentos: qualquer
resposta a um medicamento que seja prejudicial, no
intencional, e que ocorra nas doses normalmente
utilizadas em seres humanos para proflaxia,
diagnstico e tratamento de doenas, ou para a
modifcao de uma funo biolgica.
Rubefaciente: que produz vermelhido,
hiperemia passiva, estimula a microcirculao local.
Semente: estrutura reprodutiva que contm o
embrio da planta e a reserva alimentar, constituindo
em um vulo fecundado.
Uso sustentvel: a utilizao dos componentes
da diversidade biolgica de modo e em ritmo tais
que no levem, no longo prazo, diminuio da
diversidade biolgica, mantendo assim seu potencial
para atender s necessidades e aspiraes das
geraes presentes e futuras.
Vesicante: aquilo que forma vesculas
epidrmicas, com lquido de exsudao.
Xarope: soluo aquosa que apresenta alta
concentrao de sacarose, normalmente superior
a 40% (m/V). Xaropes artifciais esto sendo
produzidos com compostos de adjuvantes
espessantes e edulcorantes apropriados para
pacientes diabticos ou em casos de diarria.
#20
ABREVIATURAS/
SIgLAS
#20
ABREVIATURAS/
SIgLAS
244
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
21. Abreviaturas / Siglas
ANVISA - Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
CEATOX - Centro de Assistncia Toxicolgica do Insti-
tuto da Criana do Hospital das Clnicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de So Paulo
CEBRID - Centro Brasileiro de Informaes sobre Drogas
Psicotrpicas do Departamento de Psicobiologia da Uni-
versidade Federal de So Paulo
CEME/MS Central de Medicamentos do Ministrio
da Sade
CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado
de So Paulo
CFF Conselho Federal de Farmcia
CGEN - Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
COP Conferncia das Partes da Conveno Quadro
das Naes Unidas sobre Mudana do Clima (UNFCCC)
COVISA - Coordenao de Vigilncia em Sade
CPAmb - Comando de Policiamento Ambiental da Pol-
cia Militar do Estado de So Paulo
CPQBA - Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Qumi-
cas, Biolgicas e Agrcolas da Universidade Estadual de
Campinas
CRF-SP - Conselho Regional de Farmcia do Estado
de So Paulo
CVS - Centro de Vigilncia Sanitria da Secretaria de
Estado da Sade de So Paulo
DAEE Departamento de guas e Energia Eltrica da Se-
cretaria de Saneamento e Energia do Estado de So Paulo
DEPRN - Departamento Estadual de Proteo dos Re-
cursos Naturais
DOF Documento de Origem Florestal
ESALQ - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
FCF-USP - Faculdade de Cincias Farmacuticas da
Universidade de So Paulo
FDA Food & Drug Administration
FIC - Faculdade Integral Cantareira
FIOCRUZ Fundao Oswaldo Cruz
FMUSPHC/USP Faculdade de Medicina da Universi-
dade de So Paulo Hospital das Clnicas da Universidade
de So Paulo
FOC Faculdades Oswaldo Cruz
FURP - Fundao para o Remdio Popular da Secreta-
ria de Estado da Sade de So Paulo
IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovveis
IMS International Medical Statistics
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
LaFitBotu - Laboratrio de Fitomedicamentos do
Departamento de Farmacologia do Instituto de Bioci-
ncias da UNESP Botucatu
MCT - Ministrio da Cincia e Tecnologia
MMA Ministrio do Meio Ambiente
MS - Ministrio da Sade
MTC - Medicina Tradicional Chinesa
MTs - Medicinas Tradicionais
OMS Organizao Mundial da Sade
ONG Organizao No Governamental
ONU Organizao das Naes Unidas
OPAS Organizao Pan-Americana de Sade
PDI - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao
PLANFAVI - Sistema de Farmacovigilncia de Plantas
Medicinais
PMSP Prefeitura da Cidade de So Paulo
PNMC - Plano Nacional sobre Mudana do Clima
PNPIC - Poltica Nacional de Prticas Integrativas e
Complementares
PNPMF - Poltica Nacional de Plantas Medicinais e Fi-
toterpicos
PPPMCEME - Programa de Pesquisas de Plantas Medi-
cinais da Central de Medicamentos
PROAURP - Programa de Agricultura Urbana e Periurbana
RM Reao Adversa a Medicamento adverse drug
reaction
RAMP-F - Reaes Adversas produzidas por Fitoterpicos
e Plantas Medicinais
245
Plantas Medicinais - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente
RPPN - Reservas Particulares do Patrimnio Natural
SABESP Companhia de Saneamento Bsico do Estado
de So Paulo da Secretaria de Saneamento e Energia do Es-
tado de So Paulo
SENAI - Servio Nacional de Aprendizagem Indus-
trial - So Paulo
SES-SP Secretaria de Estado da Sade de So Paulo
SMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado
de So Paulo
SMS Secretaria Municipal da Sade do Municpio
de So Paulo
SMS/CAB/MTHPIS Secretaria Municipal da Sade,
Coordenao da Ateno Bsica, rea Tcnica das Medicinas
Tradicionais, Homeopatia e Prticas Integrativas em Sade
SMS/COVISA/CCD/CCISP - Secretaria Municipal da
Sade, Coordenao de Vigilncia em Sade, Centro de
Controle de Doenas, Centro de Controle de Intoxicaes
do Municpio de So Paulo
SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservao
SOSMA - Fundao SOS Mata Atlntica
SUS - Sistema nico de Sade
SVMA Secretaria Municipal do Verde e do Meio Am-
biente da Prefeitura da Cidade de So Paulo
SVMA/UMAPAZ - Departamento de Educao Am-
biental e Cultura de Paz, Universidade Aberta do Meio
Ambiente e da Cultura de Paz
SVMA/DEPAVE - Departamento de Parques e reas Verdes
SVMA/DEPAVE/2 - Diviso Tcnica de Produo e Ar-
borizao
SVMA/DEPAVE/21 Viveiro Manequinho Lopes
SVMA/DEPAVE-8 Diviso Tcnica de Unidade de Con-
servao e Proteo da Biodiversidade e Herbrio Municipal
SVMA/DGD Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente, Departamento de Gesto Descentralizada
SVMA/DGD/N2 Diviso Tcnica do Ncleo de Ao
Descentralizado Norte 2
SVMA/DGD/L1 - Diviso Tcnica do Ncleo de Ao
Descentralizado Leste 1
UC - Unidades de Conservao da Natureza
UFAM - Universidade Federal do Amazonas
UFC - Universidade Federal do Cear
UMAPAZ-1 Diviso Tcnica Escola Municipal de
Jardinagem
UNESP - Universidade Estadual Paulista Jlio de Mes-
quita Filho
UNIBAN - Universidade Bandeirante de So Paulo
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
UNIFESP Universidade Federal de So Paulo
UNINOVE - Universidade Nove de Julho
UNIP - Universidade Paulista
UNITAU - Universidade de Taubat
USP Universidade de So Paulo
WHO World Health Organization
SUAS
ANOTAES
Abril 2010
Você também pode gostar
- Bebidas AlcoólicasDocumento68 páginasBebidas AlcoólicasTiago Rossi56% (9)
- Livros - Mais de 1100 Livros Espíritas para DownloadDocumento25 páginasLivros - Mais de 1100 Livros Espíritas para DownloadTiago Rossi76% (29)
- Autodescobrimento Uma Busca Interior - Divaldo Franco PDFDocumento164 páginasAutodescobrimento Uma Busca Interior - Divaldo Franco PDFAnaCláudiaPrado100% (16)
- Livro Sobre A Moringa - 1 - 5109446837970927665 PDFDocumento18 páginasLivro Sobre A Moringa - 1 - 5109446837970927665 PDFCidinhaCarvalhoAinda não há avaliações
- Manual de Plantas MedicinaisDocumento103 páginasManual de Plantas MedicinaisRamirez SenaAinda não há avaliações
- Fitoterapia do Cerrado: Sua Importância e PotencialNo EverandFitoterapia do Cerrado: Sua Importância e PotencialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Artigo (Suplemento) - A Vitamina B12 Na Dieta VeganaDocumento2 páginasArtigo (Suplemento) - A Vitamina B12 Na Dieta VeganaTiago RossiAinda não há avaliações
- Farmacias Vivas 0 PDFDocumento11 páginasFarmacias Vivas 0 PDFAN MarcosAinda não há avaliações
- A Biodiversidade como Ferramenta para o Melhoramento da Saúde HumanaNo EverandA Biodiversidade como Ferramenta para o Melhoramento da Saúde HumanaAinda não há avaliações
- (Farmácia) Base de Dados de Plantas MedicinaisDocumento17 páginas(Farmácia) Base de Dados de Plantas MedicinaisOscar M S Mazzola100% (1)
- Uso Dos Aminoácidos Está Avançando Na AgriculturaDocumento2 páginasUso Dos Aminoácidos Está Avançando Na AgriculturaDeyvid BuenoAinda não há avaliações
- Plantas Companheiras (O Espantalho)Documento9 páginasPlantas Companheiras (O Espantalho)Samuel Freire100% (2)
- Apresentacao Farmacia VivaDocumento22 páginasApresentacao Farmacia VivaMarcos SilvaAinda não há avaliações
- Re LaDocumento44 páginasRe LamaraazevedooliveiraAinda não há avaliações
- Kevin Trudeau - Sobre Medicamentos + Fernando Travi - Remédios São VENENOSDocumento4 páginasKevin Trudeau - Sobre Medicamentos + Fernando Travi - Remédios São VENENOStimosheaAinda não há avaliações
- P Eletro Aquaponia Doc P 01Documento11 páginasP Eletro Aquaponia Doc P 01Francisco António Aguiar OliveiraAinda não há avaliações
- Plantas Medicinais e FitoterapiaDocumento114 páginasPlantas Medicinais e Fitoterapiagilson gibaileAinda não há avaliações
- Tese Oleos Essenciais PDFDocumento124 páginasTese Oleos Essenciais PDFrosaflimaAinda não há avaliações
- Caldas NaturaisDocumento25 páginasCaldas Naturaisapi-3727016100% (2)
- Guia de Plantas Medicinais de Florianópolis - 2020Documento156 páginasGuia de Plantas Medicinais de Florianópolis - 2020Gisele Damian Antonio GouveiaAinda não há avaliações
- Slide FarmacognosiaDocumento18 páginasSlide FarmacognosialeonardonascimenAinda não há avaliações
- Apostila de FitoterapiaDocumento16 páginasApostila de FitoterapiaRac A BruxaAinda não há avaliações
- Saber e Fazer Agroecologico Páginas 1,3 4,11 15,17 29Documento21 páginasSaber e Fazer Agroecologico Páginas 1,3 4,11 15,17 29Thauy Cabral100% (1)
- 10 Dicas para Usar Melhor As PlantasDocumento12 páginas10 Dicas para Usar Melhor As Plantasapi-3704111100% (6)
- Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares - EMATER PDFDocumento136 páginasPlantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares - EMATER PDFgimozardoAinda não há avaliações
- Medicina ecológica: Descubra como cuidar da sua saúde sem sacrificar o planetaNo EverandMedicina ecológica: Descubra como cuidar da sua saúde sem sacrificar o planetaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Fitoterapia e o CâncerDocumento7 páginasA Fitoterapia e o CâncervagnersoroAinda não há avaliações
- Introdução A Agronomia Conceitos e Exercícios 2021Documento83 páginasIntrodução A Agronomia Conceitos e Exercícios 2021Bruna VasconcelosAinda não há avaliações
- Plantas MedicinaisDocumento153 páginasPlantas Medicinaismstpt13100% (2)
- Análise comparativa da composição química e de atividades biológicas de cinco genótipos clonais de Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira)No EverandAnálise comparativa da composição química e de atividades biológicas de cinco genótipos clonais de Schinus terebinthifolius Raddi (aroeira)Ainda não há avaliações
- Macerados, infusões, decocções. Preparações biodinâmicas para o jardim e para a horta.No EverandMacerados, infusões, decocções. Preparações biodinâmicas para o jardim e para a horta.Ainda não há avaliações
- Como cultivar pimenta em sua casa. No jardim, em vasos ou na varanda.: A coleção preferida dos amantes da horta orgânica e da boa comida.No EverandComo cultivar pimenta em sua casa. No jardim, em vasos ou na varanda.: A coleção preferida dos amantes da horta orgânica e da boa comida.Ainda não há avaliações
- Autoanticorpos após uso de terapia biológica: estudo multicêntrico brasileiroNo EverandAutoanticorpos após uso de terapia biológica: estudo multicêntrico brasileiroAinda não há avaliações
- Consciência E O Universo Existem Sem Começo Nem FimNo EverandConsciência E O Universo Existem Sem Começo Nem FimAinda não há avaliações
- Orientações Para O Uso De Fitoterápicos E Plantas MedicinaisNo EverandOrientações Para O Uso De Fitoterápicos E Plantas MedicinaisAinda não há avaliações
- Produção De Extratos Vegetais FitoterápicosNo EverandProdução De Extratos Vegetais FitoterápicosAinda não há avaliações
- Curas Naturais Que As Indústrias Farmacêuticas Não Querem Que Vc SaibaNo EverandCuras Naturais Que As Indústrias Farmacêuticas Não Querem Que Vc SaibaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- COP - Extrato de Semente de Uva: Viva Mais e Mais Saudável: Anti-idade para TodosNo EverandCOP - Extrato de Semente de Uva: Viva Mais e Mais Saudável: Anti-idade para TodosAinda não há avaliações
- Doce Sobrevida: A apicultura como alternativa no assentamento TaquaralNo EverandDoce Sobrevida: A apicultura como alternativa no assentamento TaquaralAinda não há avaliações
- As Maravilhas Da Santa MissaDocumento29 páginasAs Maravilhas Da Santa MissaTiago Rossi100% (1)
- Escritos Sao FranciscoDocumento162 páginasEscritos Sao Franciscojmoreira3637100% (1)
- Padrão Alimentar Da Dieta VegetarianaDocumento9 páginasPadrão Alimentar Da Dieta VegetarianaIsabella Mesquita de SouzaAinda não há avaliações
- Revista Dos VegetarianosDocumento68 páginasRevista Dos VegetarianosPatrícia Teixeira100% (4)
- Fontes Franciscanas - Frei José Carlos Pedroso PDFDocumento77 páginasFontes Franciscanas - Frei José Carlos Pedroso PDFTiago Rossi100% (3)
- Poda Arvores FrutifDocumento56 páginasPoda Arvores FrutifLeonardo Campos Vieira100% (1)
- Nossas Plantas MedicinaisDocumento60 páginasNossas Plantas MedicinaisTiago Rossi100% (1)
- Dormência em Sementes Florestais (Embrapa)Documento28 páginasDormência em Sementes Florestais (Embrapa)Tiago RossiAinda não há avaliações
- Farmacognosia Coletânea Científica PDFDocumento376 páginasFarmacognosia Coletânea Científica PDFPaulo C. Cor100% (1)
- NBR ISO 9004 - 4 - Gestao Da QualidadeDocumento23 páginasNBR ISO 9004 - 4 - Gestao Da QualidadeTiago RossiAinda não há avaliações
- Plantas Medicinais (SVMA)Documento248 páginasPlantas Medicinais (SVMA)Tiago RossiAinda não há avaliações