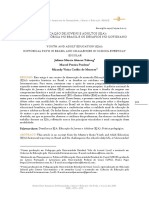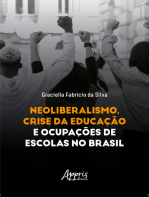Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Do Acesso À Permanência No Ensino Supeior Zago
Do Acesso À Permanência No Ensino Supeior Zago
Enviado por
CarvalhoadmTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Do Acesso À Permanência No Ensino Supeior Zago
Do Acesso À Permanência No Ensino Supeior Zago
Enviado por
CarvalhoadmDireitos autorais:
Formatos disponíveis
226
Nadir Zago
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006
Introduo Introduo Introduo Introduo Introduo
Nas ltimas dcadas, fenmenos relacionados a
transformaes no contexto social, poltico e educa-
cional (entre eles, o prolongamento da escolaridade
e a elevao das taxas de desemprego, especialmen-
te entre os jovens), a mudanas no campo da socio-
logia com a recomposio da problemtica das desi-
gualdades de escolarizao entre classes sociais (Van
Zanten, 1999, p. 51), como tambm a uma renova-
o nas pesquisas, contriburam para que os estudan-
tes ocupassem um novo lugar nos estudos sociolgi-
cos em educao. Dessa renovao, destacam-se
estudos voltados para os processos escolares, envol-
vendo, entre outras questes, as estratgias familia-
res de escolarizao, as variaes nas configuraes
escolares entre grupos sociais e no interior de um
mesmo grupo.
Entre os trabalhos produzidos nessa direo, cito
algumas tendncias de pesquisas que elegem a pro-
blemtica do estudante universitrio de origem popu-
lar. Nas ltimas duas dcadas, estudos no campo da
sociologia da educao produzidos no Brasil e no
exterior vm fornecendo indicadores tericos impor-
tantes para problematizar o que tem sido chamado
longevidade escolar, casos atpicos ou trajet-
rias excepcionais nos meios populares. Trata-se de
uma linha inovadora, haja vista ser relativamente re-
cente na disciplina o interesse pelos casos que fogem
tendncia dominante, voltada para o chamado fra-
casso escolar nesses meios sociais.
Do acesso permanncia no ensino superior: Do acesso permanncia no ensino superior: Do acesso permanncia no ensino superior: Do acesso permanncia no ensino superior: Do acesso permanncia no ensino superior:
percursos de estudantes universitrios de percursos de estudantes universitrios de percursos de estudantes universitrios de percursos de estudantes universitrios de percursos de estudantes universitrios de
camadas populares camadas populares camadas populares camadas populares camadas populares* ** **
Nadir Zago
Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Ps-Graduao em Educao
* Este artigo produto de pesquisa que venho desenvolven-
do h alguns anos, sobre escolarizao nos meios populares, vol-
tada especialmente para as trajetrias escolares nos ensinos fun-
damental e mdio e, mais recentemente, no ensino superior. Efe-
tuei um recorte dessa temtica, centrando-me em questes rela-
cionadas s desigualdades educacionais com longa tradio na
sociologia da educao e presena de estudantes de origem po-
pular na universidade. A pesquisa contou com auxlio do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq)
e com a participao de duas estudantes do Curso de Pedagogia
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e bolsistas de
iniciao cientfica do CNPq: Letcia M. dos Anjos e Joelma M.
de Andrade.
Do acesso permanncia no ensino superior
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 227
Entre alguns exemplos dessa contribuio recen-
te
1
destaco, em relao produo estrangeira, os tra-
balhos de Laurens (1992), Zroulou (1988), Terrail
(1990)
2
e, no Brasil, Viana (1998), Portes (1993), Sil-
va (2003) e Mariz, Fernandes e Batista (1999). Parte
dessa produo define-se, mais explicitamente, na li-
nha de investigao da relao famlia-escola e na
busca de explicaes dos processos que possibilita-
ram aos jovens romper com a tradio freqente no
seu meio de origem: uma escolaridade de curta dura-
o. Diferente de uma tradio sociolgica fundada
unicamente na relao entre a posio de classe e os
resultados escolares, esses estudos apiam-se em um
conjunto de situaes possveis de explicar as traje-
trias de xito escolar. Alm das variveis clssicas
da sociologia (tais como a renda, ocupao e escola-
ridade dos pais), o interesse volta-se para outros ele-
mentos constitutivos das trajetrias escolares bem-
sucedidas, como as prticas dos pais e dos filhos no
processo de escolarizao.
Esses estudos deram visibilidade s aes em-
preendidas pelos sujeitos sociais, contrariando uma
viso patologizante das famlias ou, ainda, um conhe-
cimento durante muito tempo dominante nas cincias
sociais, apoiado em uma caracterizao genrica dos
meios populares, freqentemente associada passi-
vidade e ao imediatismo nas reivindicaes, entre
outras denominaes igualmente estigmatizadoras
(Sader & Paoli, 1988). Ou ainda, quando se trata de
reas urbanas mais discriminadas, como as favelas
na sociedade contempornea, as cincias sociais tm
focalizado os problemas que so tambm os mais di-
vulgados pela mdia, como criminalidade, violncia
e trfico de drogas. So poucos os estudos que ten-
tam explicar como algumas pessoas conseguem es-
capar disso. Tanto j foi repetido que pobreza gera
pobreza e por vezes desvio, que se tornou muito dif-
cil, e mais complicado, explicar como alguns rompem
esse crculo vicioso (Mariz, Fernandes & Batista, 1999,
p. 324). Por isso mesmo, segundo Zaluar e Alvito (1999,
p. 21), estudar a favela requer combater certo senso
comum que j possui longa histria.
Nessa mesma linha de problematizao, identi-
ficaram-se pesquisas com universitrios moradores da
favela, cujo objetivo foi conhecer que elementos mo-
tivam esses jovens a desenvolver estratgias integra-
doras que se contrapem ao processo de excluso.
Observam Mariz, Fernandes e Batista (1999, p. 324-
325) que o aparecimento desses universitrios indi-
ca uma tendncia de mudana nas favelas, e que co-
nhecer o perfil desses indivduos e sua viso de mundo
pode ajudar a entender que mudana essa, que fato-
res contribuem para ela e que direo parece estar
tomando. Nesse sentido, concordam que estudar es-
ses casos, identificando o que permite a alguns fugir
ao crculo vicioso que leva excluso e marginali-
dade, pode ser to ou mais til para propostas de po-
lticas sociais quanto apontar esse crculo vicioso
(idem, ibidem).
A reduzida representatividade no ensino supe-
rior por parte dos habitantes da favela
3
pode igual-
mente ser verificada entre a populao includa nos
nveis mais baixos de renda.
4
No se est falando, por-
1
Embora no se inclua na ltima gerao de trabalhos, no
poderia deixar de citar a autobiografia de Richard Hoggart (1970).
Conforme observa Jean-Claude Passeron, no prefcio do livro,
esse trabalho contribui para a desmistificao de algumas das ilu-
ses intelectuais inerentes sociologia das classes populares.
2
Uma reviso dessa bibliografia francesa pode ser encon-
trada na tese de doutorado de Viana (1998).
3
Silva (2003, p. 124) lembra que, conforme os dados do
Censo de 1991, menos de 1% (0,53%) dos moradores da Mar, uma
das maiores favelas do Rio de Janeiro, possua curso superior, en-
quanto o percentual da cidade do Rio de Janeiro era de 16,7%.
4
Dados referentes ao vestibular de 2001 da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), local da pesquisa, reforam
essa afirmao. Considerando a relao entre renda e aprovados
no exame de seleo, verificou-se que entre aqueles com renda de
at um salrio mnimo (SM), representando 0,77% do total de ins-
critos, a aprovao foi de 0,58%, enquanto entre aqueles com ren-
da de um a trs SM, representando 6,59% dos inscritos, o ndice
de aprovao foi de 4,05%. Tomando-se outras faixas de renda
228
Nadir Zago
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006
tanto, de minorias, mas de uma grande maioria ex-
cluda do sistema de ensino superior brasileiro, so-
bretudo se considerarmos que na faixa etria de 18 a
24 anos apenas 9% freqenta esse nvel de ensino,
um dos percentuais mais baixos do mundo, mesmo
entre os pases da Amrica Latina. A expanso quan-
titativa do ensino superior brasileiro no beneficiou a
populao de baixa renda, que depende essencialmen-
te do ensino pblico. A universidade pblica expan-
diu-se no perodo compreendido entre 1930 e 1970,
mas desse perodo at os dias atuais as polticas
mercantilistas do ensino superior fortaleceram o se-
tor privado, que hoje detm aproximadamente 90%
das instituies e 70% do total de matrculas (INEP,
2004, p. 8-19). A ampliao do nmero de vagas foi
considervel nos ltimos anos,
5
mas sua polarizao
no ensino pago no reduziu as desigualdades entre
grupos sociais. Estudo recente do Observatrio Uni-
versitrio da Universidade Cndido Mendes revela que
25% dos potenciais alunos universitrios so to ca-
rentes que no tm condies de entrar no ensino
superior, mesmo se ele for gratuito (Pacheco &
Ristoff, 2004, p. 9). Uma efetiva democratizao da
educao requer certamente polticas para a amplia-
o do acesso e fortalecimento do ensino pblico, em
todos os seus nveis, mas requer tambm polticas
voltadas para a permanncia dos estudantes no siste-
ma educacional de ensino.
A constatao de que existe um grupo de estu-
dantes pobres e muito pobres que esto conseguindo
ultrapassar barreiras ao longo de suas trajetrias esco-
lares, ingressar e permanecer nas universidades pbli-
cas (Bori & Durham, 2000, p. 41) deve ser acompa-
nhada de estudos que permitam conhecer as reais con-
dies dessa escolarizao. Essa observao remete
pesquisa sociolgica voltada para a condio do estu-
dante universitrio, tendncia com a qual me identifi-
co. Estudos como o de Grignon e Gruel (1999) traam
um quadro bastante detalhado de vrios aspectos da
condio do estudante: financiamento dos estudos,
moradia, transporte, alimentao, sade, condies e
hbitos de trabalho, relaes com o meio de origem e
com o meio estudantil, cultura e lazer. Reconhecendo
os limites da teoria da reproduo, argumentam os au-
tores que uma pesquisa representativa do conjunto da
populao de estudantes permite observar diferentes
dimenses do xito e do fracasso, e os efeitos cumula-
tivos da escolarizao anterior.
Como eles, outros socilogos vm pesquisando
as formas marginais de insero de estudantes no en-
sino superior, reforando a tese dos excludos do in-
terior, ou seja, das prticas mais brandas ou dissimu-
ladas de excluso (Bourdieu & Champagne, 2001).
Desse modo, uma anlise sobre a presena de catego-
rias sociais antes excludas do sistema de ensino le-
vanta necessariamente a questo: o acesso universi-
dade, sim; e depois? No basta ter acesso ao ensino
superior, mesmo sendo pblico, conforme indicam os
resultados da pesquisa que realizei. Assim, torna-se
redutor considerar indiscriminadamente os casos de
estudantes que tm acesso ao ensino superior como
de sucesso escolar. Evidentemente, caberia
explicitar o que se quer dizer com sucesso escolar.
Ele representa o acesso, ou vai alm para definir tan-
to a chamada escolha pelo tipo de curso quanto as
condies de insero, ou seja, de sobrevivncia
no sistema de ensino? nesse quadro de questiona-
mentos que me apio para a interpretao dos resul-
tados da minha pesquisa.
Este estudo est voltado para estudantes univer-
sitrios oriundos de famlias de baixo poder aquisiti-
vo e reduzido capital cultural, e sua temtica diz res-
peito s desigualdades relacionadas ao acesso e
permanncia no sistema de ensino superior. Ao com-
binar uma anlise crtica sobre as formas de insero
entre os aprovados, 20,38% faziam parte do grupo de renda de
trs at sete SM, enquanto para 74,43% dos aprovados a renda
estava acima dessa faixa, estes assim distribudos: 25,51% entre
dez e vinte SM; 15,52% entre vinte e trinta; e, para 14,78%, acima
de trinta SM. (UFSC, 2001).
5
Progresso do nmero de matrcula no ensino superior:
44 mil em 1950; 1,6 milho em 1995 (Trindade, 2002, p. 26). Em
2003, so 3.887.771 estudantes matriculados, e desse total,
2.750.652 (70%) em instituies privadas (INEP, 2004, p. 19).
Do acesso permanncia no ensino superior
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 229
na universidade com a mobilizao do estudante, ou
seja, suas preocupaes e prticas, foi possvel
desnaturalizar a categoria estudante e, ao mesmo tem-
po, mostrar as contradies entre uma maior deman-
da da populao pela elevao do nvel escolar e as
polticas de acesso ao sistema de ensino.
Para entender melhor essas questes realizei,
entre 2001 e 2003, uma pesquisa de campo tendo como
local a UFSC, nica universidade federal desse esta-
do.
6
Nesta, como em outras universidades pblicas
do pas, o vestibular altamente competitivo e a rela-
o candidato/vaga vem-se ampliando ao longo dos
anos. Em 1970, a relao entre candidatos inscritos e
vagas oferecidas na UFSC era de 1,46; essa relao
sobe para 5,93 em 1980 e 6,36 em 1990; quinze anos
depois, esse ndice consideravelmente mais eleva-
do, atingindo 10,54 em 2005.
7
Os resultados da pesquisa nessa instituio fo-
ram obtidos mediante uma metodologia de natureza
quantitativa e qualitativa, baseada em dados sobre os
candidatos ao vestibular e em entrevistas com uni-
versitrios originrios de escolas pblicas.
Na primeira etapa do estudo, apoiei-me em da-
dos referentes aos candidatos ao vestibular de 2001.
8
Esse material possibilitou traar um perfil dos inscri-
tos e aprovados segundo a origem familiar (renda,
ocupao e escolaridade dos pais) e histrico escolar
dos candidatos (rede e turno de ensino nos nveis fun-
damental e mdio, tipo de ensino mdio), entre ou-
tras informaes relativas origem social e ao vesti-
bular (curso de inscrio, nmero de vestibulares
prestados etc.).
9
Comprovadamente, no h uma relao direta
entre as caractersticas socioculturais da famlia e a
aprovao no vestibular, pois a maioria dos candida-
tos reprovada em decorrncia da distoro deman-
da/oferta de vagas. O vestibular de 2001 da UFSC
contou com um total de 35.242 inscries, para 3.802
vagas, o que representa 89% de no-ingressantes no
ano em questo. No entanto, considerando indicado-
res relacionados origem social e ao passado escolar
dos inscritos e aprovados, os resultados evidenciam a
forte desigualdade de acesso ao ensino superior e a
seletividade fundada na hierarquia dos cursos univer-
sitrios.
10
A anlise desse material serviu de pano de fundo
para a segunda etapa da pesquisa, que teve por objeti-
vo conhecer, para alm do acesso, as condies de
permanncia no ensino superior, bem como as estra-
tgias de investimento adotadas ante a realidade do
estudante e a exigncia do curso.
Essa etapa consistiu em uma pesquisa de campo,
em que foram realizadas entrevistas em profundida-
de com 27 estudantes. Para essa coleta de dados fo-
ram selecionados universitrios que reuniam condi-
es desfavorveis quanto ao capital econmico e
cultural familiar, e que freqentavam fases mais adian-
tadas do curso (a partir da 4 fase),
11
em diferentes
reas de conhecimento (cincias da sade, cincias
jurdicas, cincias humanas e sociais, cincias eco-
nmicas, e tecnolgica), para conhecer a realidade
tambm no que diz respeito varivel curso. Na se-
qncia deste artigo, estarei apoiada predominante-
mente no material das entrevistas, relacionado con-
dio do estudante.
6
O estado de Santa Catarina conta com mais uma universi-
dade de carter gratuito, a Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC).
7
Cf. UFSC (2005).
8
Cf. UFSC ( 2001).
9
Os dados foram fornecidos pela Comisso Permanente
do Vestibular (COPERVE), rgo responsvel pela realizao do
vestibular da UFSC.
10
Uma anlise mais completa dos dados encontra-se em
Zago, Anjos e Andrade (2002).
11
O ano de realizao do vestibular no foi um critrio que
levamos em considerao nessa seleo. No entanto, entrevistar
estudantes que j haviam freqentado alguns semestres do curso
fez parte da metodologia da pesquisa, que teve entre seus objeti-
vos levantar informaes sobre a permanncia desse grupo social
no ensino superior.
230
Nadir Zago
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006
Em um breve resumo sobre o perfil desses 27
estudantes, destaco: dez so do sexo masculino e
dezessete do feminino, a maior parte com idade entre
19 e 26 anos (seis tinham acima de 30 anos), dezenove
so solteiros, doze (quase a metade deles) so de ori-
gem rural. Todos so originrios de escolas pblicas:
vinte cursaram todo o ensino fundamental e mdio
nessa rede e sete tiveram parte da escolaridade na rede
privada, como bolsistas ou como estudantes do ensi-
no supletivo. Seus pais so pequenos agricultores
(doze casos) ou tm ocupaes no ramo da constru-
o civil, entre outras atividades de baixa remunera-
o. As mes ocupam-se da agricultura familiar, em
alguns casos so do lar ou conjugam essa atividade
com trabalho domstico remunerado. Pais e mes, em
sua quase totalidade, freqentaram apenas os primei-
ros anos do ensino fundamental.
Apoiado em uma anlise sociolgica de natureza
predominantemente qualitativa, sem desconsiderar os
problemas estruturais que produzem as desigualdades
escolares, o estudo com universitrios de origem popu-
lar possibilitou conhecer, entre outras questes, a din-
mica que permeia a vida cotidiana e a formao univer-
sitria, como tambm as estratgias e o custo pessoal
daqueles que procuram permanecer no sistema de ensi-
no apesar das condies adversas de escolarizao.
A categoria estudante, como lembram Grignon
e Gruel (1999), recobre uma diversidade muito gran-
de de situaes e, por isso mesmo, revela-se insufi-
ciente para caracteriz-la. Os estudantes no so to-
dos estudantes no mesmo grau e os estudos ocupam
um lugar varivel em suas vidas. Tal constatao en-
contra toda sua expresso quando se analisam a esco-
lha pelo curso e as condies de acesso e de perma-
nncia no ensino superior, como mostrarei a seguir.
O acesso ao ensino superior O acesso ao ensino superior O acesso ao ensino superior O acesso ao ensino superior O acesso ao ensino superior
e os antecedentes escolares e os antecedentes escolares e os antecedentes escolares e os antecedentes escolares e os antecedentes escolares
A desigualdade de oportunidades de acesso ao
ensino superior construda de forma contnua e du-
rante toda a histria escolar dos candidatos. Muito
diferente do que observou Nogueira (2003, p. 132)
em um estudo feito com universitrios provenientes
das camadas mdias intelectualizadas, para os estu-
dantes entrevistados a deciso pelo ensino superior
no tem, como para aqueles, a conotao de uma quase
evidncia, um acontecimento inevitvel. Chegar a
esse nvel de ensino nada tem de natural, mesmo
porque parte significativa deles, at o ensino funda-
mental e, em muitos casos, ainda no ensino mdio,
possua um baixo grau de informao sobre o vesti-
bular e a formao universitria. Essa lacuna no
uma caracterstica comum ao meio estudado. Silva
(2003, p. 128) encontrou o que chamou ausncia de
um capital informacional sobre o sistema do vestibu-
lar, os cursos e as instituies que os oferecem.
Entre a deciso de prestar o vestibular e o mo-
mento de inscrio h um longo caminho a ser per-
corrido, acompanhado de um grande investimento
pessoal, independentemente dos resultados escolares
anteriores. Eles no so apenas ex-alunos da rede p-
blica, mas estudantes com um passado de bons resul-
tados escolares, sobretudo se considerarmos que 23
nunca foram reprovados. Do total de 27, apenas qua-
tro relatam fenmenos recorrentes como a reprova-
o e a interrupo temporria dos estudos. No en-
tanto, apesar desses indicadores, as entrevistas
revelam vrios elementos sobre a seletividade quanto
ao acesso e permanncia no ensino superior. Ingres-
sar em uma instituio com forte concorrncia no
vestibular pressupe, sem dvida, uma formao an-
terior favorvel, mas sabe-se que os critrios de ava-
liao que definem os resultados formais de escolari-
dade no so equivalentes entre os estabelecimentos.
Portanto, um certificado escolar recobre uma forma-
o bastante diversificada.
J se tornou senso comum a afirmao de que as
polticas pblicas voltadas para a educao bsica no
tm contribudo para garantir um ensino de qualida-
de. Com um histrico escolar pouco competitivo e o
alto grau de concorrncia no vestibular,
12
todos os
12
Conforme j foi indicado, em virtude da forte concorrn-
cia candidato/vaga, 89% dos inscritos foram excludos do processo
Do acesso permanncia no ensino superior
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 231
entrevistados tinham uma apreciao muito crtica
sobre suas chances objetivas. A falta de esperana era
de tal ordem que o primeiro vestibular foi considera-
do um exerccio, uma experincia para se fami-
liarizarem com o sistema de provas e poder assim as-
segurar um diferencial na prxima seleo. Essa
interiorizao do improvvel no constitui um trao
de um grupo singular. Uma matria publicada na Fo-
lha de S.Paulo de 18 de agosto de 2002, apoiada em
dados do vestibular de universidades pblicas do Rio
de Janeiro e So Paulo (Universidade de So Paulo
USP, Universidade Estadual Paulista UNESP, Uni-
versidade Estadual de Campinas UNICAMP, Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ e Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ),
argumenta que a baixa auto-estima faz estudantes de
escolas pblicas desistirem de entrar na universidade
antes mesmo de tentar o vestibular. Acrescenta a ma-
tria que o fenmeno, conhecido por educadores es-
tudiosos do assunto como auto-excluso, acentuou-
se nos ltimos anos, apesar do aumento significativo
do nmero de alunos formados no ensino mdio p-
blico (Folha de S.Paulo, 2002).
Na pesquisa realizada nota-se, com certa freqn-
cia, que quando a previso do fracasso no se confir-
ma e o estudante aprovado no primeiro vestibular,
ou mesmo aps outras tentativas frustradas, no raro
ele duvida de sua capacidade e atribui o resultado
obtido ocorrncia de uma chance, uma sorte. O
xito no vestibular sempre recebido com surpresa,
e foi dessa forma que reagiram quando identificaram
seus nomes na lista dos aprovados:
Eu at nem acreditei, a hora que eu vi assim, eu disse:
no pode, no pode. (Estudante de agronomia)
Parece um sonho ter conseguido entrar aqui... Eu pen-
sava que pra mim era uma coisa impossvel. (Estudante de
pedagogia)
Eu me julgava incapaz de passar. muito difcil um
estudante de colgio pblico entrar na universidade. [...]
Eu no me achava com capacidade de entrar numa federal.
(Estudante de servio social)
Para preencher a lacuna da formao bsica, h
uma forte demanda pelos cursinhos pr-vestibular, es-
tratgia bastante generalizada entre os egressos do en-
sino mdio. Os dados referentes aos inscritos no vesti-
bular da instituio pesquisada, em 2001, reforam essa
observao: dos 35.278 inscritos, 19.160 (54%) haviam
freqentado algum tipo de cursinho, e das 3.802 vagas
oferecidas pela mesma instituio, 2.376, ou mais da
metade delas (62%), foram preenchidas por candida-
tos com essa formao complementar, ndice que sobe
para 80% ou mais nos cursos mais concorridos.
Para tornar-se mais competitivos, os jovens dis-
postos a investir em sua formao fazem esforos
considerveis para pagar a mensalidade do cursinho,
geralmente freqentado em perodo noturno e em ins-
tituies com taxas mais condizentes s suas possibi-
lidades financeiras, ou em cursos pr-vestibulares gra-
tuitos. Essa formao suplementar , portanto, bastante
desigual entre os candidatos do vestibular.
Considerando esses dados relacionados forma-
o bsica, as dificuldades no momento da escolha da
especialidade a ser seguida no curso superior so gran-
des. O ensino superior representa para esses estudan-
tes um investimento para ampliar suas chances no mer-
cado de trabalho cada vez mais competitivo, mas, ao
avaliar suas condies objetivas, a escolha do curso
geralmente recai naqueles menos concorridos e que,
segundo estimam, proporcionam maiores chances de
aprovao.
13
Essa observao suscita uma reflexo so-
bre o que normalmente chamamos escolha. Quem,
do vestibular de 2001, na instituio pesquisada. Das 3.802 vagas
disponveis, 2.756 (72%) foram ocupadas pelos candidatos que
tinham realizado o vestibular ao menos duas vezes. Dados atuais
sobre a situao no Brasil reforam essa disparidade: a relao
candidato/vaga no setor privado atingiu ndice de 1,6, enquanto
nas universidades pblicas (estaduais e federais) essa relao che-
ga a 10,7 (Pacheco & Ristoff, 2004, p. 8).
13
A relao candidato/vaga do vestibular de 2005 de alguns
dos cursos da UFSC d uma idia da concorrncia segundo as
232
Nadir Zago
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006
de fato, escolhe? Sob esse termo genrico escondem-
se diferenas e desigualdades sociais importantes.
O comrcio dos cursinhos pr-vestibular, aliado
a uma srie de investimentos familiares, contribui para
a elitizao do ensino superior. Certos cursos tm seu
pblico formado essencialmente por estudantes oriun-
dos de escolas pblicas, enquanto em outros ocorre
situao inversa, sugerindo a intensificao da seleti-
vidade social na escolha das carreiras. A origem so-
cial exerce forte influncia no acesso s carreiras mais
prestigiosas, pois a ela esto associados os antece-
dentes escolares e outros tickets de entrada. am-
plamente conhecida a tese de que quanto mais im-
portantes os recursos (econmicos e simblicos) dos
pais, mais os filhos tero chances de acesso ao ensino
superior e em cursos mais seletivos, mais orientados
para diplomas prestigiosos e empregos com melhor
remunerao (Grignon & Gruel, 1999, p. 183).
Desse modo, falar globalmente de escolha signi-
fica ocultar questes centrais como a condio social,
cultural e econmica da famlia e o histrico de esco-
larizao do candidato. Para a grande maioria no exis-
te verdadeiramente uma escolha, mas uma adaptao,
um ajuste s condies que o candidato julga condi-
zentes com sua realidade e que representam menor ris-
co de excluso. Foi de acordo com essa avaliao que
dezoito entrevistados decidiram suas escolhas. Esse
dado corrobora a afirmao de Grignon e Gruel (1999),
segundo a qual os estudantes de origem popular difi-
cilmente se aventuram fora do seu meio de origem.
Acrescentam os autores: podemos supor que o su-
cesso improvvel se paga com um acrscimo de
ascetismo (p. 172-173, grifado no original). Mas a
correspondncia entre a condio social e a escolha
pela carreira tendencial, e no absoluta. Os vrios
elementos constitutivos de cada uma das trajetrias
analisadas no teriam possibilitado um percurso mais
longo de escolarizao se no houvesse a mobilizao
do estudante. Fazem parte dessa pesquisa estudantes
de cursos mais concorridos como medicina, odonto-
logia, direito, certas reas das engenharias, mas in-
clu-los nesta pesquisa, justamente porque so raros,
no foi uma tarefa simples. Nesses casos, apesar das
repetidas reprovaes no vestibular, a opo foi insis-
tir na mesma rea e investir novamente na preparao
para o exame. Fernanda
14
foi uma dessas estudantes
do grupo. Moradora de uma favela, desafiou o impro-
vvel, mas no abriu mo, aps trs vestibulares na
universidade pblica, do curso de medicina. Para mim
era uma questo de honra, sintetiza.
Um dos maiores problemas que enfrentam os
estudantes em questo reside na qualidade do ensino
pblico, do qual dependem para prosseguir sua esco-
laridade. Sabemos que a ampliao do nmero de
vagas nos nveis fundamental e mdio no eliminou
os problemas relacionados qualidade do ensino.
Como observa Oliveira (2000, p. 92),
Em breve, todos tero oito anos de escolarizao, mas
nem todos tero acesso aos mesmos nveis de conhecimen-
to. Muitos, nem mesmo a patamares mnimos. Elimina-se,
assim, a excluso da escola, no a excluso do acesso ao
conhecimento, criando-se condies historicamente novas
para demandas por qualidade de ensino.
Os efeitos dessa excluso do conhecimento apa-
recem com toda a fora na escolha do curso, e faz-se
sentir igualmente quando o estudante ingressa no en-
sino superior, sobretudo nas primeiras fases do curso.
Muito expressiva a sntese feita por esta estudante
de agronomia. De origem rural, teve dificuldades nos
primeiros semestres do curso, conforme relata, pelas
lacunas de sua formao nas matrias bsicas. Ela re-
sume essa relao entre o passado escolar e as exi-
gncias da formao atual com a seguinte metfora:
carreiras: medicina (55,76), jornalismo (20,00), nutrio (18,45),
cincias biolgicas diurno (18,90), direito diurno (20,46) e
direito noturno (15,26), arquitetura e urbanismo (16,61), odon-
tologia (15,21), engenharia mecnica (12,23), geografia diurno
(8,30), pedagogia (5,34), biblioteconomia noturno (3,13). Fon-
te: <http://www.vestibular2005.ufsc.br>. Acesso em: 20. jun. 2005
14
Os nomes de estudantes apresentados no texto so fictcios.
Do acesso permanncia no ensino superior
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 233
a mesma coisa que pegar um filme pela metade,
no tem como entender inteiro.
Como ela, outros entrevistados enfrentaram di-
ficuldades, especialmente nas disciplinas de biologia,
fsica e clculo. Situao semelhante ocorre com
Walter, estudante de matemtica, que foi reprovado e
teve dificuldades em certas disciplinas. Na universi-
dade ele compreendeu que o xito escolar dos nveis
anteriores no traduzia sua real formao:
Eu me sentia um timo aluno [...] aqui eu vi que tudo
que a gente sabia no era nada. [...] Quando o professor fala
vocs j viram isso no 2 grau, aquilo pra mim como se
fosse uma facada. As matrias so dadas como se todos
tivessem feito o cursinho, como se todos tivessem o mes-
mo 2 grau.
As lacunas deixadas na formao precedente mar-
cam implacavelmente a vida acadmica, e os depoi-
mentos nesse sentido so muito significativos, como o
deste entrevistado do curso de engenharia eltrica:
Eu me vejo completamente fora da realidade da en-
genharia. Os professores dizem que apenas portugus e in-
gls no basta para a engenharia, mas eu conheo pouqus-
simas palavras em ingls.
Alm do ingls, sente dificuldades em lgebra e
outras matrias. Fundamentado em sua prpria expe-
rincia, avalia: aquela base eu no vou conseguir re-
cuperar.
Como j disse Gouveia, ainda nos anos de 1960,
qualquer tentativa de democratizao do ensino su-
perior ser incua enquanto persistirem as desigual-
dades existentes nos nveis anteriores, primrio e se-
cundrio (1968, p. 232). Quatro dcadas depois, tal
concluso revela toda a sua atualidade.
O financiamento dos estudos: O financiamento dos estudos: O financiamento dos estudos: O financiamento dos estudos: O financiamento dos estudos:
um estudante parcial um estudante parcial um estudante parcial um estudante parcial um estudante parcial
Considerando toda a luta empreendida por esses
estudantes, o acesso universidade representa uma
vitria, expresso recorrente nas entrevistas. Como
disse Mauro, 32 anos, ex-pedreiro, estudante de cin-
cias da computao: Para mim uma vitria, de onde
eu sa, do cho onde eu andei, tudo o que eu fiz pra
chegar at aqui, eu me sinto vitorioso.
Se o ingresso no ensino superior representa para
esse grupo de estudantes uma vitria, a outra ser
certamente garantir sua permanncia at a finalizao
do curso. Originrios de famlias de baixa renda, es-
ses estudantes precisam financiar seus estudos e, em
alguns casos, contam com uma pequena ajuda fami-
liar para essa finalidade. Provenientes de outras cida-
des ou estados, pouco mais da metade tem suas
despesas acrescidas pelo fato de no morar com a fa-
mlia. Nesses casos, residem na casa do estudante uni-
versitrio (quando h vaga), ou com parente, ou ainda,
dividem casa ou apartamento com colegas. O papel
estratgico dos irmos sobretudo aqueles que con-
seguiram superar a condio familiar no percurso
escolar dos entrevistados mereceria um captulo par-
te, dada sua importncia tanto em forma de ajuda ma-
terial quanto simblica.
Com um p-de-meia
15
para os primeiros tem-
pos na universidade, os jovens do incio a seus estu-
dos de nvel superior sem ter certeza de at quando
podero manter sua condio de universitrios. Para
viabiliz-la, tentam obter uma renda mediante algu-
ma forma de trabalho em tempo completo ou parcial.
No momento da pesquisa, do total de 27 estudantes,
21 tinham renda entre um e dois salrios mnimos.
A concomitncia trabalho-estudo no ensino su-
perior no uma realidade s dos pases em desen-
volvimento e no se reduz aos filhos de famlias com
renda modesta. Esse dado , no entanto, muito gen-
rico, pois, como j foi observado, h variaes entre
os includos na categoria estudante. Em relao ao
trabalho, cabe enumerar o tipo de atividade, a carga
horria, a proximidade ou no com o curso, o resulta-
15
Em vrios casos, muito tempo antes de ingressar na uni-
versidade o estudante prepara-se constituindo uma reserva finan-
ceira, popularmente chamada p-de-meia.
234
Nadir Zago
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006
do financeiro, entre outras variveis. Se tomarmos rea-
lidades diferentes em termos de polticas pblicas para
o ensino superior, como o caso da Frana, pesqui-
sas realizadas nos anos de 1990 revelam que uma
minoria trabalha no incio do curso, mas a situao
inverte-se nas ltimas fases. As taxas de estudantes
exercendo uma atividade remunerada varia, ento, de
20%, aos 18 anos, a 66,7%, aos 26 anos e mais
(Grignon & Gruel, 1999, p. 67-69). As mudanas es-
to tambm na carga horria de trabalho e no tipo de
ocupao, progressivamente mais voltada para a for-
mao. Os recursos financeiros dos pais so desiguais,
mas parte dessa desigualdade compensada por pol-
ticas pblicas daquele pas, mesmo sabendo-se que
estas no excluem as disparidades sociais. Em resu-
mo, a atividade remunerada no tem uma funo uni-
camente de sobrevivncia material. A ela associam-
se o desejo de autonomia em relao famlia e a
constituio de um currculo mais favorvel quando
o jovem deixa a universidade, como tambm foi veri-
ficado em nosso estudo.
No Brasil, percursos escolares de longa perma-
nncia na escola e ingresso tardio no mundo do traba-
lho so privilgios para uma parcela reduzida de sua
populao, embora, como mostram pesquisas recen-
tes, essa relao venha sofrendo mudanas ao longo
das ltimas dcadas (Hasenbalg, 2003). No grupo
pesquisado, em todos os casos, durante o ensino m-
dio e em vrios deles ainda no ensino fundamental, a
escolaridade esteve associada ao trabalho e sobrevi-
vncia. Desde o incio do curso superior, os entrevis-
tados, em sua totalidade, exercem algum tipo de ativi-
dade remunerada em tempo integral ou parcial. Alguns
so trabalhadores-estudantes, com uma atividade que
absorve muitas horas dirias, e por isso mesmo esta-
belece forte concorrncia com os estudos. Outros tm
uma carga horria mais flexvel, em servios presta-
dos dentro da prpria universidade, em forma de bol-
sa de treinamento, estgio ou iniciao cientfica, em
tempo parcial de vinte horas semanais. Aps terem
exercido ocupaes em diferentes ramos de atividade
do setor privado, nove do grupo de dez estudantes do
sexo masculino esto nessa situao e, por meio dela,
garantem a sobrevivncia. No grupo feminino, oito tm
carteira assinada nos seguintes ramos de atividades:
atendente de enfermagem, professora de educao in-
fantil, copeira e atendente de auxlio lista em empre-
sa de telecomunicaes. As demais, em nmero de
nove, esto nas mesmas condies de bolsistas, em
atividades de extenso, monitoria ou estgio remune-
rado, conforme convnio entre a universidade e ou-
tras instituies.
16
Segundo cada caso, a renda obtida
completada, seja com pequena ajuda familiar, seja
com atividades complementares como jardinagem,
atendimento na rea de informtica, ou ainda no ramo
dos servios domsticos.
Conforme os dados, do total de 27 estudantes, 18
obtiveram uma bolsa de trabalho, estgio, monitoria
ou iniciao cientfica. A flexibilizao de horrio con-
cedida por essas formas de admisso processadas no
interior da universidade transforma-se em uma vanta-
gem para o estudante. Existe ainda a possibilidade de
utilizar computador, internet, espao fsico para estu-
dar, alm de estar em contato permanente com a insti-
tuio, pois sabemos o quanto essa condio pode re-
presentar para a sua vida acadmica. Em geral esses
estudantes permanecem toda a jornada na universida-
de e apropriam-se com maior intensidade da cultura
acadmica. No sem razo que declaram seus proje-
tos de prosseguir os estudos na ps-graduao.
O que se pode observar que, embora todos de-
pendam do trabalho para garantir sua sobrevivncia
material, desenham-se perfis diferentes na relao
estudo-trabalho, com repercusses que julgo signifi-
cativas na condio do estudante e na constituio de
suas carreiras universitrias. A categoria estudante
mdio no existe, porque no h uma condio es-
tudante em geral: as diferenas so relacionadas ao
prprio curso, sua estruturao em termos de carga
16
No considerada, para efeito desta anlise, a relao
entre as ocupaes dos estudantes na universidade e a varivel
gnero. No entanto, um estudo nessa dimenso pode revelar as-
pectos importantes sobre as polticas adotadas nas instituies
pblicas no que concerne condio do estudante.
Do acesso permanncia no ensino superior
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 235
horria, nvel de exigncia, entre outras realidades
relacionadas s condies materiais, culturais e so-
ciais do estudante. Ao denominar um estudante par-
cial reporto-me ao lugar que o estudo e, de modo
geral, o mundo universitrio tm para os entrevista-
dos.
Outras facetas da desigualdade Outras facetas da desigualdade Outras facetas da desigualdade Outras facetas da desigualdade Outras facetas da desigualdade
O tempo investido no trabalho como forma de
sobrevivncia impe, em vrios casos, limites acad-
micos, como na participao em encontros organiza-
dos no interior ou fora da universidade, nos trabalhos
coletivos com os colegas, nas festas organizadas pela
turma, entre outras circunstncias. Vrios estudantes
se sentem margem de muitas atividades mais dire-
tamente relacionadas ao que se poderia chamar in-
vestimentos na formao (congresso, conferncias,
material de apoio), como relata Ana, estudante de ser-
vio social: No participo da comunidade universi-
tria [...] eu s trabalho, a voc automaticamente
colocada de lado. [...] Estes trs semestres foram le-
vados nas coxas, literalmente, pra dar conta de tudo.
Essa uma realidade cruel. Como Ana, muitos estu-
dantes fizeram desabafos semelhantes.
No raro, s dificuldades econmicas associam-
se outras, relacionadas ao quadro complexo da con-
dio estudante. H uma luta constante entre o que
gostariam de fazer e o que possvel fazer, materiali-
zada em uma gama variada de situaes: carga hor-
ria de trabalho, tempo insuficiente para dar conta das
solicitaes do curso e outras, de ordem social e cul-
tural, condicionadas pelos baixos recursos financei-
ros (privar-se de cinema, teatro, espetculos, eventos
cientficos, aquisio de livros e revistas etc.). Refu-
giar-se no isolamento a sada encontrada, como re-
velaram vrios estudantes.
Uma anlise sobre a condio de estudante no se
pode furtar de considerar os efeitos relacionados na-
tureza do curso. Pela grande seletividade social na
porta de entrada, o status social do pblico varia forte-
mente segundo a rea de conhecimento. A existncia
de um certo mal-estar discente foi relatada pelos es-
tudantes de medicina, direito, agronomia e, em menor
proporo, por alunos dos cursos de pedagogia, hist-
ria, filosofia, letras e outros menos concorridos, e que
apresentam, portanto, menor grau de heterogeneidade.
Os sentimentos de pertencimento/no-pertenci-
mento ao grupo dependem muito do curso, da confi-
gurao social dos estudantes de uma determinada
turma. Assim, Everaldo, que faz filosofia no perodo
noturno, v-se entre pares: estudantes com expectati-
vas semelhantes s suas, sem muita diferena social.
No tem rico na filosofia, disse, e no sente discri-
minao. Os colegas mais velhos, com uma situao
financeira mais estvel, respeitam muito os colegas
mais novos, argumenta. Nessa mesma direo colo-
ca-se Lourdes, estudante de letras, do perodo notur-
no: Me senti muito bem na universidade, a maioria
dos alunos vinha do interior, quem faz alemo so
pessoas mais simples; e conclui que foram os dife-
rentes que tiveram de se adaptar. Para Irene, na pe-
dagogia h um grupo com o qual estabelece relaes
de cumplicidade. Como ela, a maioria trabalha e es-
tuda. H, portanto, cursos cujo pblico tende a se ho-
mogeneizar, confirmando uma situao que tem sido
denominada de democratizao segregativa (Duru-
Bellat, 2003). No outro plo esto os cursos que con-
gregam uma populao mais elitizada, tais como me-
dicina, direito, odontologia, entre outros. Cursando
medicina encontravam-se duas estudantes participan-
tes da pesquisa, Fernanda e Glria, cujas histrias re-
velam bem esse sentimento de no se sentirem, em
razo do distanciamento social e dos seus reflexos na
vida estudantil, parte do grupo. A sada que encontra-
ram para se diferenciar foi fazer um outro caminho: o
da militncia estudantil.
Como bem observam Grignon e Gruel (1999, p.
2): A vida dita material no impe somente limites
prticos atividade estudantil; ela intervm moral-
mente no conjunto da vida intelectual [...].
E para finalizar... E para finalizar... E para finalizar... E para finalizar... E para finalizar...
Como tentei mostrar neste trabalho, a presena
das camadas populares no ensino superior no oculta
236
Nadir Zago
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006
conforme tambm observam Bourdieu e Champagne
(2001) as reais diferenas sociais entre os estudan-
tes. Os resultados da pesquisa indicam efeitos dessas
diferenas verificados na composio social dos cur-
sos e no exerccio da vida acadmica, nas suas mais
variadas dimenses. Uma anlise que vai alm do le-
vantamento dos dados brutos, como renda familiar
do estudante, ocupao e escolaridade dos pais, para
conhecer mais de perto a condio do estudante, mos-
tra como sobrevivncia material associam-se ou-
tros custos pessoais, mas nem por isso menos doloro-
sos, tal como evidenciou a pesquisa, entre outras
realizadas com estudantes oriundos de meios sociais
similares. Estudar essa populao para entender as
transformaes nas demandas e nas prticas escola-
res, assim como no perfil dos estudantes na socieda-
de contempornea, representa uma necessidade para
a pesquisa e as polticas educacionais em todos os
nveis de ensino.
Referncias bibliogrficas Referncias bibliogrficas Referncias bibliogrficas Referncias bibliogrficas Referncias bibliogrficas
BOURDIEU, Pierre; CHAMPAGNE, Patrick. Os excludos do
interior. In: ______. (Orgs.). A misria do mundo. 4. ed. Petrpolis:
Vozes, 2001.
BORI, Carolina M.; DURHAM, Eunice R. (Sup. Geral). Eqida-
de e heterogeneidade no ensino superior brasileiro. Braslia: Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2000. Dis-
ponvel em: <http://www.publicacoes.inep.gov.br/resultados.asp?
subcat=24>. Acesso em: 20. jun. 2005
DURU-BELLAT, Marie. Les ingalits sociales lcole: gnese
et mythes. 2. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 2003.
FOLHA DE S.PAULO. Aluno da rede pblica foge do vestibular.
Folha de S.Paulo, So Paulo, 18 ago. 2002. Cotidiano, p. C3.
GRIGNON, Claude; GRUEL, Louis. La vie tudiante. Paris:
Presses Universitaires de France, 1999.
GOUVEIA, Aparecida J. Democratizao do ensino superior. Re-
vista Brasileira de Estudos Pedaggicos, Braslia, v. 50, n. 122, p.
232-244, out./dez. 1968.
HASENBALG, Carlos. A transio da escola ao mercado de tra-
balho. In: HASENBALG, Carlos; SILVA, Nelson do Valle (Orgs.).
Origens e destinos: desigualdades sociais ao longo da vida. Rio
de Janeiro: Topbooks, 2003. p. 147-172.
HOGGART, Richard. La culture du pauvre. Paris: Minuit, 1970.
INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Ansio Teixeira. Censo de educao superior. Braslia: INEP,
2004.
LAURENS, Jean-Paul. 1 sur 500: la russite scolaire en milieu
populaire. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 1992.
MARIZ, Ceclia L.; FERNANDES, Slvia Regina Alves; BATIS-
TA, Roberto. Os universitrios da favela. In: ZALUAR, Alba;
ALVITO, Marcos (Orgs.). Um sculo de favela. 2. ed. Rio de Ja-
neiro: Ed. Fundao Getlio Vargas, 1999. p. 323-337.
NOGUEIRA, Maria Alice. A construo da excelncia esco-
lar um estudo de trajetrias feito com estudantes universit-
rios provenientes das camadas mdias intelectualizadas. In:
NOGUEIRA, Maria Alice; ROMANELLI, Geraldo; ZAGO,
Nadir (Orgs.). Famlia & escola: trajetrias de escolarizao
em camadas mdias e populares. 2. ed. Petrpolis: Vozes, 2003.
p. 125-154.
OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Reformas educativas no Bra-
sil na dcada de 90. In: CATANI, Afrnio Mendes; OLIVEIRA,
Romualdo Portela de (Orgs.). Reformas educacionais em Portu-
gal e no Brasil. Belo Horizonte: Autntica, 2000. p. 77-94.
PACHECO, Eliezer; RISTOFF, Dilvo I. Educao superior: de-
mocratizando o acesso. Braslia: Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, 2004 (Srie Documental. Textos para dis-
cusso n. 12).
PORTES, cio A. Estratgias escolares do universitrio das ca-
madas populares: a insubordinao aos determinantes. Disserta-
o (Mestrado em Educao) Faculdade de Educao, Universi-
dade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1993.
SADER, Eder; PAOLI, Maria Clia. Sobre classes populares no
pensamento sociolgico brasileiro: notas de leitura sobre aconte-
cimentos recentes. In: CARDOSO, Ruth (Org.). A aventura an-
tropolgica. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 39-67.
SILVA, Jailson de Souza e. Por que uns e no outros? Caminhada
de jovens pobres para a universidade. Rio de Janeiro: Sete Lettras,
2003.
TERRAIL, Jean-Pierre. Lissue scolaire: de quelques histoires de
transfuges. In: ________. Destins ouvriers; la fin dune classe?
Paris: Presses Universitaires de France, 1990. p. 223-257.
TRINDADE, Hlgio. O ensino superior na Amrica Latina: um
olhar longitudinal e comparativo. In: TRINDADE, Hlgio;
BLANQUER, Jean-Michel (Orgs.). Os desafios da educao na
Amrica Latina. Petrpolis: Vozes, 2002. p. 15-31.
Do acesso permanncia no ensino superior
Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006 237
UFSC Universidade Federal de Santa Catarina. Estatstica do
questionrio socioeconmico-cultural do vestibular 2001.
Florianpolis: UFSC, 2001 (mimeo).
. Relatrio oficial vestibular UFSC 2005.
Florianpolis: UFSC, 2005 (mimeo).
VAN ZANTEN, Agnes. Saber global, saberes locais. Evolues
recentes da sociologia da educao na Frana e na Inglaterra. Re-
vista Brasileira de Educao, n. 12, p. 48-58, 1999.
VIANA, Maria Jos Braga. Longevidade escolar em famlias de
camadas populares: algumas condies de possibilidade. 1998.
Tese (Doutorado em Educao) Faculdade de Educao, Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1998.
ZAGO, Nadir; ANJOS, Letcia Merentina dos; ANDRADE, Joelma
Maral de. Seletividade e acesso ao ensino superior pblico. In:
SEMINRIO DE PESQUISA EM EDUCAAO DA REGIO
SUL, 4., 2002, Florianpolis. Anais... Florianpolis: ANPEd, 2002.
1 CD-ROM.
ZALUAR, Alba; ALVITO, Marcos. Introduo. In: ______. (Orgs.).
Um sculo de favela. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1999. p. 7-24.
ZROULOU, Zaihia (1988). La russite scolaire des enfants
dimmigrs. Lapport dune approche em termes des mobilisation.
Revue Franaise de Sociologie, n. 29, p. 447-470, 1988.
NADIR ZAGO, com doutorado e ps-doutorado pela
Universit Ren Descartes (Paris V, Frana) na rea de sociologia
da educao, professora do Programa de Ps-Graduao da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e pesquisadora do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
(CNPq). H vrios anos realiza pesquisas sobre escolarizao nas
camadas populares, com vrias publicaes sobre o assunto. Par-
ticipou da organizao dos livros Famlia e escola: trajetrias de
escolarizao em camadas mdias e populares (Petrpolis: Vozes,
2000 e 2003) e Itinerrios de pesquisa: perspectivas qualitativas
em sociologia da educao (Rio de Janeiro: DP&A, 2003). E-mail:
nadirzago@uol.com.br
Recebido em novembro de 2005
Aprovado em janeiro de 2006
Resumos/Abstracts/Resumens
370 Revista Brasileira de Educao v. 11 n. 32 maio/ago. 2006
res las fuentes de las dificultades parti-
culares de la escuela y de la enseanza
en los barrios populares.
Palabras claves: socializacin; modo
de socializacin escolar; socializacin
en familias de clases sociales popula-
res; socializacin y escolarizacin;
relacin escuela-familia
Nadir Zago
Do acesso permanncia no ensino
superior: percursos de estudantes
universitrios de camadas populares
O presente artigo trata da problemtica
das desigualdades educacionais, com
longa tradio na sociologia da educa-
o, e sobre a presena de estudantes
de origem popular no ensino superior.
O eixo central da anlise contempla as
desigualdades de acesso e de perma-
nncia no ensino superior. Os resulta-
dos apresentados esto apoiados em
uma pesquisa, com duas fontes princi-
pais de informao: de natureza quan-
titativa, apoiada nas estatsticas dos
candidatos inscritos no exame de aces-
so universidade; em dados mais apro-
fundados, obtidos em entrevistas com
27 estudantes. A discusso do trabalho
permite mostrar as contradies entre
uma maior demanda da populao pela
elevao do nvel escolar e as polticas
de acesso e de permanncia no sistema
de ensino superior brasileiro.
Palavras-chave: ensino superior; desi-
gualdades sociais e educacionais
From access to permanence in
higher education: the trajectories of
university students of popular origin
This article deals with the problem of
inequalities in education, a theme dear
to the sociology of education, and of
the presence of students of popular
origin in higher education. The central
axis of this analysis is that of the
inequalities of access and permanence
of those students in higher education.
The results are based on the
conclusions of a research based on two
main sources of information: 1) of a
quantitative nature: the data on
students enrolled in the university
admission exam; 2) more qualitative
data obtained from interviews with 27
students. This study permits us to show
the contradictions between a greater
demand for higher levels of education
and the policies of access and
permanence to the Brazilian system of
higher education.
Key-words: higher education; social
and educational inequalities
Del acceso a la pernanencia en la
enseanza superior : trayectos de
estudiantes universitarios de clases
sociales populares
El presente artculo trata de la proble-
mtica de las desigualdades educati-
vas, con larga tradicin en la
sociologa de la educacin, y sobre la
presencia de estudiantes de origen po-
pular en la enseanza superior. El eje
central del anlisis son las desigualda-
des de acceso y de permanencia en la
enseanza superior. Los resultados que
fueron presentados estn apoyados en
una pesquisa, con dos principales
fuentes de informacin: 1) de
naturaleza cuantitativa, apoyada en
las estadsticas de los candidatos
inscriptos en el examen de acceso a la
universidad; 2) en datos ms profun-
dos obtenidos en entrevistas con 27
estudiantes. La discusin del trabajo
permite mostrar las contradicciones
entre una mayor demanda de la
populacin, devido a la elevacin del
nivel escolar y las polticas de acceso y
de permanencia en el sistema de la
enseanza superior brasilea.
Palabras claves: enseanza superior;
desigualdades sociales y educativas
Marilia Pontes Sposito, Hamilton
Harley de Carvalho e Silva, Nilson
Alves de Souza
Juventude e poder local: um balano
de iniciativas pblicas voltadas para
jovens em municpios de regies
metropolitanas
Rene os resultados preliminares do
projeto de pesquisa Juventude, escola-
rizao e poder local, que examina
iniciativas pblicas desenvolvidas pelo
Executivo municipal em 74 municpios
de regies metropolitanas do Brasil
(Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordes-
te) no perodo entre 2001 e 2004. As
principais aes so investigadas tendo
como eixos analticos o conjunto de
percepes sobre juventude que anco-
ram as iniciativas e as formas que so
propostas pelo poder pblico para a
interao com os segmentos juvenis.
Palavras-chave: juventude; polticas
pblicas; poder local
Youth and local power: a balance of
public initiatives directed at young
people in municipalities pertaining
to metropolitan regions
Presents the preliminary results of the
research project Youth, schooling and
local power which examines public
initiatives developed by municipal
governments in 74 municipalities
pertaining to metropolitan regions in
Brazil (Southeast, South, Central West
and Northeast) in the period between
2001 and 2004. The principal actions
are investigated taking as analytic axes
the set of perceptions on youth which
anchor the initiatives and the forms
which are proposed by the public
power for interaction with this segment
of the population.
Key-words: youth; public policy; local
power
Juventud y poder local: un balance
de iniciativas pblicas dirigidas para
jvenes en municipios de regiones
metropolitanas
Reune los resultados preliminares del
proyecto de investigacin Juventud,
escolarizacin y poder local que exa-
mina iniciativas pblicas desarrolladas
por el ejecutivo municipal en 74
municipios de regiones metropolitanas
Você também pode gostar
- EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS: ANÁLISES E DESAFIOSNo EverandEDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS: ANÁLISES E DESAFIOSAinda não há avaliações
- ZAGO - Do Acesso À Permanência No Ensino Superior DE CAMADAS POPULARESDocumento13 páginasZAGO - Do Acesso À Permanência No Ensino Superior DE CAMADAS POPULARESleonbs_Ainda não há avaliações
- Uma Democratização Relativa - Graziela e TalineDocumento22 páginasUma Democratização Relativa - Graziela e Talinea.aveloisAinda não há avaliações
- Atividade 2 de OebDocumento4 páginasAtividade 2 de Oeblarissas.jacinthoAinda não há avaliações
- MONT'ALVÃO - Estratificação Educacional No Brasil No Século XXI PDFDocumento42 páginasMONT'ALVÃO - Estratificação Educacional No Brasil No Século XXI PDFleonbs_Ainda não há avaliações
- Fulvia Rosemberg - Feminização E.F PDFDocumento34 páginasFulvia Rosemberg - Feminização E.F PDFana paula rufinoAinda não há avaliações
- Projeto Pesquisa As Quatro Juventudes PUBDocumento10 páginasProjeto Pesquisa As Quatro Juventudes PUBCALEBE JOSE TICONA HUANCAAinda não há avaliações
- Proposta de Pesquisa - Va - CursinhosDocumento6 páginasProposta de Pesquisa - Va - Cursinhosnathalia2amandaAinda não há avaliações
- Marilia Sposito Juventude e Educaçãoo: Interações Entre Educação Formal e Não FormalDocumento16 páginasMarilia Sposito Juventude e Educaçãoo: Interações Entre Educação Formal e Não FormalMiriam LemosAinda não há avaliações
- Retorno À Educação Escolar Dificuldades e PossibilidadesDocumento22 páginasRetorno À Educação Escolar Dificuldades e PossibilidadesMara SousaAinda não há avaliações
- Anaclaudia 27 Educao de Jovens e Adultos Eja FinalDocumento11 páginasAnaclaudia 27 Educao de Jovens e Adultos Eja FinalMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUSAAinda não há avaliações
- André Salata - Ensino Superior No Brasil Das Últimas DécadasDocumento35 páginasAndré Salata - Ensino Superior No Brasil Das Últimas DécadasvitoriaAinda não há avaliações
- Artg. Acesso, Expansão e Equidade Na Educação SuperiorDocumento35 páginasArtg. Acesso, Expansão e Equidade Na Educação SuperiorGisele AlmeidaAinda não há avaliações
- Jovens do sistema socioeducativo: Percursos biográficos, singularidades e experiências de escolarizaçãoNo EverandJovens do sistema socioeducativo: Percursos biográficos, singularidades e experiências de escolarizaçãoAinda não há avaliações
- Bullying escolar: suas manifestações e enfrentamentos nas escolas estaduais de Tabatinga-AMNo EverandBullying escolar: suas manifestações e enfrentamentos nas escolas estaduais de Tabatinga-AMAinda não há avaliações
- Educação e Juventudes: Perspectivas MultidisciplinaresDocumento193 páginasEducação e Juventudes: Perspectivas MultidisciplinaresEleonora FigueiredoAinda não há avaliações
- Acesso e Evasão Na Educação Básica As Perspectivas Da População de Baixa RendaDocumento32 páginasAcesso e Evasão Na Educação Básica As Perspectivas Da População de Baixa Rendajosetadeumendes1772Ainda não há avaliações
- GOHN MG-Jovens-na-politica-na-Atualidade Uma Nova Cultura de ParticipacaoDocumento18 páginasGOHN MG-Jovens-na-politica-na-Atualidade Uma Nova Cultura de ParticipacaoDouglas FáveroAinda não há avaliações
- 2 Campos v22 n1 Dossiê1 Scheliga&bazzo 02-07Documento22 páginas2 Campos v22 n1 Dossiê1 Scheliga&bazzo 02-07monalisatreveriAinda não há avaliações
- PICANÇO. Juventude - e - Acesso - Ao - Ensino - Superior - No BrasilDocumento24 páginasPICANÇO. Juventude - e - Acesso - Ao - Ensino - Superior - No BrasilJackson BarbosaAinda não há avaliações
- AULA 6 As Trajetórias de Jovens Adultos - BarrosDocumento22 páginasAULA 6 As Trajetórias de Jovens Adultos - BarrosLorena AlmeidaAinda não há avaliações
- RequestDocumento15 páginasRequestLarissa OliveiraAinda não há avaliações
- Defasagem e Desenvolvimento Escolar Um Estudo de Trajetorias EscoDocumento16 páginasDefasagem e Desenvolvimento Escolar Um Estudo de Trajetorias Escomaryana marcondesAinda não há avaliações
- Conferencias y Ponencias en Actas de Congresos - CompressedDocumento8 páginasConferencias y Ponencias en Actas de Congresos - CompressedILISONSANTOSAinda não há avaliações
- (Pierre Bourdieu) Livro - ImplementandoDesigualdades - Cap23Documento22 páginas(Pierre Bourdieu) Livro - ImplementandoDesigualdades - Cap23yurileonardo27Ainda não há avaliações
- CABRAL, VN Et Al. O Retrato Da Exclusão Nas UniversidadesDocumento15 páginasCABRAL, VN Et Al. O Retrato Da Exclusão Nas UniversidadeslopesmelopcAinda não há avaliações
- Revistaees, Artigo 5Documento10 páginasRevistaees, Artigo 5Eliezer NetoAinda não há avaliações
- Resenha - Expansão Escolar e Estratificação Educacional No BrasilDocumento2 páginasResenha - Expansão Escolar e Estratificação Educacional No Brasilalynni3luiza3ricco3aAinda não há avaliações
- Pré ProjetoDocumento4 páginasPré ProjetoSuellem HenriquesAinda não há avaliações
- Ensino Medio FrigottoDocumento44 páginasEnsino Medio FrigottoDouglas Fávero100% (1)
- 1.6 AprofundandoDocumento12 páginas1.6 AprofundandoAlice SodréAinda não há avaliações
- Trabalho Apresentacao Ev185 MD4 Id2678 TB2598 03102023180305Documento1 páginaTrabalho Apresentacao Ev185 MD4 Id2678 TB2598 03102023180305g7emikAinda não há avaliações
- Travestis e Transexuais Nas Universidades Públicas - Reflexões Sobre o Acesso e A Permanência - Isis Valentina Borges e José Lucas BuenaDocumento14 páginasTravestis e Transexuais Nas Universidades Públicas - Reflexões Sobre o Acesso e A Permanência - Isis Valentina Borges e José Lucas BuenaElci FreitasAinda não há avaliações
- 268-Texto Do Artigo-1426-1-10-20210223Documento15 páginas268-Texto Do Artigo-1426-1-10-20210223Fabíola NascimentoAinda não há avaliações
- Artigo Mulheres e EJA - o Que Elas BuscamDocumento18 páginasArtigo Mulheres e EJA - o Que Elas BuscamThiago Almeida FerreiraAinda não há avaliações
- A Educação Superior e A Pesquisa em Risco: Grupos de Pesquisa e Produção de Conhecimento em Tempos Da Pandemia COVID-19Documento22 páginasA Educação Superior e A Pesquisa em Risco: Grupos de Pesquisa e Produção de Conhecimento em Tempos Da Pandemia COVID-19kjmmgAinda não há avaliações
- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Uma Abordagem Das Políticas Públicas de 2020Documento20 páginasEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Uma Abordagem Das Políticas Públicas de 2020Vanessa Raue RodriguesAinda não há avaliações
- Neoliberalismo, Crise da Educação e Ocupações de Escolas no BrasilNo EverandNeoliberalismo, Crise da Educação e Ocupações de Escolas no BrasilAinda não há avaliações
- MONT'ALVÃO - A Dimensão Vertical e Horizontal Da Estratificação EducacionalDocumento8 páginasMONT'ALVÃO - A Dimensão Vertical e Horizontal Da Estratificação Educacionalleonbs_Ainda não há avaliações
- A Educação e SociedadeDocumento4 páginasA Educação e SociedadeRutinea PrinceAinda não há avaliações
- Narrativas OpressorasDocumento15 páginasNarrativas OpressorasHevelton Figueiredo BrandãoAinda não há avaliações
- Resumo - VI - FDSP 2 Luiza SouzaDocumento10 páginasResumo - VI - FDSP 2 Luiza SouzaluizaalmeiddaAinda não há avaliações
- Artigo Adolescente em ContextoDocumento20 páginasArtigo Adolescente em ContextoAline Christina TorresAinda não há avaliações
- Políticas públicas educacionais no contexto brasileiroNo EverandPolíticas públicas educacionais no contexto brasileiroAinda não há avaliações
- Resumo de Cidadania, Relações Etnico-Raciais e Educação - Pablo CanovasDocumento3 páginasResumo de Cidadania, Relações Etnico-Raciais e Educação - Pablo CanovasPablo CanovasAinda não há avaliações
- Reconstruindo os caminhos da Educação: desafios contemporâneos: - Volume 3No EverandReconstruindo os caminhos da Educação: desafios contemporâneos: - Volume 3Ainda não há avaliações
- Democratização da Educação Superior:: ações afirmativas na Universidade Estadual de LondrinaNo EverandDemocratização da Educação Superior:: ações afirmativas na Universidade Estadual de LondrinaAinda não há avaliações
- 2 - As Contradies No Discurso de Incluso e Excluso Vigentes Na Sociedade BrasileiraDocumento9 páginas2 - As Contradies No Discurso de Incluso e Excluso Vigentes Na Sociedade BrasileiraPoliana De Souza Licursi VieiraAinda não há avaliações
- O Ensino Médio em foco: a face oculta do ENEM e das desigualdades educacionais no BrasilNo EverandO Ensino Médio em foco: a face oculta do ENEM e das desigualdades educacionais no BrasilAinda não há avaliações
- Publicado - A Construção Das Differentes Experiências No Ensino Médio PúblicoDocumento14 páginasPublicado - A Construção Das Differentes Experiências No Ensino Médio PúblicoMaria TorquatoAinda não há avaliações
- Cursos Pré-Vestibulares Populares Limites eDocumento26 páginasCursos Pré-Vestibulares Populares Limites eKauãAinda não há avaliações
- JUVENTUDES - Jovens Do Ensino Médio e Participação - SpositoDocumento21 páginasJUVENTUDES - Jovens Do Ensino Médio e Participação - SpositoLeandro R. PinheiroAinda não há avaliações
- Dialogos Sobre As Redefinicoes - PeroniDocumento328 páginasDialogos Sobre As Redefinicoes - PeroniHerval Vieira100% (2)
- Educação Jovens e AdultosDocumento240 páginasEducação Jovens e AdultosNelma FelippeAinda não há avaliações
- Estudo Do Texto de Enicéia Gonçalves Mendes. A Radicalização Do Debate Sobre Inclusão Escolar No BrasilDocumento4 páginasEstudo Do Texto de Enicéia Gonçalves Mendes. A Radicalização Do Debate Sobre Inclusão Escolar No BrasilNatasha RomanoffAinda não há avaliações
- DownloadDocumento23 páginasDownloadTayna CamposAinda não há avaliações
- Evasão EscolarDocumento15 páginasEvasão EscolarFrancisco Antonio Machado Araujo100% (1)
- Perspectivas Sociológicas e Desafios Teórico-Metodológicos: Um Estudo Das Ocupações Secundaristas No Chile e No BrasilDocumento4 páginasPerspectivas Sociológicas e Desafios Teórico-Metodológicos: Um Estudo Das Ocupações Secundaristas No Chile e No Brasilgcortilho1917Ainda não há avaliações