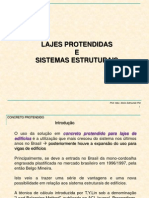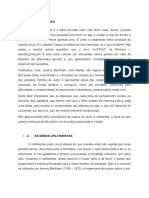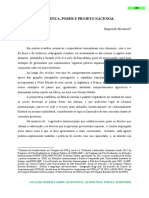Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Universidade No Brasil Ana Waleska
A Universidade No Brasil Ana Waleska
Enviado por
Thiago Rodrigues Nascimento0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações20 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações20 páginasA Universidade No Brasil Ana Waleska
A Universidade No Brasil Ana Waleska
Enviado por
Thiago Rodrigues NascimentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 20
A universidade no Brasil
Revista Brasileira de Educao 131
Traar uma viso panormica da histria do ensino
superior no Brasil, com um mnimo de consistncia e
organicidade, imps a necessidade de se estabelecer um
recorte na abordagem do tema, bem como de se definir
um eixo que orientasse a anlise desenvolvida.
Foi esta a razo que me levou a fazer algumas op-
es iniciais que gostaria de deixar claras e que j se
fazem presentes no prprio ttulo escolhido para este
artigo.
Em primeiro lugar, o foco da nossa anlise no ser
o ensino superior simplesmente. Mas irei privilegiar uma
determinada forma que esse ensino assume historicamen-
te, que a instituio universitria, mesmo que comece
o texto afirmando que a universidade, no sentido aqui
atribudo a esse termo, instala-se tardiamente no Brasil.
Para justificar essa escolha, gostaria de fazer mi-
nhas as palavras com que Christophe Charles e Jacques
Verger introduzem o seu clssico trabalho sobre a hist-
ria das universidades. Afirmam os dois autores:
As universidades sempre representaram apenas uma
parte do que poderamos denominar, de modo amplo, ensino
superior. [...] Ao decidirmos partir das universidades propria-
mente ditas sem por isso limitarmo-nos estritamente a elas ,
adotamos uma perspectiva particular. Se aceitarmos atribuir
palavra universidade o sentido preciso de comunidade (mais
ou menos) autnoma de mestres e alunos reunidos para asse-
gurar o ensino de um determinado nmero de disciplinas em
um nvel superior, parece claro que tal instituio uma cria-
o especfica da civilizao ocidental, nascida na Itlia, na
Frana e na Inglaterra no incio do sculo XIII. Esse modelo,
pelas vicissitudes mltiplas, perdurou at hoje (apesar da per-
sistncia, no menos duradoura, de formas de ensino superior
diferentes ou alternativas) e disseminou-se mesmo por toda a
Europa e, a partir do sculo XVI, sobretudo dos sculos XIX e
XX, por todos os continentes. Ele tornou-se o elemento central
dos sistemas de ensino superior e mesmo as instituies no-
universitrias situam-se, em certa medida, em relao a ele,
em situao de complementaridade ou de concorrncia mais
ou menos notria. (Charles e Verger, 1996, p. 7-8)
Destacaria dessa afirmativa duas idias que se cons-
tituem em pressupostos do meu trabalho. A primeira delas
a de que a instituio universitria uma criao es-
pecfica da civilizao ocidental, que teve, nas suas ori-
gens, um importante papel unificador da cultura medie-
A universidade no Brasil
Ana Waleska P.C. Mendona
Departamento de Educao, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro
Ana Waleska P.C. Mendona
132 Mai/Jun/Jul/Ago 2000 N 14
val e que, posteriormente, ao longo do sculo XIX,
redefinida em suas atribuies e em seu escopo, exer-
ceu, tambm, um papel significativo no processo de con-
solidao dos Estados nacionais. desta instituio que
estarei falando.
Em segundo lugar, assumo com os autores que por
ser a universidade o elemento central do ensino superior
(mesmo que, no nosso caso especfico, ela tenha se cons-
titudo, durante muito tempo, mais em uma aspirao do
que em uma instituio concreta), as demais instituies
no-universitrias posicionam-se sempre, em certa me-
dida, com relao a ela e podem, portanto, ser estudadas
tomando-a como referncia. a esta tarefa que me pro-
ponho.
Pretendo, tambm, na anlise, privilegiar um de-
terminado perodo da histria da universidade no Bra-
sil. Trata-se do perodo que vai de 1920 a 1968, anos
crticos para a histria dessa instituio entre ns, ao
longo dos quais, a universidade efetivamente se institu-
cionaliza enquanto tal e vai assumindo a sua configura-
o atual.
A universidade: uma instituio
tardia no Brasil
O Brasil constitui uma exceo na Amrica Latina: en-
quanto a Espanha espalhou universidades pelas suas colni-
as eram 26 ou 27 ao tempo da independncia , Portugal,
fora dos colgios reais dos jesutas, nos deixou limitados s
universidades da Metrpole: Coimbra e vora. (Teixeira,
1999, p. 29)
No havia, pois, na Colnia estudos superiores universi-
trios, a no ser para o clero regular ou secular [...] para os que
no se destinavam ao sacerdcio, mas a outras carreiras, abria-
se, nesse ponto de bifurcao, o nico, longo e penoso caminho
que levava s universidades ultramarinas, de Coimbra [...] e
de Montpellier [...]. (Azevedo, 1971, p. 532)
A afirmao da inexistncia da universidade no
Brasil, durante o perodo colonial, usando-se freqente-
mente a comparao com a situao diferenciada da
Amrica espanhola, tem sido recorrente entre os dife-
rentes autores que em distintas pocas e contextos vm
se debruando sobre a histria do ensino superior entre
ns. O significado dessa inexistncia, suas implicaes
e suas causas tm sido, entretanto, objeto de interpreta-
es divergentes.
Cunha, particularmente, em seu A Universidade
Tempor (1980), discute essa prpria afirmao. Ques-
tiona, por um lado, a idia implcita em alguns autores
de que a universidade seria a forma ideal ou natural de
organizao do ensino superior, e que, portanto, desse
ponto de vista, sua ausncia significaria no fundo uma
carncia a ser superada. Por outro, pergunta-se se esta
questo no seria apenas de nome, e se os colgios je-
sutas e os seminrios no se constituiriam em institui-
es equivalentes s universidades hispano-americanas.
Na perspectiva adotada, no me parece que tenha
muito sentido aprofundar nesse tipo de discusso. No
h dvida de que, se considerarmos a universidade como
uma instituio especfica da civilizao ocidental, na
forma em que se constituiu historicamente no contexto
europeu, essa instituio no foi, ao longo do perodo
colonial, implantada em nossas terras. Algumas tentati-
vas sistematicamente frustradas de estender aos col-
gios jesutas as prerrogativas universitrias nos do conta
da intencionalidade da coroa portuguesa de manter a de-
pendncia com relao Universidade de Coimbra, a
rigor, a nica universidade existente em Portugal (j que
a outra universidade existente no Reino, a de vora,
nunca teve as mesmas prerrogativas que Coimbra).
Azevedo (1971) relata a tentativa malsucedida da
Cmara da Bahia, em 1671, de conseguir a equiparao
do colgio local ao de vora, de que resultou a proviso
de 16 de julho de 1675, por meio da qual se autorizava
levar em conta em Coimbra e em vora, um ano de ar-
tes, para os estudantes de retrica e filosofia que tives-
sem cursado as aulas dos jesutas na Bahia. Com esta
medida, no dizer desse autor, se fecharam todas as pers-
pectivas para a criao no Brasil colonial, de cursos su-
periores destinados preparao para as profisses li-
berais. (p. 532-533)
Tambm Villalta (1997), em obra mais recente, afir-
ma explicitamente que el-rei procurou manter a de-
pendncia em relao universidade de Coimbra, con-
siderada um aspecto nevrlgico do pacto colonial, e
justifica essa afirmativa acrescentando que Portugal re-
cusou-se, at 1689, a conceder todos os graus e privil-
A universidade no Brasil
Revista Brasileira de Educao 133
gios universitrios aos alunos dos colgios jesutas. Para
reforar essa posio, Villalta relata ainda que, j em
1768, a Corte rejeitou um pedido da Cmara de Sabar
para que se criasse uma aula de cirurgia. a esta lti-
ma medida que tambm se refere Lacombe (1969), trans-
crevendo do documento do Conselho Ultramarino, um
trecho extremamente ilustrativo da poltica oficial por-
tuguesa, que transcrevo a seguir:
Que poderia ser questo poltica, se convinham estas
aulas de artes e cincias em colnias..., que podia relaxar a
dependncia que as colnias deviam ter do reino; que um dos
mais fortes vnculos que sustentava a dependncia das nossas
colnias era a necessidade de vir estudar a Portugal; que este
vnculo no se devia relaxar;... que [o precedente] poderia tal-
vez, com alguma conjuntura para o futuro, facilitar o estabele-
cimento de alguma aula de jurisprudncia... at chegar ao ponto
de cortar este vnculo de dependncia. (op. cit., p. 361)
Para esse autor, igualmente, este lao de dependn-
cia no era neutro nem indiferente, servindo, num pri-
meiro momento, aos prprios jesutas que, desde 1555,
detinham o controle da Universidade de Coimbra, e cons-
tituindo-se, depois, em um dos mais teis instrumentos
de difuso do pombalismo e do esprito nacionalista.
interessante, alis, a interpretao que Lacombe, ao tra-
ar as origens do ensino jurdico no Brasil, d ao fato do
seu aparecimento tardio (os cursos jurdicos no se in-
cluram entre aqueles criados por D. Joo VI, quando da
instalao da Corte portuguesa no Brasil). Referindo-se
s instituies de ensino superior criadas por D. Joo,
destaca que estas resultaram quase sempre de uma ne-
cessidade premente de tcnicos, e que a formao de ju-
ristas no era urgente (idem, ibidem), j que havia ba-
charis em nmero suficiente formados em Coimbra,
prolongando-se, nesta rea, durante o Imprio, a influn-
cia dessa universidade. Segundo ele, a intelligentzia do
Imprio foi praticamente toda ela ainda constituda pe-
los bacharis formados nessa instituio.
Teixeira (op. cit.) chega a afirmar, referindo-se a
essa dependncia da universidade de Coimbra, que, at
o incio do sculo XIX, esta foi a universidade brasilei-
ra, nela se graduando mais de 2.500 jovens nascidos no
Brasil. Alis, esse autor chama ateno para a ambigi-
dade do estatuto de brasileiro, at a Independncia, lem-
brando que no se podia distinguir, quando membros da
classe dominante, os brasileiros dos portugueses, e acen-
tuando que, por essa razo, o brasileiro da Universida-
de de Coimbra no era um estrangeiro, mas um portu-
gus nascido no Brasil, que poderia mesmo se fazer
professor da universidade (op. cit., p. 65). Cita especi-
ficamente os casos de Francisco de Lemos de Faria Pe-
reira Coutinho membro da Junta de Providncia Lite-
rria constituda para estudar e projetar a Reforma
Pombalina dos estudos superiores, e depois o executor
da Reforma e reitor da Universidade de Coimbra por
cerca de 30 anos , e Jos Bonifcio de Andrade, o pa-
triarca da Independncia, que foi antes professor da
mesma universidade, como, alis, vrios outros portu-
gueses nascidos no Brasil.
Essa centralidade da Universidade de Coimbra na
formao das elites brasileiras que leva tambm Aze-
vedo a afirmar, remetendo-se Reforma Pombalina, que
esta atingiu o Brasil, principalmente, atravs daquela
universidade. No seu esprito renovado, sob o impacto
do iderio iluminista, formaram-se no s alguns dos
nossos cientistas pioneiros (da gerao de brasileiros que
estudou em Coimbra aps a Reforma Pombalina, foi
proporcionalmente grande o nmero dos que seguiram
cursos de matemtica, cincias naturais e medicina
1
),
bem como, contraditoriamente dado o carter regalista
do pombalismo as principais lideranas dos movimen-
tos insurrecionais de independncia poltica. Entre os
primeiros, a figura singular do bispo Jos Joaquim Cu-
nha de Azeredo Coutinho, parente do reformador de
Coimbra, fundador do Seminrio de Olinda, unanime-
mente considerada aquela instituio que, no Brasil, mais
claramente expressou os princpios que nortearam a
Reforma Pombalina.
2
No foi entretanto essa tradio universitria que
informou as iniciativas tomadas por D. Joo VI, quando
da instalao da Corte no Brasil. Nas palavras de Paim
(1982):
1
A esse respeito, ver especialmente Mello e Souza, Antonio
Candido de, (1968).
2
Sobre a experincia do Seminrio de Olinda e, particularmen-
te, sobre o pensamento do bispo Azeredo Coutinho, ver Alves, Gil-
berto Luiz (1993).
Ana Waleska P.C. Mendona
134 Mai/Jun/Jul/Ago 2000 N 14
Essa opo por institutos isolados, de inegvel cunho
superior, no deixa de ser algo de inusitado, porquanto a tradi-
o europia consistia em reunir em torno do Colgio das Ar-
tes, que preparava os estudantes para a matrcula nas faculda-
des e, supunha-se, assegurava a unidade da instituio. A es-
truturao destas, isoladamente, criou a necessidade do vesti-
bular, ento inexistente, e, ao longo da prtica ulterior, os cha-
mados cursos anexos. (p. 20)
Mesmo que se possa relativizar a afirmativa de que
este seria o nico modelo de universidade, Paim afirma
a ruptura com uma tradio universitria e a identifica
como uma das justificativas da situao de desarticula-
o entre o ensino secundrio e superior, que estaria na
origem dos chamados exames vestibulares.
Teixeira (op. cit.) relata, a esse mesmo respeito,
um episdio extremamente ilustrativo. Quando, em 1808,
a famlia real aportou, num primeiro momento, na Bahia,
o comrcio local se reuniu e deliberou solicitar ao Prn-
cipe Regente a fundao de uma universidade literria,
provendo para a construo do palcio real e o custeio
da universidade importante soma de dinheiro. Essa soli-
citao, entretanto, no foi atendida e, por outro lado, o
Prncipe decidiu criar um Curso de Cirurgia, Anatomia
e Obstetrcia, em fevereiro desse ano, atendendo ao pe-
dido do cirurgio-mor do Reino, Jos Correa Picano,
um dos portugueses brasileiros formados em Coimbra.
Transferida a Corte para o Rio de Janeiro, as insti-
tuies criadas por D. Joo VI, no mbito do que se
pode chamar de ensino superior, estavam, na sua grande
maioria, diretamente articuladas preocupao com a
defesa militar da colnia, tornada a sede do governo
portugus. Ainda no ano de 1808, cria-se, no Rio de
Janeiro, a Academia de Marinha, e, em 1810, a Acade-
mia Real Militar, para a formao de oficiais e de enge-
nheiros civis e militares. Tambm em 1808, criaram-se
os cursos de anatomia e cirurgia, para a formao de
cirurgies militares, que se instalaram, significativamen-
te, no Hospital Militar (como tambm era o caso do cur-
so da Bahia, citado anteriormente). A esses cursos, de
incio simples aulas ou cadeiras, acrescentaram-se, em
1809, os de medicina e, em 1813, constituiu-se, a partir
desse cursos, a Academia de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro.
Outros cursos foram ainda criados, na Bahia e no
Rio de Janeiro, todos eles marcados pela mesma preo-
cupao pragmtica de criar uma infra-estrutura que
garantisse a sobrevivncia da Corte na colnia, tornada
Reino-Unido. Na Bahia, a cadeira de economia (1808),
e os cursos de agricultura (1812), de qumica (1817) e
de desenho tcnico (1817). No Rio, o laboratrio de
qumica (1812) e o curso de agricultura (1814).
Alguns cursos avulsos foram ainda criados em Per-
nambuco, em 1809 (matemtica superior), em Vila Rica,
em 1817 (desenho e histria), e em Paracatu, Minas
Gerais, em 1821 (retrica e filosofia), visando suprir
lacunas do ensino ministrado nas aulas rgias.
A Escola Real de Cincias, Artes e Ofcios, criada
em 1816, no seu plano original tambm estava marcada
pela preocupao com a formao tcnica. Essa escola,
entretanto, teve uma histria atribulada e apenas ir fun-
cionar como Academia das Artes, bastante modificada
nos seus objetivos iniciais, em 1826, j no primeiro Im-
prio.
Alm do carter pragmtico que marcava a quase
totalidade dessas iniciativas, cumpre destacar tambm o
seu carter laico e estatal. De fato, essas instituies
foram criadas por iniciativa da Corte portuguesa, e fo-
ram por ela mantidas, continuando a s-lo pelos gover-
nos imperiais, aps a nossa independncia poltica.
Por sucessivas reorganizaes, fragmentaes e
aglutinaes, esses cursos criados por D. Joo VI da-
riam origem s escolas e faculdades profissionalizantes
que vo constituir o conjunto das nossas instituies de
ensino superior at a Repblica. A esse conjunto, viri-
am se agregar os cursos jurdicos, criados apenas aps a
Independncia, originariamente em So Paulo e Olinda,
no ano de 1827. Cunha (op. cit.) refere-se ao acirrado
debate que se travou no Parlamento a respeito da locali-
zao desses cursos, destacando que, ao final, prevale-
ceu a corrente que defendia a localizao das academi-
as fora do Rio de Janeiro e naquelas provncias onde foi
mais forte o movimento pela independncia (p. 112). O
critrio nacionalista teria sido, portanto, determinante
no que se refere localizao desses cursos.
Foram poucas, entretanto, as iniciativas concretas
dos governos imperiais no campo do ensino superior, li-
mitando-se manuteno das instituies existentes e
A universidade no Brasil
Revista Brasileira de Educao 135
sua regulamentao. Alm dos cursos jurdicos, institu-
dos por D. Pedro I, uma outra iniciativa importante seria
a instalao, j no final do segundo Imprio, em 1875
um ano depois da separao do curso de engenharia da
Escola Militar, com a constituio da Escola Politcni-
ca , da Escola de Minas em Ouro Preto,
3
poca capital
da provncia de Minas Gerais. Essa escola, que se origi-
nou de um ambicioso projeto elaborado pelo engenheiro
francs Claude Henri Gorceix, nasceu de um empenho
pessoal do prprio Imperador D. Pedro II, que talvez ti-
vesse em mente, como assinala Cunha (op. cit.), acelerar
o surto econmico produzido pela Guerra do Paraguai.
No entanto, sofreu uma forte oposio dos professores da
Politcnica, e seus resultados, por uma srie de circuns-
tncias que tinham a ver com as prprias condies eco-
nmicas do pas, ficaram muito aqum do esperado.
No entanto, ao longo do primeiro e do segundo Im-
prios, a demanda pela constituio de uma universi-
dade no pas no desapareceu, sofrendo, porm, uma
constante resistncia por parte de distintos grupos, es-
pecialmente dos positivistas. Teixeira (op. cit.) refere-
se a que nada menos de 42 projetos de universidade
so apresentados a essa poca, do de Jos Bonifcio ao
de Rui Barbosa, sendo, entretanto, sistematicamente re-
cusados pelo governo e pelo parlamento (p. 83). Esse
autor transcreve trecho do depoimento do Conselheiro
A. de Almeida Oliveira, registrado nos Anais do Con-
gresso de Educao que se realizou no Brasil em 1882,
sob a presidncia do Conde DEu, que investia violen-
tamente contra a prpria idia de universidade, afir-
mando constituir-se esta numa instituio obsoleta.
Parece-me interessante determo-nos um pouco so-
bre as concepes subjacentes a algumas propostas en-
caminhadas contra ou a favor de uma universidade no
pas, pois a meu ver elas apontam para uma questo que
central para a prpria sobrevivncia dessa instituio
e que hoje mais do que nunca se faz presente no mbito
do debate pedaggico.
Cunha (op. cit.) refere-se a um projeto encaminha-
do por Justiniano Jos da Rocha Assemblia Geral,
que propunha a criao de uma universidade para con-
trolar todo o sistema de ensino, tanto o setor pblico
quanto o privado, conforme o paradigma da Universida-
de de Paris, durante o governo de Napoleo (p. 89).
Desta maneira o que parecia justificar a proposta de cria-
o dessa instituio era, primordialmente, a sua poten-
cialidade como um instrumento de controle por parte do
Estado sobre todo o ensino superior (alm do seu car-
ter de universalidade, que tambm aparece na fala de
Justiniano). Paim (1982), particularmente, defende essa
posio, afirmando explicitamente que o interesse que
volta e meia se dedicava universidade, ao longo do
Imprio, tinha evidentes intuitos centralizadores (op.
cit., p. 21). E evoca tambm o testemunho de vrios dos
intelectuais do Imprio.
Parece-me tambm sugestivo que a resistncia co-
locada pelos positivistas idia da criao de uma uni-
versidade no Brasil se fizesse justamente em nome da
liberdade de ensino, princpio utilizado para advogar
no s a retirada dos entraves legais que impediriam
uma maior expanso da iniciativa privada no campo da
educao (que, especialmente aps 1870, comeou a
expandir-se no campo do ensino superior), mas tam-
bm uma cincia livre de privilgios e da proteo do
Estado, proteo esta que s serviria para profan-la,
nas palavras de Teixeira Mendes (apud Cunha, op. cit.,
p. 99).
significativo que, ao criar, em 1937, a Universi-
dade do Brasil, Capanema viria a atribuir-lhe justamen-
te a finalidade, talvez primordial, de controle e padroni-
zao do ensino superior no pas. Tal questo remete,
por um lado, discusso sobre as finalidades dessa ins-
tituio e, por outro, para a complicada relao entre a
universidade e o Estado, tendo em vista que uma das
suas demandas essenciais, como instituio historica-
mente constituda, tem sido a de autonomia, particular-
mente acadmica, com relao s demais instituies
da sociedade e especificamente com relao ao Estado.
Esta ser uma questo central no debate que se travar
sobre a universidade no Brasil ao longo dos anos 20 a
40, momento da sua institucionalizao efetiva entre ns,
de que tratarei a seguir.
3
A origem desta escola remonta a uma lei aprovada em 1832,
pela Assemblia Legislativa de Minas, que criava um Curso de Estu-
dos Mineralgicos. Essa lei, sancionada pela Regncia, no teve, no
entanto, nenhum efeito prtico. A esse respeito, ver Cunha (op. cit.).
Ana Waleska P.C. Mendona
136 Mai/Jun/Jul/Ago 2000 N 14
Na ltima fala do trono de D. Pedro II, em que este
faz, a meu ver, um balano pelo avesso da atuao dos
governos imperiais no campo da educao, o Impera-
dor, entre outras reivindicaes, solicitava ao Parlamento
a criao de duas universidades no pas, uma ao norte,
outra ao sul, bem como de faculdades de cincias e le-
tras, vinculadas ao sistema universitrio, em algumas
provncias (apud Azevedo, op. cit., p. 610). Essas de-
mandas apontam, igualmente, para as questes que iro
perpassar o debate sobre a universidade, ao longo do
nosso primeiro perodo republicano.
A institucionalizao da
universidade no Brasil (1920- 1940)
4
So as universidades que fazem, hoje, com efeito, a vida
marchar. Nada as substitui. Nada as dispensa. Nenhuma outra
instituio to assombrosamente til. (Teixeira, 1988)
Os anos de instalao do novo regime viriam a pro-
piciar um intenso debate sobre a questo da educao,
no bojo da Constituinte, que, no entanto, arrefeceu-se
rapidamente com a promulgao da Constituio outor-
gada e a consolidao de uma ordem poltica e social
que se sustentava nas mesmas oligarquias regionais
hegemnicas durante o Imprio, atravs da chamada
poltica dos governadores. Apenas aps 1920, quando
essa ordem comearia a sofrer uma forte contestao
por parte de distintos grupos e movimentos, nucleados
em torno da bandeira da republicanizao da Repbli-
ca, esse debate seria retomado com fora, num novo con-
texto, marcado pela ampliao decorrente do esforo de
mobilizao da opinio pblica e pelo confronto entre
diferentes projetos de construo/reconstruo da na-
cionalidade, de que falarei a seguir.
Anteriormente a essa poca, a adoo do sistema
federativo propiciou algumas iniciativas de criao de
universidades em alguns estados. Essas universidades,
entretanto, tiveram uma vida efmera e, de fato, a pri-
meira instituio que assumiu, entre ns, de forma dura-
doura, essa denominao foi a Universidade do Rio de
Janeiro, criada em 1920, pelo governo federal (embora
desde 1915 essa criao j estivesse autorizada), atra-
vs da agregao de algumas escolas profissionais
preexistentes, a saber, a Escola Politcnica, a Escola de
Medicina e a Faculdade de Direito que resultou da jun-
o de duas escolas livres j anteriormente constitudas.
A reunio em universidade dessas instituies, entre-
tanto, no teve um maior significado e elas continuaram
a funcionar de maneira isolada, como um mero conglo-
merado de escolas, sem nenhuma articulao entre si (a
no ser a disputa pelo poder que se estabelece entre elas,
a partir da) e sem qualquer alterao nos seus currcu-
los, bem como nas prticas desenvolvidas no seu interior.
Esse foi o modelo seguido posteriormente pela Univer-
sidade de Minas Gerais, criada em 1927, por iniciativa
do governo do estado.
Por esses anos, entretanto, o debate em torno da
questo universitria voltara a se intensificar, extrapo-
lando, inclusive, o mbito do Congresso. De acordo com
Nagle (1976), diferentes tarefas eram atribudas uni-
versidade pelos grupos que, no mbito da sociedade ci-
vil, lideravam essa discusso.
O preparo das classes dirigentes ponto de honra dos
sistemas democrticos , a formao do professorado secun-
drio e superior problema importante dado o autodidatismo
reinante e o desenvolvimento de uma obra nacionalizadora
da mocidade ncleo para o qual convergem os problemas da
universidade e da sociedade. (op. cit., p. 134)
Essas preocupaes refletem, sem dvida, as mu-
danas que ocorriam, no perodo, nos planos econmi-
co, poltico e social.
O perodo que vai de meados dos anos 20 at a
chamada redemocratizao em 1945 constitui um mo-
mento extremamente complexo da vida brasileira, mar-
cado, principalmente, como j disse anteriormente, pela
crise do sistema oligrquico tradicional, o que acaba por
resultar na transferncia do foco de poder dos governos
estaduais para o mbito nacional. Esse perodo se ca-
racteriza, igualmente, pela emergncia, na cena polti-
ca, das massas urbanas, que se expandem e se diferen-
4
Esta parte do artigo est fundamentada, principalmente, na
minha tese de doutorado, intitulada Universidade e Formao de
Professores: uma perspectiva integradora. A Universidade de Edu-
cao, de Ansio Teixeira (1935-1939) (Mendona, 1993).
A universidade no Brasil
Revista Brasileira de Educao 137
ciam de forma acelerada como resultado do processo de
industrializao e urbanizao produto indireto, nesse
momento, da prpria dinmica da economia exportado-
ra e do processo de burocratizao, decorrncia, por
um lado, da prpria ampliao das funes do Estado,
e, por outro, da incipiente industrializao do pas.
Esse contexto condiciona tanto o estabelecimento
de um sistema de educao de massa vide a crescente
expanso da rede pblica de ensino primrio, a partir
da quanto o surgimento de diferentes projetos de edu-
cao das elites que deveriam dirigir o processo global
de transformao da sociedade brasileira, via a reorga-
nizao da escola secundria e do ensino superior.
Dois documentos expressam de forma significativa
as discusses que se desenvolveram nos ltimos anos da
dcada de 1920, particularmente sobre os rumos a se-
rem atribudos ao ensino superior. So eles os dois inqu-
ritos promovidos, respectivamente, pelo jornal O Esta-
do de S. Paulo, em 1926, e pela Associao Brasileira
de Educao (ABE), em 1928.
Esses dois inquritos so substantivamente diferen-
tes entre si. O primeiro, conduzido por Fernando de
Azevedo, acabava por referendar um determinado pro-
jeto de universidade (que se concretizou, em 1934, com
a criao da Universidade de So Paulo). O segundo,
embora tambm se propusesse construo de um con-
senso em torno da questo da universidade, era muito
mais representativo das diferentes concepes que atra-
vessavam o debate em torno dessa questo e que se con-
frontavam no interior da prpria associao.
Essas diferenas se evidenciam claramente na an-
lise que Carvalho (1998) desenvolve sobre os vrios
grupos que, no interior do Departamento carioca da ABE,
ao final dos anos 20, lutavam pela hegemonia. Para a
autora, enquanto a principal bandeira do grupo sediado
na Seo de Ensino Secundrio era a proposta de insta-
lao de uma Escola Normal Superior que garantisse a
formao especializada (e sua padronizao) dos pro-
fessores do ensino secundrio e normal, o grupo instala-
do na Seo de Ensino Tcnico e Superior lutava pela
criao de verdadeiras universidades no Brasil, volta-
das para o desenvolvimento da pesquisa cientfica e dos
altos estudos desinteressados, instituies indispens-
veis ao progresso do pas. Segundo Carvalho, ambas as
tendncias expressavam uma preocupao com a for-
mao das elites dentro de projetos de teor nacionalista,
representando, entretanto, diferentes concepes dessa
educao das elites.
O primeiro grupo, liderado pelos catlicos, valori-
zava especialmente o papel da escola secundria, como
agncia de homogeneizao de uma cultura mdia, den-
tro de um projeto de recuperao do pas de carter
moralizante que passava pelo resgate da tradio cat-
lica na formao da alma nacional.
Para o segundo grupo, constitudo basicamente por
professores egressos da Escola Politcnica,
5
a nfase es-
tava posta nas universidades que deveriam se constituir
em verdadeiras usinas mentais, onde se formariam as
elites para pensar o Brasil (equacionar os problemas
magnos da nacionalidade) e produzir o conhecimento
indispensvel ao progresso tcnico e cientfico. Para esse
grupo no era a tradio o cimento da unidade nacional,
mas todo um conjunto de medidas de integrao nacio-
nal, decorrentes da expanso do progresso. Dessa pers-
pectiva, esse grupo defendia a criao de Faculdades de
Cincias voltadas para a pesquisa cientfica pura ou de-
sinteressada.
Particularmente este segundo grupo no se sentiu
atendido com a Reforma Campos de 1931. Essa refor-
ma, alis, como afirmam Schwartzman (1979) e Paim
(1982), constituiu-se em uma frustrao para os gru-
pos sediados na ABE, que tinham uma expectativa de
intervir na definio da poltica educacional a ser esta-
belecida pelo governo revolucionrio, inclusive pelos
vnculos com a entidade por parte de Francisco Cam-
pos, primeiro ocupante do Ministrio de Educao cria-
do em 1930.
A reforma que se consubstanciou no chamado Es-
tatuto das Universidades Brasileiras traz a marca da
ambigidade, decorrncia do carter conciliatrio do
5
Segundo Paim (op. cit.), esse era o grupo que, no interior da
Politcnica, liderava a reao contra o positivismo ainda dominante
no mbito dessa escola, e que foi responsvel pela introduo de um
novo conceito de cincia (a cincia experimental) no Brasil. Foram
tambm integrantes desse grupo que, anteriormente, em 1916, fun-
daram a Academia Brasileira de Cincias.
Ana Waleska P.C. Mendona
138 Mai/Jun/Jul/Ago 2000 N 14
projeto governamental. o prprio Campos, alis, quem
afirma que o seu projeto representa um estado de equi-
lbrio entre tendncias opostas, de todas consubstanci-
ando os elementos de possvel assimilao pelo meio
nacional (Lobo, apud Schartzman, 1979). Para
Schartzman (op. cit.), o que se pretendia de fato com o
Estatuto era obter legitimidade junto a vrias correntes
de opinio num momento de transio (op. cit., p. 171),
em que o prprio governo que se instalava no tinha um
projeto educacional claramente delineado.
A principal inovao prevista no Estatuto era a pos-
sibilidade (e no a obrigatoriedade) de incluir entre as
escolas que iriam compor a universidade uma Faculda-
de de Educao, Cincias e Letras, instituio meio h-
brida, que deveria se constituir, por um lado, em um r-
go de alta cultura ou de cincia pura e desinteressada,
e, por outro, ser, antes de tudo e eminentemente, um
Instituto de Educao, destinado a formar professores
especialmente para o ensino normal e secundrio. A jus-
tificativa para esse carter hbrido estava em que era
preciso ter cautela e, ao se instalar pela primeira vez no
pas um Instituto de Alta Cultura, essa instituio no
poderia ser organizada de uma vez e de forma exclusi-
va (apud Fvero, 1980, anexo I, p. 132-133). Esse mes-
mo argumento era usado para justificar a tutela que se
estabelecia, por parte do governo federal, sobre as insti-
tuies de ensino superior.
O Estatuto desagradou a gregos e troianos. O gru-
po dos engenheiros da ABE criticava no s a excessi-
va ingerncia oficial na universidade (esse grupo defen-
dia fortemente a autonomia universitria, como condio
para que se fizesse cincia desinteressada), bem como o
carter pragmtico da Faculdade de Cincias, Educa-
o e Letras. Os catlicos acusavam o projeto de
laicizante e, com base nesse argumento, criticavam tan-
to o seu carter centralizador quanto a sua feio prag-
mtica. De fato, a Reforma Campos no se tornou um
elemento catalisador dos grupos envolvidos com a dis-
cusso sobre a questo da universidade. O prprio go-
verno federal, alis, no se empenhou na implementa-
o da nova instituio.
No entanto, no interior da ABE, travava-se uma
luta pelo controle da entidade entre os catlicos e um
novo grupo que acabaria por assumir a sua direo, cons-
titudo pelos intelectuais que vieram a ser conhecidos
como os Pioneiros da Educao Nova e que, em 1932,
lanaram o seu Manifesto ao Povo e ao Governo, onde
explicitavam o seu programa de reforma da educao,
que inclua a criao de verdadeiras universidades.
Esse Manifesto endossa uma concepo de univer-
sidade bastante prxima quela defendida pelos enge-
nheiros da Seo de Ensino Tcnico e Superior. A uni-
versidade concebida numa trplice funo de criadora
de cincias (investigao), docente ou transmissora de
conhecimentos (cincia feita) e de vulgarizadora ou
popularizadora, pelas instituies de extenso universi-
tria, das cincias e das artes (Azevedo, 1958, p. 74-
75). Defende-se a centralidade da pesquisa, como sis-
tema nervoso da Universidade, que estimula e domina
qualquer outra funo (idem, ibidem, p. 75), assumin-
do a crtica s instituies de ensino superior existentes
no Brasil, que nunca teriam ultrapassado os limites e as
ambies da formao profissional. universidade as-
sim concebida competiria o estudo cientfico dos gran-
des problemas nacionais, gerando um estado de ni-
mo nacional capaz de dar fora, eficcia e coerncia
ao dos homens, independentemente das suas diver-
gncias e diversidades de ponto de vista. Nessa institui-
o seriam formadas as elites de pensadores, sbios, cien-
tistas, tcnicos e os educadores a entendidos os
professores para todos os graus de ensino.
Em linhas gerais, essa foi a concepo que infor-
mou as duas experincias universitrias desenvolvidas
ao longo desses anos por iniciativa de educadores vin-
culados ao grupo dos renovadores, a saber, a Universi-
dade de So Paulo (USP), criada em 1934, pelo grupo
de intelectuais que se articulava em torno ao jornal O
Estado de S. Paulo, entre os quais Fernando de Azeve-
do, e a Universidade do Distrito Federal (UDF), criada
por Ansio Teixeira em 1935, no bojo da reforma de en-
sino por ele empreendida, como secretrio de Educao,
no Rio de Janeiro.
Para Cardoso (1982), a criao da USP teve como
objetivo explcito a reconquista da hegemonia paulista
na vida poltica do pas, o que se faria pela cincia em
vez das armas, conforme as prprias palavras de Jlio
de Mesquita Filho, presidente da Comisso Organizadora
da Universidade, no sendo, portanto, uma simples ex-
A universidade no Brasil
Revista Brasileira de Educao 139
presso do surto inspirador produzido pelo Manifesto
de 32. Para a autora, mesmo que nesse projeto, Azevedo
estivesse com o grupo do Estado, mantinha uma relati-
va autonomia desse grupo, o que iria, inclusive, condi-
cionar alguns conflitos de ordem interna.
A UDF , sem dvida, um projeto de Ansio
Teixeira, embora viesse a mobilizar, particularmente, os
remanescentes do grupo sediado na Seo de Ensino
Tcnico e Superior da ABE (quase todo vitimado num
trgico acidente de aviao, em 1928), que se incorpo-
raram universidade, especialmente sua Escola de
Cincias. A meu ver, esse carter voluntarista da expe-
rincia da UDF, em contraposio a um carter mais
orgnico da experincia da USP, explicaria em grande
parte a sua originalidade, mas, por outro lado, seria uma
das razes da sua fragilidade e iria condicionar a relati-
vamente fcil destruio da universidade.
Tanto no caso da USP, quanto no da UDF, a preo-
cupao com o desenvolvimento da pesquisa e dos altos
estudos central.
No caso da USP, esse objetivo aparece concentra-
do na Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras, eixo
integrador da universidade, em torno do qual deveriam
gravitar as demais escolas. Na prtica, a USP foi cria-
da, como as demais universidades existentes no pas,
atravs da incorporao de um conjunto de escolas pro-
fissionalizantes j existentes. A nica instituio efeti-
vamente nova era a Faculdade de Filosofia, de quem se
esperava, como afirma Schartzman (op. cit.), que con-
taminasse favoravelmente as demais, modificando-lhes
o esprito tradicional e bacharelesco. Para Antunha
(1974):
a peculiar concepo dos objetivos e das funes inte-
gradoras da Faculdade de Filosofia que d ao modelo paulista
a sua caracterstica prpria e inconfundvel. (op. cit., p. 86-87)
J outra a situao da UDF. A sua estrutura
radicalmente diferente das universidades at ento cria-
das no pas e a prpria denominao das escolas indi-
cativa da ruptura com o modelo de agregao de escolas
profissionalizantes. So cinco as escolas que a consti-
tuem, a saber: as Escolas de Cincias, Educao, Eco-
nomia e Direito, Filosofia e o Instituto de Artes. Todas
elas se propem a desenvolver de forma integrada o en-
sino, a pesquisa e a extenso universitria (entendida
prioritariamente na perspectiva da divulgao cientfi-
ca) nas suas respectivas reas de conhecimento.
De qualquer forma, ambas as universidades pos-
suem uma base comum, como expresses mesmo que
diferenciadas do iderio do Movimento da Escola
Nova, consubstanciado no Manifesto de 32. Outras, en-
tretanto, seriam as fontes de que se originaria o projeto
da Universidade do Brasil (UB), criada em 1937, por
iniciativa de Gustavo Capanema, ministro da Educao
de 1934 a 1945, como universidade-padro, a cujo mo-
delo se deveriam adequar todas as instituies similares
existentes ou a serem criadas no pas.
H um consenso entre os diferentes autores que vm
trabalhando sobre o tema, de que o chamado modelo
federal de organizao da universidade, que se consubs-
tanciou com a criao da UB, teve os seus delineamen-
tos j dados com o Estatuto das Universidades Brasileiras
a que se fez referncia anteriormente. Particularmente,
Capanema viria a resgatar o modelo ambguo da Facul-
dade de Educao, Cincias e Letras do Estatuto de 31
para a organizao da Faculdade Nacional de Filosofia,
que se instalaria no Rio de Janeiro em 1939, absorven-
do parte do acervo da UDF, que foi extinta.
O embate que se deu, alis, entre essas duas expe-
rincias universitrias ilustrativo da concepo de uni-
versidade que, a partir da, se tornaria hegemnica.
6
A esse respeito, o trabalho de Martins (1987) so-
bre a constituio de uma intelligentsia
7
no Brasil, ao
longo dos anos 20 a 40, parece fornecer uma significati-
va chave de leitura. Para esse autor, as condies espe-
cficas do pas ao longo desses anos propiciaram o sur-
gimento de uma intelligentsia brasileira, qual se
integrava o grupo dos chamados renovadores da educa-
o. Essa intelligentsia iria empreender, especialmente
no perodo anterior ao Estado Novo, uma tentativa de
6
Ver a esse respeito a minha tese de doutorado anteriormente
citada (Mendona, 1993).
7
Para Martins (1987), o conceito de intelligentsia refere-se a
um tipo especfico de intelectual cujo atributo principal a sua condi-
o de ator poltico e cuja emergncia, como sujeito coletivo, est
ligada a certas condies sociais, polticas e culturais.
Ana Waleska P.C. Mendona
140 Mai/Jun/Jul/Ago 2000 N 14
estruturao do campo cultural, atravs da criao de
instituies modernas, que se constituiriam nos locii
para a fundao, o reconhecimento e a expanso de sua
identidade social, e mesmo de sua misso na socieda-
de (op. cit., p. 79). Especificamente, a USP e a UDF
seriam a expresso mais acabada dessa tentativa. Ora,
para Martins, o Estado viria a intervir nesse campo cul-
tural, antes mesmo que ele se estruturasse. Desse ponto
de vista, a Reforma Campos teria armado o Estado para
exercer sua tutela sobre o ensino e, com a criao da
UB, essa tutela, especificamente sobre o ensino supe-
rior, acabaria finalmente por se impor. Com isso, a auto-
nomia do campo cultural tornar-se-ia letra morta, sendo
esse campo invadido primeiro pelo autoritarismo e de-
pois pelo paternalismo do Estado.
De fato, h uma inteno explcita do governo fe-
deral, principalmente aps 37, de assumir o controle das
iniciativas no campo cultural. A idia comum aos proje-
tos da USP e da UDF, de formar na universidade as eli-
tes que, com base na autoridade do saber, iriam orientar
a nao (colocando-se, de certa forma, acima do Esta-
do), seria, no contexto do Estado Novo, considerada
perigosa. Ao governo federal interessava ter o monop-
lio de formao dessas elites e por isso impunha sua tu-
tela sobre a universidade.
A centralizao imposta com a instituio da UB
como universidade-padro atingiu diferentemente as duas
instituies universitrias. A UDF acabou por ser ex-
tinta, apesar do eufemismo legal, pelo qual era incorpo-
rada Faculdade Nacional de Filosofia.
8
Essa universi-
dade, alis, teve vida curta e conturbada. Desde o incio,
Capanema posicionara-se contra a sua criao. Inaugu-
rada em junho de 1935 por Ansio Teixeira, este se de-
mitiria em novembro da Secretaria de Educao, no que
seria seguido pelo primeiro reitor da universidade, Afr-
nio Peixoto, e por vrios dos colaboradores diretos de
Ansio que integravam o seu quadro docente, no contex-
to de caa s bruxas que se seguiu ao malfadado levante
de 1935. A universidade ainda conseguiu sobreviver at
1939, graas, principalmente, ao grupo de cientistas
nucleados na Faculdade de Cincias. O Estado Novo,
entretanto, forneceria a Capanema os instrumentos pol-
ticos de que necessitava para destruir a UDF. A esse
respeito, alis, significativo constatar que Capanema
oscilou entre uma posio inicial de eliminar pura e sim-
plesmente a universidade e a atitude mais pragmtica,
que acabou sendo adotada, de incorpor-la UB, feitos
os devidos e necessrios expurgos. Cumpre destacar que
nesse processo a Igreja Catlica, por intermdio espe-
cialmente de Alceu de Amorosa Lima, teve um papel
decisivo
9
.
A USP conseguiu opor uma maior resistncia in-
terferncia do governo federal. Para Martins (op. cit.),
esse fato se explicaria principalmente pela forte presen-
a de professores estrangeiros no seu quadro docente
(mais de dois teros desse quadro). A meu ver, o car-
ter orgnico dessa experincia (enquanto se articulava
ao grupo do Estado e possua respaldo financeiro do
governo estadual) que justificaria a sua maior autono-
mia do governo federal. De qualquer forma, foi tambm
atingida no seu corao a Faculdade de Filosofia (que,
por outro lado, sofria uma forte oposio das escolas
profissionalizantes) e teve excludo do seu bojo o Ins-
tituto de Educao (tambm a Escola de Educao
excluda no processo de incorporao da UDF Facul-
dade Nacional de Filosofia).
Que modelo esse que se padronizava por meio
da UB?
mais uma vez o modelo de universidade como
8
A esse respeito, cumpre ressaltar que o impacto da extino
da UDF foi diferenciado para as suas diferentes escolas. No caso da
Faculdade de Cincias, conseguiu-se garantir de alguma forma a con-
tinuidade do seu trabalho, com a absoro de um nmero significati-
vo de professores e alunos pela Faculdade Nacional de Filosofia. Com
isso, ao menos no que se refere s reas das cincias naturais e exa-
tas, no se perdeu totalmente a idia de uma atividade cientfica cen-
trada na pesquisa e desinteressada. At porque nessas reas a tria-
gem ideolgica se fez sentir com menos intensidade.
9
A Igreja Catlica, poca, tinha tambm um projeto de for-
mao das elites que passava pela universidade. Esse projeto foi
gestado especialmente no interior do Centro D. Vital, instituio que
congregava as principais lideranas catlicas leigas, tendo frente
Alceu de Amoroso Lima. Esse projeto viria a encontrar a sua
concretizao final com a criao da Universidade Catlica, em 1946.
A universidade no Brasil
Revista Brasileira de Educao 141
um conglomerado de escolas profissionalizantes. A pr-
pria Faculdade de Filosofia se constitua em mais uma
delas, pois tinha o objetivo primordial de formar os pro-
fessores da escola secundria. Dessa perspectiva, em-
bora se estabelea entre os objetivos da Faculdade Na-
cional de Filosofia o de realizar pesquisas nos vrios
domnios da cultura (alnea c do art. 1 do cap. 1 do
Decreto-lei n
o
1.190/39), esta instituio se propunha,
prioritariamente, a formar trabalhadores intelectuais
para os quadros tcnicos da burocracia estatal, nas reas
de educao e cultura, e, particularmente, professores
para o ensino secundrio. A pesquisa aparecia claramente
com um objetivo secundrio, subordinado.
A essa instituio tambm no cabia o papel de
integrao das demais escolas, como no caso da insti-
tuio congnere da USP. De fato, a preocupao bsi-
ca de Capanema no era com a integrao mas com a
abrangncia da universidade, que deveria no caso da UB
abarcar a totalidade dos cursos superiores oferecidos no
pas, o que era especialmente importante por se consti-
tuir em universidade-padro, modelo. Dessa ltima pers-
pectiva, Capanema enfatizava o papel orientador e
disciplinador que a Faculdade de Filosofia deveria exer-
cer em todos os domnios da cultura intelectual pura.
Este, de fato, o objetivo fundamental da UB, como
instrumento do processo de unificao e homogeneiza-
o cultural, que se constitua em pilar central do gran-
de projeto de Capanema de constituio da nacionalida-
de (objeto de toda a sua ao frente do Ministrio da
Educao, no dizer de Schartzman et al., 1984).
Desse ponto de vista, tambm internamente era ne-
cessrio garantir a unidade de pensamento, o que impli-
cava restringir a liberdade de ctedra, o que se faria atra-
vs do controle exercido por uma burocracia rigidamente
centralizada.
A esse respeito extremamente significativo o de-
poimento de Raul Leito da Cunha, primeiro reitor da
UB, em extenso relatrio encaminhado ao ministro
Capanema, em fevereiro de 1945. Nesse relatrio, Lei-
to da Cunha elencava uma srie de causas da estagna-
o do ambiente universitrio, a comear pela ausncia
de organizao verdadeiramente universitria, j que,
na sua perspectiva, a lei no fora capaz de unir os insti-
tutos isolados, por no prever os recursos adequados. E
apontava, ainda, vrias outras questes, entre elas a su-
bordinao dos institutos de ensino s normas vigen-
tes nas reparties burocrticas, que tinha efeitos alta-
mente negativos sobre o funcionamento da universidade
emperrando o seu trabalho, e a falta de autonomia did-
tica e administrativa da universidade, autonomia esta que
antes de ser devidamente posta em prova, foi a pouco e
pouco sofrendo restries que a tornaram praticamente
nula (apud Mendona, 1993, p. 257-258).
Com efeito, na prtica, o papel modelar da UB aca-
bou por se constituir muito menos em um estmulo para
a melhoria da qualidade do ensino superior do que em
um instrumento efetivo de controle e padronizao dos
cursos e instituies. O modelo universitrio mais uma
vez no se imps e as prprias Faculdades de Filosofia,
pensadas originariamente como um centro de produo
de conhecimento e como o rgo integrador e articulador
da universidade, expandiram-se como instituies iso-
ladas que se propunham, freqentemente de forma pre-
cria, a formar professores para a escola secundria.
Anos 50/60: a universidade em questo
Ao revs de Paulo Prado, eu diria: numa terra radiosa,
vive um povo alegre em eterna servido. A reforma universit-
ria no nos libertar dessa servido. Mas nos poder ensinar
os caminhos intelectuais e polticos que permitiro conquistar
a prpria liberdade intelectual e poltica, condio moral para
extinguir todas as formas de servido, internas e externas, que
metamorfoseiam uma terra radiosa e um povo alegre numa
realidade triste. (Fernandes, 1975)
Ao longo dos anos 50/ 60, o ensino superior no Bra-
sil sofreria o impacto das duas ideologias que se consti-
turam na base de sustentao dos governos que se su-
cederam at 1964, e que iriam condicionar tendncias
diferentes e algumas vezes contraditrias que marcaram
a forma como o ensino superior se desenvolveu durante
esse perodo.
Sob o impacto do populismo, o ensino superior pas-
sou por um primeiro surto de expanso no pas. Cunha
(1983) aponta algumas caractersticas desse processo
de expanso. O nmero de universidades existentes no
pas cresceu de 5, em 1945, para 37, em 1964. Nesse
Ana Waleska P.C. Mendona
142 Mai/Jun/Jul/Ago 2000 N 14
mesmo perodo, as instituies isoladas aumentaram de
293 para 564. Independentemente dos valores absolu-
tos, Cunha chama ateno para o fato de que enquanto o
nmero de universidades foi multiplicado por 7, o de
escolas isoladas no chegou a dobrar. Essas universida-
des continuavam a nascer do processo de agregao de
escolas profissionalizantes, como o caso das nove uni-
versidades catlicas que se constituram. Na sua maio-
ria, entretanto, eram universidades federais, criadas atra-
vs do processo de federalizao de faculdades estaduais
ou particulares.
10
A maioria das atuais universidades fe-
derais existentes hoje tem nesse processo a sua origem.
Do ponto de vista do nmero de estudantes matri-
culados, a taxa de crescimento no ensino superior, nesse
mesmo perodo, foi de 236,7%, o que indica uma inten-
sificao do ritmo de crescimento bastante significativa
em comparao com os perodos anteriores (2,4%, a taxa
mdia anual, entre 1932 e 1945, e 12,5%, entre 1945 e
1964).
Cunha (op. cit.) explica essa expanso como uma
resposta ao aumento da demanda ocasionado pelo des-
locamento dos canais de ascenso social das camadas
mdias e pela prpria ampliao do ensino mdio pbli-
co, bem como pelo alargamento do ingresso na universi-
dade decorrente do processo de equivalncia dos cursos
tcnicos ao curso secundrio, que se iniciou nos anos 50
e culminou com a Lei de Diretrizes e Bases de 1961.
Esse aumento da demanda estaria na origem do proble-
ma dos excedentes, posteriormente invocado como m-
vel imediato da Reforma Universitria de 1968.
Por outro lado, o paradigma at ento vigente para
o ensino superior comeava a ser posto em questo, sob
o influxo do desenvolvimentismo que viria a alimentar
as propostas de modernizao desse nvel de ensino, vi-
sando adequ-lo s necessidades do desenvolvimento
econmico e social do pas. Este o contexto em que se
vai desenvolver o debate sobre a Reforma Universitria
ao longo desses anos e que informa, por outro lado, al-
gumas experincias universitrias concretas. As diferen-
tes formas de se conceber o processo de desenvolvimen-
to do pas iriam condicionar as distintas estratgias pro-
postas para se encaminhar a reforma da universidade.
Vrios foram os grupos que se envolveram com esse
debate e que assumiram iniciativas bastante diversifica-
das: o Estado e, no interior do aparelho do Estado,
grupos distintos assumiram a liderana de iniciativas
algumas vezes at contraditrias entre si e dois novos
atores coletivos que imprimiram a sua marca na orien-
tao que ser dada a esse debate bem como a posterio-
res encaminhamentos da questo: a comunidade cient-
fica organizada e o movimento estudantil.
O primeiro passo desse processo de modernizao
do ensino superior foi dado pelo setor militar, com a cria-
o, em 1947, do Instituto Tecnolgico de Aeronutica
(ITA). Essa instituio foi criada no momento em que se
constitua o Ministrio da Aeronutica e este assumia a
coordenao do sistema de transportes areos de todo o
pas. Embora criado para atender s necessidades de
formao de pessoal de alto nvel para um setor espec-
fico, sua estrutura rompia com a forma como estavam
organizadas at ento as instituies de ensino superior,
particularmente com a estrutura da ctedra vitalcia. Seus
professores eram contratados sob normas trabalhistas,
sendo o contrato sujeito a resciso de acordo com o de-
sempenho do docente. A seleo de professores era res-
ponsabilidade da comunidade acadmica que se consti-
tua em um corpo governativo prprio. Havia uma
carreira estruturada em quatro nveis, sendo condio
para ingresso na mesma estar cursando a ps-gradua-
o. Alunos e professores dedicavam-se exclusivamen-
te ao ensino e pesquisa, inclusive residindo no cmpus
universitrio. As ctedras foram substitudas pelos de-
partamentos e adotou-se o sistema de crditos, nos mol-
des das universidades americanas.
11
O curso oferecido
era estruturado em um ciclo bsico e um terminal e rapi-
damente passaram a funcionar tambm cursos de ps-
graduao voltados para a formao de professores e
10
A esse respeito, ver, por exemplo, a tese de Lola Yazbeck
sobre as origens da Universidade Federal de Juiz de Fora, recente-
mente lanada em livro (Yazbeck, 2000).
11
Cumpre destacar, a esse respeito, que a criao do ITA foi
proposta no Relatrio Smith, elaborado por uma comisso presidida
pelo brigadeiro Casimiro Monteiro e assessorada pelo professor
Richard H. Smith, do Massachussets Institute of Technology (MIT).
A universidade no Brasil
Revista Brasileira de Educao 143
pesquisadores. Essa instituio acabou exercendo um
papel meio exemplar do que deveria ser uma universi-
dade moderna e seu impacto sobre a prpria burocracia
governamental foi grande.
A esse respeito, parece-me interessante a observa-
o de Gusso, Crdova e Luno (1985), quando, ao se
referirem s tenses que marcaram o desenvolvimento
do ensino superior ao final dos anos 50, apontam como
fatores dificultadores da sua modernizao o conservan-
tismo dos catedrticos e das congregaes das universi-
dades pblicas, ampliadas com o processo das federali-
zaes, que penetrava tambm os setores hegemnicos
da burocracia educacional. Segundo esses autores, os
postos de maior poder, na universidade e no mbito go-
vernamental, continuavam nas mos dos mesmos gru-
pos que haviam concebido e executado as polticas edu-
cacionais do Estado Novo. Por essa razo, os rgos
centrais do governo se colocariam sistematicamente con-
tra mudanas mais profundas nas estruturas do ensino
superior (op. cit., p. 125), contando com o respaldo do
prprio Congresso, onde inclusive vrios dos parlamen-
tares eram oriundos das congregaes tradicionais. A
longa e acidentada tramitao do projeto da Lei de Di-
retrizes e Bases (LDB) seria a expresso da fora dessa
resistncia. Para os autores, essa fora seria a justifica-
tiva para o fato de que, apesar das crticas e presses
provindas de diferentes setores sociais, no se tivesse
conseguido encaminhar at meados da dcada de 1960
nenhum projeto mais abrangente de reforma universit-
ria. A prpria LDB , a esse respeito, excessivamente
tmida, praticamente nada incorporando do debate que
ento se travava sobre os rumos da universidade.
De qualquer maneira, as mudanas principiavam a
acontecer. De acordo com os autores acima referidos,
ainda no segundo governo Vargas, com o avano do pro-
cesso de industrializao do pas, a cpula governamental
comeava a mostrar-se sensvel questo da necessida-
de de formao de pessoal tcnico de alto nvel para
atender ao Plano de Reequipamento Nacional, dentro de
uma perspectiva que Gusso, Crdova e Luna (op. cit.)
caracterizam como utilitria ou imediatista. Paralelamen-
te, membros influentes da comunidade cientfica conti-
nuavam demandando uma reforma global da universi-
dade, de forma a ampliar suas condies de trabalho,
tendo em vista um desenvolvimento cientfico mais sli-
do e mais autnomo, a mdio e longo prazos. A contro-
vrsia entre essas duas tendncias, que se prolongaria
pela dcada de 1960, condicionava as polticas especfi-
cas praticadas por diferentes rgos do governo, cada
qual atuando sobre diferentes segmentos do ensino su-
perior. O Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), cria-
do em 1951 pelo almirante lvaro Alberto da Mota e
Silva com o objetivo especfico de promover a pesquisa
cientfica e tecnolgica nuclear no Brasil, desenvolvia
atividades orientadas promoo da rea das chamadas
cincias exatas e biolgicas, fornecendo bolsas e aux-
lios para a aquisio de equipamentos para pesquisa,
bem como criava e mantinha institutos especializados; a
Campanha de Aperfeioamento do Pessoal de Nvel Su-
perior (CAPES), instituda, como Comisso, no mesmo
ano que o CNPq, tendo sua frente o educador Ansio
Teixeira, investia na formao dos quadros universit-
rios, atravs tambm da concesso de bolsas no pas e
no exterior; outros rgos dos vrios ministrios atua-
vam de forma isolada sobre as suas reas respectivas.
Para os autores com os quais estou trabalhando, a
controvrsia acima referida se manifestou no prprio
processo de organizao da CAPES, cujas diretrizes
nasceram de um compromisso entre essas duas tendn-
cias, exercendo Ansio Teixeira um importante papel
mediador. Alis, a meu ver, o papel desempenhado por
esse educador por meio da CAPES foi fundamental no
processo de institucionalizao da ps-graduao no
Brasil e garantiu que a pesquisa cientfica se desenvol-
vesse entre ns no interior da universidade, particular-
mente no mbito dos programas de ps-graduao.
12
Cumpre destacar, igualmente, que, a essa poca, a
comunidade cientfica crescera e desenvolvera a sua or-
ganizao, adquirindo maior articulao poltica, prin-
cipalmente com a criao da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Cincia (SBPC), em 1948, e do Centro
Brasileiro de Pesquisas Fsicas (CBPF), em 1949. No
12
Este tema objeto da pesquisa que venho coordenando e que
se intitula A Formao dos Mestres: a contribuio de Ansio Teixeira
para a institucionalizao da ps-graduao no Brasil. Essa pes-
quisa vem sendo desenvolvida com apoio da FAPERJ e do CNPq.
Ana Waleska P.C. Mendona
144 Mai/Jun/Jul/Ago 2000 N 14
mbito da SBPC, desenvolvera-se uma vertente de pen-
samento mais politizada e at, sob certos aspectos, na-
cionalista, no seio da comunidade cientfica brasileira.
Era essa vertente que empunhava a bandeira da reforma
global da universidade e foi esse grupo que se articulou
junto a Darcy Ribeiro e Ansio Teixeira em torno ao
projeto da Universidade de Braslia.
significativo que a SBPC tenha-se posicionado
contra a criao pelo MEC, em 1958, da Comisso
Supervisora dos Institutos (COSUPI), rgo destinado
a renovar o ensino de engenharia, atravs principalmen-
te da criao de institutos especficos nas universida-
des, alegando no s a disperso de recursos provocada
pelo programa, mas o seu especialismo e a tendncia a
concentrar nos institutos as atividades de pesquisa,
desestimulando os ncleos j consolidados nas faculda-
des (especialmente as de Filosofia) e em outros organis-
mos cientficos mais apropriados. Essa Comisso, aps
1964, seria incorporada CAPES. Alis, cabe destacar
que, no bojo do debate sobre a reforma universitria, a
questo do papel das faculdades de filosofia, seja como
instituies de pesquisa, seja como rgo integrador e
articulador das diferentes unidades, assumia uma nova
centralidade.
13
Significativamente, a Reforma Universi-
tria de 1968 viria determinar o encerramento dessa
experincia, particularmente no mbito da universida-
de, com a sua fragmentao em diferentes escolas ou
institutos, entre elas a Faculdade de Educao.
Ao longo do final dos anos 50, incio dos 60, outras
experincias isoladas vo comeando a ensaiar mudan-
as na estrutura pedaggico-administrativa do ensino
superior, algumas das quais sero posteriormente incor-
poradas Reforma de 68. Entre elas, a Universidade
Federal do Cear, criada em 1955, na qual se retomava
a concepo nucleadora da Faculdade de Filosofia; a
Faculdade de Medicina de Ribeiro Preto, articulada
USP, criada entre 1957 e 1962; a Universidade Rural de
Minas Gerais, hoje Universidade Federal de Viosa, ins-
talada em 1958; as Escolas Superiores de Agricultura
de Piracicaba e Rio Grande do Sul, em 1963. Na culmi-
nncia desse processo se situaria a Universidade de
Braslia, instituda em dezembro de 1961, em regime de
fundao de direito pblico, no s pela sua posio de
universidade da nova capital mas pela originalidade da
sua proposta, endossada por setores de ponta da comu-
nidade cientfica.
O projeto original da Universidade de Braslia teve,
sem dvida, uma de suas fontes de inspirao na expe-
rincia da UDF. Alis, Ansio Teixeira foi um de seus
mentores, embora de incio tenha resistido idia da
criao de uma universidade na nova capital. Entretan-
to, sua vinculao com o iderio nacional-desenvolvimen-
tista ficava j expressa na prpria formulao dos seus
objetivos, tendo como primeira das suas finalidades:
Formar cidados empenhados na busca de solues de-
mocrticas para os problemas com que se defronta o povo bra-
sileiro na luta por seu desenvolvimento econmico e social.
(apud Cunha, 1983, p. 171)
Sua organizao pedaggico-administrativa ia na
linha das mudanas que j vinham sendo ensaiadas em
experincias anteriores, aprofundando-as. Sua estrutura
era composta por institutos centrais e faculdades, orga-
nizados, por sua vez, em departamentos. Os institutos
forneciam um ensino introdutrio de dois ou trs anos,
completado pelo ensino especializado das faculdades.
Alm disso, eram responsveis pelos cursos de forma-
o de pesquisadores e de ps-graduao. Os professo-
res eram todos contratados pela legislao trabalhista e
a ctedra transformava-se de cargo em grau universit-
rio. Havia os estudantes regulares e os especiais, que
apenas assistiam aos cursos sem pretenso de obteno
de graus ou certificados e para os quais se reservavam
10% das vagas disponveis (com isso, retomava-se, cu-
riosamente, a concepo de extenso universitria dos
anos 30). A instituio de uma Fundao mantenedora,
com slido patrimnio, seria a garantia da sua autono-
mia em todas as dimenses e o governo da universidade
seria exercido pelos rgos colegiados nos seus diver-
sos nveis. Por meio desse rgos, a participao dos
estudantes era sensivelmente maior do que nas demais
instituies de ensino superior.
A Universidade de Braslia foi implantada com uma
enorme rapidez e seus professores foram recrutados en-
tre o que havia de melhor no pas. Esses professores eram
13
A esse respeito, ver, por exemplo, os artigos de Florestan
Fernandes includos na parte II do livro Educao e Sociedade no
Brasil (Fernandes, 1966).
A universidade no Brasil
Revista Brasileira de Educao 145
atrados, em grande parte, pela mstica que se constituiu
em torno da nova universidade.
significativo que mesmo os intelectuais que fa-
ziam algumas restries a esse projeto, como o caso,
por exemplo, de Florestan Fernandes, defensor da reto-
mada do modelo paulista da Faculdade de Filosofia e
crtico da utilizao poltica que se fazia da iniciativa,
reconheciam o carter inovador da proposta, bem como
o mrito da associao que se estabelecia entre a uni-
versidade e as exigncias dinmicas do desenvolvimento
socioeconmico do Brasil. A esse respeito, Florestan
Fernandes afirmava:
Os homens cultos e de boa vontade no podero negar-
lhe ( Universidade de Braslia) sua simpatia e colaborao,
pois esto em jogo interesses e valores fundamentais seja para
o bom funcionamento de Braslia como capital do pas, seja
para a reviso e o aperfeioamento dos padres de trabalho
intelectual, que temos explorado ao longo de nossa curta expe-
rincia universitria. (Fernandes, 1966, p. 342)
Por outro lado, os anos 60 assistiram a uma cres-
cente radicalizao do debate sobre a reforma da uni-
versidade, liderado, sem dvida, pelo movimento estu-
dantil. Esse movimento iria encabear uma luta pela
reforma universitria articulada s mobilizaes popu-
lares em torno das reformas de base, num contexto po-
ltico em que a aliana populista que sustentava o go-
verno pendia para a centro-esquerda, retomava as
tendncias nacionalistas e lanava-se em vrias frentes
para promover reformas sociais e polticas que permi-
tissem redirecionar o processo de desenvolvimento na-
cional (as chamadas reformas de base).
Em 1961, a Unio Nacional dos Estudantes (UNE)
promovia, em Salvador, o I Seminrio Nacional de Re-
forma Universitria. Desse Seminrio resultou a cha-
mada Carta da Bahia, que recolhia as concluses do
evento. De uma forma geral, a discusso avanava em
direo a propostas concretas de reestruturao da uni-
versidade, baseadas em anlises abrangentes da reali-
dade nacional. O Seminrio apontava como diretrizes
bsicas da reforma universitria os seguintes pontos: a
democratizao da educao em todos os nveis; a aber-
tura da universidade ao povo, atravs da extenso uni-
versitria e dos servios comunitrios; a articulao com
os rgos governamentais, especialmente no interior: a
colocao da universidade a servio das classes desva-
lidas, prestando-lhes assistncia e servios; a transfor-
mao da universidade em uma trincheira em defesa
das reivindicaes populares e em gestes junto aos po-
deres pblicos (apud Gusso, Crdova e Luna, op. cit.,
p. 137-138). Do ponto de vista das mudanas propostas
na estrutura da universidade, estas iam, sem dvida, na
direo das experincias desenvolvidas na perspectiva
da sua modernizao. Os estudantes propunham a sus-
penso imediata do sistema de ctedras vitalcias, a ado-
o do regime departamental e do tempo integral para
os professores, aliado melhoria salarial e das condi-
es de trabalho, a criao de um sistema eficiente de
assistncia ao estudante. Quanto ao governo da universi-
dade, preconizava-se uma ampla autonomia, a ser exercida
com uma intensa participao dos estudantes, professo-
res e tambm de entidades profissionais. Essa estrutura
de governo que permitiria construir a autonomia da uni-
versidade, tanto administrativa quanto didtica.
No II Seminrio, realizado em Curitiba, procediam-
se a algumas revises nas recomendaes anteriores. Sur-
gia, agora, uma preocupao com o prprio contedo do
ensino superior, criticando-se o tecnicismo pragmtico
e preconizando um humanismo total. Propunham-se, en-
tre outras medidas, a reorganizao dos currculos e pro-
gramas, visando adequ-los ao pleno conhecimento da
realidade nacional e do seu sentido histrico, bem como
a introduo nos cursos tcnicos das cincias humanas
e sociais (apud Gusso, Crdova e Luna, op. cit., p. 140).
Cunha (1983) identifica nas proposies encaminhadas
por esse segundo seminrio uma maior consistncia in-
terna, a seu ver decorrente da influncia das idias de
lvaro Vieira Pinto, intelectual vinculado ao Instituto
Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), que tivera o seu
livro A questo da universidade recentemente publica-
do pela prpria UNE. O impacto desse livro sobre a ma-
neira como o movimento estudantil passaria a encarar a
reforma da universidade no pode, sem dvida, ser me-
nosprezado. Nele, o autor resume, de forma sinttica, a
percepo hegemnica no seio das lideranas estudantis
sobre o lugar da reforma universitria:
A reforma universitria constituindo, como dissemos, um
dos aspectos da transformao geral da sociedade brasileira,
Ana Waleska P.C. Mendona
146 Mai/Jun/Jul/Ago 2000 N 14
tem de ser simultnea e harmnica com as demais reformas
exigidas pelo resto da sociedade, neste momento. No pode
ser desvinculada da reforma agrria, da reforma bancria, ad-
ministrativa, urbana, etc., pois o movimento geral de um mes-
mo processo histrico, so as mesmas foras contidas na tota-
lidade da sociedade que as iro realizar todas em conjunto.
No existe, por conseguinte, o problema da reforma universi-
tria, mas o da reforma da sociedade, a qual se manifestar,
num dos seus aspectos como a reforma da universidade. (Pin-
to, 1986, p. 97)
Num terceiro seminrio, ainda, os estudantes se
deteriam, principalmente, na estratgia de conduo do
seu movimento.
As reaes oficiais se fizeram sentir mas foram
cuidadosas. Por um lado no interessava uma contrapo-
sio aberta, j que o movimento estudantil participava
do suporte poltico do prprio governo federal; por ou-
tro lado, no era possvel acatar na sua totalidade as
propostas estudantis, pois isto criaria mais um foco de
desestabilizao das foras polticas dirigentes, num
contexto de crescente instabilidade.
Ainda em 1961, seis meses depois da realizao do
I Seminrio promovido pela UNE, o MEC convocava e
presidia uma reunio com todos os reitores de universi-
dades, para debater o tema da reforma. Ao fim do
simpsio, os reitores encaminharam uma srie de su-
gestes, propondo a criao de comisses seccionais de
reforma nas diferentes instituies e a criao de uma
Comisso Nacional sob a liderana do prprio Minist-
rio, alm da constituio de um Frum de Reitores, que
incorporaria representantes da UNE, e que deveria apro-
var os planos elaborados pelas comisses.
No entanto, com a criao do Conselho Federal de
Educao (CFE), pela Lei de Diretrizes e Bases de 1961,
seria esse rgo quem viria a assumir a direo da pol-
tica oficial de ensino superior, estratgia que seria re-
forada aps 1964.
Para Gusso, Crdova e Luna (op. cit.), essa situa-
o se efetivava medida que o governo se enfraquecia
e o Ministrio da Educao perdia espao poltico. Para
esses autores, desta perspectiva, a Universidade de
Braslia teria sido uma derradeira tentativa de reforma
prtica da universidade, levada a cabo por setores do
prprio governo, com o apoio da comunidade cientfica.
Com o golpe de 64, entretanto, a Universidade de
Braslia foi fortemente atingida, culminando com a in-
vaso do seu cmpus em 65 e a interveno governa-
mental que viria a descaracterizar totalmente o seu pro-
jeto original.
De qualquer forma, parece-me importante recupe-
rar as experincias desenvolvidas ao longo desses anos,
para, como afirma Cunha (1983), desmitificar a idia
de que o processo de modernizao da universidade bra-
sileira teria se iniciado apenas aps 1964, sob a influn-
cia direta dos acordos MEC-USAID. Tanto Cunha
(1983), quanto Gusso, Crdova e Luna (opus cit.), em-
bora trabalhando a partir de referenciais distintos, cha-
mam a ateno para essa questo. Para Cunha:
Na verdade, quando esses convnios foram integrados,
no mbito do ensino superior, a modernizao da universida-
de j era um objetivo aceito por diversas correntes de opinio,
de esquerda e de direita. Assim, quando os assessores norte-
americanos vieram, em 1967, para compor a Equipe de Asses-
soria ao Planejamento do Ensino Superior, no precisaram de
muitos esforos para despertar o consenso que tinha sido pro-
duzido entre os universitrios, pelos porta-vozes do desenvol-
vimentismo. (Cunha, op. cit., p. 204-205)
Para Gusso, Crdova e Luna (op. cit.), o processo
de mudana da universidade brasileira estava desenca-
deado, no obstante o estiolamento das mobilizaes e
projetos desenvolvidos ao longo dos anos 50/60, e tor-
nar-se-ia irreversvel em seus eixos fundamentais de
desenvolvimento. Por essa razo, para os autores, o novo
regime implantado em 1964, aps uma primeira fase
repressiva e obscurantista, ver-se-ia compelido a reto-
mar o dinamismo das polticas de desenvolvimento cien-
tfico-tecnolgico, ainda que sob limitaes polticas
evidentes (p. 143).
A esse respeito, a posio de Ansio Teixeira bas-
tante mais ctica. Ao analisar os decretos-leis de 1966 e
1967, que reestruturaram as universidades federais, pre-
nunciando as medidas propostas na Reforma de 1968, este
manifestava claramente o seu descrdito com relao s
mudanas que se anunciavam (Teixeira, 1989). Mesmo
atendo-se dimenso mais tcnica dessas mudanas, que
lhe pareciam insuficientes, por se limitarem apenas a uma
reestruturao da maquinaria organizacional e adminis-
A universidade no Brasil
Revista Brasileira de Educao 147
trativa da universidade, Ansio fazia algumas observa-
es que me parece importante transcrever. Partindo da
afirmao de que foi para o modelo da Universidade de
Braslia que, agravando-se a crise universitria e tor-
nando-se inevitvel a reforma de sua maquinaria admi-
nistrativa e didtica, a universidade tradicional se vol-
tou, nas suas veleidades de reforma, Ansio destacava
o fato de que aquela universidade nascera de um projeto
em que colaborara a elite do magistrio nacional e o seu
modelo refletia condies a que chegara a conscincia
crtica desse magistrio, no que tinha de mais novo, o seu
corpo de cientistas fsicos e sociais (Teixeira, op. cit.,
p. 125). Para ele, a situao, no momento, era inteira-
mente outra, e a reforma proposta no se fazia de dentro
da universidade, pelo debate e resultante consenso do ma-
gistrio, mas por atos legislativos a princpio permissivos
e depois coercitivos que impuseram a reestruturao den-
tro das grandes linhas do modelo da Universidade de
Braslia (idem, ibidem).
A meu ver, no se pode negar que, mesmo conside-
rando que vrias das solues pedaggico-administrati-
vas incorporadas Reforma de 1968 tenham emergido
do momento anterior a 1964, h um evidente desloca-
mento do eixo em torno do qual se articula a reforma da
universidade. Este se transfere do mbito da reflexo
sobre a sua responsabilidade social e poltica num pro-
jeto global de desenvolvimento, para o mbito da racio-
nalidade administrativa e econmica, num contexto
marcadamente repressivo.
Da universidade reformada
nova reforma
Hoje no fcil, da mesma maneira que no passado,
falar da universidade...
Torres e Rivas, 1998, p. 58
No pretendo aqui me aprofundar na anlise da
Reforma Universitria de 1968, consubstanciada na Lei
n
o
5.540/68 e legislao complementar, at por que j
existe um nmero bastante significativo de trabalhos a
esse respeito. Meu objetivo fazer uma espcie de ba-
lano do impacto efetivo dessa reforma sobre o ensino
superior em geral e particularmente sobre a instituio
universitria, bem como da poltica desenvolvida pelo
governo federal a esse respeito, que nem sempre foi na
direo das propostas incorporadas ao texto legal.
Um primeiro impacto do golpe militar de 1964 so-
bre os rumos da universidade brasileira foi, sem dvida,
o de conter o debate que se travava no momento anterior
e isso se fez atravs da interveno violenta nos campi
universitrios, do expurgo no interior dos seus quadros
docentes, da represso e da desarticulao do movimen-
to estudantil.
Por outro lado, no era mais possvel ao governo
segurar o processo de transformao da universidade,
seja pela presso exercida pelas classes mdias no sen-
tido da ampliao da oferta, que se traduzia na compli-
cada questo dos excedentes, seja pelas prprias neces-
sidades do projeto de modernizao econmica que se
pretendia implementar no pas.
No , portanto, de forma alguma gratuito o fato de
que o governo militar tenha, desde o incio, empenhado-
se na reorganizao do ensino superior, assumindo a li-
derana do seu processo de modernizao. J em 1966
seriam emitidos os dois decretos-lei que encaminhavam
a reestruturao das universidades federais, incorporando
vrias das medidas ensaiadas nas experincias univer-
sitrias citadas anteriormente e prenunciando a reforma
global do sistema.
Em 1968, no contexto da crise institucional que
culminou com o AI-5, foi institudo o Grupo de Traba-
lho (GT) encarregado de estudar a reforma da Univer-
sidade brasileira, constitudo por representantes dos Mi-
nistrios da Educao e Planejamento, do Conselho
Federal de Educao e do Congresso. significativo
que as razes acima apontadas para a irreversibilidade
do processo de modernizao da universidade tenham
sido explicitamente assumidas pelo prprio GT.
No Relatrio elaborado pelo GT, a orientao de-
senvolvimentista era afirmada, porm no contexto do novo
projeto poltico em implantao, o que implicava contra-
ditoriamente esvaziar a proposta da sua dimenso polti-
ca, atribuindo ao trabalho uma perspectiva essencialmen-
te tcnica. Cumpre destacar que um outro relatrio
antecedera o do GT, com um impacto evidente sobre os
rumos da reforma da universidade o Relatrio Meira
Mattos, produzido por uma outra comisso presidida pelo
general que acabou dando nome ao documento.
Ana Waleska P.C. Mendona
148 Mai/Jun/Jul/Ago 2000 N 14
Aprovado a toque de caixa, e transformado em lei,
o Relatrio do GT forneceria as linhas gerais do para-
digma com base no qual a universidade brasileira se
consolidaria. Desta perspectiva, a lei 5.540 afirmava
explicitamente constituir-se a universidade na forma ideal
de organizao do ensino superior, na sua trplice fun-
o de ensino, pesquisa e extenso, enfatizando-se a
indissolubilidade entre essas funes, particularmente
entre ensino e pesquisa, sendo esta ltima o prprio dis-
tintivo da universidade.
A partir da, as universidades, particularmente as
pblicas num primeiro momento, mantidas na sua quase
totalidade pelo governo federal , entrariam em um pro-
cesso de consolidao, mesmo que irregular em seu con-
junto, bastante ajudado, a meu ver, pela institucionali-
zao da carreira docente e, especialmente, pela
definitiva implantao dos cursos de ps-graduao. Este
ltimo foi, sem dvida, o principal fator responsvel pela
mudana efetiva da universidade brasileira, garantindo,
por um lado, o desenvolvimento da pesquisa no mbito
da universidade e, por outro, a melhoria da qualificao
dos docentes universitrios. Privilegiando, de incio, as
reas das chamadas cincias exatas, as agncias de fo-
mento criadas ao longo dos anos 50 acabaram por ga-
rantir uma surpreendente expanso da ps-graduao no
pas, que atingiu, num segundo momento, tambm as
reas das cincias humanas e sociais.
Por outro lado, a autonomia da universidade no
teve condies para se efetivar, no contexto do regime
autoritrio. Em parte porque o controle centralizado dos
recursos materiais e financeiros pelo governo federal
acabou por atrelar o seu funcionamento s polticas go-
vernamentais. E tambm porque, internamente, o governo
da universidade estruturou-se por uma espcie de pacto
entre as oligarquias acadmicas tradicionais e os novos
segmentos da comunidade acadmica, formando-se, de
acordo com as peculiaridades histricas de cada insti-
tuio, diferentes tipos de composio entre essas par-
tes que definem uma estrutura de poder nem sempre
orientada pela dimenso propriamente acadmica.
Um efeito, a meu ver, mais profundo e duradouro
sobre o ensino superior no Brasil teve, entretanto, a con-
traditria poltica desenvolvida pelo governo para aten-
der expanso da demanda. Dado que a ampliao das
vagas nas universidades pblicas, aliada s medidas de
racionalizao econmica e administrativa, tais como a
unificao do vestibular ou a criao de um ciclo bsico
de estudos, no era suficiente para atender ao volume da
demanda, o governo passou a estimular o crescimento
da oferta privada. Com o aval do CFE, o ensino superior
no pas sofreu, ao longo dos anos 70, um incrvel pro-
cesso de massificao, atravs da multiplicao de ins-
tituies isoladas de ensino superior, criadas pela ini-
ciativa privada. Para se ter uma idia, apenas entre 1968
e 1974, enquanto as matrculas nas universidades pas-
saram de 158,1 mil para 392,6 mil, pouco mais do que o
dobro, nas instituies isoladas, das quais privadas,
esse nmero cresceu de 120,2 mil para 504,6 mil (apud
Gusso, Crdova e Luna, op. cit.). Dessa forma, consti-
tuiu-se, a meu ver, um sistema dual, formado, por um
lado, pelas universidades, principalmente pblicas, e, por
outro, por um sem-nmero de instituies isoladas que
no se diferenciam das primeiras por um critrio de es-
pecializao mas, na prtica, pela qualidade do ensino
oferecido. De fato, introduziu-se uma diferenciao in-
terna no sistema de ensino superior que no atendeu a
uma diversificao de objetivos, constituindo-se as ins-
tituies isoladas, com freqncia, em um mero arre-
medo das instituies universitrias. A meu ver, a si-
tuao atual dessas instituies que se transformaram
em grande nmero em universidades refora esse pon-
to de vista.
Essa diferenciao interna do sistema, nos ltimos
anos, acentuou-se, tanto do lado das instituies pbli-
cas, com o crescimento de faculdades e universidades
estaduais e mesmo municipais, quanto do lado das insti-
tuies privadas, com a transformao de um grande
nmero de escolas isoladas em universidades e o surgi-
mento das universidades comunitrias ou confessionais
que buscam se distinguir das instituies orientadas por
critrios predominantemente lucrativos, reivindicando
por essa mesma razo o direito ao financiamento pbli-
co. Essa foi uma questo bastante polmica, ao longo de
todo o processo de discusso da Constituio de 1988.
Paralelamente, com o crescente esgotamento do re-
gime militar, no contexto da chamada redemocratizao
do pas, o debate sobre os rumos da universidade foi
retomado, sob a direo, principalmente, dos prprios
A universidade no Brasil
Revista Brasileira de Educao 149
docentes universitrios, organizados em entidades repre-
sentativas, as ADs (associaes de docentes universit-
rios), que se multiplicaram ao longo dos anos 80, articu-
lando-se, inclusive, em uma associao nacional, a
ANDES (de incio, Associao, e, depois, Sindicato
Nacional). Essa entidade teve uma ativa participao
durante todo o processo constituinte.
Constatava-se, poca, um esgotamento de vrias
das medidas pedaggico-administrativas propostas pela
Reforma de 1968, alm de que, mais uma vez, se levan-
tava a bandeira da autonomia universitria. Mesmo que
esta discusso estivesse com freqncia atravessada por
questes de ordem corporativa, havia, sem dvida, uma
retomada da discusso de fundo sobre o papel da uni-
versidade, no contexto do processo de democratizao
da sociedade brasileira.
Algumas iniciativas foram tambm assumidas nes-
sa direo por parte do prprio governo federal, sem que,
entretanto, tivessem maiores efeitos prticos. Durante o
governo Sarney, chegou a se constituir uma Comisso
Nacional para a Reformulao da Educao Superior,
composta na sua maioria de professores universitrios,
que produziu um documento intitulado Uma nova pol-
tica para a educao superior, com uma srie de reco-
mendaes de mudanas que nunca chegaram a ser efe-
tivamente implementadas. Essa comisso sofreu uma
forte resistncia por parte do movimento dos docentes
universitrios, que contestavam a sua legitimidade.
Mudanas substantivas sobre o ensino superior es-
to sendo, atualmente, introduzidas pela poltica edu-
cacional que vem sendo implementada pelo governo
Fernando Henrique Cardoso. Esse governo, desde 1995,
vem conduzindo uma ampla reforma do sistema de en-
sino. No caso especfico do ensino superior, essa re-
forma, que se consubstanciou na nova Lei de Diretri-
zes e Bases e em outros documentos legais
complementares, combina-se com uma poltica de con-
gelamento de salrios dos docentes das universidades
federais, de cortes de verbas para a pesquisa e a ps-
graduao, de redirecionamento do financiamento p-
blico, com efeitos, a meu ver, preocupantes, especial-
mente para as universidades pblicas. Essas medidas
tiveram um efeito fortemente desmobilizador sobre o
movimento docente universitrio.
Embora seja prematuro fazer-se uma avaliao
do impacto dessa poltica sobre a situao do ensino su-
perior no Brasil, ela aponta em direes, a meu ver,
contraditrias. Por um lado, h uma srie de propostas
orientadas para a flexibilizao do sistema, como a pos-
sibilidade de diversificao dos tipos de instituies, dos
cursos e currculos, das formas de ingresso no ensino
superior com a eliminao da obrigatoriedade do exa-
me vestibular , que poderiam levar a uma maior auto-
nomia didtico-pedaggica das universidades. Essas pro-
postas, entretanto, so, em grande parte, neutralizadas
por um controle centralizado que se exerce atravs de
uma srie de estratgias, como o Exame Nacional de
Cursos, o recredenciamento peridico das instituies,
medidas estas que so justificadas em funo da melho-
ria qualitativa do ensino. H, por outro lado, uma com-
preenso parcial do que seja a autonomia universitria,
particularmente no que se refere s universidades fede-
rais, excessivamente centrada na dimenso econmica,
coerente com a idia de Estado mnimo que vem sendo a
base das polticas governamentais, de uma forma geral,
e que se acompanha de um certo descompromisso com
relao ao destino das universidades pblicas. Contra-
ditoriamente, algumas situaes vividas recentemente
retratam uma interveno direta do governo federal nos
processos de indicao de dirigentes para essas institui-
es. Mais uma vez se pretende uma mudana de cima
para baixo, sem o indispensvel envolvimento dos ver-
dadeiros atores, alunos e professores universitrios.
A esse respeito que gostaria de concluir o texto
trazendo aqui novamente as reflexes de Ansio Teixeira.
Para esse educador, cujo centenrio de nascimento se
comemora este ano, a verdadeira reforma universitria
no se poderia nunca fazer, de fora, pela mera imposi-
o de atos legislativos. Uma efetiva reforma da univer-
sidade teria que nascer de dentro, pelo debate e resul-
tante consenso do magistrio para que tivesse um impacto
efetivo na mudana das prticas (de gesto e especifica-
mente educativas) desenvolvidas no seu interior. No
me parece ser esta a direo que se est imprimindo s
atuais polticas para o ensino superior.
ANA WALESKA P.C. MENDONA professora de Histria
da Educao Brasileira do Programa de Ps-Graduao em Educa-
Ana Waleska P.C. Mendona
150 Mai/Jun/Jul/Ago 2000 N 14
o da PUC-Rio. Tem vrios artigos publicados e organizou, junta-
mente com Zaia Brando, o livro: Uma tradio esquecida. Por que
no lemos Ansio Teixeira?, publicado pela RAVIL, em 1997. Sua
tese de doutorado, citada no texto, acha-se em vias de publicao
pela editora da UERJ. E-mail: awm@edu.puc-rio.br
Referncias bibliogrficas
ALVES, Gilberto Luiz, (1993). O pensamento burgus no seminrio
de Olinda: 1800-1836. Ibitinga: Humanidades.
ANTUNHA, Heldio C.G., (1974). Universidade de So Paulo : fun-
dao e reforma. So Paulo: MEC/INEP/CRPE.
AZEVEDO, Fernando de, (1958). A educao na encruzilhada. Pro-
blemas e discusses. 2
a
ed. So Paulo: Melhoramentos.
, (1971). A cultura brasileira. So Paulo: Melhoramen-
tos/ Editora da USP.
CARDOSO, Irene de A.R., (1982). A Universidade da Comunho
Paulista : o projeto de criao da Universidade de So Paulo. So
Paulo: Autores Associados.
CARVALHO, Marta Maria Chagas de, (1998). Molde nacional e
frma cvica : higiene, moral e trabalho no projeto da Associao
Brasileira de Educao (1924-1931). Bragana Paulista: EDUSF.
CHARLES, Christophe e VERGER, Jacques, (1996). Histria das
universidades. So Paulo: Editora da Universidade Estadual
Paulista.
CUNHA, Luiz Antonio, (1980). A universidade tempor. 2
a
ed. Rio
de Janeiro: Editora Civilizao Brasileira.
, (1983). A universidade crtica : o ensino superior na
Repblica populista. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves
Editora S/A.
, (2000). Ensino superior e universidade no Brasil. In:
LOPES, Eliane Marta Teixeira, MENDES (org.) e outros, (2000).
500 anos de educao no Brasil. Belo Horizonte: Autntica.
FVERO, Maria de Lourdes de A., (1980). Universiadde e poder.
Rio de Janeiro: Achiam.
FERNANDES, Florestan, (1966). Educao e sociedade no Brasil. So
Paulo: Dominus Editora/ Editora da Universidade de So Paulo.
, (1975). Universidade brasileira : reforma ou revolu-
o? So Paulo: Alfa-Omega.
GUSSO, Divonzir Arthur e outros, (1985). A ps-graduao na Am-
rica Latina :o caso brasileiro. Braslia: UNESCO/CRESALC/MEC/
SESU/CAPES.
LACOMBE, Amrico Jacobina, (1969). A cultura jurdica. In:
BUARQUE DE HOLANDA, Srgio (org.), (1969). Histria Ge-
ral da Civilizao Brasileira, tomo II, v. 3. O Brasil Monrqui-
co : reaes e transaes. So Paulo: Difuso Europia do Livro.
MARTINS, Luciano, (1987). A gnese de uma intelligentzia: os inte-
lectuais e a poltica no Brasil. Revista Brasileira de Cincias So-
ciais, n. 4, v. 2, jun.
MELLO E SOUZA, Antonio Candido de, (1968). Letras e idias no
Brasil colonial. In: BUARQUE DE HOLANDA, Srgio (org.).
Histria geral da civilizao brasileira. Tomo I, v. 2, A poca
Colonial: administrao, economia, sociedade. So Paulo, Di-
fuso Europia do Livro.
MENDONA, Ana Waleska P.C., (1993). Universidade e formao
de professores: uma perspectiva integradora. A Universidade
de Educao, de Ansio Teixeira. Tese de Doutorado, Departa-
mento de Educao da PUC-Rio.
NAGLE, Jorge, (1976). Educao e sociedade na Primeira Rep-
blica. So Paulo: EPU, EDUSP.
PAIM, Antonio, (1982). Por uma universidade no Rio de Janeiro. In:
SCHARTZMAN, Simon (org.) e outros. Universidades e insti-
tuies cientficas no Brasil. Braslia: CNPq.
PINTO, lvaro Vieira, (1986). A questo da universidade. So Pau-
lo: Cortez/Autores Associados.
TEIXEIRA, Ansio, (1988). Educao e universidade. Rio de Janei-
ro: Editora da UFRJ.
, (1989). Ensino superior no Brasil : anlise e interpre-
tao de sua evoluo at 1989. Rio de Janeiro: Editora da Fun-
dao Getlio Vargas.
, (1999). Educao no Brasil. 3
a
ed. Rio de Janeiro:
Editora da UFRJ.
TORRES, Lus e RIVAS, Patricio, (1998). Los suicidios de Platn.
Visin critica de la universidad contemporanea. Santiago de
Chile: ARCIS/ LOM Ediciones.
SCHARTZMAN, Simon, (1979). Formao da Comunidade Cient-
fica no Brasil. So Paulo e Rio de Janeiro: Editora Nacional/ FINEP.
, et al., (1984) Tempos de Capanema. Rio de Janeiro:
Paz e Terra; So Paulo: EDUSP.
VILLALTA, Luiz Carlos, (1997). O que se fala e o que se l: lngua, instru-
o e leitura. In: MELLO E SOUZA, Laura de, (1997). Histria da
Vida Privada no Brasil, v. I. So Paulo: Companhia das Letras.
YAZBECK, Lola, (1999). As origens da Universidade de Juiz de
Fora. Juiz de Fora, Editora da UFJF.
Você também pode gostar
- Aula 9 - Lajes ProtendidasDocumento180 páginasAula 9 - Lajes ProtendidasSilvio Edmundo Pilz100% (1)
- Resumo - SandelDocumento8 páginasResumo - SandelMiguel MutheliAinda não há avaliações
- Exercício de Avaliação 3Documento7 páginasExercício de Avaliação 3Fernando Ribeiro60% (5)
- MANUAL PARA APLICAÇÃO DO EB2-NIW (Capítulo 5 - Grau Avançado Ou Habilidade Excepcional - USCIS)Documento18 páginasMANUAL PARA APLICAÇÃO DO EB2-NIW (Capítulo 5 - Grau Avançado Ou Habilidade Excepcional - USCIS)buenoalvesprojetosAinda não há avaliações
- Plano de sessão-UFCD 6668-Uma Nova Ordem Económica-Cristina MunozDocumento3 páginasPlano de sessão-UFCD 6668-Uma Nova Ordem Económica-Cristina Munozmitoswrc100% (3)
- Fundo de Comercio - PericiaDocumento16 páginasFundo de Comercio - PericiambtavaresAinda não há avaliações
- Mercado Dos Fatores ProdutivosDocumento16 páginasMercado Dos Fatores ProdutivosJeremias S. Tomás100% (1)
- Disciplina 1 - Introducao A Seguranca Do Trabalho - Unidade 1 - Histórico e Evolução Da STDocumento58 páginasDisciplina 1 - Introducao A Seguranca Do Trabalho - Unidade 1 - Histórico e Evolução Da STthiagobrasucaAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre Salas Multisseriadas - PPT CarregarDocumento22 páginasUm Estudo Sobre Salas Multisseriadas - PPT Carregarles_parolesAinda não há avaliações
- ModelagemDocumento386 páginasModelagemTom TonpsonAinda não há avaliações
- !livro O Estado Do AmbienteDocumento160 páginas!livro O Estado Do AmbientemarcosrulerAinda não há avaliações
- RevEngenharia 643Documento88 páginasRevEngenharia 643Isabella AraujoAinda não há avaliações
- Zamix - FGV - Gestão EstratégicaDocumento32 páginasZamix - FGV - Gestão EstratégicaJuninho MeneghessoAinda não há avaliações
- Juliana Vinuto PDFDocumento27 páginasJuliana Vinuto PDFLiana LisboaAinda não há avaliações
- Aproveitamento Integral Dos AlimentosDocumento0 páginaAproveitamento Integral Dos AlimentostombessiAinda não há avaliações
- Projeto de Extensão I - Engenharia Civil - BachareladoDocumento7 páginasProjeto de Extensão I - Engenharia Civil - BachareladorenatapriscilasalvadorAinda não há avaliações
- Práticas de Responsabilidade Social No Sector Do Turismo em Cabo Verde: O CasoDocumento95 páginasPráticas de Responsabilidade Social No Sector Do Turismo em Cabo Verde: O CasoLucioDercioAinda não há avaliações
- Fundação Municipal de SaúdeDocumento198 páginasFundação Municipal de SaúdeMatheus TinhoAinda não há avaliações
- O Contexto Histórico Do Surgimento Da SociologiaDocumento24 páginasO Contexto Histórico Do Surgimento Da SociologiapablorenanAinda não há avaliações
- Capítulo IV - Fórmula Geral Do CapitalDocumento2 páginasCapítulo IV - Fórmula Geral Do CapitalCláudio RennóAinda não há avaliações
- Roteiro de Estudo 05 - 9º Ano - GlobalizaçãoDocumento7 páginasRoteiro de Estudo 05 - 9º Ano - GlobalizaçãoPatricia MariaAinda não há avaliações
- A Formacao Da Classe Operaria e Projetos de Identidade Coletiva Claudio BatalhaDocumento14 páginasA Formacao Da Classe Operaria e Projetos de Identidade Coletiva Claudio BatalhaPaulo Jacomel FilhoAinda não há avaliações
- Unidade A A Pessoa E A Familia 6.1. Economia, Economi Pessoal E Familiar A. Noção de EconomiaDocumento13 páginasUnidade A A Pessoa E A Familia 6.1. Economia, Economi Pessoal E Familiar A. Noção de EconomiaMaia Auxiliadora Gustiranda SarmentoAinda não há avaliações
- Módulo 6. Gestão Integrada Por Bacia HidrogáficaDocumento55 páginasMódulo 6. Gestão Integrada Por Bacia HidrogáficaMCHAVES1989Ainda não há avaliações
- A Evolução Do Pensamento Geográfico Zeno CrocettiDocumento6 páginasA Evolução Do Pensamento Geográfico Zeno CrocettiMaureen Lizabeth Dos ReisAinda não há avaliações
- Atividade 1.1 MTR 0353 FM 2021.1peresDocumento4 páginasAtividade 1.1 MTR 0353 FM 2021.1peresBruna BorcemAinda não há avaliações
- Geopolitica Poder e Projeto NacionalDocumento21 páginasGeopolitica Poder e Projeto NacionalShiguenoli MiyamotoAinda não há avaliações
- Resumo - Educar para A SustentabilidadeDocumento6 páginasResumo - Educar para A SustentabilidadeAndressa IunesAinda não há avaliações
- Empreendedorismo Na Área Tecnológica: Experiências em Tempos de DesafiosDocumento68 páginasEmpreendedorismo Na Área Tecnológica: Experiências em Tempos de DesafiosEduardo AmadeAinda não há avaliações
- 12 Noções de ContabilidadeDocumento104 páginas12 Noções de ContabilidadeJaqueline CamachoAinda não há avaliações