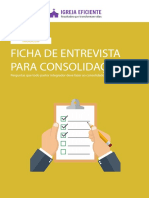Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dissertacao Luciobotelho
Dissertacao Luciobotelho
Enviado por
Sal TavaresTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dissertacao Luciobotelho
Dissertacao Luciobotelho
Enviado por
Sal TavaresDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Universidade Federal de Minas Gerais
Programa de Ps-graduao em Geografia
Instituto de Geocincias
Lcio Antnio Leite Alvarenga Botelho
Gesto dos Recursos Hdricos em Sete Lagoas/MG:
uma abordagem a partir da evoluo espao-
temporal da demanda e da captao de gua
Minas Gerais Brasil
Dezembro - 2008
Lcio Antnio Leite Alvarenga Botelho
Gesto dos Recursos Hdricos em Sete Lagoas/MG:
uma abordagem a partir da evoluo espao-
temporal da demanda e da captao de gua
Dissertao apresentada ao Programa de Ps-
Graduao do Departamento de Geografia da
Universidade Federal de Minas Gerais, como
requisito parcial obteno do ttulo de Mestre em
Geografia.
rea de concentrao: Anlise Ambiental
Orientador: Prof. Dr. Roberto Clio Valado
Belo Horizonte,
Departamento de Geografia - UFMG
2008
Dedico essa dissertao ao meu pai e minha me
por me mostrarem que na vida existem vrios horizontes.
AGRADECIMENTOS
Deus, pelo auxlio e fora em todos os momentos.
Ao Professor Roberto Clio Valado, minha gratido e admirao pela valiosa orientao,
conhecimentos transmitidos, conselhos e pacincia, fundamentais na elaborao deste
trabalho. Verdadeiramente foi uma beno ser orientado pelo Professor Valado.
Ao Professor Slvio Silveira, por me mostrar novos caminhos, sou eternamente grato.
Ao Andr, pelo companheirismo e pela ajuda indispensvel nas correes e nos
momentos difceis.
Ao Professor Antnio Magalhes, pela generosidade e grande apoio.
Professora Leila Menegasse, pelas conversas imprescindveis para a produo deste
trabalho.
Ao Ricardo Campelo, Luiz Carlos, Lairson Couto e J ane, pelo incentivo e auxlio na
aquisio de materiais.
Aos funcionrios do SAAE, da Embrapa Milho e Sorgo, da Secretaria de Meio Ambiente e
Secretaria de Obras de Sete Lagoas, pelo auxlio na aquisio de materiais.
A todos os entrevistados que gentilmente cederam-me um tempo valioso.
Ao Marcus, pela ajuda nos clculos, Arlene, pelo auxlio no perfil e ao Tiozinho pela
traduo do abstract.
Leninha, Patrcia, Cludia Pontes e Valria, por valiosas contribuies.
Marlede e ao Lucas na ajuda para a confeco dos mapas.
Coordenao do Programa de Ps-graduao em Geografia do IGC
Aos professores e funcionrios do IGC, em especial a Professora Vilma e a Paula.
A todos os amigos e companheiros de trabalho pelo estmulo e apoio.
Em 1929 Sir Halford Mackinder fez um discurso no
Congresso Internacional de Geografia, reunido em
Cambridge, defendendo a supremacia da gua entre os
elementos que nos devem preocupar no estudo de uma
regio e de sua paisagem. A Hidrosfera chegou a dizer
Sir Halford deve ser considerada o tema central da
Geografia. Porque nada mais importante no estudo do
homem que as suas relaes com a gua: com a gua do
mar, com a gua dos rios, com a gua condensada das
nuvens, com a gua da chuva ou de degelo, com a gua
subterrnea, com a gua que corre na seiva das plantas ou
que circula nas artrias e nas veias dos animais. Por
conseguinte o prprio sangue e a prpria vida do homem.
Quase uma mstica da gua.
Gilberto Freire,
Nordeste, 1937.
SUMRIO
Resumo................................................................................................................ 12
Abstract................................................................................................................ 13
Captulo 1
Introduo......................................................................................................................... 14
1.1 Objetivos...................................................................................................................... 16
1.2 Estrutura do trabalho................................................................................................... 17
1.3 Metodologia................................................................................................................. 18
Captulo 2
A gua e a sociedade....................................................................................................... 22
2.1 Mananciais superficiais............................................................................................... 23
2.2 Mananciais subterrneos............................................................................................ 23
2.3 Condies de ocorrncia da gua em subsolo........................................................... 24
2.4 Aqfero crstico......................................................................................................... 25
2.5 gua crescimento da demanda............................................................................... 26
2.6 O abastecimento pblico, gesto e explotao subterrnea de gua........................ 28
2.7 Os conflitos da gua e crescimento urbano................................................................ 30
Captulo 3
Contextualizao da rea investigada: o municpio de Sete Lagoas................................ 35
3.1 Localizao geogrfica............................................................................................... 35
3.2 Caracterizao natural da regio de estudo............................................................... 36
3.2.1 Contexto geolgico regional e local.............................................................. 36
3.2.2 Contexto geolgico estrutural....................................................................... 39
3.2.3 Aspectos climticos...................................................................................... 39
3.2.4 Hidrografia.................................................................................................... 40
3.2.4.1 guas superficiais.......................................................................... 40
3.2.4.2 guas subterrneas....................................................................... 41
3.3 Expanso e crescimento urbano................................................................................. 46
Captulo 4
As caractersticas da infra-estrutura do sistema de abastecimento pblico de gua e
histrico da captao de gua do municpio de Sete Lagoas........................................... 54
4. 1 Infra-estrutura do sistema de abastecimento pblico de gua do municpio de Sete
Lagoas.............................................................................................................................. 54
4.1.1 Caractersticas do SAAE.............................................................................. 54
4.1.2 Poos profundos.......................................................................................... 55
4.1.3 Poos de terceiros........................................................................................ 59
4.1.4 Infra-estrutura da captao e distribuio.................................................... 61
4.1.5 Qualidade da gua....................................................................................... 64
4.2 Histrico da captao de gua.................................................................................... 66
4.2.1 Perodo de captao superficial................................................................... 66
4.2.2 Perodo de captao subterrnea................................................................ 67
4.2.2.1 Cisternas........................................................................................ 67
4.2.2.2 Primeiras perfuraes profundas................................................... 67
4.2.2.3 Captao e demanda entre 1940 e 1970...................................... 68
4.2.2.4 Captao e demanda entre 1970 e 2008...................................... 71
4.3 Ocorrncia das subsidncias...................................................................................... 75
4.4 Disputa pela concesso da gua em Sete Lagoas..................................................... 80
Captulo 5
A Gesto do sistema de abastecimento de gua do municpio de Sete Lagoas, segundo
informaes egressas de entrevistas................................................................................ 86
5.1 O comprometimento dos recursos hdricos................................................................ 86
5.2 A potencialidade do aqfero...................................................................................... 88
5.3 Degradao do aqfero............................................................................................. 89
5.4 Diminuio de oferta de gua e o crescimento da demanda...................................... 90
5.5 Controle da captao.................................................................................................. 91
5.6 Poos contaminados ou poludos............................................................................... 93
5.7 As subsidncias e a captao da gua....................................................................... 94
5.8 Aspectos administrativos............................................................................................ 94
5.9 Investimentos em infra-estrutura................................................................................. 97
5.10 Qualificao da gesto das guas em Sete Lagoas................................................. 98
5.11 Processo de concesso SAAE versus COPASA................................................. 100
5.12 Demanda e oferta................................................................................................... 102
5.13 Problemas da gua em Sete Lagoas...................................................................... 103
Captulo 6
Perspectivas para o futuro da gesto das guas em Sete Lagoas................................. 105
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS.............................................................................. 109
ANEXOS......................................................................................................................... 115
Anexo I: Relao dos documentos consultados............................................................. 116
Anexo II: Relao de entrevistados na primeira fase de entrevistas - Conversa
formal.............................................................................................................................. 117
Anexo III: Relao de entrevistados na segunda fase de entrevistas - Perguntas
estruturadas.................................................................................................................... 118
Anexo IV: Entrevista estruturada aplicada aos atores envolvidos com a problemtica da
gua no municpio de Sete Lagoas................................................................................. 119
Anexo V: Relao das visitas de campo......................................................................... 120
Anexo VI: Relao das reunies assistidas.................................................................... 121
Anexo VII: Relao dos poos do SAAE perfurao por dcada................................ 122
Anexo VIII: Relao de poos perfurados por particulares e empresas em Sete
Lagoas............................................................................................................................ 124
Anexo IX: Relao das subsidncias registradas no perodo de 1940 a 2008 no municpio
de Sete Lagoas/MG........................................................................................................ 127
Anexo X: Propaganda da COPASA................................................................................ 128
Anexo XI: Panfleto Frum das guas........................................................................... 129
LISTA DE TABELAS
Tabela 3.1 Evoluo da populao rural e urbana de Sete Lagoas Perodo de 1906 a
2006................................................................................................................................. 49
Tabela 4.1 Relao dos poos ativos destinados ao Servio Pblico de gua de Sete
Lagoas.............................................................................................................................. 57
Tabela 4.2 Relao dos poos reservas do Servio Pblico de gua de Sete
Lagoas.............................................................................................................................. 59
Tabela 4.3 Relao dos poos desativados do Servio Pblico de gua de Sete
Lagoas.............................................................................................................................. 59
Tabela 4.4 Dados das instalaes e estrutura do sistema de captao e distribio de
gua.................................................................................................................................. 61
Tabela 6.1 Caractersticas do sistema de abastecimento de gua de Sete
Lagoas/MG...................................................................................................................... 107
LISTA DE FIGURAS
Figura 3.1 Mapa de localizao do municpio de Sete Lagoas......................................... 35
Figura 3.2 Mapa geolgico do municpio de Sete Lagoas................................................ 38
Figura 3.3 Perfil geolgico ilustrativo com a identificao das unidades aqferas de Sete
Lagoas.............................................................................................................................. 42
Figura 3.4 Mapas da malha urbana e contexto geolgico Perodo de 1940 e
2008.................................................................................................................................. 45
Figura 3.5 Comparao da malha urbana de Sete Lagoas Perodo de 1940 e
2008.................................................................................................................................. 53
Figura 4.1 Localizao dos poos do SAAE - Ano de 2008............................................. 56
Figura 4.2 Esquema da rede de distribuio.................................................................... 62
Figura 4.3 Poo do Horto Florestal................................................................................... 62
Figura 4.4 Tanques da elevatria do Horto Florestal........................................................ 63
Figura 4.5 Interior da estao elevatria do Horto Florestal............................................. 63
Figura 4.6 Equipamentos para a clorao........................................................................ 63
Figura 4.7 Reservatrio da Cidade de Deus..................................................................... 63
Figura 4.8 Casa de qumica do Poo Cidade de Deus..................................................... 64
Figura 4.9 Poo Monte Carlo I.......................................................................................... 66
Figura 4.10 Perfurao do Poo do Cadeo em janeiro de 2007..................................... 73
Figura 4.11 Mapa de localizao das subsidncias registradas no municpio de Sete
Lagoas entre os anos de 1940 e 2008.............................................................................. 79
LISTA DE GRFICOS
Grfico 2.1 gua existente no Planeta.............................................................................. 22
Grfico 3.1 Crescimento populacional entre 1906 e 2008 Municpio de Sete
Lagoas/MG........................................................................................................................ 50
Figura 3.2 Grau de Urbanizao Brasil, Minas Gerais e Sete Lagoas Ano 2000....... 50
Grfico 3.3 Crescimento Populacional entre 1906 e 2008 Municpio de Sete
Lagoas/MG........................................................................................................................ 51
Grfico 4.1 Poos perfurados por terceiros em Sete Lagoas entre os anos de 1969 a
2006.................................................................................................................................. 60
Grfico 4.2 Nmero de perfuraes de poos destinados ao abastecimento pblico de
gua do municipio de Sete Lagoas por dcada ............................................................... 71
Grfico 4.3 Projeo do consumo mdio per capita de gua no municpio de Sete
Lagoas.............................................................................................................................. 72
Grfico 4.4 Total de gua produzido no municpio de Sete Lagoas no perodo de 1998 a
2006.................................................................................................................................. 73
Grfico 4.5 Subsidncias registradas entre as dcadas de 1940 e 2000 no municpio de
Sete Lagoas...................................................................................................................... 77
RESUMO
A cidade de Sete Lagoas, localizada na Regio Metalrgica de Minas Gerias, teve
nas ltimas dcadas acentuada expanso das atividades econmicas e,
conseqentemente, elevado crescimento da populao urbana. Esse fator gerou
considervel aumento da demanda de gua. O municpio est inserido sobre rea
crstica, ambiente caracterizado por possuir grandes quantidades de gua no
subsolo, pois a rede de drenagem encaixa-se nas camadas subterrneas, devido
ao de solubilidade da gua. Diante da crescente demanda por gua,
intensificou-se o uso de fontes subterrneas com a perfurao contnua de poos,
passando a ser o principal meio de captao gua. Durante todo o perodo de
explotao subterrnea, ocorreram problemas peridicos de falta de gua, dentre
outros problemas. Este trabalho tem o objetivo de avaliar o sistema de captao e
distribuio de gua do municpio, a partir de uma abordagem espao-temporal,
realizando um histrico sobre a evoluo da captao e da demanda da gua no
municpio; investigando a infra-estrutura do sistema de captao e abastecimento
do municpio e refletindo sobre alguns problemas decorrentes da gesto da gua
em Sete Lagoas. Desta maneira, foi possvel compreender que a insegurana
hdrica na cidade deve-se, principalmente, ausncia de instrumentos de gesto.
Pois, acredita-se que a atual situao resultado de uma gesto focada na oferta
da gua.
Palavras-chave: Gesto das guas, Abastecimento Pblico de gua,
Captao subterrnea de gua, Recursos Hdricos.
ABSTRACT
In the last decades, Sete Lagoas city, placed in the Regio Metalrgica of Minas
Gerais had an accentuated expansion on its economical activities, hence the great
increase on urban population. The municipality is inserted on a Karst area, an
environment characterized for owning large quantities of water underground, and
the drain-net adjusts to its subway levels because of the solubility property of the
water. Face to continuous demand of water, the use of underground sources
intensified, together with continuous well diggings, turning this way to be the main
way of access to the water. During all this period of underground exploitation,
periodic problems related to lack of water and so, took place. So, the aim of this
study is to evaluate the uptake system and distribution of water in the municipality
from an approach of time-space, carrying out the history about the evolution of the
uptake and of water demand in the municipality; investigating the uptake infra-
structure system and water supply, and, moreover, reflecting over some conflicts
in consequence of the water administration in Sete Lagoas. Therefore, contributing
for the comprehension of the processes which characterizes the hydric insecurity
in the city, mainly due to the absence of administration instruments. Thus, it is
believed that the current situation is the result of an administration that was
focused on water supply.
Key-words: Water Administration, Public Water Supply, Uptake Water
Underground, Water Resources.
14
CAPTULO 1
INTRODUO
O abastecimento pblico de gua em reas urbanas tem por finalidade distribuir gua
com boa qualidade e quantidade adequada, para suprir as necessidades da populao.
Para garantir o acesso gua, recorrem-se comumente s fontes superficiais,
caracterizadas, principalmente, por cursos correntes e lagos, e s fontes subterrneas
os aqferos.
O volume de gua necessrio ao abastecimento est sujeito demanda da populao e
s suas atividades econmicas. Entretanto a sua oferta depende de vrios fatores
ambientais, os quais esto relacionados com as condies naturais da regio, que podem
favorecer ou desfavorecer a presena de gua e, geralmente, esto conexos estrutura
geolgica, compartimentao do relevo e s caractersticas climticas.
As grandes civilizaes, desde tempos remotos, escolhiam stios muito prximos s
fontes superficiais de gua para instalarem seus ncleos e, posteriormente, suas cidades.
O principal fator para tal escolha era a facilidade de captao e uso direto, alm de
utilizar os cursos de gua como via de transporte. J as guas subterrneas tinham
grande importncia nas zonas ridas e semi-ridas, sendo fontes de abastecimento das
populaes dessas reas.
As fontes subterrneas de gua comeam a ter maior importncia, quando a
potencialidade ou a potabilidade das guas superficiais so afetadas, geralmente, pelos
efeitos do crescimento acelerado dos centros urbanos e pelas atividades industriais.
Atualmente, mesmo em regies midas, quando se esgotam os recursos superficiais
por razes de insuficincia, decorrente da escassez natural ou pela explorao
demasiada, ou at mesmo pela poluio , a alternativa vivel a busca por fontes
subterrneas.
Essa procura por gua, para garantir o desenvolvimento das atividades econmicas e o
abastecimento pblico, no foi diferente durante o processo de expanso urbana da
cidade de Sete Lagoas/MG. Apesar do municpio localizar-se em regio semi-mida,
seus recursos hdricos superficiais tornaram-se insuficientes para atender s
necessidades da cidade, e, a partir da dcada de 1940, iniciou-se a captao subterrnea
15
com a explotao do aqfero crstico presente na regio. Nesse perodo, a incipiente
Sete Lagoas contava com cerca de 20.000 habitantes (PMSL, 2006a).
Instalada na Regio Metalrgica de Minas Gerais, a 70 km norte de Belo Horizonte, Sete
Lagoas possui rea de 537,48 km e, atualmente, tem populao estimada em 220.000
habitantes. Parte considervel de seu territrio est localizada na Depresso do Rio So
Francisco, sobre as unidades litoestratigrficas que fazem parte do Grupo Bambu, que
inclui seqncia de rochas carbonticas datadas do Proterozico Superior. Formadas
pela deposio sedimentar marinha, essas rochas so, hoje, responsveis pela rica
fenomenologia do carste, que caracteriza a paisagem, por possuir aspectos peculiares
relacionados solubilidade do substrato rochoso. Portanto a paisagem da regio
resultado da ao da gua, principalmente no subsolo, produzindo um sistema com
feies endgenas e exgenas. Apesar dos recursos hdricos superficiais serem
escassos nesses ambientes, nas camadas subterrneas, encontram-se fluxos e
armazenamento de quantidades considerveis de gua. A maior parte do stio urbano do
municpio est assentada justamente sobre seqncia carbonatada com calcrios e
dolomitos do Grupo Bambu, nomeada de Formao Sete Lagoas, que armazena e
fornece a gua consumida na cidade h aproximadamente 60 anos.
Assim como outros centros urbanos espalhados pelo pas, a expanso das atividades
econmicas e o crescimento da populao urbana de Sete Lagoas geraram considervel
aumento da demanda de gua. Dessa maneira, intensificou-se o uso de fontes
subterrneas, recurso que passou a ser utilizado numa escala significativa, exigindo a
perfurao contnua de poos, os quais representam, hoje, o principal meio de captao
de gua.
Atualmente, o abastecimento pblico de gua de responsabilidade do SAAE (Servio
Autnomo de gua e Esgoto), autarquia municipal, a qual controla 123 poos, com uma
produo de 3.297.223 litros/hora. Porm considera-se que, dentre o uso pblico,
industrial e de terceiros, haja muitos outros poos em todo o municpio. importante
notar que, at o presente momento, no h, por parte do SAAE, conhecimentos
concretos sobre as condies da gua no subsolo da regio, nem sobre seus fluxos,
recarga e potencialidades.
Durante todo o perodo de explotao subterrnea, ocorreram problemas peridicos de
falta de gua em determinadas reas da cidade, poos secos, poludos ou contaminados,
dentre diferentes fatos que foram acontecendo ao longo da histria do abastecimento na
16
cidade. Outros problemas, como subsidncias e rachaduras no solo, apesar de serem
eventos naturais do ambiente crstico, ocorrem com freqncia, pois esses fenmenos
podem, tambm, estar associados explotao inadequada do aqfero.
De maro a agosto de 2007, agravaram-se os conflitos sobre a questo da gua, tendo
ocorrido uma disputa entre o SAAE e a COPASA (Companhia de Saneamento de Minas
Gerais) pela concesso da captao e distribuio da gua no municpio, evidenciando
mais um problema.
A soluo para a falta de gua no a simples adaptao da oferta para suprir a
demanda, pois se trata de um bem natural disponvel em quantidade limitada e a custos
crescentes, exigindo uma gesto eficaz da oferta e uma gesto racional da demanda. Os
problemas de falta de gua no esto somente relacionados ao aumento do consumo.
uma questo, sobretudo, de planejamento racional da utilizao dos recursos naturais,
que requer, inclusive, excelncia no gerenciamento dos sistemas de abastecimento de
gua. Segundo Lanna (1997), a gesto das guas pode ser entendida como atividade
analtica e criativa voltada formulao de princpios e doutrinas, ao preparo de
documentos orientadores e normativos, estruturao de sistemas gerenciais e
tomada de decises que tm por objetivo final promover o inventrio, o uso, o controle e
a proteo dos recursos hdricos. Em Sete Lagoas, alm da preocupao com o
gerenciamento da gua, os conflitos alusivos questo no mbito municipal so
agravados, em parte, por suas caractersticas ambientais.
Nessa perspectiva de crescimento da demanda e diminuio da oferta, surgem algumas
questes que instigam esta pesquisa: A realidade ambiental de Sete Lagoas dificulta ou
facilita a gesto da gua? A infra-estrutura do sistema de captao e distribuio de gua
interfere nas faltas peridicas de gua na cidade? H deficincias no servio municipal de
gua? Qual o modelo adequado para a gesto da gua no municpio?
1.1 OBJETIVOS
Diante dessas reflexes preliminares sobre o gerenciamento da gua no municpio de
Sete Lagoas, esta dissertao tem o objetivo de avaliar o sistema de captao e
abastecimento de gua do municpio, a partir de uma abordagem espao-temporal da
demanda e captao de gua. O trabalho busca contribuir para a compreenso dos
processos que caracterizam a insegurana hdrica na cidade. Pretende-se, como
objetivos especficos:
17
(i) realizar um histrico sobre a evoluo espao-temporal da demanda e da
captao de gua no municpio;
(ii) investigar sobre a infra-estrutura do sistema de captao e abastecimento de
gua do municpio;
(iii) refletir sobre conflitos decorrentes da gesto da gua em Sete Lagoas.
Considerando a crescente preocupao com o uso e a gesto das guas em termos
globais e a necessidade de informaes sobre a temtica na cidade de Sete Lagoas,
espera-se que, ao descrever e analisar o sistema de captao e abastecimento de gua
de Sete Lagoas, este estudo possa refletir sobre as principais causas da suposta falta da
gua no municpio e contribuir em outros estudos relacionados a essa questo na
cidade.
1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO
Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, esta dissertao estruturada em seis
captulos, o primeiro deles configura esta introduo.
No captulo dois, h uma discusso geral sobre as relaes entre a gua e a sociedade,
visando a prover embasamento terico para os estudos posteriores e buscando tratar de
(i) noes elementares dos aspectos naturais dos recursos hdricos, principalmente
mananciais de gua subterrneos, devido ao tipo de captao do sistema de
abastecimento de gua de Sete Lagoas, e, especificamente, sobre aqferos crsticos;
(ii) carter scio-ambiental da gua, destacando sua importncia nas atividades do
homem, o abastecimento pblico, o crescimento urbano e a questo dos conflitos da
gua. Desse modo, o captulo dois relata sobre esses temas, a fim de subsidiar o
entendimento do crescimento da demanda e da escassez de gua numa viso global e
local.
O captulo trs resultado de pesquisa em documentos relacionados s caractersticas
geogrficas de Sete lagoas e tem a finalidade de contextualizar a rea investigada,
descrevendo sobre os recursos hdricos e os aspectos da expanso urbana no municpio.
No captulo quatro, encontram-se organizadas informaes extradas de pesquisa em
documentos e de entrevistas, obtendo-se uma coleo de dados sobre a demanda e a
captao de gua, do perodo de 1940 a 2008; a rede de distribuio e infra-estrutura do
18
sistema de abastecimento; e o processo de concesso do gerenciamento do sistema de
captao e abastecimento. Desse modo, o objetivo desse captulo reunir informaes
sobre a infra-estrutura do sistema de abastecimento pblico de gua e relatar o histrico
espao-temporal da demanda e oferta de gua subterrnea do municpio de Sete
Lagoas.
O captulo cinco consiste em informaes extradas de entrevistas com atores envolvidos,
focando nos principais problemas referentes gesto da gua no municpio, num esforo
de entendimento sobre como o cenrio atual foi sendo construdo.
O captulo seis traz as consideraes finais.
1.3 METODOLOGIA
Os problemas referentes ao uso da gua nas cidades so questes ligadas diretamente
maneira de captar, de distribuir e de usar a gua. A gesto racional da gua permite um
melhor aproveitamento do recurso, minimizando o conflito entre a demanda e a oferta de
gua. Portanto, como afirma Magalhes (2007), o processo de gerenciamento da gua
envolve um planejamento que visa organizar e compatibilizar os usos mltiplos da gua,
com o objetivo de orientar decises em um contexto de trabalho permanente de
acompanhamento e de avaliao das aes realizadas. Sendo assim, buscando facilitar o
entendimento da relao da gesto da gua e seus conflitos em Sete Lagoas, optou-se,
nesta pesquisa, pelas tcnicas e mtodos qualitativos em funo da subjetividade dos
problemas que fazem parte da administrao da gua no municpio. Entretanto, ao
compreender sobre o crescimento da demanda foi necessrio organizar dados
quantitativos. Com esses propsitos, apresentam-se as etapas realizadas para o trmino
desta pesquisa que se caracteriza como de carter exploratrio, pois envolve
levantamento bibliogrfico, organizao de dados coletados em relatrios, entrevistas e
visitas de campo.
O desenvolvimento do trabalho constar das etapas descritas abaixo.
(i) Pesquisa documental, que teve como objetivo coletar informaes sobre: a captao, o
abastecimento e a demanda de gua; o crescimento da populao e das atividades
econmicas; a infra-estrutura e os problemas do sistema de abastecimento de gua do
municpio, com o intuito de compreender a realidade dos temas envolvidos no trabalho. A
19
estratgia foi pesquisar informaes a respeito das temticas em documentos
encontrados nos rgos pblicos como a prpria Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Obras, o Servio de
Geoprocessamento Municipal, o Servio Autnomo de Abastecimento de Esgoto do
municpio SAAE, o Servio Geolgico do Brasil e a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuria EMBRAPA, com sede no municpio, alm de trabalhos acadmicos.
(Anexo: Relao dos documentos consultados).
Durante a coleta das informaes, foi possvel perceber um volume de informaes de
forma pulverizada nos rgos pblicos. Com o objetivo de reunir subsdios para orientar a
discusso, estabelecendo relaes entre as informaes, partiu-se para a segunda fase:
a organizao dos dados, que se caracteriza pela seleo e sistematizao das
informaes relevantes.
(ii) Inventrio das informaes sobre captao subterrnea contidas nos relatrios do
SAAE. O objetivo desse procedimento foi obter uma coleo de dados organizados,
temporal e espacialmente, para auxiliar na compreenso da evoluo da rede de
captao e distribuio de gua em Sete Lagoas. Com a organizao das informaes,
foi possvel laborar tabelas, contendo os dados relativos dcada e ano de perfurao,
nome do poo, localizao e vazo. Como essas informaes so de natureza espacial,
as mesmas foram utilizadas na elaborao de cartas temticas. Durante o inventariado
das informaes sobre captao, foram levantados dados referentes aos riscos
geolgicos, e foi possvel organizar as informaes, tambm, de forma temporal e
espacial, relativas aos eventos de subsidncias e rupturas ocorridas, visando
correlacion-las com a expanso do sistema de captao de gua.
(iii) Organizao das informaes sobre o abastecimento: demanda e consumo. Os
dados utilizados nesse item foram organizados atravs das informaes do SAAE e do
SNIS - srie 2004. Com esse agrupamento, foi possvel relacionar informaes sobre
populao, consumo mdio per capita de gua litros/habitantes por dia, total de gua
produzido ao ano e total de gua consumido ao ano. Diante dessas informaes, foi
possvel, por meio do mtodo de correlao matemtica, projetar os dados, e,
posteriormente, elaborar grficos.
(iv) A cartografia elaborada nesta pesquisa tem carter temtico, pois tratou de ilustrar a
malha urbana do municpio e a rede de captao de gua sob o substrato rochoso em
20
duas fases distintas da histria da cidade e os pontos de subsidncias e poos
contaminados registrados de 1940 a 2008. A escala utilizada nos mapas foi de 1:70.000.
Para a confeco dos mapas, utilizou-se:
a) a base cartogrfica do municpio de Sete Lagoas, com dados de ruas,
endereos e abrangncia da malha urbana (1940 e 2008), fornecida pelo
Servio de Geoprocessamento Municipal e o mapa do substrato rochoso
elaborado pelo Projeto VIDA - desenvolvido pelo Servio Geolgico do Brasil;
b) dados relacionados captao de gua selecionados durante a etapa de
coleta e organizao das informaes;
c) registros das subsidncias no perodo de 1940 a 2008;
d) registros de contaminao de poos.
(v) Etapa de realizao de entrevistas com os atores envolvidos. A pesquisa documental
possibilitou encontrar vrias informaes relacionadas questo da gua e do
abastecimento pblico em Sete Lagoas, mas, apesar do volume de informaes no se
alcanou a finalidade da pesquisa sobre os aspectos gerenciais, pois havia dados
incompletos. Assim, necessitou-se de uma interrogao direta a profissionais envolvidos
na elaborao dos relatrios analisados e a pessoas que trabalham nos rgos
pesquisados, ou que estudam assuntos correlacionados ao sistema de abastecimento
pblico de gua, no intuito de obterem-se dados complementares.
As entrevistas foram qualitativas e forneceram dados complementares para a apreenso
de vrios aspectos da questo da gua no municpio, reunindo a opinio de distintos
atores envolvidos com a problemtica. Elas foram realizadas em duas fases. Na primeira,
entre agosto de 2006 a maio de 2008, as entrevistas tiveram um carter de conversa
formal (Anexo: Relao dos entrevistados na primeira fase). Na segunda, o mtodo
utilizado nas entrevistas foi de roteiro padronizado de perguntas, visando a resultados
que pudessem ser comparados. Foram feitas 26 perguntas abertas relacionadas a cinco
tipos de informao (Anexo: Entrevista estruturada aplicada aos atores envolvidos com a
problemtica da gua no municpio de Sete Lagoas). De modo geral, os sete
entrevistados escolhidos mostraram-se familiarizados com o vocabulrio. O tempo das
entrevistas variou entre 30 minutos e 2 horas, e foram aplicadas entre os dias 16 e 17 de
abril de 2008. Antes do incio das entrevistas, foram elucidados os objetivos da pesquisa
e a importncia das respostas. Todas as entrevistas foram gravadas com conhecimento
do entrevistado (Anexo: Relao dos entrevistados na segunda fase).
21
(vi) Transcrio das entrevistas gravadas e anlise de contedo. De posse das
transcries das falas, partiu-se para uma anlise do material, que sugeriu uma leitura
cuidadosa para refletir-se sobre o seu contedo, distinguindo os temas principais e
selecionando os assuntos considerados relevantes para o objeto de estudo.
(vii) Visitas de campo. Paralelamente coleta de dados e s entrevistas feitas na cidade
de Sete Lagoas, foi possvel ir a campo em quatro ocasies. Isso possibilitou o
reconhecimento e a caracterizao de elementos da infra-estrutura e manuteno do
sistema de captao e distribuio de gua, como os reservatrios, poos e obras. E,
tambm, na elaborao de documentao fotogrfica e auxlio na confeco de mapas
temticos, alm de facilitar a identificao de subsidncias. Essa tarefa foi essencial para
a conferncia das informaes (Anexo: Relao das visitas de campo).
(viii) Reunies pblicas. A discusso a respeito da questo da gua no municpio
intensificou-se durante o ano de 2007, houve algumas reunies pblicas, e ao observ-
las foi possvel recolher informaes sobre o processo de concesso da administrao do
sistema de gua do municpio (Anexo: Relao das reunies assistidas).
(ix) A ltima fase da metodologia consistiu na anlise crtica e na sntese final dos dados.
22
gua existente no Planeta
97%
2%
1%
gua Salgada
gua Doce no acessvel
gua Doce teor icamente disponvel
CAPTULO 2
A GUA E A SOCIEDADE
A gua um recurso scio-ambiental, quando considerada como um manancial de
relevante valor econmico e social, constituindo-se objeto de disputas e conflitos
significativos (VARGAS, 1999). Entretanto a noo de recursos hdricos tem sido aplicada
restritivamente s guas doces, pois apenas elas so aproveitadas para a maior parte
das necessidades humanas.
Mesmo que a superfcie do globo terrestre esteja coberta pela gua dos mares e
oceanos, a gua doce um recurso natural bastante escasso. A ocorrncia desse
recurso em nosso planeta est longe de ser abundante (VARGAS, 1999). Petrella (2001)
sustenta que 97% da gua existente no planeta so compostas de gua salgada no
utilizvel para fins potveis, irrigveis, industriais e energticos. Dos 3% restante que
so gua doce , dois teros no so acessveis aos seres humanos, por estarem
situados em zonas pouco povoadas, ou ainda aprisionados nas geleiras e nas calotas
polares. Dessa forma, somente 1% da gua doce existente est, teoricamente, disponvel
para consumo humano (Grfico 2.1). Ainda assim, trs quartos desse percentual
encontram-se no meio subterrneo, restando uma pequena parcela para rios, lagos e ar.
Grfico 2.1 - gua existente no Planeta
Fonte: PETRELLA, Ricardo. O manifesto da gua: argumentos para um contrato mundial. RJ : Vozes, 2001.
23
Sobre o ciclo hidrolgico, percebe-se que a distribuio espacial das precipitaes
bastante desigual sob a superfcie terrestre, pois uma parte considervel das chuvas cai
nos oceanos antes de chegar aos continentes. Ao mesmo tempo, condies geogrficas
como o relevo, vegetao, ventos, dentre outros, influenciam na distribuio das chuvas
pela superfcie, produzindo paisagens desrticas e semi-ridas atingidas por problemas
crnicos ou sazonais de escassez. A temporalidade dos processos do ciclo da gua no
corresponde aos ritmos acelerados da atividade social, especialmente com relao
recarga das reservas subterrneas, nas quais a gua movimenta-se em velocidades
muito lentas (VARGAS, 1999, TUNDISI, 2003).
Como citado anteriormente, estima-se que 3% da gua do planeta so doce, sendo que
sua distribuio entre os territrios irregular, pois sua presena resultado da interao
entre o clima e a fisiografia de cada regio. Sobre esse aspecto, apresentam-se, sobre a
superfcie da Terra, variadas combinaes de mananciais de gua, tanto em superfcie
como no subsolo (VILLIERS, 1999, KARMANN, 1994).
2.1. MANANCIAIS SUPERFICIAIS
Os mananciais superficiais so recursos hdricos disponveis em superfcie, podem ser
ambientes lnticos como lagos e lagoas, caracterizados como ecossistemas aquticos
continentais; ou ambientes lticos, distinguidos por cursos de gua corrente.
Os cursos correntes tm a bacia hidrogrfica como rea de drenagem, demarcada e
orientada por divisores topogrficos e freticos. rea onde captada a gua das
precipitaes, que pelo escoamento superficial direto ou indireto, feito por um ou mais
cursos de gua, converge para um nico ponto de sada (KARMANN, 1994).
2.2. MANANCIAIS SUBTERRNEOS
Os mananciais subterrneos so formados pela infiltrao da gua no solo, em que a
fora gravitacional e as caractersticas geolgicas iro controlar o movimento e o
armazenamento das guas no subsolo (KARMANN, 1994). Toda a reserva de gua
subterrnea do planeta estimada entre 8 a 10 milhes de km, representando cerca de
98% do volume de gua doce em forma lquida. Apesar desses nmeros, Vargas (1999)
defende que a sociedade deve considerar os cursos d'gua superficiais como recursos
24
hdricos "renovveis", enquanto os lagos devem ser apenas "parcialmente renovveis" e
os aqferos como "no renovveis", pois a capacidade de autodepurao da gua
subterrnea lenta e limitada, no resistindo poluio constante. Partindo desse
pressuposto, fundamental o planejamento para a explotao e o manejo das guas
subterrneas.
2.3. CONDIES DE OCORRNCIA DA GUA EM SUBSOLO
Rebouas (2002) afirma que as condies de ocorrncia da gua em subsolo so
dependentes das circunstncias de infiltrao, de fatores geolgicos e da interao
destes com os fatores climticos. Estes ltimos, muito irregulares no espao e no tempo.
Quanto aos fatores geolgicos, a variabilidade muito grande, mas so estes que
condicionam as formas de recarga, armazenamento, circulao, descarga e influenciam
na qualidade das guas.
Portanto, os fatores importantes e fundamentais para determinar a ocorrncia das guas
subterrneas de uma rea so:
(i) Fatores geolgicos regulam as condies fsicas e qumicas e podem ser
classificados em aqferos livres ou no-confinados, confinados ou intermedirios e
fissurais. Podem expressar a extenso, a espessura e a profundidade das camadas dos
aqferos (REBOUAS, 2002).
Segundo Karmann (2000), aqfero uma unidade composta de rochas ou de
sedimentos, de material poroso e permevel, que armazenam significativos volumes de
gua subterrnea em condies de serem exploradas. Rebouas (2002) complementa o
conceito de aqfero, acrescentando que, alm de ser uma rocha porosa e permevel,
deve ser considerado aqfero, mesmo que a rocha esteja ou no saturada, e que,
quando apresenta grande espessura saturada, a sua funo principal poder ser de
produo de gua. Ressalta-se que, o conceito de aqfero est intrinsecamente ligado
ao armazenamento da gua, considerando-o como reservatrio natural.
(ii) Fatores Pluviomtricos esto relacionados quantidade e regime de ocorrncia das
precipitaes em determinada regio.
25
2.4. AQFERO CRSTICO
Um tipo de manancial subterrneo so os aqferos de conduto, caracterizados por
porosidade crstica. A gnese desses aqferos est estreitamente relacionada com a
litologia, geralmente, de rocha calcria. Primeiramente, os aqferos de conduto evoluem
a partir de porosidade de fratura e passam porosidade de conduto (MARINHO, 2006),
quando a circulao da gua faz-se nas fraturas e outras descontinuidades, resulta na
dissoluo do carbonato de clcio pela gua caracterstica hidrolgica fundamental de
sistemas crsticos. Destaca-se que o armazenamento e a circulao das guas esto
condicionados diretamente dissoluo das rochas carbonticas, e esse processo
ocorre, principalmente, por meio das linhas de fraqueza da rocha (CASSETI, 2001).
No amplo sistema de porosidade de condutos de um aqfero crstico, as aberturas
podem atingir grandes dimenses, formando um conjunto de galerias, canais, sales e
rios subterrneos. Todos esses elementos podem fazer parte de uma mesma bacia de
drenagem subterrnea com fluxos difusos, caracterizada por entradas de gua
sumidouros, local onde realizada parte da recarga do sistema, e sadas de gua
ressurgncias (KARMANN, 1994).
Os aqferos crsticos, geralmente, possuem quantidades significativas de gua e,
normalmente, os nveis de gua do aqfero variam muito entre os perodos midos e de
estiagem, chegando a alguns casos a secar nas pores mais elevadas do aqfero. Por
essas peculiaridades hidrolgicas, aqferos crsticos merecem estudos aprofundados
para sua explotao (SILVA, 2006).
Outra caracterstica do ambiente crstico que os condicionantes hidrolgicos e
geomorfolgicos podem variar de um lugar para outro. Assim um aqfero crstico deve
ser analisado de acordo com suas condies geolgicas, hidrogeolgicas e hidrolgicas
locais. importante salientar que modelos pr-concebidos e inspirados em outros
aqferos, normalmente, no so adaptveis a todos os sistemas (SILVA, 2006).
Diante da explotao de gua em aqferos crsticos, devem-se considerar as
fragilidades desses sistemas, pois freqentemente h colapsos nas superfcies dos
terrenos devido circulao interna da gua que desgasta a rocha e acomoda o solo.
Esses eventos esto estreitamente relacionados dissoluo e ao fraturamento das
rochas, e, segundo alguns autores, podem ser acelerados pela explotao demasiada e
contnua nesses tipos de ambientes. Outro aspecto relevante a vulnerabilidade
26
poluio, uma vez que so formaes heterogneas em relao orientao e
freqncia das fraturas, existindo vrios caminhos por onde podem migrar as solues
contaminantes, tornando dispendiosa e impraticvel a descontaminao do aqfero
(KARMANN, 2000, CASSETI, 2001, LLAD, 1970).
2.5. GUA CRESCIMENTO DA DEMANDA
Vrios so os usos da gua pelo homem. Segundo alguns autores e, especificadamente,
Von Sperling (1996), os principais usos so: o abastecimento pblico, o domstico e o
industrial; a irrigao; a dessedentao de animais; a aqicultura; a preservao da flora
e da fauna; a recreao e lazer; a harmonia paisagstica; a gerao de energia eltrica; a
navegao e a diluio de despejos.
A gua tem sido a fora propulsora de toda a civilizao. Primeiramente, pela prpria
composio orgnica do corpo humano, a gua o principal constituinte entre 70% a
75% , fazendo do homem um ser dependente de gua doce para sua subsistncia.
Alm da dependncia biolgica, o homem vem ao longo de sua histria movimentando-se
e expandindo suas atividades por meio da gua (J OHNSON, 1975,). De acordo com
Petrella (2001), a gua um elemento essencial, insubstituvel para a vida do ser
individualmente e coletivamente. Esse autor ainda conclui que, alm do valor biolgico, a
gua tem importncia histrica, econmica, social e cultural.
A histria do homem est intimamente ligada ao uso e dependncia da gua, que
fonte de sobrevivncia e de desenvolvimento. Almeida (1999) argumenta que at um
passado recente, as necessidades de gua cresceram gradualmente, acompanhando o
lento aumento populacional. Porm a industrializao trouxe a elevao do nvel de vida
e o rpido crescimento da populao mundial, alm do subseqente aumento da
demanda por esse bem. Como afirma Tundisi (2003), o crescimento populacional e a
urbanizao, promovidos pelo desenvolvimento industrial, tm sido os responsveis pelo
aumento do consumo de gua, causando problemas locais, regionais e continentais. De
acordo com Urban (2004), a expanso do uso da gua em escala mundial quase
exponencial, uma vez que a populao do planeta dobrou entre 1900 a 1997, e o
consumo de gua cresceu mais de dez vezes. Em 1940, o consumo mdio de gua por
pessoa era de 400 m/ano, e em 1990, j havia chegado a 800 m/ano. Segundo os
prognsticos de Urban (2004), em meio sculo, a populao mundial deve saltar de 6
bilhes para 9,3 bilhes, e dentre essa populao, 4,3 bilhes de pessoas estaro
27
vivendo em pases que no podem garantir a quota diria de gua, para suprir as
necessidades bsicas, estimada em 50 litros por pessoa.
Nessa relao, estabelecida ao longo dos tempos, entre a gua e o homem, surgiram
vrios problemas referentes gesto e manejo da gua, geralmente alicerados na
crescente demanda, na qualidade e na disponibilidade do mineral. Salienta-se que,
principalmente, nessas ltimas dcadas, o homem tem procurado adotar medidas que
amenizem ou controlem os efeitos causados pelo excesso do uso e pelo descaso com os
mananciais.
O conceito da gua como recurso mineral renovvel merece ser revisado frente ao
contexto atual dos usos e explorao, em que a demanda por gua cresce a ritmos mais
acelerados do que as suas prprias taxas de renovao. Nesse contexto, pode-se
anunciar a j referida escassez de gua por todas as partes do mundo, com
conseqentes conflitos econmicos e sociais (REBOUAS, 2002).
O problema de escassez da quantidade de gua, que ameaa a sobrevivncia e o
desenvolvimento econmico, pode estar engendrado no crescimento das atividades
urbanas (REBOUAS, 2002). Como cita Pitton (2003), atualmente tem-se intensificado a
discusso de como se tem transgredido os limites biofsicos do ambiente e como chegou-
se a ponto de colocar em perigo o delicado equilbrio de seus diversos elementos, quer
se trate da atmosfera, das florestas, das bacias hidrogrficas, dos aqferos e oceanos.
Nesse contexto, as preocupaes com o meio ambiente, em geral, e com a gua em
particular, adquirem especial importncia, principalmente devido demanda cada vez
maior das populaes e das economias em crescimento, efeitos de um comportamento
imposto pelos padres de conforto e bem estar da vida moderna.
A partir dessa reflexo, o problema exige inovaes tecnolgicas para as grandes
questes da gesto das guas. necessrio repensar no uso racional, assim como na
expanso urbana, na industrial e na agrcola; no crescimento da populao; na
degradao dos mananciais, principalmente pela poluio e contaminao; na alterao
do ciclo hidrolgico, provocado principalmente pela urbanizao e desmatamento; nas
retiradas excessivas e desperdcios conexos (VILLIERS, 1999, URBAN 2004).
Sendo um recurso renovvel, indispensvel vida, a
gua deve ser objeto de uma gesto e de um controle
28
muito atentos. Aqui tambm se tem a mesma
necessidade de regulao que exige o solo cultivvel,
de maneira a preservar esse recurso qualitativamente
e quantitativamente. Com relao gua; preciso
distinguir entre a utilizao e consumo. Foi-se o
tempo em que a gua era considerada um bem livre.
Ela s o era, alis e a economia poltica que nos
desculpe -, onde era superabundante em relao s
necessidades. A gua, como qualquer outro recurso,
motivo para relaes de poder e de conflitos
(RAFFESTIN, 1993 p: 231)
Para manter a disponibilidade da gua necessrio preserv-la, control-la e aumentar
sua disponibilidade, da a importncia do manejo eficiente da gua em seus diversos
usos, incluindo principalmente o abastecimento pblico.
2.6. O ABASTECIMENTO PBLICO, GESTO E EXPLOTAO SUBTERRNEA DE
GUA
No mbito do abastecimento pblico tem-se o uso mais nobre da gua: a manuteno da
vida, tanto para as necessidades fisiolgicas, quanto para a higiene pessoal e das
habitaes. Segundo Caicedo (1993), podemos definir o abastecimento pblico de gua
como um sistema de abastecimento que pressupe a existncia das seguintes unidades:
captao de gua bruta (in natura), aduo, tratamento, reservao e distribuio.
Contudo a Agncia Nacional da guas complementa o conceito, considerando o
abastecimento pblico de gua como um conjunto de obras, instalaes e servios
dedicados a produzir e distribuir gua potvel para uma comunidade, em quantidade e
qualidade que atendam s necessidades da populao, para fins de consumo domstico,
servios pblicos, consumo industrial e outros usos (ANA, 2007).
Em uma perspectiva histrica, Hogan (1995) destaca a importncia do desenvolvimento
da explotao subterrnea para o abastecimento pblico, desde que a atividade passe a
ser conduzida de modo mais estruturado, uma vez que a captao, o tratamento e a
distribuio da gua subterrnea possuem vantagens econmicas sobre a captao
superficial.
29
A explotao de gua subterrnea vem sendo muito utilizada no pas, numa escala
significativa, sem o devido planejamento, controle e manuteno. importante notar que,
apesar do Brasil possuir considerveis recursos hdricos superficiais, em algumas reas,
o abastecimento pblico alimentado por guas subterrneas bem elevado. A exemplo
do Estado de So Paulo, o maior utilizador, sendo 61% de seus municpios abastecidos,
totalmente ou parcialmente, por aqferos (PINTO, 2003).
Tradicionalmente no Brasil, a gesto das guas prioriza o crescimento econmico e a
subvalorizao da dimenso ecolgica, buscando o aumento da oferta de gua. Esse
modelo caracteriza-se por ser centralizado, de decises finalistas e com limites
administrativos, e, geralmente, tem o Estado como empreendedor (MAGALHES, 2007).
Nessa viso de gerenciamento, as decises so unifocais, de carter imediatista e de
solues isoladas.
Como afirma Magalhes (2007), a gesto da gua deve passar por um processo de
modernizao, com o objetivo do uso sustentvel da gua, com enfoque no maior
envolvimento e participao da sociedade, pois necessria a conscientizao social
para atingir os princpios de uma administrao descentralizada e participativa, em
funo de permitir-se maior abertura aos conhecimentos e opinies dos atores locais no
processo decisrio. Na busca de um equilbrio durvel entre as demandas e a oferta da
gua em uma unidade territorial, deve-se considerar uma abordagem ecossistmica entre
as vrias dimenses dos contextos natural, econmico e humano. Em uma gesto
integrada necessrio um trabalho permanente de acompanhamento e avaliao das
aes. Para tanto, a modernizao e a integrao do gerenciamento dos recursos
hdricos envolve planejamento, que se caracteriza pela sistematizao das informaes e
compatibilizao dos usos mltiplos da gua. Nesse tipo de gerncia, que leva em
considerao as interaes sistmicas do meio ambiente, a operacionalizao um
desafio poltico e institucional.
Em 03 de abril de 2008, o CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) publicou a
resoluo de nmero 396, que dispe sobre a classificao e diretrizes ambientais para o
enquadramento das guas subterrneas e suas principais consideraes so a respeito:
(i) da integrao das Polticas Pblicas de Gesto Ambiental, de Gesto dos Recursos
Hdricos e de uso e ocupao do solo; (ii) do contexto hidrogeolgico e as caractersticas
das guas; (iii) da preveno e controle da poluio; (iv) da promoo qualidade das
guas; e (v) do controle do uso (MMA, 2008).
30
Ao analisar a resoluo 396 do CONAMA, conclui-se que a gesto das guas
subterrneas necessita de uma abordagem adequada, devido complexidade ambiental
de sua ocorrncia e a interao com os vrios usos e a sua prpria segurana.
Atendendo s necessidades de tal complexidade, devem-se escolher outras unidades
espaciais, alm das bacias hidrogrficas, como unidades de gerenciamento, a exemplo
dos aqferos, que podem ser mais eficientes, dependendo do contexto ambiental em
que a regio est inserida (MAGALHES, 2007).
2.7. OS CONFLITOS DA GUA E CRESCIMENTO URBANO
O termo conflito origina-se do latim: conflictu, que, de acordo com a definio de alguns
autores, significa choque, guerra, disputa, luta, pleito, embate das pessoas que lutam,
peleja, discusso, altercao, desordem, antagonismo, oposio, conjuntura, momento
crtico.
Pinheiro (2008) estabelece os conflitos da gua como: (i) conflitos privados, considerados
do cotidiano, como negociaes e administraes no convvio social e profissional e (ii)
conflitos pblicos, caracterizados como aqueles que ocorrem na gesto de recursos
hdricos, em negociaes para alocao de gua, com o intuito de harmonizar-se
desenvolvimento socioeconmico, proteo ambiental e criao de empregos. Conclui-se
que uma situao de conflito ocorre sempre que h momento crtico caracterizado na
disputa entre dois ou mais grupos com poderes de deciso e interesses diversos.
Uma lista de conflitos relacionados gua, mitos, lendas e histria do antigo Oriente
Mdio, publicada na Revista Environment (Gleick, 2008), classifica os conflitos dos
recursos hdricos nas seguintes categorias:
(i) Controle dos Recursos Hdricos (personagens estatais ou no-estatais):
quando a disponibilidade dos recursos hdricos ou o acesso gua esto na
raiz das tenses.
(ii) Instrumento Militar (personagens estatais): quando os recursos hdricos ou
obras hidrulicas so usados, por uma nao ou Estado, como arma durante
uma ao militar.
(iii) Instrumento Poltico (personagens estatais e no-estatais): quando os
recursos hdricos ou obras hidrulicas so usados, por uma nao, Estado ou
personagem no-estatal, para um objetivo poltico.
31
(iv) Terrorismo (personagens no-estatais): quando os recursos hdricos ou os
sistemas fluviais so alvos ou instrumentos de violncia ou coero de
personagens no-estatais.
(v) Alvo Militar (personagens estatais): quando os sistemas de recursos hdricos
so alvos de aes militares de naes ou Estados.
(vi) Disputas sobre Desenvolvimento (personagens estatais e no-estatais):
quando os recursos hdricos ou os sistemas fluviais so uma fonte importante
de contenda no contexto do desenvolvimento econmico e social.
Segundo Pinheiro (2008), esses conceitos so imprecisos, e eventos isolados podem
fazer parte de mais de uma categoria, a depender da percepo e das definies.
medida que os sistemas polticos e sociais mudam e evoluem, essa cronologia e os tipos
de registros e categorias tambm transformam-se e desenvolvem-se (PINHEIRO, 2008).
Os conflitos oriundos da atual crise da gua podem ser atribudos, principalmente,
disponibilidade da oferta diante da crescente demanda. Esse fato decorre devido
intensificao de algum tipo de uso, seja ele domstico, industrial ou agrcola. A crise
pode ser caracterizada justamente pelos conflitos gerados na disputa entre os prprios
usos, advindos do aumento da populao e do crescimento das atividades industriais e
agrcolas. Nesse cenrio, h de se considerar alguns aspectos referentes : (i)
disponibilidade da gua conhecimento sobre a quantidade disponvel de recursos
hdricos e seus limites; (ii) situao cultural comportamento da sociedade frente
intensificao de determinado uso; (iii) organizao do sistema planejamento e
manuteno da infra-estrutura do sistema de captao e distribuio de gua e a
emisso de resduos; (iv) gesto dos recursos hdricos administrao dos recursos para
garantir a sustentabilidade do sistema.
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento econmico induz ao crescimento do consumo de
gua para outras finalidades, como a energia, a irrigao, a produo industrial, dentre
outros, provocando aumento da concorrncia e dos conflitos em torno da apropriao e
do uso de mananciais (VARGAS, 1999).
Destacamos que as presses econmicas, polticas e sociais, que surgiram desta
circunstncia de crescente escassez, qualitativa e quantitativa, de gua em regies mais
urbanizadas e industrializadas, foram aguadas pela progressiva incorporao da
proteo ao meio ambiente na agenda poltica das naes, que alcanou repercusso
32
internacional com o alerta aos limites ecolgicos do crescimento econmico (VARGAS,
1999).
Hoje em dia, metade da populao mundial vive em zonas urbanas e os prognsticos
para as prximas dcadas so de ndices de urbanizao cada vez maiores. Espera-se
que a populao nas cidades cresa em um ritmo alarmante, principalmente em pases
em desenvolvimento. H uma necessidade primordial de equipar, manter e gerenciar os
servios de abastecimento de gua e de saneamento nas reas urbanas. Esse um
assunto dos mais prioritrios para as administraes governamentais frente s questes
ambientais deste novo sculo (PETRELLA, 2001).
Independentemente das alternativas de captao e controle dos usos da gua, o que
vm acontecendo em varias regies so srios problemas de escassez hdrica, e muitos
municpios no Brasil comeam a depender de descargas provenientes de sistemas
situados fora de seus limites territoriais. Essas so circunstncias propcias gerao de
conflitos polticos e sociais. Provavelmente, esse tipo de situao vem do resultado da
falta de empenho poltico dos governos locais ou regionais e, tambm, da falta de
conhecimento tcnico. Esse efeito de importao pode ser minimizado por um eficaz
gerenciamento dos recursos hdricos internos, incluindo o reuso e a busca eficiente do
uso das guas (REBOUAS, 2002, RIBEIRO, 2003).
Entretanto, devido ao contnuo crescimento da populao urbana, a industrializao e a
falta de planejamento, muitas cidades esto sendo obrigadas a importar gua de lugares
cada vez mais longnquos, j que fontes locais de guas superficiais ou subterrneas tm
deixado de satisfazer a demanda de gua, por falta de volume necessrio ou por
contaminao (PETRELLA, 2004). Vargas (1999) define esse problema como de
escassez relativa, ao afirmar que no processo de urbanizao e industrializao h uma
tendncia progressiva e generalizada de declnio no coeficiente correspondente aos
recursos disponveis para utilizao sobre o volume efetivamente utilizado pelos
diferentes tipos de usurios. Essa queda reflete-se no avano dos conflitos de uso e na
captao de gua em mananciais cada vez mais distantes dos centros de consumo,
revelando a manifestao de uma escassez relativa (VARGAS, 1999).
Como foi citado anteriormente, observa-se que a populao mundial duplicou no sculo
XX, tendo a demanda de gua crescido dez vezes (URBAN, 2004). Para os prximos
trinta anos, projeta-se um acrscimo bastante significativo. O consumo de gua tende a
elevar-se com o aumento da populao urbana, mas em ritmo mais acelerado, j que, a
33
cada ano, agrega-se ao Planeta uma populao equivalente a um pas como o Mxico,
de aproximadamente 100 milhes de pessoas. Em dez anos, essa nova populao
representar a demanda de servios de abastecimento de gua de um pas como a
China (VILLIERS, 1999). Alm da preocupao com o abastecimento pblico, deve-se
pensar em outro aspecto relevante: o prprio crescimento populacional gera considervel
aumento na produo agrcola (HIRATA, 2002).
Os efeitos desse processo de urbanizao fazem presso ao aparelhamento urbano,
principalmente face aos recursos hdricos e seu gerenciamento, tanto em termos do
abastecimento de gua para a populao, quanto em saneamento bsico. Como nos
apresenta Tucci (2003), o planejamento urbano no Brasil no considera os aspectos
fundamentais para a ocupao do espao e as conseqncias desse descaso trazem
transtornos e custos tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente (TUCCI, 2003).
A expanso desordenada dos processos de urbanizao e industrializao tem gerado
problemas no abastecimento pblico de gua no Brasil, decorrentes fundamentalmente
da combinao do crescimento exagerado da demanda e da degradao da qualidade,
aliados a falta de conhecimento tcnico e de planejamento. Ao identificar os principais
problemas sobre a gesto da gua no Brasil, destaca-se o baixo nvel tecnolgico e
organizacional dos sistemas, a forma desordenada de uso da gua, a expanso urbana
sobre reas de mananciais, a falta de tratamento ou o lanamento direto de esgotos no
tratados, o desperdcio da gua disponvel, dentre outros (REBOUAS, 2002).
A escassez da gua um dos grandes problemas urbanos, tanto referente a sua
quantidade quanto a sua qualidade, podem acontecer em reas naturais com excedente
hdrico, como o caso de reas urbanas em regies tropicais. A questo da escassez
dos recursos hdricos no est ligada somente a termos geofsicos e quantitativos, uma
questo iminentemente social, relacionada tambm a padres de desenvolvimento
econmico e cultural como o tipo de urbanizao, industrializao e irrigao (VARGAS,
1999).
A escassez hdrica qualitativa e quantitativa constitui fator limitante ao desenvolvimento
de determinada regio, devido a srios problemas de sade pblica, econmicos e
ambientais. As solues para essas questes so complexas e de difcil fim, pois no
dependem somente de aes tecnolgicas ou financeiras, mas, tambm, necessita-se de
gesto racional dos sistemas (REBOUAS, 2002).
34
Assim, como cita Rebouas (2002) em guas doces do Brasil, o que falta, para o Brasil
e o mundo, no gua, mas a determinao de um novo padro cultural que agregue
tica e melhore a eficincia do desempenho poltico dos governos, da sociedade em
geral, das empresas pblicas e privadas. Portanto o que Rebouas sugere uma
mudana de paradigma que ajude os indivduos e as organizaes a enfrentarem as
realidades sociais e ambientais dos recursos hdricos. Se no for dessa forma, no se
pode combater o atual paradoxo da escassez e da abundncia de gua ao mesmo tempo
em certas regies. Essa mudana de pensamento considerada uma prioridade e um
desafio, pois trata de uma nova percepo da gesto das guas por parte das
autoridades e da populao (REBOUAS, 2002).
Diante dessas reflexes sobre a utilizao dos recursos hdricos, pode-se enumerar
alguns dos principais problemas referentes gua:
(i) a demanda de gua crescente e a ritmos mais acelerados do que as taxas de
renovao dos mananciais;
(ii) a queda na qualidade da gua devido s atividades humanas urbanas,
industriais e agrcolas;
(iii) a dependncia de descargas hdricas provenientes de mananciais situados
fora de limites territoriais;
(iv) a falta de investimentos em infra-estrutura e planejamento urbano;
(v) a falta de conhecimento tcnico e de pesquisas;
(vi) a necessidade cada vez maior de equipar, manter e gerenciar os servios de
abastecimento de gua e de saneamento nas reas urbanas.
35
CAPTULO 3
CONTEXTUALIZAO DA REA INVESTIGADA: O MUNICPIO DE SETE LAGOAS
3.1 LOCALIZAO GEOGRFICA
Distante 70 km da capital mineira, o municpio de Sete Lagoas est localizado na Zona
Metalrgica de Minas Gerais, ao norte da Regio Metropolitana de Belo Horizonte, na
rea central do Estado (Figura: 3.1). Sete Lagoas possui uma extenso territorial de
537,48 km.
Os acessos para o municpio podem ser feitos pelas rodovias BR-040, que liga o Rio de
J aneiro ao Distrito Federal, e pela rodovia MG-424 (Estrada Velha), que d acesso a Belo
Horizonte, passando pelos municpios de Prudente de Morais, Matozinhos, Pedro
Leopoldo e Vespasiano.
Figura 3.1 Mapa de localizao do municpio de Sete Lagoas
36
3.2. CARACTERIZAO NATURAL DA REGIO DE ESTUDO
3.2.1. CONTEXTO GEOLGICO REGIONAL E LOCAL
Geologicamente o municpio de Sete Lagoas est inserido dentro da macroestrutura do
Crton do So Francisco, unidade caracterizada por formao e consolidao pr-
cambriana. As rochas intrusivas do Crton do So Francisco, do tipo xenlitos, bsicas,
granitides e gnaisses-migmatitos, formam a base litolgica para o substrato rochoso da
rea de estudo. Entretanto, ao sul do municpio, encontram-se reas expostas do
embasamento cristalino. Essas reas, identificadas pelos mantos de intemperismo tpicos
desse complexo, correspondem a 20% do territrio do municpio de Sete Lagoas
(CABRAL, 1994).
Segundo Schobbenhaus (1984), o Crton do So Francisco base para uma bacia de
gradiente muito fraco e com guas pouco profundas, onde foram sendo depositados
sedimentos essencialmente pelito-carbonticos marinhos sobre a plataforma
epicontinental estvel. Essa deposio sedimentar originou-se posteriormente numa
seqncia de rochas carbonticas, com espessura 600 e 800 metros, denominada de
Grupo Bambu. Devido seqncia de rochas presentes nessa unidade sedimentar,
dividiu-a da base para o topo em distintas formaes: Formao J equita, Formao Sete
Lagoas, Formao Serra de Santa Helena, Formao Lagoa do J acar, Formao Serra
da Saudade e Formao Trs Marias.
Depositada sobre o embasamento e orientando-se no sentido leste-oeste dentro do
municpio de Sete Lagoas, ocorre a seqncia de rochas carbonticas macias ou
laminadas pertencentes Formao Sete Lagoas (Figura: 3.2). Essa camada de rochas
aflora, principalmente, na rea central do municpio e em algumas partes ao sul de forma
isolada e irregularmente distribudas. Possuem composio e granulometria diferenciada
e so constitudas por calcrios cinzentos a negros e dolomitos, possuindo cerca de 200
metros de espessura (CABRAL, 1994, PESSOA, 1996). Essa formao pode ser
subdividida em uma unidade basal Membro Pedro Leopoldo e em uma unidade
superior Membro Lagoa Santa. A unidade basal da formao composta por calcrios
finos, de tonalidades branca a cinza-clara, laminados e algumas vezes marmorizados,
classificando-se como metacalcissiltitos. A unidade superior da formao possui rochas
calcrias de tonalidade escura e alto teor de carbonato de clcio. Essas rochas podem
ser classificadas como metacalcarenitos (PESSOA, 1996).
37
Em relao ao potencial mineral, essas rochas so matrias-primas para a construo
civil e para a correo de solos (CPRM, 1994). Ressalta-se que a Formao J equita a
poro basal do Grupo Bambu em estratigrafia regional, contudo essa formao no
est presente na regio, o que faz com que a Formao Sete Lagoas esteja sobreposta
diretamente no embasamento cristalino, como afirma Pessoa (1996).
A Formao Serra de Santa Helena o terceiro e ltimo pacote rochoso da regio,
compreendendo uma seqncia de rochas metapelticas, com metassiltitos de
tonalidades cinza e com abundantes venulaes de quartzo, com cerca de 200 metros de
espessura (CPRM, 1994). A ocorrncia dessa formao localiza-se em algumas reas na
faixa central leste-oeste, mas, principalmente, em grande rea contnua na regio norte
do municpio, recobrindo a formao subjacente. Esporadicamente, encontram-se
algumas reas aflorantes da Formao Sete Lagoas, representando resqucios de uma
eroso diferenciada, principalmente aos ps da serra homnima (PESSOA, 1996)
(Figura: 3.2).
Com relao s coberturas superficiais, estas se constituem em depsitos colvio-
aluvionares datados do quaternrio.
38
Figura 3.2 - Mapa geolgico do municpio de Sete Lagoas
39
3.2.2. CONTEXTO GEOLGICO ESTRUTURAL
Durante o proterozico mdio, a regio do Crton do So Francisco encontrava-se em
ambiente marinho, caracterizada pela presena de um mar interior raso, que possibilitou
a deposio, a sedimentao e a consolidao de rochas pelticas-carbonticas em
seqncias distintas, formando as rochas do Grupo Bambu (BARTORRELLI, 2004).
A evoluo tectnica da bacia do So Francisco pode ser descrita dentro do ciclo de
Wilson, passando no Proterozico mdio por um perodo extensional com caractersticas
de rifte, ocorrendo falhas normais que afetaram o embasamento e o preenchimento
sedimentar da bacia em formao. Logo aps, a regio de rifteamento submetida a um
processo de inverso de bacia, onde os esforos passam a ser compressivos (CABRAL,
1994). Esse evento tectnico denominado Ciclo Brasiliano, geocronologicamente
datado do Proterozico superior. Est caracterizado pela evoluo de zonas marginais do
crton do So Francisco, representado por faixas de dobramentos a leste e oeste, e
amplas coberturas plataformais (SCHOBBENHAUS, 1984), formando uma tpica bacia
intracratnica que sucederia de oeste para leste em cinco zonas isotrpicas (CPRM,
1994).
Tanto a faixa ocidental, denominada faixa Braslia, quanto faixa oriental, denominada
Espinhao, pouco alteraram as rochas do Grupo Bambu. Encontram-se nas reas
marginais do Crton do So Francisco dobras ou falhas apenas localmente.
Posteriormente a orognese das faixas marginais em fase ativa, a regio desenvolveu o
papel de receptora de sedimentos provenientes das regies mais altas.
Nesse momento, em fase passiva, instala-se a rede de drenagem do Proto-Rio So
Francisco, que fez trabalho erosivo intenso, desenvolvendo a rede de drenagem atual
(CABRAL, 1994, PESSOA, 1996). Esses eventos tectnicos pretritos influenciam no
regime de fluxo subterrneo atravs de falhas e dobras.
3.2.3. ASPECTOS CLIMTICOS
De acordo com a classificao do IBGE (2006a), o clima da regio de Sete Lagoas
caracterizado como tropical semi-mido, com duas estaes bem distintas: inverno
40
ameno e seco, e vero chuvoso e quente. A temperatura mdia do ms mais frio de
18
o
C e do mais quente de 22
o
C.
A mdia normal anual de precipitao total varia entre 1200 a 1500 mm. A distribuio
das chuvas no homognea, com 4 a 5 meses de estiagem, sendo o ms de janeiro o
mais chuvoso (289,0 mm) e o ms de agosto o mais seco (10,1 mm). A mdia da
umidade relativa do ar anual de 70%, ocorrendo baixos valores mdios mensais
durante a estao seca, entre maio e setembro, perodo de menor ndice pluviomtrico.
Na estao chuvosa pode ocorrer, inundaes nas vrzeas e regies mais baixas. Nos
meses mais secos, quando praticamente no chove, as pastagens e a vegetao de
modo geral ficam excessivamente secas, propiciando a ocorrncia de incndios na
vegetao (PMSL, 2006a).
Como essa rea est inserida em ambiente crstico, importante ressaltar que os
estgios da evoluo do relevo, nesses ambientes, esto diretamente ligados
quantidade das chuvas. Nos climas midos ou semi-midos, como o de Sete Lagoas, a
precipitao o principal fator de formao do relevo, atuando, direta ou indiretamente,
devido ao da gua e conseqente dissoluo das rochas em subsuperfcie e
superfcie.
No contexto do espao geogrfico hidroclimtico, Sete Lagoas pode ser considerada em
domnio com excedente hdrico, quando as quantidades de guas precipitadas, na forma
de chuva, so superiores quelas que retornam na forma de vapor, as quais so
resultado dos processos de evaporao e transpirao (PMSL, 2006a).
3.2.4. HIDROGRAFIA
3.2.4.1. GUAS SUPERFICIAIS
O municpio de Sete Lagoas est localizado nos domnios da bacia hidrogrfica do Rio
So Francisco, porm em seu territrio no h cursos de gua com vazo elevada. A
presena de rochas carbonticas proporciona fluxos de gua subterrneos, atravs de
cavernas e condutos. Conseqentemente, na superfcie instala-se um sistema de
drenagem pobre, com uma rede de crregos esparsos e com pequena quantidade de
drenos subordinados (LLAD, 1970, CABRAL, 1994).
41
A Serra de Santa Helena tem o papel de divisor de bacias: a do Rio Paraopeba e a do
Rio das Velhas. A bacia do Rio Paraopeba representada no municpio pelo Ribeiro
So J oo. Essa sub-bacia localiza-se na parte noroeste do municpio e seus afluentes
so os ribeires dos Macacos, Inhama e o Crrego do Lontra. A sub-bacia do Ribeiro
So J oo est localizada no domnio de rochas pelito-carbonticas do Grupo Bambu e
recebe contribuio de surgncias crsticas que fluem no sop da Serra de Santa Helena
(PMSL, 2006a).
Outra sub-bacia constituda pelo Ribeiro J equitib e seus afluentes, que desguam no
Rio das Velhas. A sub-bacia do Ribeiro J equitib est presente em 80% do territrio do
municpio. Seus afluentes, os ribeires Paiol e Matadouro e o Crrego Vargem do
Tropeiro, nascem a cerca de 1000 metros de altitude. A partir de seu curso mdio, o
Ribeiro J equitib percorre terrenos crsticos at despejar suas guas no Rio das
Velhas, no municpio vizinho de J equitib.
O sistema crstico proporciona a presena de lagoas, que em alguns casos esto
interligadas ao regime dos aqferos livres de ambientes pelito-carbonticos, como o
caso das lagoas Grande, dos Porcos, dos Remdios, da Capivara e Feia. J as lagoas
Paulino, Catarina, Boa Vista, Cercadinho, Vapabuu e J os Flix, que se encontram em
reas urbanizadas, no apresentam qualquer ligao com os aqferos (CABRAL, 1994).
3.2.4.2 GUAS SUBTERRNEAS
O municpio de Sete Lagoas no possui um estudo hidrogeolgico sistemtico, norteador
das aes relacionadas captao de gua do subsolo, que possa definir o volume do
fluxo hdrico subterrneo, o potencial e a capacidade dos aqferos, reas de risco, zonas
de recarga, dentre outros. Todas essas informaes so importantes para a anlise em
questo, uma vez que o principal aqfero abastecedor, formado por rochas carbonticas,
possui condies de armazenamento e circulao de gua extremamente difusos, alm
de ser um corpo vulnervel poluio.
A respeito das unidades aqferas encontradas no municpio de Sete Lagoas, tomaremos
como referencial a denominao de Pessoa (1996), que, ao classificar a litologia da
regio, distinguiu trs unidades em seu subsolo: (i) o aqfero crstico, denominado de
aqfero Bambu e subdividido em aqfero Santa Helena e aqfero Sete Lagoas; (ii) o
aqfero fraturado denominado de Cristalino e (iii) o aqfero Granular, de cobertura
inconsolidada, constitudo essencialmente de material proveniente das rochas alteradas
42
do embasamento cristalino e do Grupo Bambu, que se distribuem de acordo com os
processos e agente de transporte por alvios, colvios e elvios (Figura: 3.3).
Figura 3.3 Perfil geolgico
Fonte: Registros de perfurao dos poos do SAAE.
O aqfero Bambu constitui-se na nica fonte de abastecimento de gua para consumo
correspondendo faixa de rochas carbonticas, por onde os fluxos e armazenamento de
gua dissolvem o material rochoso. Essa unidade apresenta uma subdiviso que
corresponde a caractersticas hidrolitolgicas diferente nas Formaes Santa Helena e
Sete Lagoas (Figura:3.2). Apesar de interligarem-se litoestratigramente, perfazendo um
sistema hdrico subterrneo, as rochas pelito-carbonticas da Formao Santa Helena, e
as rochas calcrias da Formao Sete Lagoas, diferenciam-se quanto s condies de
fluxo e armazenamento da gua (PESSOA, 1996).
O aqfero Santa Helena, constitudo por rochas pelticas de composio silto-argilosa,
tendo como representantes as ardsias, os metassiltitos e metargilitos, podendo atingir
cerca de 200 metros de espessura, embora sua mdia seja de 60 metros. Em
profundidade, encontram-se ardsias intercaladas por lentes de calcrio. Nesse aqfero,
43
o processo de infiltrao das guas relevante, sendo responsvel pela agressividade e
poder para a dissoluo das rochas mais profundas. Portanto considerado importante
por motivos de alimentao do sistema e como autodepurador de elementos nocivos
(CPRM, 1994). A rea de recarga coincide com o conjunto serrano Santa Helena -
Tombador em seus flancos oeste e leste. Quanto ao fluxo desse aqfero, caracteriza-se
por ser misto a difuso, em regime predominantemente laminar devido s caractersticas
de sua composio. As vazes apresentadas por poos tubulares perfurados na rea
mostram valores baixos comparados ao volume que infiltra, mostrando a transferncia
para os aqferos mais profundos. Portanto o aqfero Santa Helena funciona localmente
como grande filtro e receptador das guas metericas (PESSOA, 1996).
O aqfero Sete Lagoas, composto por rochas calcrias com espessura mxima de cerca
de 160 metros de profundidade, aflora localmente, evidenciando processos de
carstificao superficial e desenvolvimento de cavernas de dimenses considerveis
(PESSOA, 1996). Geograficamente, o aqfero distribui-se por toda a poro centro-
meridional do municpio e predomina em uma faixa leste-oeste. O fluxo subterrneo pode
ser caracterizado como de regime turbulento, devido circulao de gua em meio ao
calcrio. Geralmente, a dissoluo da rocha macia inicia-se em zonas onde se encontra
a fraqueza da rocha, evidenciada por fraturas que vo sendo alargadas pela dissoluo;
ou tambm, por falhamentos, por onde os processos desencadeiam-se ao largo dos
planos de falhas. Essas so as zonas favorveis circulao de gua subterrnea em
ambiente crstico (LLAD, 1970, CPRM, 1994, PESSOA, 1996).
De acordo com Pessoa (1996), h duas condies para o controle do armazenamento de
gua no aqfero Sete Lagoas. A primeira, a zona de recarga que corresponde s reas
de exposio rochosa e a faixa do conjunto serrano Santa Helena Tombador. O
controle dos fluxos subterrneos depende das reas de captura que alimentam as
fissuras e fraturas. A segunda est relacionada a reas de carste encoberto pelo prprio
manto de alterao ou por rochas adjacentes solveis. Devido s caractersticas
encontradas na rea do aqfero Sete Lagoas, Pessoa (1996) afirma que h gua
suficiente para manter os condutos repletos e que os excedentes direcionam-se de
acordo com as estruturas, dando origem s surgncias.
O aqfero Cristalino, composto por rochas granitides diferenciadas de carter
polimetamrfico, aflora principalmente no sul do municpio, onde h grande variao
topogrfica. Eventos tectnicos produziram fraturas e falhas que podem ser alimentadas
por uma zona saturada livre, com espessura que pode atingir 35 metros de solos. Dessa
44
forma, a contribuio das guas das chuvas significante, pois alimenta os aqferos por
meio de percolao, com recarga continua nos vales encaixados pelo controle da
estrutura da drenagem (PESSOA, 1996). O fluxo subterrneo, nessa unidade, est
condicionado ao sistema de falhas, fraturas e fissuras das rochas cristalinas.
Vale salientar que, o Aqfero Sete Lagoas bastante vulnervel poluio, uma vez
que a cidade repousa sobre o mesmo e no conta com tratamento de esgoto domstico e
industrial adequado, utilizando a rede de drenagem natural como receptor de rejeitos, que
podem infiltrar at as camadas profundas do subsolo.
Foram elaborados dois mapas com a malha urbana do municpio de Sete Lagoas em
momentos distintos, em 1940 e 2008, assentadas sobre as unidades aqferas da regio
(Figura: 3.4).
Utilizando o mapa da geologia local, desenvolvido pela CPRM durante a realizao do
projeto VIDA (Viabilidade Industrial e Defesa Ambiental), e a malha urbana referente a
1940 e 2008, pode-se visualizar e comparar informaes da expanso urbana sobre o
aqfero carste. Nota-se que, em 1940, a rea urbana estava assentada totalmente sobre
o Aqfero Sete Lagoas. Posteriormente, devido expanso da malha urbana em direo
ao norte do municpio, a cidade ocupou quase que totalmente a abrangncia do Aqfero
Sete Lagoas, nessa poro do municpio, e foi se expandindo sobre o Aqfero Santa
Helena, o qual ultrapassa os limites das bacias hidrogrficas.
45
Figura 3.4 Mapas da malha urbana e contexto geolgico Perodo de 1940 e 2008.
46
3.3. EXPANSO E CRESCIMENTO URBANO
O Ciclo do Ouro representou o marco inicial de povoamento em Minas Gerais. Todavia a
regio de Sete Lagoas, por no possuir ouro em abundncia, somente teve consumada
sua ocupao no final desse ciclo (AZEVEDO, 1963).
Com o acrscimo populacional e a constituio de ncleos de povoamento na regio das
minas, durante o sculo XVIII, estabeleceu-se entre Minas Gerais e Estados vizinhos
So Paulo, Rio de J aneiro e Bahia , intenso fluxo comercial com o objetivo de suprir as
necessidades crescentes de gneros alimentcios e produtos variados. Os caminhos de
ligao entre a regio mineradora e os centros exportadores passaram a ser trilhados por
tropeiros, mercadores e boiadeiros, a fim de realizar seus negcios. Vrios eram os
caminhos que ligavam Minas Gerais Bahia, sendo o caminho que acompanhava as
margens do Rio So Francisco e de seus afluentes o mais percorrido pelas boiadas. Ao
longo desse percurso, surgiram pontos de pouso, roas, pastagens e fazendas, que,
posteriormente, transformaram-se em vilas e cidades. A incipiente Sete Lagoas era ponto
de pouso dessa rota (ANDRADE, 2004). Porm esse comrcio entrou em declnio na
segunda metade do sculo XVIII, em funo do menor rendimento das minas e, tambm,
do aparecimento de ncleos locais de produo, como o caso da prpria regio de Sete
Lagoas, que atravs da agricultura e da criao de gado comeou a ser ocupada no final
do sculo XVIII. As terras pertencentes ao municpio faziam parte de uma fazenda
Fazenda Sete Lagoas , cujas terras pertenciam comarca de Sabar (AZEVEDO, 1963,
PMSL, 2006b). Essa fase est ligada ao Ciclo do Ouro, no tendo grandes
repercusses no povoamento e ocupao da regio.
A segunda fase de povoamento teve como marco histrico a chegada da Estrada de
Ferro Central Brasil, em 1872. O advento da ferrovia teve conseqncias de grande
importncia para a economia da regio que, at ento, apresentara uma evoluo
econmica lenta baseada na agricultura, na pecuria e no modesto comrcio (PMSL,
2006b). Dentre as conseqncias da chegada dos trilhos, pode-se citar as mais
importantes: a ampliao do comrcio e das atividades industriais destacando-se a
indstria txtil , o aumento populacional, o crescimento urbano, o progresso na
agricultura e na pecuria (AZEVEDO, 1963). Em decorrncia desses fatos, Sete Lagoas
foi elevada a municpio no ano de 1923 (PMSL, 2006b).
Apesar da populao de Sete Lagoas ter sofrido considervel aumento, no h dados
populacionais que possibilitem acompanhar a evoluo quantitativa da populao, pelo
47
menos at a dcada de 1950. Em virtude das sucessivas e constantes divises
administrativas, difcil seguir o desenvolvimento da populao e formular sries
histricas, uma vez que, at o referido momento, a cidade sofreu desmembramentos com
o objetivo de originar novos distritos e municpios. Conseqentemente, esses eventos
alteraram sua populao oficial. Para tal levantamento, seriam necessrios dados mais
detalhados. Entretanto, como afirma Azevedo (1963), a constante criao de novos
distritos e municpios nessa regio, durante o sculo XX, deve ser considerada como um
indcio de aumento populacional de grande importncia.
Durante o perodo de 1890 a 1940, Sete Lagoas destaca-se como centro de influncia da
poro norte da Zona Metalrgica. Segundo Leloup, citado por Azevedo (1963), a cidade
classificava-se, j naquela poca, como grande centro regional intermedirio. De acordo
com os levantamentos de Azevedo (1963), a populao estimada de Sete Lagoas em
1920 era de 3.980 habitantes e, em 1940, passou para 10.537 habitantes. Vale ressaltar
que esses nmeros referem-se somente a estimativas populacionais da sede.
A ferrovia e a construo da Capital do Estado a 70 km de distncia de Sete Lagoas
exerceram grande influncia no crescimento das atividades econmicas do municpio. No
perodo de 1890 a 1940, a economia do municpio estruturava-se basicamente na
agricultura, bem como contava com diversos estabelecimentos agrcolas de considervel
movimento. Os principais produtos eram o caf, o acar, o algodo, a mandioca e
cereais, que abasteciam em parte o mercado da nova Capital do Estado e de outros
centros urbanos mais afastados. (AZEVEDO, 1963, NOGUEIRA, 2003).
No caso da indstria, antes mesmo da construo da estrada de ferro, j havia sido
implantada na cidade a indstria txtil, que se instalou mesmo sem comunicaes e
transportes adequados. Todo o material necessrio foi importado dos Estados Unidos e
da Inglaterra e transportados por animais, o nico meio de transporte possvel na poca
entre os portos e o interior do Brasil. Com o inicio das atividades da ferrovia, a situao
modifica-se. A facilidade de transporte possibilita no s a ampliao das fbricas
existentes, como tambm o surgimento de novos empreendimentos, principalmente as
pequenas indstrias de beneficiamento do leite e seus derivados, e, tambm, de produtos
agrcolas (AZEVEDO, 1963, PMSL, 2006b).
A partir de 1903, a atividade pecuria em Sete Lagoas, principalmente, aquela voltada
para a indstria do leite e derivados, comea a ter um papel de destaque no cenrio
48
estadual, quando se intensifica a produo de gado no municpio, com a criao de cerca
de 30.000 cabeas (AZEVEDO, 1963).
Essa fase de ampliao das atividades comerciais est ligada chegada dos trilhos da
Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) em 1896, que, posteriormente, foi
transformada em Rede Ferroviria Federal S/A (RFFSA). O fato que a instalao da
ferrovia possibilitou a gerao de novos empregos, o desenvolvimento da agricultura, da
pecuria e da indstria txtil (NOGUEIRA, 2003). Foi nesse perodo que:
... a cidade conheceu sua primeira e expressiva
expanso urbana e o padro de vida da populao
melhorou (NOGUEIRA, 2003 p: 22).
J untamente com a indstria txtil, a atividade pecuria colocou o municpio em destaque
regional, sendo considerado o centro da segunda bacia leiteira do Estado, consolidando a
indstria de laticnios a partir da dcada de 1950. Alm dessas atividades, h ainda
destaque para as indstrias do beneficiamento e transformao do calcrio (NOGUEIRA,
2003).
A partir de 1950, o municpio de Sete Lagoas intensifica o processo de industrializao,
fazendo parte da estratgia do Governo Estadual de incentivar o crescimento da indstria
do ferro-gusa no oeste de Minas Gerais (NOGUEIRA, 1999). De acordo com Nogueira
(2003), no processo de desenvolvimento pelo qual o Brasil passou nos anos 1950,
destacou-se a indstria automobilstica e a da construo civil, que demandaram grandes
quantidades de ferro e ao para variados fins. Porm o apogeu da indstria do ferro-gusa
em Sete Lagoas deu-se na dcada de 1980, quando a cidade transforma-se no maior
centro guseiro do Pas. Nesse perodo, a cidade tem a sua maior expanso
socioeconmica e transforma-se em um plo microregional, dando-lhe status de cidade
mdia (NOGUEIRA, 2003).
O desencadeamento desse processo de industrializao est ligado a uma srie de
condies histricas e geogrficas favorveis, como a proximidade de Belo Horizonte e
do Quadriltero Ferrfero, a construo de novas vias de transporte, o fcil acesso s
matrias primas utilizadas pelas indstrias locais, a disponibilidade de mo-de-obra
49
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1906* 1920* 1940* 1950* 1960 1970 1980 1991 1996 2000 2005
(*) Dados apr oxi mados
Cr escimento Populacional -
Municpio de Sete Lagoas/MG
barata, de gua e de energia eltrica, alm de seu posicionamento histrico como plo
regional (AZEVEDO, 1963, NOGUEIRA, 2003, SEBRAE, 1995).
O municpio de Sete Lagoas inicia o sculo XX com aproximadamente 8.000 habitantes
e, atualmente, conta com cerca de 220.000 habitantes (Tabela: 3.1 e Grfico: 3.1). A
cidade foi recebendo parcelas do fluxo populacional das cidades circunvizinhas
(SEBRAE, 1995), fenmeno estreitamente relacionado com o advento da urbanizao do
Brasil, principalmente a partir da dcada de 1950. Tal evento evidencia o papel de Sete
Lagoas na hierarquia urbana e a sua importncia dentro do Estado de Minas Gerais
(NOGUEIRA, 2003). A partir da dcada de 1950 at o inicio do sculo XXI, o crescimento
da populao foi bastante acelerado e, de forma geral, superior aos ndices de Minas
Gerais e do Brasil. De acordo com o Censo Demogrfico realizado pelo IBGE em 2000,
no municpio de Sete Lagoas houve, durante o perodo de 1980 a 2000, um crescimento
populacional anual acima dos 2,5%. Esse ndice superior ao crescimento estadual
anual, que no alcanou os 2,0% no mesmo perodo (SEBRAE, 1995, NOGUEIRA, 2003,
PMSL, 2006a).
Tabela 3.1 - Evoluo da populao rural e urbana de Sete Lagoas Perodo 1906 a 2006
Anos 1906 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 2005
Total da
populao
8.000* 3.980* 10.537* 24.000* 41.656 66.585 100.618 144.014 167.340 184.871 215.069
Populao
Urbana
** ** ** ** ** 61.142 94.592 140.125 163.292 180.366 **
Populao
Rural
** ** ** ** ** 5.443 6.026 3.889 4.048 4.505 **
(*) Dados aproximados (**) Sem informao.
Fonte: IBGE - Censos Demogrficos, 1980, 1991 e 2000 e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 2006b.
Grfico 3.1 Crescimento populacional entre 1906 a 2008 Municpio de Sete Lagoas/MG
Fonte: IBGE - Censos Demogrficos, 1980, 1991 e 2000 e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 2006a.
50
81,2%
82,0%
92,0%
Brasil Minas Gerais Sete Lagoas
Gr au de Ur banizao - Ano 2000
Segundo relatrio encomendado pela Prefeitura Municipal para o Plano Diretor 2006, o
municpio vem apresentando, desde a dcada de 80, elevada taxa de urbanizao. Esse
fato pode estar estreitamente relacionado com o contnuo fluxo populacional recebido de
cidades vizinhas, do norte de Minas Gerais e at mesmo de outras partes de Estado e,
tambm, de pequenos contingentes de outros Estados. Comparativamente com os graus
de urbanizao do pas (81,2%) e do estado (82,0%), para o ano de 2000, o municpio
apresenta para o mesmo perodo um grau de urbanizao mais elevado (92%) (PMSL,
2006a) (Grfico 3.2).
Grfico 3.2 Grau de urbanizao Brasil, Minas Gerais e Sete Lagoas Ano 2000
Fonte: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Plano Diretor 2006.
Apesar do contnuo crescimento da populao de Sete Lagoas, que, entre 1980 e 1991,
alcanou um ndice de 3,31% ao ano, houve, entre 1996 a 2000, um decrscimo nesse
ndice para 2,52% ao ano. Ainda assim, esse um nmero que proporciona um elevado
acrscimo populacional. Considerando a srie histrica com dados populacionais e o
ritmo de crescimento da populao setelagoana, foi possvel elaborar a projeo da
populao at o ano de 2030 (Grfico 3.3), por meio de correlao matemtica dos
dados.
Como a tendncia o contnuo aumento na populao, alcanando aproximadamente
390.0000 habitantes em 2030, haver uma demanda cada vez maior por polticas e
aes especficas, tais como: abastecimento pblico de gua, saneamento, moradia,
educao, reas de lazer, transporte coletivo e empregos.
51
Evoluo da Populao do Municpio de Sete Lagoas/MG
Perodo 1940 - 2030
10.000
110.000
210.000
310.000
410.000
1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 2020 2030
H
a
b
i
t
a
n
t
e
s
Grfico 3.3 Crescimento populacional entre 1906 a 2008 Municpio de Sete Lagoas/MG
Baseado em dados das fontes: IBGE - Censos Demogrficos, 1980, 1991 e 2000 e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas,
2006a.
Como conseqncia do grande crescimento populacional em Sete Lagoas durante o
sculo XX, ocorreram profundas mudanas na organizao do espao. Tais mudanas
foram sentidas, principalmente, a partir da dcada de 1980, quando a malha urbana
passa por processo de transformao com grandes alteraes. Nesse perodo, de 1980
at meados de 1990, a cidade ganha configuraes de cidade mdia, assim como vrias
cidades de mesmo porte. Esse fenmeno, denominado por Nogueira (1999) de
descentralizao da economia, est relacionado com a instalao de novas indstrias
no interior do pas.
O crescimento acelerado da malha urbana, no sentido norte do municpio, modificou todo
o traado urbano da cidade, em um espao de tempo de 68 anos (Figura: 3.5), fase que
Sete Lagoas obteve um crescimento populacional expressivo, e, nas ltimas duas
dcadas, maior que aquele verificado na Regio Metropolitana de Belo Horizonte
(SEBRAE, 1995).
Em Sete Lagoas, tais alteraes urbanas tm como marco a transferncia da antiga linha
frrea, que no incio da dcada de 1990 ainda atravessava a rea central da cidade, para
uma rea perifrica, inaugurando um perodo de relevantes obras, principalmente de
novos bairros, avenidas sanitrias, grandes vias de circulao, dentre outras.
Coincidentemente, nesse momento de acrscimo populacional e de modificaes
urbansticas, h o declnio da indstria siderrgica devido competitividade do mercado
52
exterior, descapitalizao dos empresrios locais e a fatores internos relacionados aos
preos. Dessa forma, instalam-se atividades industriais de outros segmentos na cidade
automobilstica e autopeas, alimentcia, material de limpeza, bebidas, ptica, dentre
outras - diversificando o segmento industrial e intensificando a industrializao no
municpio (NOGUEIRA,2003). nesse perodo que,
Sete Lagoas entra em seu terceiro estgio de
desenvolvimento econmico. Trata-se da
diversificao industrial, mas, com fortes tendncias
para a concentrao nos setores automotivo e de
autopeas (NOGUEIRA, 2003 p: 67).
Porm essa diversificao industrial, iniciada na dcada de 1990, somente
proporcionada pelo fato de a cidade possuir vantagens competitivas, como afirma
Nogueira (2003), que se caracterizam pela duplicao da rodovia BR-040 (trecho entre
Belo Horizonte e Sete Lagoas); pela localizao estratgica (proximidades de aeroportos,
estradas e mercado consumidor); pelas possibilidades de encontrar mo-de-obra
qualificada; pelos bons ndices de qualidade de vida; pelos baixos ndices de
sindicalizao do operrio local; alm de possuir um parque siderrgico e a pecuria
leiteria consolidados, reafirmando-se como plo regional.
53
Figura 3.5 Comparao da malha urbana de Sete Lagoas Perodo de 1940 e 2008.
54
CAPTULO 4
AS CARACTERSTICAS DA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO PBLICO DE GUA E HISTRICO DA CAPTAO DE GUA DO
MUNICPIO DE SETE LAGOAS.
4. 1. INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PBLICO DE GUA
DO MUNICPIO DE SETE LAGOAS
4.1.1. CARACTERSTICAS DO SAAE
O Servio Autnomo de gua e Esgoto (SAAE) uma autarquia municipal, criada pela
Lei 1.083/65, de 23 de dezembro de 1965, porm passou a ter plena atividade em 1969.
Com receita prpria e sem fins lucrativos, o responsvel pelos servio pblico de
abastecimento de gua de Sete Lagoas. Sua receita referente ao ano de 2007 foi de R$
24.218.000,00 (vinte e quatro milhes e duzentos e dezoito mil reais), proveniente do
recebimento de tarifas de gua e esgoto, sendo destinada ao pagamento de despesas
administrativas e de funcionrios, manuteno do sistema de gua e esgoto e para
investimentos no prprio sistema.
O SAAE conta com um Diretor-Presidente, nomeado pelo Prefeito Municipal, e com,
aproximadamente, 70 funcionrios trabalhando no setor administrativo e 430
funcionrios, no setor operacional. Desde sua fundao, j teve 28 diretores-presidentes.
Em 1968, foi criado o rgo consultivo e deliberativo do SAAE, o Conselho Municipal de
gua e Esgoto CMAE, composto por membros consultores, que se renem
mensalmente para a apreciao de matrias administrativas e financeiras.
As funes do SAAE como autarquia municipal so: (i) fazer estudos, projetos e executar
obras de implantao, ampliao e manuteno dos sistemas pblicos de abastecimento
de gua, de coleta de esgotos e de drenagem pluvial; (ii) operar e manter os sistemas
mencionados; e (iii) fiscalizar e executar obras de saneamento bsico, realizadas atravs
de convnios entre o municpio e o governo federal.
55
4.1.2. POOS PROFUNDOS
Como o sistema de captao de gua do municpio totalmente subterrneo,
atualmente, o SAAE conta com 103 poos, entre 94 poos ativos (Tabela 4.1), e 7 poos
reservas (Tabela 4.2), com mdia de 150 metros de profundidade, concentrados,
principalmente, no Aqfero Sete Lagoas (Figura: 4.1). Dentre esses poos, somente 53
tm outorga concedida pelo IGAM, os outros esto em processo de outorga. Alm
desses, outros 22 poos foram, formalmente, desativados permanentemente pelo IGAM
em setembro de 2007, por estarem comprometidos pela falta de adequao s normas
de segurana (Tabela 4.3). O SAAE admite que seu cadastro de poos ativos esteja
desatualizado.
56
Figura 4.1 Localizao dos poos do SAAE, ano de 2008.
57
Tabela 4.1 Relao dos poos ativos destinados ao Servio Pblico de gua de Sete Lagoas
N POO TUBLAR LOCALIZAO ESTAO ELEVATRIA
PRODUO
(Litros/ h)
01 Alvorada I Rua Clara Nunes, 895. Injeo Direta 7.000
02 Alvorada II Avenida Israel Pinheiro, 613 (Fazenda). Injeo Direta 6.000
03 Areias Areias Reservatrio Areias 6.000
04 Avenida das Naes Avenida das Naes, 57. Avenida das Naes 36.000
05 Avenida Perimetral - Arizona Avenida Perimetral - J ardim Arizona Sem informaes 25.000
06 Barreiro I Fazenda Luiz Felipe Reservatrio Siderrgica 15.000
07 Barreiro II Rua 10, 143 Injeo Direta 12.000
08 Belo Vale I Fazenda Goiabeiras Fazenda Goiabeiras 5.000
09 Belo Vale III Fazenda Goiabeiras Fazenda Goiabeiras 12.000
10 Boa Vista I Maurlio J . Peixoto, S/N Injeo Direta 70.000
11 Boa Vista II Maurlio J . Peixoto, 1596 Injeo Direta 35.000
12 Boa Vista III Avenida Maurlio J . Peixoto, S/N. J os Custdio 45.000
13 Bairro CDI II Rua 10 Reservatrio 25.000
14 CDI - Poo I Avenida Norte, 500 (Meio do ptio). CDI 70.000
15 CDI - Poo II Avenida Norte, 500 (Porto de entrada). CDI 220.000
16 CDI - Poo III Avenida Norte, 500 (Fora do Ptio). Tanque Qumico 40.000
17 Cercadinho
Engenheiro J os Evangelista Frana,
455.
Vila Vicentina 10.000
18 Chacreamento Goiabeiras Rua A Sem informaes 6.000
19 Chacreamento Pedras do Moinho Beira do Aude Reservatrio 12.000
20 Cidade de Deus I Estrada Funilndia Reservatrio Cidade de Deus 100.000
21 Dona Dora Rua Bernardo Alves Costa, 600. Dona Dora 14.000
22 Eldorado Honorina Pontes Sem informaes 6.000
23 Eldorado Perimetral / Ouro Branco Eldorado 45.000
24 Esmeraldas II Rua Alfredo C. Santiago, 175. Injeo Direta 7.000
25 Estncias Ecolgicas Fazenda Velha Sem informaes
3.500
26 Estiva Estiva Reservatrio Estiva 15.000
27 Fbrica de Manilhas Rua Alcides Fonseca Injeo Direta 40.000
28 Fazenda Velha Rua 2, 1804 Injeo Direta 9.000
29 Horta J .K. Avenida Arquimedes, S/N Injeo Direta 35.000
30 Horta Montreal Rua Geraldina Fonseca Sem informaes 18.000
31 Hospital Municipal Rua Salvador, 112 Avenida das Naes 30.000
32 Itapo Rua Araponga, 141 Itapo 60.000
33 IVECO I Rodovia Santana Pirapama Reservatrio IVECO 45.000
34 J ardim Primavera Avenida 05 Injeo Direta 50.000
35 J os Custdio I Rua Emlia, 56 J os Custdio 90.000
36 J os Custdio II Rua Emlia, 56 J os Custdio 30.000
37 Lagoa Catarina Avenida 21 de Setembro, 712. Injeo Direta 30.000
38 Lontra II Rua Filomena F. Figueiredo, 1090. Reservatrio Lontra 4.000
39 Lontrinha II Fazenda Antonauto Reservatrio Lontrinha 3.000
40 Mangabeiras Floripes G. Cotta Mangabeiras 11.000
41 Manoa Rua Itaipu, S/N Injeo Direta 9.000
42 Melancias Rua das Melancias, 620. Iporanga 14.000
43 Monte Carlo IV Avenida Renato Azeredo Monte Carlo 120.000
44 Montreal II Rua J Reservatrio 12.000
45 Morro Redondo II Morro Redondo Reservatrio Morro Redondo 2.000
46 Mucuri I Rua Major Castanheira, 65. Mucuri 92.000
47 Mucuri II Rua Major Castanheira, 65. Mucuri 60.000
48 Nery I Avenida Castelo Branco, 1500. Nery 35.000
49 Nery II Rua J oo Damasceno, 774. Nery 70.000
58
50 N. Sra. de Lourdes Avenida Padre Tarcsio, S/N. Reservatrio 15.000
51 Pedras Rua Monte Cristo Reservatrio Pedras 7.000
52 Policlnica Rua Felipe Vasconcelos Mucuri 40.000
53 Praa de Esportes I Rua Felipe Vasconcelos Mucuri 60.000
54 Praa de Esportes II Rua Felipe Vasconcelos Mucuri 50.000
55 Praa de Esportes III Rua Major Castanheira Mucuri 38.000
56 Praa de Esportes IV Rua Major Castanheira Tiro de Guerra 51.000
57 Praa de Esportes V Rua Nicola Lanza, 109. Tiro de Guerra 48.000
58 Progresso Rua D. J oo VI, 480 Progresso 60.000
59 Quintas da Varginha I Rua 19, 70 Quintas da Varginha I 3.200
60 Quintas da Varginha II Rua Um, 417 Quintas da Varginha II 6.900
61 Quintas da Varginha III Rua Um, 417 Quintas da Varginha III 4.700
62 Quintas do Lago I Rua Pao So Carlos, 70. Injeo Direta 6.000
63 Quintas do Lago II Rua Pao So Carlos, 70. Reservatrio Quintas do Lago 9.000
64 Quintas do Paraso Fazenda Velha Sem informaes
11.000
65 Recanto do J acar I Avenida Alberto Moura, 4265. Recanto do J acar 25.000
66 Recanto do J acar II
Avenida Alberto Moura, 4265 (Atrs
Clube).
Recanto do J acar 60.000
67 Riacho do Campo II Rua Santa Rita Duro Injeo Direta 5.000
68 Rodoviria Rua Dr. Sebastio Mascarenhas, 105. Injeo Direta 40.000
69 Santa Luzia Rua Santa Luzia, 64. J os Custdio 65.000
70 Santo Antnio I Avenida Boqueiro, 1.469 Santo Antnio 100.000
71 Santo Antnio II Avenida Boqueiro, 1.469 Santo Antnio 30.000
72 So Geraldo I Rua J os Antnio Chamon, S/N. So Geraldo 36.000
73 So Geraldo II Rua J os Antnio Chamon So Geraldo 46.000
74 Silva Xavier Silva Xavier Reservatrio Silva Xavier 6.000
75 Silva Xavier II Em frente Igreja Reservatrio Silva Xavier 10.800
76 Sindicato Rural Rua Dallas, 120 Injeo Direta 18.000
77 Sinh Andrade II Avenida Renato Azeredo Sinh Andrade 60.000
78 Sinh Andrade III Avenida Renato Azeredo Sinh Andrade 70.000
79 Tefilo Otoni I J air Sales, S/N Tefilo Otoni 51.000
80 Tefilo Otoni II J air Sales, S/N Tefilo Otoni 12.000
81 Tefilo Otoni III J air Sales, S/N Tefilo Otoni 10.000
82 Tefilo Otoni IV Avenida Perimetral, S/N Tefilo Otoni 47.000
83 Tiro de Guerra I Rua Professor Abeylard, 182. Tiro de Guerra 40.000
84 Tiro de Guerra II Rua Professor Abeylard, 250. Tiro de Guerra 51.000
85 Vapabuu Saturno L. Verdolin, 181 Vapabuu 65.000
86 Vila Vicentina Floripes G. Cotta, 784 Vila Vicentina 10.000
87 Wenceslau Brs I Wenceslau Brs - Igreja Elevatria 6.000
88 Wenceslau Brs II Wenceslau Brs Injeo Direta 120.000
89 Recanto do J acar IV Estrada p/ Mata Grande Sem informaes Aguarda teste
90 Horta Vapabuu Final da Horta Vapabuu Sem informaes Aguarda teste
91 IVECO VI (I) Dentro da IVECO (porto fundos) Sem informaes 89.000
92 IVECO VII (II) Dentro da IVECO (aude) Sem informaes 98.000
93 Wenceslau Braz IV Poo da estrada Sem informaes Aguarda teste
94 Esmeraldas II Poo da lagoa (Poo Recuperado) Sem informaes 122,901
TOTAL 3.297.223
Fonte: Cadastro do SAAE, 2008.
59
Tabela 4.2 Relao dos poos reservas do Servio Pblico de gua de Sete Lagoas
N POO TUBULAR LOCALIZAO ESTAO ELEVATRIA
PRODUO
(Litros/ h)
01 Belo Vale II Faz. Goiabeiras Faz. Goiabeiras 9.000
02 Cidade de Deus II Estrada Funilndia Sem informaes 20.000
03 IVECO III Rodovia Santana Pirapama Sem informaes 242.000
04 IVECO IV Rodovia Santana Pirapama Sem informaes 150.000
05 Lagoa Nova - MG-238 Atrs da Iveco Sem informaes 12.000
06 Vrzea Rua A - Alto Coqueiral Sem informaes 22.000
07 Wenceslau Brs III Wenceslau Brs Sem informaes 80.000
TOTAL 535.000
Fonte: Cadastro do SAAE, 2008.
Tabela 4.3 Relao dos poos desativados do Servio Pblico de gua de Sete Lagoas
N POO TUBULAR LOCALIZAO
01 Centro Comunitrio * Rua Cascalho Rico, 839.
02 Eldorado Elevatria
03 Esmeraldas Antigo Depsito Antarctica
04 IVECO II Rodovia Santana Pirapama
05 IVECO V Rodovia Santana Pirapama
06 Lagoa Catarina II Avenida 21 de Setembro
07 Lontra I Lontra
08 Lontrinha I Lontrinha
09 Mata Grande Rua J os Geraldo F. Nogueira.
10 Monte Carlo I Avenida Renato Azeredo
11 Monte Carlo II Avenida Renato Azeredo
12 Monte Carlo III Avenida Renato Azeredo
13 Morro Redondo Morro Redondo
14 Paredo Sem informaes
15 Perimetral / Ouro Branco Ouro Branco
16 Riacho do Campo I Rodovia Cachoeira
17 So J orge Rua J oo Mendes
18 Sinh Andrade I Avenida Renato Azeredo S/N
19 Tefilo Otoni V Rua J air Sales, S/N.
20 Verde Vale ** Rua J oo Estanislau Silva
21 Z Flix I
Avenida Macio Reis (Associao
Servidores)
22 Z Flix II
Avenida Macio Reis (Associao
Servidores)
Fonte: Cadastro do SAAE, 2008.
4.1.3. POOS DE TERCEIROS
Alm dos poos destinados ao servio pblico de abastecimento de gua de Sete
Lagoas, h os poos pertencentes a terceiros, como siderrgicas, fbricas, postos de
gasolina, hospitais, dentre outros. No cadastro do SAAE, h uma relao em que
60
Poos perfurados por terceiros
(empresas e particulares)
em Sete Lagoas entre os anos de 1960 e 2006
1
15
30
36
1
1960 1970 1980 1990 2000
constam 109 poos particulares (Anexo: Relao de poos perfurados por particulares e
empresas em Sete Lagoas). Porm esses dados esto desatualizados, pois,
cronologicamente, o ltimo poo perfurado datado de 2006, ano em que h somente
um registro. O prprio SAAE admite que a lista esteja desatualizada e no h o controle
sobre a perfurao e produo de poos de terceiros, pois entende que funo do
IGAM. Porm os poos, que fornecem gua para a Fbrica da IVECO, so de
responsabilidade do SAAE. Entretanto, como a cidade vem recebendo novos
estabelecimentos, principalmente do setor secundrio, no h dvidas que novos poos
foram perfurados nesses ltimos anos.
As perfuraes destinadas a atender demanda industrial e ao setor de servios foram
feitas de maneira gradativa e ascendente durante as ltimas dcadas do sculo XX,
confirmando o crescimento econmico da cidade nesse perodo (Grfico 4.1). Entretanto,
ao observar o grfico de perfuraes de poos particulares, nota-se que h uma queda
inesperada da quantidade de perfurao a partir de 2001, fato que no representa a
realidade do aumento da demanda. Porm os dados do SAAE, ainda que incompletos e,
muitas vezes, inconsistentes, confirmam que a quantidade de poos perfurados para o
abastecimento das indstrias teve aumento representativo nas ltimas dcadas no
municpio de Sete Lagoas e evidenciam a falta de controle dos recursos hdricos no
municpio.
Grfico 4.1 - Poos perfurados por terceiros em Sete Lagoas entre os anos de 1969 a 2006.
Fonte: Cadastro do SAAE, 2007.
61
4.1.4. INFRA-ESTRUTURA DA CAPTAO E DISTRIBUIO
A capacidade de produo de todos os poos pblicos estimada em 3.297.223
litros/hora. Os poos so equipados com bombas submersas que enviam gua para os
tanques das estaes elevatrias (figuras: 4.3, 4.4 e 4.5). Cada tanque recebe gua de
dois ou trs poos. No tanque a gua recebe tratamento de desinfeco atravs de
equipamentos de clorao (Figura: 4.6). Entretanto nem todos os tanques das elevatrias
possuem equipamentos necessrios realizao da desinfeco e parte da gua
distribuda populao no clorada. Das estaes elevatrias, a gua transportada
por meio de adutoras para os reservatrios (Figura 4.7), com a finalidade de evitar-se a
paralisao do abastecimento e atender a demandas extraordinrias. H casos de
injeo direta na rede de distribuio de gua, quando a gua do poo cai diretamente
na adutora, sem passar por uma estao elevatria, porm, junto ao ponto de captao,
h uma casa de qumica (Figura 4.8), que tem a funo de clorao da gua antes de ir
para a rede. Ressalta-se que nem toda a injeo direta possui casa de qumica. Dos
reservatrios, a gua distribuda pela rede de adutoras. O esquema descrito est
representado na Figura 4.2.
Tabela 4.4 - Dados das instalaes e estrutura do sistema de captao e distribuio de gua
Instalaes e estrutura do sistema de captao e distribuio de gua
Nmero de poos ativos 94
Nmero de poos desativos 22
Nmero de poos reserva 7
Capacidade de produo dos poos 3.297.223 litros/hora
Estaes elevatrias 27
Reservatrios 54
Capacidade armazenadora dos reservatrios 12.197 m
3
Casa de qumica 24
Extenso da rede de distribuio 986,80 km
Nmero de ligaes 59.122
Atendimento a populao 99,90%
Fonte: SAAE, 2008.
62
Figura 4.2 Esquema da rede de distribuio
Fonte: SAAE.
Todo o sistema praticamente interligado e a rea de abrangncia da maioria das
estaes elevatrias e dos reservatrios no totalmente definida. Apesar do ndice de
atendimento populao ser estipulado em 99,9 %, h pontos da malha urbana que,
frequentemente, ficam sem o servio de gua em determinados momentos,
principalmente nos horrios de pico em que a gua mais consumida.
A expanso da rede foi feita, muitas vezes, mais em funo da disponibilidade de
material no almoxarifado do que fruto de um projeto especfico de ampliao do sistema.
O tipo de material utilizado na rede de distribuio varia desde tubos de ferro fundido,
utilizado na implantao da 1 rede de distribuio Sistema Mucuri em 1938,
passando por tubos de ferro galvanizado, cimento amianto, at os tubos utilizados
atualmente de PVC. Cronologicamente, pode-se definir que 30% da rede de distribuio
atual foi implementadas at 1976, e os 70% restantes entre os anos de 1970 a 2008.
Hoje, a rede de distribuio conta com 986,80 km de extenso, entre tubos de 50 mm at
25 mm e, como foi mencionado, em diversos materiais.
Figura 4.3 Poo do Horto Florestal
63
Figura 4.4 Tanques da elevatria do Horto Florestal
Figura 4.5 Interior da estao elevatria do Horto Florestal
Figura 4.6 Equipamentos para a clorao
Figura 4.7 Reservatrio da Cidade de Deus
64
Figura 4.8 Casa de qumica do Poo Cidade de Deus
Durante visitas de campo, pde-se avaliar que as instalaes e os equipamentos do
sistema no esto em condies adequadas de uso, precisam de manuteno ou
reforma, pois a maioria encontra-se em estado precrio e de desleixo, como ilustra as
figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. Todos os poos visitados no possuem as condies
recomendveis de lacre e proteo, ficando expostos contaminao. Quanto rede de
distribuio, h problemas com a precipitao de carbonato de clcio, que provoca
incrustaes nas paredes internas dos tubos ao longo do tempo e a conseqente
diminuio do dimetro interno das tubulaes, alterando a vazo distribuda.
Em um relatrio tcnico elaborado por empresa terceirizada em 1997, o ndice de perda
fsica da gua foi estimado em 35%. De acordo com o relatrio, essa perda indica
problemas de vazamentos na rede e na medio dos hidrmetros. Mas, somente em
2005, o SAAE assinou um acordo de melhoria de desempenho com o Ministrio das
Cidades, que tem por objetivo o estabelecimento de metas visando melhoria de
indicadores como o ndice de perdas e o ndice de hidrometrao, dentre outros. Desde
essa data no houve melhoras na rede, e segundo o departamento de engenharia do
SAAE, atualmente, o ndice de perdas pode estar prximo de 50%.
4.1.5. QUALIDADE DA GUA
A qualidade da gua no objetivo dessa pesquisa. Porm alguns aspectos merecem
ser abordados.
Devido presena de carbonato de clcio no subsolo, a gua captada em Sete Lagoas
de natureza incrustante e dura, de sabor desagradvel, o que gera reclamaes por parte
da populao. Segundo alguns autores, a dureza reduz a formao de espuma, gerando
65
um maior consumo de sabo e gua nos usos domsticos. Porm existem processos de
abrandamento da gua que podem ser feitos antes de ser distribuda.
A qualidade da gua proveniente dos poos subterrneos apresenta-se dentro do padro
de potabilidade definido e regulamentado pelo Ministrio do Estado da Sade (Portaria n
518 de 25/03/2004), sendo necessria somente a adio de desinfetante, como o cloro,
capaz de preserv-la contra possibilidades de uma eventual contaminao no sistema de
distribuio. O SAAE possui laboratrio prprio, onde realiza o controle da qualidade da
gua pela coleta de amostras, totalizando 15 amostras/dia e 300/ms, realizadas nos 5
dias da semana, cobrindo toda a malha urbana num sistema de rodzio. Estas so
coletadas na sada dos poos, tanques de clorao e em residncias localizadas em
pontos distintos da cidade.
Sobre evidncias de contaminao da gua subterrnea por esgotos, h observaes no
ofcio SMOP/136/2007, encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal em fevereiro de
2007, pela Secretaria Municipal de Obras Pblicas, que relata a existncia de um ponto
de sada de esgoto, nas proximidades da siderrgica Cossisa, que penetra diretamente
em uma fenda na rocha calcria h vrios anos, podendo afetar as guas subterrneas,
causando sua contaminao. Em 2006, foi desativado um poo pelo prprio SAAE,
quando detectada a presena de coliformes fecais.
Dois poos apresentam altas concentraes de ferro e mangans (Figura: 4.1) e, na
ausncia de oxignio, como nas guas subterrneas, esses elementos apresentam-se
em forma solvel, mas, quando expostos ao ar atmosfrico, eles voltam s suas formas
insolveis, podendo causar cor na gua, prejudicando o consumo domstico,
principalmente na lavagem de roupas. Esses poos continuam em funcionamento. O
revestimento de poos tubulares necessrio para a boa qualidade da gua, por isso
necessrio o uso de filtros e material adequado, alm de manuteno peridica. Alguns
poos visitados encontram-se sem tamponamento correndo o risco de contaminaes
(Figura: 4.9).
66
Figura 4.9 Poo Monte Carlo I
4.2. HISTRICO DA CAPTAO DE GUA
4.2.1 PERODO DE CAPTAO SUPERFICIAL
A sede do municpio de Sete Lagoas, at o inicio do sculo XX, era uma pequena cidade
com cerca de 8.000 habitantes, sem servio pblico de gua e, pelo que consta em
alguns documentos, seus moradores abasteciam-se de gua atravs da captao direta
dos pequenos ribeires prximos e de cisternas furadas nos fundos dos terrenos.
Entretanto, com a chegada da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), foi necessria
a implantao do primeiro sistema de abastecimento pblico de gua de Sete Lagoas,
que tinha como finalidade abastecer as famlias dos funcionrios da EFCB, que foram
transferidas de outras localidades e estabelecidas nas proximidades da estao
ferroviria. Portanto, a partir de 1900, a prpria EFCB implantou um sistema de captao
superficial direta no alto da serra de Santa Helena. Atravs de um tubo de ferro fundido, a
gua era captada diretamente do Ribeiro Paiol, aproximadamente a 1000 metros acima
do nvel do mar, e transportada por gravidade at a Praa da Estao, a uma altitude de
760 metros. A gua, sem qualquer tipo de tratamento, era armazenada em uma caixa
dgua e distribuda populao.
Naquele perodo, a serra de Santa Helena era uma rea pouco alterada, e o Ribeiro
Paiol, apesar de no possuir um grande volume de gua, conseguiu suprir as
necessidades dos novos moradores, incluindo a populao que foi assentada nos bairros
formados nas proximidades da estao. Interessante notar que a instalao da estao
deu-se em uma rea desabitada na poca. Haja vista que a cidade delineava-se entre a
67
Praa Tiradentes e seu entorno, onde se localizava a Matriz de Santo Antonio, a sede da
antiga fazenda Sete Lagoas e o casaro, construo colonial de valor histrico; a Lagoa
Paulino e suas margens; e a Rua So J os. Dessa forma, a estao de trem funcionou
como um elemento de impulso ao crescimento da cidade para aquela regio,
influenciando na expanso da malha urbana durante aquele perodo e criando um novo
traado para a cidade.
Esse sistema de abastecimento de gua, construdo pela Estrada de Ferro Central do
Brasil, mostrou-se eficaz at meados de 1950. Porm, aps essa data, o restrito volume
de vazo do Ribeiro Paiol tornou-se insuficiente para suprir a demanda de gua da
cidade devido ao crescimento contnuo da populao. O sistema foi desativado em 1950,
seguindo o abastecimento por poos tubulares.
4.2.2 PERODO DE CAPTAO SUBTERRNEA
4.2.2.1. CISTERNAS
Apesar da instalao do sistema de abastecimento superficial, boa parte da populao de
Sete Lagoas era abastecida de gua por meio de cisternas feitas em suas propriedades,
pois o sistema superficial caracterizava-se como restrito e somente atendia uma regio
da cidade. A retirada de gua de cisternas particulares supriu as necessidades de muitas
famlias at meados da dcada de 1960, quando se instalou o sistema de abastecimento
da prefeitura municipal com o objetivo de atender a toda cidade. Vale ressaltar que, ainda
hoje, encontram-se cisternas em algumas propriedades, e que, provavelmente, so
usadas pelos proprietrios, suprindo parcialmente ou totalmente os usos domsticos.
As cisternas so alimentadas por gua proveniente da zona saturada do aqfero,
denominado por Pessoa (1996) de Granular de cobertura inconsolidada. A zona saturada
na regio pode variar entre 10 e 50 metros de profundidade, como mostra a Figura 4
capitulo 3.
4.2.2.2. PRIMEIRAS PERFURAES PROFUNDAS
Atualmente, toda gua utilizada no sistema de abastecimento pblico de gua do
municpio de Sete Lagoas de origem subterrnea. A captao da gua feita atravs
68
de explotao de poos profundos perfurados no aqfero crstico, denominado por
Pessoa (1996) de Aqfero Sete Lagoas. Esse aqfero caracterizado por ser composto
de rochas calcrias e possuir espessura de aproximadamente 160 metros de
profundidade, com fluxos de gua difusos entre condutos e galerias, produtos da ao
erosiva da gua na rocha (CABRAL, 1994).
A explotao do aqfero crstico no municpio de Sete Lagoas vem sendo feita
ininterruptamente desde a perfurao do primeiro poo profundo poo pblico Mucuri -,
em 1938, na Rua Major Castanheira, a uma profundidade de 110 metros, com uma vazo
de 150.000 litros por hora. Como o poo Mucuri tinha boa vazo, pois no havia alterao
no volume de gua nem mesmo no perodo de estiagem, continuou a ser o nico a
fornecer gua para o sistema de abastecimento aps a paralisao do sistema de
captao superficial em 1950. Somente em 1956 foi necessria a perfurao de um novo
poo: Mucuri II, a poucos metros do primeiro poo e com uma vazo estimada em 70.000
l/h. Salienta-se que, em 1956, a populao do municpio era de aproximadamente 30.000
habitantes (PMSL, 2006a).
4.2.2.3. CAPTAO E DEMANDA ENTRE 1940 A 1970
Entre os anos de 1940 e 1950, a cidade de Sete Lagoas comea a transformar-se,
buscando estruturar-se diante da crescente demanda da populao. Haja vista que, em
1940, estima-se que a populao do municpio era de 10.537 habitantes (AZEVEDO,
1963), e, em 1950, atingia 24.868 pessoas (SEBRAE, 1995). Portanto, nesse perodo,
houve um acrscimo de cerca de 120% na populao. Notadamente, nesse momento
que comea o processo de intensificao da industrializao no Brasil. Nessa fase Sete
Lagoas aumenta sua produo leiteira, expande a indstria txtil em 1948 e inicia a
construo das indstrias siderrgicas, que, ao longo da dcada de 1950, vo se
consolidando no mercado. Esses fatores explicam, em parte, a atrao de trabalhadores
de outras cidades para Sete Lagoas.
Na dcada seguinte, entre 1951 e 1960, a populao do municpio cresceu 66,50%,
passando a ter uma populao de 41.656 habitantes em 1960. At essa data, o sistema
pblico de gua contava somente com a captao de gua de dois poos Mucuri I e II.
medida que a populao foi crescendo, houve a necessidade da perfurao de outros
poos e, at o final da dcada de 1960, a cidade contava com 6 poos para abastecer a
demanda da populao.
69
Em 1968, o problema do crescimento da demanda por gua j havia sido mencionado em
um Relatrio de Viagem, elaborado por Von Sperling, sobre Sete Lagoas. No relatrio
h a seguinte afirmao:
...com o crescimento da cidade, a vazo
necessria para o seu adequado abastecimento
ser bastante superior atual. (Relatrio de
Viagem, 1968, p: 2, Von Sperling).
O relatrio fruto da visita de campo de 20 de dezembro de 1967 e teve como objetivo
verificar as condies hidrulicas de aduo de um manancial de superfcie no municpio
de Sete Lagoas. Depois de examinadas diversas condies, o relatrio aponta para a
construo de uma barragem Olhos Dgua - no Crrego do Diogo, considerado como
dreno natural de Sete Lagoas, e, portanto, receptor de esgotos da cidade e da rea
industrial.
Para a implementao e construo da Barragem Olhos Dgua, seria necessria a
construo de um emissrio de esgotos de maneira que, como interceptor, levasse o
esgoto sanitrio da cidade jusante do ponto de captao.
Para suprir a demanda imediata do municpio, a soluo indicada, a curto prazo, foi a
utilizao do manancial subterrneo. Entretanto salienta que alm da perfurao de
novos poos, deve-se melhorar o aproveitamento dos existentes. E enfatiza que
necessria uma melhor distribuio da gua na cidade pelo remanejamento da rede de
distribuio, controle do desperdcio e tambm a elaborao de um projeto e construo
de rede de esgoto sanitrio, com o objetivo primordial de evitar a contaminao das
guas subterrneas.
Sobre solues a longo prazo, Von Sperling aponta a necessidade de um estudo da rede
de distribuio de gua de Sete Lagoas e no afasta a hiptese de outra captao
superficial no Rio das Velhas ou no Rio Paraopeba, para abastecer a futura cidade.
Entretanto no despreza o potencial das guas do subsolo, ao referir-se necessidade
de um melhor estudo (VON SPERLING, 1968).
70
Durante esse perodo, final da dcada de 1960, os documentos pesquisados indicam
uma constante preocupao, por parte das autoridades, em resolver o problema da
crescente demanda, pois j havia a interrupo freqente no abastecimento de gua nos
bairros perifricos. Alm da referida Barragem Olhos Dgua, outros lugares foram
inventariados para uma possvel captao superficial. O prprio Von Sperling, atendendo
solicitao do Prefeito e do Presidente-diretor do SAAE na poca, fez outros estudos,
em 1969, elaborando outro relatrio com o objetivo de determinar o futuro manancial
abastecedor do sistema de gua da cidade.
Nesse relatrio de 1969, afastou-se a hiptese da utilizao do Crrego do Diogo, devido
s suas condies naturais de pequena vazo e por caracterizar-se como dreno natural,
sujeito poluio de suas guas a longo prazo, necessitando de obras de drenagem e
tratamento do esgoto, consideradas caras. Os outros cursos superficiais do municpio
foram avaliados com baixa vazo para a captao.
No relatrio apresentam-se trs alternativas: a utilizao da gua de subsolo, a captao
do Rio das Velhas e a captao do Rio Paraopeba. Sobre a captao subterrnea,
considera como vantagens o atendimento imediato, com a ampliao do sistema por
etapas teis, ou seja, programadas de acordo com a capacidade financeira, e a qualidade
bacteriolgica da gua bem superior a dos mananciais superficiais. Como desvantagens,
o sistema de captao subterrneo avaliado como complexo, de manuteno difcil e
onerosa, com capacidade de vazo economicamente explorvel, mas restrita. Sobre a
qualidade fsico-qumica indicada como no muito adequada, devido dureza da gua.
possvel notar que a alternativa subterrnea no foi apreciada como soluo definitiva,
justamente pela falta de conhecimento sobre o aqfero crstico e, principalmente, sobre
o potencial de produo.
A principal vantagem da captao superficial no Rio das Velhas ou no Rio Paraopeba foi
apontada como a elevada vazo. Porm as desvantagens consideram a potencialidade
poluio, a distncia da captao, aproximadamente 30 km, e a captao fora dos limites
municipais, como os principais entraves. Entre as duas solues, a captao no Rio
Paraopeba foi considerada melhor, pois suas guas eram menos poludas. O relatrio
ainda alerta para uma a implementao de soluo definitiva, para evitar futuras
situaes de calamidade pblica com a falta da gua em Sete Lagoas.
71
Perfurao de Poos Destinados ao Abastecimento Pblico de gua
Municpio de Sete Lagoas/MG
1 1
4
11
17
30
36
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Nmero de Perfuraes por Dcada
4.2.2.4. CAPTAO E DEMANDA ENTRE 1970 E 2008
A partir de 1970, intensifica-se a industrializao e a urbanizao e, como conseqncia,
a elevao da populao da cidade, aumentando consideravelmente a perfurao de
poos profundos para a produo de gua, uma vez que no foi implementado o sistema
superficial. Na dcada de 1970, havia mais 11 poos incorporados ao sistema de
abastecimento. Na dcada seguinte, em 1980, o sistema contava com mais 17 poos.
Mas durante a dcada 1990 que se aumentou consideravelmente as perfuraes.
Foram perfurados 31 poos, dobrando a quantidade (Grfico 4.2). No final da dcada de
1990, o SAAE j tinha 65 poos. Na dcada de 2000, foram acrescentados ao sistema 36
poos (Anexo: Relao dos poos do SAAE Perfurao por Dcada). No h dvidas
de que a populao aumentou seus nmeros absolutos, contribuindo para o crescimento
acelerado da demanda e necessitando, assim, de uma quantidade expressiva de novos
pontos de captao. Porm, o fato do sistema ter aumentado significativamente o nmero
de captao, pode estar relacionado com a falta de planejamento da rede de captao e,
paralelamente, com a mudana do padro de consumo da gua por parte da populao.
Grfico 4.2 Nmero de perfuraes de poos destinados ao abastecimento pblico de gua do
municipio de Sete Lagoas por dcada
Fonte: SAAE, 2008.
De 1938 at 2008, o crescimento das perfuraes dos poos destinados ao
abastecimento pblico foi de 1200%. As perfuraes contnuas evidenciam um
progressivo uso dos recursos hdricos.
72
Evoluo do Consumo Mdio per Capita de gua
Municpio de Sete Lagoas/MG - Perodo 1940 - 2030
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1940 1997 2000 2005 2010 2020 2030
L
i
t
r
o
s
p
o
r
h
a
b
i
t
a
n
t
e
/
d
i
a
Estima-se que o consumo mdio per capita de gua no Brasil, na dcada de 1940, era de
50 litros por pessoa, mas, diante de uma srie de alteraes nos hbitos do cotidiano
domstico com a aquisio de eletrodomsticos, veculos, dentre outros produtos, houve
uma grande mudana comportamental que refletiu no aumento gradual do consumo de
gua ao longo das ltimas dcadas. Considerando o padro de consumo de 50 litros de
gua por habitante, estipulado para a dcada de 1940; os dados sobre o padro de
consumo per capita desde 1997, disponvel no cadastro do SNIS; e, o padro atual de
consumo em Sete Lagoas, foi possvel elaborar uma projeo do consumo mdio per
capita de gua entre o perodo de 1940 a 2030, com razovel nvel de correlao (Grfico
4.3).
Grfico 4.3 Projeo do consumo mdio per capita de gua no municpio de Sete Lagoas.
Fonte: SNIS, 2006.
Diante do atual ritmo de crescimento do consumo de gua, o grfico mostra uma
ascenso do consumo dirio de gua por habitante, projetando para 2030 um gasto de
390 litros de gua, crescimento maior que a projeo da prpria populao. Diante dos
problemas relacionados ao abastecimento encontrados no municpio este nmero no
o desejvel.
Como no houve investimentos significativos no planejamento da rede de captao e
distribuio de gua em Sete Lagoas e nem pesquisas sobre o conhecimento dos fatores
que levaram ao crescimento da demanda na dcada de 2000, as perfuraes
continuaram sendo feitas sem critrios tcnicos. Ainda hoje, so feitas sem o
conhecimento do potencial de vazo dos locais escolhidos e, muitas vezes, de forma
improvisada (Figura: 4.10). O objetivo desses procedimentos o aumento da gua
73
Total de gua Pr oduzido no
Municpio de Sete Lagoas/MG
Per odo de 1998 - 2006
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
T
o
t
a
l
d
e
g
u
a
P
r
o
d
u
z
i
d
o
/
1
0
0
0
m
3
/
a
n
o
produzida para atender a demanda. Mesmo a necessidade de outorga no mudou esta
tendncia, pois entre 2000 e 2008, j foram perfurados 36 poos de abastecimento
pblico.
Figura 4.10 Perfurao do Poo do Cadeo em janeiro de 2007
Pode-se observar, o grfico 4.4, o total de gua produzido em Sete Lagoas no perodo de
1998 a 2006. Nota-se que houve um aumento significativo na produo entre os ltimos
anos da dcada de 1990 e os primeiros anos da dcada de 2000 e, tambm, uma queda
na produo entre os anos de 2004 e 2006. Esses nmeros demonstram que, se no
houvesse aumento da produo de gua na cidade, Sete Lagoas estaria atualmente com
srios problemas de falta de gua, em virtude do crescente consumo, comprometendo o
abastecimento da populao. Entretanto, como j mencionado, as perfuraes so feitas
sem maiores critrios tcnicos e a falta de gua constante nos ltimos anos pode estar
relacionada, pelo menos, a dois fatores: a falta de conhecimento especfico para as
perfuraes e a manuteno dos poos e equipamentos.
Grfico 4.4 Total de gua produzido no municpio de Sete Lagoas Perodo de 1998 a 2006.
Fonte: SNIS, 2006.
74
O sistema atual caracteriza-se por ter uma quantidade significativa de poos profundos
com boa vazo, porm que no atendem demanda, pois a falta de gua ocorre
periodicamente na cidade. O fato que o nvel da gua dos poos pode oscilar
diariamente, contribuindo com a queda na presso da gua e, consequentemente, com o
alcance da mesma na rede, principalmente para locais distantes da captao ou em
cotas mais elevadas. Quando h reservatrios com boa capacidade de armazenamento,
h um controle maior da gua, que pelo bombeamento ou por gravidade vai para a rede,
tornando mais eficaz a distribuio.
Na prtica, os maiores problemas de falta de gua enfrentados pelo SAAE esto
concentrados nos meses de maio a outubro, principalmente, nos anos de estiagem
prolongada. Nesse perodo, ocorrem as faltas de gua dirias em vrios bairros da
cidade. Notadamente, naqueles situados a cotas altimtricas superiores aos pontos de
captao e de reserva. Como medida paliativa, o SAAE faz a distribuio de gua em
muitos pontos da cidade com caminho-pipa, porm esse atendimento precrio, no
atendendo totalmente s necessidades da populao. Em janeiro de 2006, aps longo
perodo de estiagem do ano de 2005, a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas decretou
situao de emergncia, possibilitando ao SAAE terceirizar parte dos servios de
distribuio de gua com caminhes pipa, a fim de suprir a deficincia do sistema. Em
visita de campo no perodo de estiagem, em outubro de 2007, foi possvel verificar que
alguns tanques estavam com volume muito pequeno de gua, acerca de 20 cm do piso
do tanque. Esse fato impossibilita que haja volume de gua disponvel na rede para que a
mesma possa chegar a todos os pontos da cidade. Os poos em Sete Lagoas funcionam
24 horas por dia, durante todo o ano, sendo desligados somente para manuteno,
exceto 4 poos que possuem dispositivo automtico e param de funcionar quando o
tanque est cheio.
Durante visitas de campo, foi possvel verificar que o SAAE no possui informaes
atuais e organizadas sobre o prprio sistema de abastecimento de gua de Sete Lagoas;
os dados so inconsistentes, incompletos e desatualizados. No h acompanhamento
sistemtico das informaes hidrogeolgicas, cadastrais, administrativas e financeiras.
Dessa forma, h grandes problemas para a manuteno dos poos e dos equipamentos,
alm da falta de um plano norteador de aes. No existem mapeamentos sobre a rede
de captao e distribuio, impossibilitando a eficcia na identificao dos problemas e
as medidas tomadas no gerenciamento do sistema, geralmente, so improvisadas e de
forma pontual. A capacidade produtiva dos poos nesse sistema depende de uma
avaliao hidrogeolgica criteriosa, que garanta uma boa vazo e segurana quanto a
75
outros riscos do sistema. Assim, o aproveitamento da gua subterrnea no municpio
exige um conhecimento maior da estrutura fsica e do funcionamento do sistema
aqfero, bem como das reservas e recursos, de modo a fornecer subsdios para o seu
planejamento e uso sustentvel. Entretanto, at o presente momento, pouco se sabe
sobre as potencialidades e fragilidades do aqfero mais intensamente explorado: o
crstico da Formao Sete Lagoas, pertencente ao Grupo Bambu. H o
desconhecimento sobre a dimenso, capacidade de armazenamento, reas de recarga,
fluxos, vulnerabilidades, dentre outros.
Devido falta de organizao das informaes relacionadas aos poos e seus histricos,
entende-se que de fundamental importncia a realizao da sistematizao dos dados
referentes aos poos. Essas informaes so indispensveis ao controle, manuteno e
gerenciamento do sistema de captao de gua.
Passados 40 anos desde os estudos de Von Sperling, continua o mesmo dilema entre a
captao e crescente demanda por gua no municpio de Sete Lagoas. O sistema de
captao subterrnea foi sendo ampliado sem conhecimentos necessrios sobre o
aqfero crstico, mesmo sabendo-se das fragilidades do ambiente. O SAAE e empresas
do setor privado vm retirando gua do subsolo, em volumes cada vez mais
considerveis de poos espalhados aleatoriamente pela cidade. H interrrupo no
abastecimento de gua, periodicamente, por toda a cidade e a falta de gua tornou-se
constante. Diante da velocidade com que se desencadeou o processo de urbanizao no
municpio, a rede de captao e distribuio de gua tornou-se desordenada, e
compromete a eficincia do sistema de abastecimento.
4.3. OCORRNCIA DAS SUBSIDNCIAS
Apesar de alguns autores afirmarem sobre uma relao direta entre as ocorrncias das
subsidncias e a captao de gua, so necessrios estudos prospectivos para a
confirmao se a explotao demasiada de aqferos crsticos podem acelerar o
processo de formao de tais eventos geolgicos. Entretanto, foram levantadas
informaes sobre ano e local de ocorrncia das subsidncias registradas em Sete
Lagoas (Anexo Relao das subsidncias registradas no perodo de 1940 a 2008 no
municpio de Sete Lagoas/MG). Vrios documentos pesquisados fazem meno
relao entre a explotao do aqfero e as subsidncias. O relatrio datado de maio de
2000, elaborado pela empresa Engeo Sociedade Civil LTDA, encomendado pela
76
Prefeitura Municipal sobre a subsidncia da Rua Doutor Chassim esquina com Avenida
Renato Azeredo, relata sobre a variao intermitente, com a subida e descida, do nvel
fretico, em curto espao de tempo, devido ao bombeamento das guas, carreando
partculas do solo, provocando eroso interna, solapamento do solo, abrindo cavidades,
logo acima da superfcie da rocha. Salienta que emissrios de esgoto sanitrio,
localizados nas proximidades, podem ter sido atingidos pela movimentao do solo.
Ainda esclarece que so necessrios estudos sobre o assunto, pois caso os emissrios
fossem rompidos, grande quantidade de esgotos seriam lanados diretamente no sistema
crstico, contaminando parte do aqfero.
Notadamente, um laudo tcnico Abatimentos de Solo e potencial de Risco Geolgico -
datado de 23 de maro de 2002, elaborado por Stefano Lanza, supervisor de meio
ambiente, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, encaminhado
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, reconhece a necessidade de um plano de
sustentabilidade dos recursos hdricos, enfatizando sobre as grandes quantidades
consumidas de gua, os seus desperdcios e a falta de cuidado com a captao,
evidenciando o substrato rochoso como plataforma onde a cidade est assentada. O
laudo uma descrio sobre as caractersticas da cidade com o objetivo de esclarecer o
prefeito municipal sobre os aspectos ambientais de Sete Lagoas e a importncia de
desenvolver pesquisas sobre o zoneamento geotcnico do municpio, a predisposio ao
risco geolgico, o zoneamento hidrogeolgico e realizar estudos sobre a Lei de
parcelamento, uso e ocupao do solo.
Diante de estudos preliminares realizados pela prpria Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente de Sete Lagoas, o laudo afirma que h bruscas variaes nas condies
hidrodinmicas do aqfero crstico, principalmente pelo bombeamento excessivo,
processo que tem relao direta com a origem e o desenvolvimento dos abatimentos,
pois rebaixa o nvel esttico do aqfero, provocando as subsidncias. Segundo o laudo,
esse movimento descendente reflete um ritmo de bombeamento superior capacidade
de reposio do aqfero. E ainda esclarece que, na rea urbana da cidade, freqente a
ocorrncia de cavidades em subsuperfcie passveis de dissoluo ao longo de
descontinuidades das rochas carbonticas, sendo continuamente preenchidas por
material argilo-sltico que, por possurem baixa resistncia, so facilmente lixiviadas.
O ofcio SMOP/136/2007, encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras Pblicas em
fevereiro de 2007 ao gabinete do prefeito municipal, traz informaes sobre outros
relatrios tcnicos referentes s ltimas subsidncias ocorridas na cidade. Os relatrios
77
Subsidncias Regist radas em Set e Lagoas/MG
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Nmeros de subsi dnci as por dcadas
afirmam que os fenmenos provavelmente foram provocados pelo rebaixamento do nvel
da gua subterrnea e destacam que so causados pelo bombeamento excessivo dos
pontos de captao, acelerando o processo de subsidncias, principalmente no perodo
de estiagem, conseqncia direta do crescente consumo de gua nas residncias e
indstrias. O ofcio afirma haver registros de rebaixamento de cerca de 20 a 30 metros de
profundidade nos ltimos 5 anos.
Considerando as quantidades de subsidncias registradas (Grfico 4.5), o aumento
desses fenmenos acompanha, paralelamente, o crescimento das perfuraes e da
produo de gua, podendo deduzir-se, preliminarmente, que a presso sobre o
substrato rochoso pode estar contribuindo para a acelerao desses eventos. Houve,
durante todo o perodo de explotao, elevado crescimento populacional e industrial,
aumentando proporcionalmente a quantidade de gua produzida. Com esse aumento de
produo da gua, os efeitos de eroso subterrnea e acomodao de solo podem estar
sendo induzidos, especialmente, nas zonas de fraqueza do substrato rochoso.
interressante notar que as subsidncias esto agrupadas, principalmente, na regio
central da cidade (Figura: 4.11), onde est concentrada a maioria dos poos, inclusive em
reas densamente povoadas e que se caracterizam como rea vulnervel a riscos
geolgicos (PESSOA, 1996).
Grfico 4.5 Subsidncias registradas entre as dcadas de 1940 e 2000 no municpio de Sete
Lagoas.
Fonte: SAAE, 2008
78
Para o gelogo J aime Branco, que acompanhou e elaborou relatrios tcnicos sobre as
subsidncias em Sete Lagoas, no se deve explorar o aqfero crstico na parte central
da cidade. Segundo Branco, h uma concentrao de poos com grande volume de
explotao contnua, fazendo oscilar o nvel fretico periodicamente. Dessa forma, pode
possibilitar a ao de dois fenmenos de eroso subterrnea: o solapamento e o
carreamento em fraturas, que podem ocasionar problemas na superfcie. Portanto, ao
explorar o aqfero crstico, devem-se efetuar estudos prospectivos com o intuito de
localizar as reas sujeitas a esses fenmenos. De acordo com esse raciocnio, para a
captao de gua em aqfero crstico deve-se ter um plano de manejo, a fim de evitar a
explotao em reas potenciais de riscos.
79
Figura 4.11 Mapa de localizao das subsidncias registradas no municpio de Sete Lagoas
entre os anos de 1940 e 2008.
80
4.4. DISPUTA PELA CONCESSO DA GUA EM SETE LAGOAS
O ano de 2007 foi marcado pela disputa da concesso da gesto municipal da gua entre
o SAAE e a COPASA, envolvendo, tambm, os interresses da Prefeitura Municipal, da
Cmara de Vereadores e da populao municipal. O SAAE, que possui poder autnomo,
reivindicava investimentos em infra-estrutura e estudos tcnicos para adequar-se s
novas necessidades; e a COPASA, apresentou projeto de captao de gua do Rio das
Velhas orado em 250 milhes de reais, a serem empregados na captao, importao,
construo de uma estao de tratamento e de uma nova rede de distribuio. Nesse
novo sistema, pouco seria aproveitado do antigo, todavia estaria, segundo a COPASA,
garantida gua de boa qualidade e suficiente para suprir as necessidades da expanso
urbana.
Antes da apresentao oficial da proposta da COPASA, o presidente do SAAE em 2007,
Dlcio Menezes, concedeu entrevista emissora de radio local, e parte da entrevista foi
reproduzida pelo J ornal Hoje, no dia 03 de fevereiro de 2007. Na entrevista, o presidente
do SAAE afirma que a administrao municipal e a direo da autarquia revolucionaram o
sistema de abastecimento de gua em Sete Lagoas com investimentos na abertura de
novos poos, aumentando a vazo de gua lanada na rede de distribuio,
solucionando definitivamente o problema da falta de gua em todas as reas da cidade.
Quando questionado sobre a estrutura da rede de distribuio, com tubulao velha e
sem capacidade para maiores vazes, explicou que o sistema no to precrio, mas
que, por preveno, iriam aumentar o volume de gua na rede de maneira vagarosa e,
dessa forma, o sistema iria sofrer pequenos danos, porm o SAAE estava prevenido para
corrigir os eventuais problemas na rede, e que o correto seria construir um reservatrio
com cerca de 1 milho de litros de gua, mas continuariam com o sistema de injeo
direta na rede. Em relao s condies operacionais do SAAE, afirmou que
anteriormente tudo estava muito desorganizado, que o rgo no possua equipamentos,
ferramentas e contava com veculos em pssimo estado. Mas que, gradativamente,
estavam corrigindo esses problemas, de acordo com a proporo das condies
financeiras que tinham para investir. Garantiu que o setor de operaes estava mais
organizado. Sobre a demanda industrial, cita o exemplo da fbrica Elma Chips,
recentemente instalada na cidade, que necessitava de 20.000 litros de gua por hora, e
que a soluo j estava sendo tomada com a perfurao de mais um poo para
abastecer exclusivamente demanda solicitada pela fbrica. Segundo o presidente-
diretor, no existia nada concreto sobre o assunto da concesso da gesto da gua do
municpio. Ao final da entrevista, ele contradisse sua fala inicial, quando afirmou que
81
estava solucionado definitivamente o problema da falta de gua na cidade, pois
comentou que, para resolver os problemas de falta de gua e de esgoto, o SAAE
dependeria de projetos, verbas e engajamento poltico, mas que havia muita burocracia
envolvida.
No dia 14 de fevereiro de 2007, realizou-se, no teatro da Casa da Cultura, a primeira
reunio pblica - Saneamento ambiental do municpio de Sete Lagoas e a Meta 2010 -
com a presena dos vereadores da Cmara Municipal e interressados, com a finalidade
da apresentao da proposta da COPASA para a concesso dos servios de gua do
municpio.
A proposta da COPASA contemplava a captao e o abastecimento de gua e o
tratamento e disposio final de esgotos. Como o objetivo deste trabalho refletir sobre
os aspectos da captao e o abastecimento pblico de gua, no sero relatados
detalhes do projeto de esgotamento sanitrio. No projeto da COPASA, a captao da
gua deveria ser superficial, com trs opes: (i) a captao no Rio das Velhas, em local
denominado de Tronqueiras, no Municpio de Funilndia, a uma distncia de 28 km, com
coordenadas geogrficas de 192107,93S e 440002,31W; (ii) a captao no Rio
Paraopeba, em local denominado Lagoa do Porto, jusante da foz do Ribeiro So J oo,
distante 41 km, com coordenadas geogrficas de 192523,57S e 443253,84W; e (iii) a
alimentao atravs do Sistema Integrado da RMBH, reservatrio R-10, em Contagem,
distante 70 km. Para as duas primeiras alternativas, seriam implantadas estaes de
tratamento de gua no processo convencional junto ao manancial e feito bombeamento
para Sete Lagoas. Para a terceira, a gua j chegaria tratada do sistema RMBH. Porm a
COPASA indicou a captao no Rio das Velhas como a opo mais vivel
financeiramente.
Segundo a COPASA, a opo superficial justifica-se pela insegurana do sistema de
captao e distribuio subterrnea, j que esse sistema contm um nmero excessivo
de poos, que so interligados diretamente na rede de distribuio, gerando uma rede
operacionalmente complexa. A vazo da captao superficial do Rio das Velhas foi
considerada firme, denominao que, segundo a COPASA, significa gua em
quantidade necessria para a futura expanso da cidade.
A proposta da COPASA previa a instalao de seis anis de distribuio com novas
tubulaes e com interligaes rede de distribuio em pontos estratgicos, expandindo
a rede em 65 km. No que tange ao armazenamento da gua, seria construdo um
82
reservatrio de 20.000m de gua no Morro So J oao, atendendo por gravidade toda a
cidade, e descartando a utilizao dos reservatrios do atual sistema por consider-los
situados em posies geogrficas inadequadas e com pouca capacidade.
Por fim, a COPASA garante que, com a implantao das obras previstas, a populao
teria 100% de atendimento com gua de qualidade e, no mnimo, 90% da populao com
coleta e tratamento de esgoto.
Logo aps a apresentao do projeto, as reportagens publicadas na poca sobre o
assunto, de modo geral, comparavam o sistema adotado pelo SAAE e o proposto pela
COPASA e, geralmente, abordavam a problemtica sob trs aspectos: a administrao
do sistema, a capacidade da oferta e os riscos geolgicos. Ao se referirem ao aspecto
administrativo, o SAAE era freqentemente julgado de no ser capaz de cobrir a lacuna
existente no abastecimento, j que verbas, obras e projetos dependiam de interesses
polticos que envolviam a autarquia, e era, quase sempre, tido como um rgo de
apadrinhamento poltico, com servios ruins e com gua de pssima qualidade. A
COPASA era tida como a grande soluo dos problemas existentes no fornecimento de
gua e no tratamento de esgoto, ressaltada como uma empresa conceituada. Havia,
tambm, a idia de que o crescimento da oferta proposta pela COPASA poderia trazer
novos investimentos, gerar empregos e movimentar a economia, que a gua seria de
melhor qualidade e a captao sem riscos geolgicos para a cidade.
Em uma das reportagens do jornal local Centro de Minas, intitulada Revitalizao do
SAAE ou a instalao da COPASA, do dia 03 de maro de 2007, foi possvel perceber
sobre as idias no plano do senso comum. Interressante notar que, ao discutir sobre o
assunto, foi mencionado que o grande problema do sistema de gua da cidade a
captao subterrnea, pois sua continuao traria riscos srios de subsidncias e que, a
qualquer momento, a cidade poderia ruir. Outros dois aspectos relatados foram os custos
da captao superficial frente subterrnea. Segundo a reportagem, a captao
superficial demanda altos custos com obras, uma vez que seria feita aproximadamente a
30 km do centro de Sete Lagoas, entretanto a populao deixaria de ter gastos na
compra de chuveiros e de gua mineral, alm de problemas de sade, devido ao teor de
clcio da gua subterrnea. Sobre a qualidade da gua, a reportagem afirma que a gua
proveniente do Rio das Velhas ou do Rio Paraopeba era de melhor qualidade que a gua
do aqfero crstico, considerada salobra devido concentrao de sais oriundo da
gnese de suas rochas.
83
Com o intuito de esclarecer e debater com a populao sobre a proposta da COPASA,
realizou-se, no dia 09 de maio de 2007, a reunio pblica para a anlise da proposta da
COPASA de concesso do servio de gua e esgoto do municpio de Sete Lagoas, no
Ginsio Coberto de Sete Lagoas. Nessa reunio foram abordados os seguintes assuntos:
a apresentao da proposta da COPASA, as subsidncias e a geologia da regio, os
aspectos jurdicos da concesso, os vnculos empregatcios dos funcionrios do SAAE
com a possvel extino da autarquia, o crescimento industrial e a demanda de gua, e a
situao do SAAE. Todos os assuntos abordados durante a reunio foram apresentados
por uma mesa-redonda formada por membros do SAAE, da Cmara Municipal de
Vereadores, da Prefeitura Municipal, do Ministrio Pblico, e especialistas em
administrao, direito e saneamento bsico. Poucas foram as intervenes da platia.
Porm, vale ressaltar, que desde 20 de abril de 2007, Lairson Couto havia sido nomeado
presidente-diretor do SAAE. E, em sua palestra sobre a situao do SAAE, trouxe
informaes que contradizia o presidente-diretor anterior, pois relatou que o SAAE
encontrava-se em situao financeira delicada, havendo a necessidade de uma srie de
medidas para a reestruturao do setor financeiro, alm da necessidade constante de
obras de reparo na rede de distribuio, devido tubulao velha e entupida com a
calcificao nas paredes dos tubos, dos constantes reparos dos equipamentos e
instalaes de captao. Esse processo resultante da falta de planejamento e controle
da manuteno, sendo que esses fatores prejudicavam tanto a distribuio da gua na
rede, quanto aumentavam os gastos da autarquia.
De dezembro de 2006 a agosto de 2007, a COPASA investiu em campanha publicitria
sobre seus servios. Os anncios foram publicados nos jornais locais. Nas reunies
pblicas, modelos distriburam gua gelada e servida em embalagens padronizadas com
o smbolo da empresa, com o slogan A gua de Minas, e material impresso, enfatizando
a presena do Estado e o crescimento econmico da cidade, ao trazer a seguinte frase
como chamada: Governo de Minas, COPASA e Sete Lagoas, juntos pelo crescimento da
cidade (Anexo: propaganda COPASA).
A presena da populao no processo de concesso da gesto das guas foi restrita s
reunies pblicas, com a participao de representantes comunitrios e poucas pessoas
presentes. A manifestao popular mais marcante durante o processo foi a organizao
do Frum das guas em fevereiro de 2008, por um grupo de pessoas interessadas no
assunto, cujo objetivo era envolver um contingente maior de pessoas para a participao
nas reunies pblicas. Uma das estratgias encontradas pelo grupo foi a distribuio de
84
panfletos populao. O contedo dos panfletos era voltado para o questionamento de
uma srie de assuntos sobre a gua no municpio e levantava, sobretudo, as seguintes
questes: (i) o investimento em estudos do aqfero crstico, para o conhecimento de
potencial de produo, antes de fazer-se uma captao superficial no Rio das Velhas; (ii)
a dificuldade de reestruturao do SAAE uma questo poltica, uma vez que o SAAE
ferramenta eleitoreira; (iii) para reestruturar-se o SAAE necessrio reformular seu
estatuto e o Conselho Municipal de gua e Esgoto, possibilitando maior participao da
populao nos processos decisrios; (iv) a continuidade da concesso da gesto da gua
ao SAAE importante, justamente por ser uma autarquia municipal e pertencer ao povo;
e (v) devido aos investimentos propostos pela COPASA, haveria aumento da tarifa de
gua.
Aps as audincias pblicas e pequenas manifestaes da populao contra a
concesso dos servios COPASA, a Cmara de Vereadores do Municpio decidiu, em
agosto de 2007, pela continuidade da gesto da gua pelo SAAE. Saliente-se que a
Cmara de Vereadores estava com a sua bancada dividida. Entretanto novos
investimentos seriam necessrios a essa autarquia municipal para que pudesse garantir
e melhorar os servios prestados.
Em 24 de fevereiro de 2008, o Frum das guas realizou no auditrio do Colgio
Regina Pacis, em Sete Lagoas, o encontro Cidadania das guas em Sete Lagoas, com
o objetivo de avaliar a situao do SAAE e fazer prognsticos para a questo da gua no
municpio. Havia aproximadamente 50 pessoas na reunio e foram apresentadas
palestras sobre os seguintes temas: o ciclo da gua em contexto urbano, as novas
tecnologias para o armazenamento de gua, o ambiente do carste, a explotao em
aqfero crstico e subsidncias, a dinmica e tendncias demogrficas do municpio de
Sete Lagoas. Para esclarecer sobre as aes do SAAE, participaram da reunio a
engenheira do SAAE, Ftima Labatte, que relatou sobre os projetos e financiamentos e
Lairson Couto, ex-presidente-diretor da autarquia, destitudo do cargo em 09 de fevereiro
de 2007, que esclareceu sobre as aes do SAAE durante o perodo de sua
administrao.
Sobre os projetos e financiamentos, Ftima Labatte relatou, sem muitos detalhes, que
iniciaram-se, em setembro de 2007, as aes preliminares para a instalao do projeto
de captao de gua no Rio das Velhas, no municpio de Funilndia, com o objetivo de
abastecer 50% do consumo dirio de gua, contando com uma estao de tratamento e
um anel de distribuio, onde a gua captada do sistema superficial ser injetada na rede
85
de distribuio do sistema atual, interligando os sistemas, em um sistema misto. O
financiamento para essa obra foi pedido ao BNDES. Sobre os outros projetos, relatou
que, atravs de financiamentos do BDMG, FUNASA e PAC, sero feitas obras de
drenagem, saneamento, a construo de estaes de tratamento de gua de poos
contaminados com ferro e mangans, a construo de reservatrio de gua para 1
milho de litros e a implantao de infra-estrutura de saneamento em favelas.
O ex-presidente-diretor esclareceu que, durante o perodo de sua administrao,
encontrou dificuldades financeiras e tecnolgicas para atender s demandas que a
autarquia possui. E afirmou que a situao do SAAE crtica, pois necessrio
recuperar a estrutura fsica, a estrutura tcnica e fazer um choque de gesto para
reestrutur-lo, a partir de um novo paradigma, centrado em uma gesto participativa.
Durante o ano de 2008, no houve mudanas expressivas no sistema de captao e
distribuio de gua.
86
CAPTULO 5
A GESTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA DO MUNICPIO DE SETE
LAGOAS, SEGUNDO INFORMAES EGRESSAS DE ENTREVISTAS
O capitulo que se segue fruto de entrevistas estruturadas em roteiro padronizado de
perguntas que foram realizadas com pessoas envolvidas com a questo da gua no
municpio Sete Lagoas, por trabalharem no SAAE, na administrao pblica ou
participarem de grupos da sociedade civil, identificadas durante as reunies pblicas do
processo de concesso do gerenciamento do sistema de captao e de abastecimento
de gua do municpio
1
.
Os resultados apresentados esto divididos em partes, nas quais uma ou mais
perguntas, relacionadas mesma temtica, sero analisadas por assuntos, possibilitando
a comparao das respostas entre os entrevistados. Essa diviso foi realizada para
tornar a anlise mais clara e didtica, sendo que cada temtica discutida relevante para
o entendimento da problemtica da gua em Sete Lagoas.
5.1. O COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS HDRICOS
A primeira questo apresentada aos entrevistados buscou compreender a percepo
destes em relao ao comprometimento dos recursos hdricos subterrneos no
municpio.
As respostas demonstraram, preponderantemente, preocupao com a contnua
explotao do aqfero, realizada sem conhecimentos prvios por parte do SAAE.
Apontaram a necessidade de pesquisas sobre o subsolo do municpio. Essas pesquisas
teriam como objetivo a obteno de informaes sobre a potencialidade de produo de
gua do aqfero, suas fragilidades naturais e possveis problemas, importantes dados
para compreender-se o comportamento da gua nesse tipo de ambiente o carste.
Esses estudos so imprescindveis para a orientao do planejamento e do manejo do
sistema de captao. O Gerente de Hidrogeologia do SAAE resumiu a situao referente
1
Anexo a relao de pessoas entrevistadas na fase de entrevistas estruturadas.
87
captao do sistema ao afirmar que h o comprometimento dos recursos hdricos
subterrneos, porque a captao feita de forma desordenada, sem nenhum tipo de
gerenciamento e planejamento.
Entretanto todas as respostas apontam para os riscos geolgicos de subsidncias pela
captao subterrnea de gua em ambiente crstico como um dos fatores de
comprometimento da gua devido aos problemas constantes com as subsidncias na
rea urbana. A resposta do engenheiro civil, que trabalha no setor de engenharia do
SAAE, ilustra a preocupao presente na fala dos outros entrevistados: h de se tomar
cuidado constante com a explotao do aqfero, pois o crescente nmero de rupturas no
solo so sinais alarmantes que podem indicar um excesso de bombeamento dos poos.
De acordo com a representante do Sub-comit da Bacia do Ribeiro J equitib, o SAAE
havia procurado o rgo, em 2007, para a anlise do projeto de captao de gua no Rio
das Velhas. Depois de vrias discusses entre os membros do subcomit, foi enviado, ao
SAAE, um parecer favorvel captao, justamente pela preocupao com o
comprometimento dos recursos hdricos subterrneos.
Segundo o Secretrio Municipal de Meio Ambiente de Sete Lagoas, a regio de maior
recarga natural do aqfero encontra-se hoje sob a rea urbana, que est praticamente
impermeabilizada por meio da urbanizao, comprometendo a infiltrao da gua no
solo.
Dos sete entrevistados, apenas dois
2
ressaltaram o comprometimento dos recursos
hdricos subterrneos e superficiais pela contaminao da gua por meio do lanamento
de esgotos nos cursos de gua do municpio, inclusive pela prpria empresa de
saneamento da cidade, considerando a questo do saneamento bsico um dos mais
graves problemas urbanos enfrentados por Sete Lagoas. A representante do comit do
Ribeiro do J equitib ponderou a questo da poluio das guas sob o ponto de vista do
compartilhamento da bacia, j que Sete Lagoas transfere, para outros municpios,
localizados jusante, guas poludas.
A preocupao em Sete Lagoas com o volume de gua para o consumo da populao.
Essa questo tratada como prioridade e, sob essa perspectiva, promove uma busca
incessante por novas fontes. O mecanismo para a disponibilidade da gua simplista, j
2
Representante do Frum das guas e a representante do Sub-comit da Bacia do Ribeiro J equitib.
88
que se resume, nessas ltimas dcadas, em contnuas perfuraes subterrneas ou at
mesmo na busca de fontes superficiais, como sada para a situao. Entretanto existe um
antagonismo, considerando que, medida que h a expanso do espao urbano, o poder
pblico no melhora o sistema de captao e distribuio, no prioriza estudos e
planejamentos para a ocupao do espao, e nem mesmo investe no tratamento de
esgoto. Esses fatos comprometem a quantidade e a qualidade das guas.
5.2. A POTENCIALIDADE DO AQFERO
Os entrevistados foram questionados sobre a potencialidade do aqfero que abastece
Sete Lagoas e as necessidades da cidade. Dois entrevistados
3
relataram no ter
conhecimento sobre o assunto, porm afirmaram que a captao superficial do Rio das
Velhas no vai atender a toda demanda por gua, sendo necessrios estudos sobre o
aqfero, e lembraram que muitas cidades so abastecidas por gua subterrnea.
A questo da preocupao com a recarga do aqfero foi apontada pelos outros
entrevistados ao afirmarem que no h tempo para a reposio e armazenagem de gua
no aqfero, pois mesmo na poca das chuvas, h problemas de falta de gua e atribuem
o fato ao consumo elevado e s perdas na rede de distribuio de gua como provveis
responsveis pelos dficits ocorridos no sistema de abastecimento. O gerente de
hidrogeologia do SAAE ressalta que se nada for feito para reverter o manejo atual de
captao e de distribuio de gua, o aqfero no ter potencial para abastecer a
demanda da futura Sete Lagoas.
A questo do consumo elevado por parte da populao foi lembrada por dois
entrevistados
4
que ressaltam necessidade de campanhas de conscientizao para que se
reduza o consumo da gua.
Apesar da falta de conhecimento sobre a potencialidade do aqfero, a questo suscitou
reflexes interressantes sobre o uso da gua. Como foi mencionada, a captao
superficial programada para ser feita no Rio das Velhas no atender a toda a demanda
do municpio, portanto deve-se preocupar com outras aes na busca de um melhor
aproveitamento da gua captada, como o caso da diminuio das perdas no sistema de
3
Representante do Frum das guas e a representante do Sub-comit da Bacia do Ribeiro J equitib.
4
O Secretario de Municipal de Meio Ambiente e o engenheiro do SAAE.
89
distribuio, por meio da manuteno e melhoria da rede. Embora no tenha sido
assinalada pelos entrevistados, outra ao importante a melhoria da qualidade da
captao, que, paralelamente melhoria da rede de distribuio, geraria um maior
aproveitamento dos poos.
Ao sinalizarem o consumo elevado de gua, foi discutida a importncia da economia
desse recurso por parte da populao, aspecto que envolve a conscientizao sobre a
problemtica e, conseqentemente, a mudana de hbitos da sociedade, para tanto o
poder pblico deve investir em campanhas educacionais contnuas. Durante toda a
pesquisa, no foi constatada essa preocupao nem pelo SAAE, nem pela prefeitura
municipal.
5.3. DEGRADAO DO AQFERO
A degradao do aqfero pode estar relacionada forma do manejo dos recursos
subterrneos e superficiais e ao uso e ocupao do solo, sendo de grande importncia
conhecer a percepo sobre essa questo das pessoas envolvidas com a problemtica
da gua no municpio.
De maneira geral, os entrevistados comungam da idia de que h a degradao do
aqfero, uma vez que o municpio no conta com um plano diretor das guas que
considere a interao das guas subterrneas e superficiais e seus usos. O
representante do Frum das guas adverte que necessrio dimensionar a
degradao do aqfero, pois a partir do momento que no se tem subsdios tcnicos
para a explotao, a comear pela falta de um estudo hidrogeolgico, pode-se considerar
inadequada a forma como vem sendo captada a gua do subsolo.
Segundo o engenheiro do SAAE, h uma explotao inconseqente, com perda de
grandes volumes de gua e, cada vez, captando-se mais, sendo esses fatos
preocupantes. Dessa maneira, ele afirma que o SAAE est tentando regularizar essa
situao, porm reconhece que as perfuraes so feitas sem critrios tcnicos, sem o
controle das informaes sobre o sistema e muito menos sobre a captao particular, que
deve ser coibida.
A preocupao do Secretario de Meio Ambiente com a ocupao urbana e a diminuio
da rea de recarga do aqfero devido impermeabilizao do solo, pois acredita que
90
haja uma relao direta entre o rebaixamento do nvel de gua em subsolo e a ocorrncia
das subsidncias. Para ele, o fato revela uma forma de degradao do aqfero, alm de
comprometer a segurana da populao. A representante do Subcomit da Bacia do
Ribeiro J equitib relaciona os problemas de subsidncias com o bombeamento
excessivo de gua do subsolo.
Como no se tem conhecimentos mais aprofundados sobre o subsolo, foram levantados
aspectos importantes relacionados recarga do aqfero, impermeabilizao do solo,
ao comportamento do nvel da gua em subsolo sobre as condies de explotao
contnua e s reas de riscos geolgicos. O conhecimento sobre esses aspectos deve
ser considerado prioritrio para a gesto das guas do municpio e merece estudos
especficos para o entendimento dessas questes e suas relaes com a degradao do
aqfero.
5.4. DIMINUIO DE OFERTA DE GUA E O CRESCIMENTO DA DEMANDA
Ao serem questionados quanto falta de gua em Sete Lagoas, todos os entrevistados
foram unnimes ao afirmar que ela ocorre periodicamente de maneira crescente ao longo
dos ltimos anos. Porm no relacionaram diretamente esse fato com a conexo entre
oferta e demanda da gua.
O engenheiro do SAAE relata que h freqentemente falta de gua e que o problema
devido m distribuio da rede. Pois, segundo suas informaes, a rede est
subdimensionada e, da maneira que foi sendo ampliada ao longo dos anos, no tem
condies de levar gua de um lugar que tem sobra para outro que esteja em falta em
determinado momento. De acordo com os dados do gerente de hidrogeologia, os bairros
que no so atendidos e onde h falta de gua continuamente localizam-se no final da
rede de distribuio. No perodo de seca dos ltimos anos, o SAAE vem usando de
caminhes-pipas para abastecer esses pontos da cidade.
Os entrevistados reconheceram que a demanda aumentou muito nas ltimas dcadas
devido ao crescimento da populao e houve muita perfurao de poos com o objetivo
de suprir as necessidades, porm a presso da gua na rede vem caindo e a falta de
gua ocorre cada vez com mais freqncia. A representante do Subcomit da Bacia do
Ribeiro J equitib e o Secretario Municipal de Meio Ambiente acreditam que o
crescimento intenso da populao nos ltimos anos tenha levado ao aumento da
91
demanda em maior proporo, desta maneira a busca por outra fonte de captao, como
no Rio das Velhas, seja a soluo.
De acordo com o engenheiro do SAAE, a oferta da gua no chegou a cair, o que vem
acontecendo so problemas de manejo da captao e distribuio, um dos exemplos
que, ao perfurar um poo, h o dimensionamento de sua vazo e, aps algum tempo, os
poos exaurem ou diminuem a vazo estipulada inicialmente. Nesses casos, em
particular, o fato ocorre por falta de critrios e estudos detalhados para efetuar-se a
perfurao e o resultado a busca por outros pontos de perfurao para suprir a
demanda. Esse fato leva perda de recursos pblicos financeiros.
Diante das respostas dos entrevistados, fica evidente, principalmente, que a deficincia
de gua no sistema de abastecimento fruto da ausncia de conhecimento sobre os
melhores pontos para a captao e da carncia de planejamento adequado para a rede
de distribuio, alm da falta de investimentos em equipamentos e em mo-de-obra
qualificada. Sob esse ponto de vista, a programada captao superficial no Rio das
Velhas torna-se uma alternativa que demonstra a falta de comprometimento das
autoridades com a gesto do sistema, buscando uma opo mais cara para os cofres
pblicos. A execuo de estudos e projetos, do sistema atual, deve ser considerada
como prioridade, pois alm de menos dispendiosos, objetivam a soluo de problemas
antigos. Sem a soluo desses entraves do sistema, no haver melhoria na distribuio
da gua para a populao. Considera-se que o maior dos problemas o
desconhecimento sobre o volume de gua subterrnea.
5.5 CONTROLE DA CAPTAO
Os entrevistados foram questionados sobre a rotina de controle e acompanhamento do
comportamento das vazes dos poos e sobre a importncia dessas informaes.
Apenas um dos entrevistados, a representante do Sub-comit da Bacia do Ribeiro
J equitib acredita que o SAAE faz esse trabalho como rotina. Na realidade, no h
acompanhamento das informaes hidrulicas e qumicas dos poos e, dentre os
entrevistados, destaca-se a resposta do gerente em hidrogeologia do SAAE, como meio
de exemplificar a situao:
92
Ainda no h nenhum acompanhamento dos poos, devido falta de
organizao sistmica e operacional. Portanto os dados existentes no
so totalmente confiveis, no so corretos e no tm uma
averiguao. Nosso trabalho sempre de emergncia e nunca de
preveno (Gerente em hidrogeologia do SAAE).
A resposta do entrevistado demonstra a falta de controle do sistema em relao s
informaes dos poos e, quando afirma que os dados so inconsistentes, aponta para
problemas operacionais, j que o sistema, como ele prprio confirma, no conta com
coleta, organizao, sistematizao e tratamento dos dados da captao e da
distribuio. Ele ressalta ainda que o controle pontual, de acordo com as necessidades.
Segundo o Secretrio Municipal de Meio Ambiente, apesar da legislao de Sete Lagoas
prever essa rotina, o motivo para a falta de acompanhamento das informaes devido
baixa capacitao tcnica, acrescentando que ainda no foi contemplado, nos concursos
pblicos, nenhum cargo com formao especfica de acompanhar esse tipo de trabalho.
Salienta que o monitoramento dos poos um trabalho vantajoso para se saber das
reservas subterrneas de gua, para controle da demanda, coibindo o excesso do uso e
o desperdcio de agua e, mesmo depois de iniciada a captao no Rio das Velhas, esse
controle ser necessrio, pois a captao subterrnea ainda vai continuar constituindo
um risco para a cidade.
Para o representante do Frum das guas, o motivo da falta de controle e
acompanhamento da captao o desinteresse poltico com a qualidade de vida da
populao. Ele adverte sobre o fato de que a prtica de monitoramento dos poos uma
obrigatoriedade, pois acredita que no h segurana na captao subterrnea sem o seu
monitoramento.
O engenheiro do SAAE considera que a autarquia no investiu, ao longo de sua histria,
no sistema de captao e distribuio como era necessrio. Aponta ainda, que o SAAE
foi sucateado e est em situao crtica, mas acredita que possvel sua recuperao.
Ele ainda enfatiza que o problema a sistematizao da captao, ou seja, a
organizao.
Nas respostas dos entrevistados, fica claro que o controle das informaes de forma
sistematizada nunca foi uma prioridade para o sistema de captao e distribuio de
93
gua de Sete Lagoas. O fato que o SAAE no conta com um departamento
responsvel por esse tipo de trabalho de forma organizada e rotineira.
5.6 POOS CONTAMINADOS OU POLUDOS
A questo apresentada aos entrevistados sobre a ocorrncia da contaminao ou da
poluio de poos, visou comparao das informaes dos relatrios laboratoriais do
SAAE. Todos os entrevistados afirmaram que h alguns focos de contaminao,
principalmente por ferro e mangans. Somente o engenheiro do SAAE afirma que no.
Sobre esse assunto ele relata:
No h nenhuma contaminao ou poluio, porque existe um aspecto
que funciona bem no SAAE que se chama: controle de qualidade. O
sistema de controle de qualidade do SAAE muito eficiente, apesar de
ter problemas com equipamentos, mas funciona muito bem. Ento no
se tem detectado qualquer contaminao (Engenheiro do SAAE).
Entretanto o gerente de hidrogeologia do SAAE contradiz a informao anterior ao
afirmar que:
H contaminao. Tem em alguns poos a evidncia de contaminao
por ferro e mangans, por exemplo, e j tem duas estaes de
tratamento para esses poos especficos, porm no esto em
funcionamento, faltando s inaugur-los. Tem alguns casos que a gente
v durante o ano, como pessoas que utilizam uma gua muito suja,
muito escura, ento feita uma anlise e averiguado que tipo de
contaminao que h nessas guas (Gerente em hidrogeologia do
SAAE).
Durante conversa de carter informal, a responsvel pelo laboratrio de anlises do
SAAE esclareceu que h contaminao de dois poos por ferro e mangans (Figura: 4.1)
e, especificamente, para esses poos utilizado o produto ortopolifosfato, que no tem a
finalidade de retirar os elementos da gua, mas melhorar seu aspecto quanto
colorao, pois o produto reage, estabilizando o ferro e mangans, evitando que a gua
fique com a cor avermelhada. Ela confirmou as instalaes de duas estaes de
tratamento para a retirada desses elementos da gua, pois h ainda constantes
94
reclamaes por parte da populao atendida diretamente com a gua desses poos,
devido colorao do mineral.
Ao comparar as respostas, fica evidente que no h comunicao entre os setores dentro
do prprio SAAE, pois as informaes so adversas. Esse um problema administrativo
causado pelo modelo organizacional adotado, que centraliza e no padroniza as
informaes dentro dos setores do rgo.
5.7 SUBSIDNCIAS E A CAPTAO DA GUA
O questionamento aos entrevistados acerca da captao de gua subterrnea e a
relao com a ocorrncia das subsidncias teve o objetivo de inventariar informaes ou
fontes que ainda no tenham sido pesquisadas durante a etapa de levantamento de
dados.
De modo geral, os entrevistados foram cautelosos ao responder, pois afirmaram que h a
necessidade de estudos para comprovar tal relao. O representante do Frum das
guas argumentou que, at o presente momento, ningum comprovou essa relao e
que pode um abatimento no solo no ter ligao direta com a captao da gua. Apesar
de no afirmar sobre essa relao, o gerente de hidrogeologia do SAAE deduz que pode
haver influncia da explotao, pois na regio onde se encontra o maior nmero de
ocorrncia de subsidncias , justamente, a rea onde os poos apresentam grande
variao de vazo entre os perodos de seca e de chuva.
Entretanto o Secretrio de Meio Ambiente de Sete Lagoas afirma que o aumento do
consumo de gua um dos fatores preponderantes para a ocorrncia desses
abatimentos, pois acompanhou alguns trabalhos tcnicos na ocorrncia dos abatimentos,
e todos os relatrios chegaram a essa concluso.
Como mencionado anteriormente, as subsidncias merecem estudos detalhados que
apontem reas frgeis com suscetibilidade de ocorrncia do fenmeno e sua relao com
a explotao de gua, para que se possa auxiliar tanto na captao subterrnea como no
uso e ocupao do solo.
5.8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
95
Os entrevistados foram argdos sobre o gerenciamento do sistema de captao e
distribuio de gua e houve controvrsias nas respostas. A maior parte das afirmaes,
aproximadamente 70%, demonstrou que o sistema precrio, pois no atende de
alguma forma seus objetivos. A seguir esto transcritas as respostas de trs
entrevistados que relatam fragilidades do sistema:
H muitos problemas... no vou dizer que falido porque abastece a
cidade, mas o gerenciamento do sistema feito de maneira para l de
precria e digo gerenciamento de sistema quando desde ligar uma
pena de gua numa casa nova at consertar uma bomba que est l
trabalhando acima da capacidade. Tem todo o tipo de questes para
serem resolvidas (Representante do Frum das guas).
H vrios problemas. A gente no tem como zonear reas de
atendimento da rede, os poos no so especficos de determinada
rea, de determinado bairro, a gua cai na rede e joga pra cidade
inteira. Ento, se der algum problema em um determinado poo acaba
gua em bairros completamente fora da rea de abastecimento dos
poos. Ento no tem gerenciamento no (Gerente de Hidrogeologia do
SAAE).
[...] o que est girando em torno do SAAE que no tem capacitao
tcnica, no tem pessoal com um nvel de informao para fazer esse
acompanhamento, no tem um controle eficiente da rea. Isso um
processo antigo que agora que estamos vendo as conseqncias
indiretas dessa situao acelerada de consumo e rebaixamento cada
vez mais acelerado em nosso lenol fretico. Ento ningum atinava
para isso, via-se como um recurso renovvel, mas altamente renovvel,
no como uma coisa exaurvel, como agora a gente est vendo. Houve
alguns estudos para esse problema que a gente teve anteriormente, e
foi visto que na rea da Serra de Santa Helena, em reas que recebiam
a captao de guas fluviais ali, essa gua ia atingir o nosso aqfero
depois de duas ou trs semanas, ou at 4 semanas que ela ia chegar.
Ento no d tempo para reposio, o ritmo est acelerado (Secretrio
Municipal de Meio Ambiente de Sete Lagoas).
96
Os problemas operacionais apresentados nas entrevistas foram constatados durante as
visitas de campo. Em vrios pontos de captao, a gua explotada direcionada
imediatamente para a rede de distribuio, ou seja, no h o armazenamento da gua, e
vrios bairros so distantes dos poos, como pode ser visualizado na Figura 4.1 -
captulo 4. Provavelmente, a falta de reservatrios e a precariedade da rede de
distribuio so aspectos do sistema que confirmam a sua ineficcia. Outros problemas
operacionais constatados nas visitas e confirmados pelas entrevistas esto vinculados
ausncia de um plano de atuao nas vrias frentes de trabalho, desde a instalao de
uma nova ligao de gua em uma residncia at a manuteno de bombas dos poos.
Verificou-se que no SAAE no h o controle dos equipamentos utilizados na captao,
como o tipo de bombas, o ano de instalao, a data de manutenes, e nem sobre a rede
de distribuio. Segundo informaes de funcionrios do setor operacional, no existe
manuteno do sistema, o que acontece so reparos, mesmo assim, quando aparecem
os problemas nos poos ou na rede.
Entretanto o engenheiro do SAAE afirma que, diante da ameaa da perda da concesso,
a prefeitura municipal est estruturando a autarquia:
O gerenciamento est sendo implementado. Ele foi abandonado e
agora ele est se reestruturando porque teve uma fase em que o SAAE
pensava que a COPASA ia assumir. Estavam certos, mas, a partir de
um determinado momento, mudou-se e a populao no aceitou essa
mudana, e a o municpio foi obrigado a reestruturar o SAAE
(Engenheiro do SAAE).
Apesar do relato do engenheiro sobre as mudanas gerenciais no SAAE, foi constatado
que, aps o veredicto sobre a concesso da gua, ainda no foram feitas mudanas
administrativas que possam resolver os problemas operacionais apresentados
anteriormente.
Apenas um entrevistado, a representante do Sub-comit da Bacia do Ribeiro J equitib,
acredita que o SAAE utiliza de plano de aes:
97
J houve at uns Fruns sobre essa questo da gua, da mudana do
SAAE para a COPASA. Eu moro aqui em Sete Lagoas h muito tempo
e sempre foi o SAAE que foi o responsvel pelo uso das guas, e a
gente v que tem algumas coisas que poderiam ser melhores, mas a
gente percebe tambm que j h um planejamento, com aes em
andamento pra poder alcanar esse objetivo, inclusive tendo em vista
esses projetos que o SAAE est trabalhando, que foram trazidos aqui
pra ns no sub-comit, tem vrias propostas que realmente so
necessrias para a melhoria da prestao de gua aqui em Sete
Lagoas (Representante do Sub-comit da Bacia do Ribeiro J equitib).
A resposta da entrevistada demonstra uma dicotomia entre a gesto das guas
superficiais e subterrneas, j que nunca ocorreram aes que contemplassem a
integrao das mesmas no municpio. Dessa maneira, entende-se que Sete Lagoas,
mesmo abastecendo-se totalmente de gua subterrnea, no se preocupa com a
realizao de um plano diretor das guas, que a auxilie na elaborao de planejamentos
e aes conjuntas.
5.9 INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
Como demonstrado no captulo 4, as instalaes e os equipamentos do sistema de
captao e distribuio de gua de Sete Lagoas, geralmente, apresenta um quadro de
degradao, necessitando de melhorias em busca de sua reverso. A demanda por
recursos financeiros e investimentos necessrios elevada. Para a compreenso acerca
desse quadro e das condies de investimentos em infra-estrutura, os entrevistados
formam questionados sobre o tema. As respostas dos entrevistados sobre essa temtica,
de modo geral, foram curtas e demonstraram falta de conhecimento sobre o assunto.
Destaca-se a resposta do ex-presidente-diretor do SAAE:
Nos ltimos anos, nas ltimas administraes, foi completamente
abandonado qualquer tipo de investimento na rea de saneamento.
Estamos tentando, junto com a direo do SAAE e o prprio prefeito,
buscar recursos para dotar o SAAE de uma capacidade operacional
bsica e que seja possvel manter. E a sim, para a empresa estar
funcionando dentro do mnimo necessrio, a gente precisa ter grupos
98
tcnicos para estudarem todo o remodelamento e a modernizao do
setor de saneamento (Ex-presidente-diretor do SAAE).
Diante da resposta do ex-presidente-diretor, fica evidente a falta de condies de
operao do sistema, uma vez que nunca houve planos de investimentos tanto em obras,
como em pessoal tcnico. Ele ainda aponta que, devido falta de controle dos
equipamentos, h grandes perdas de recursos financeiros no SAAE, e muitos desses
materiais so alugados.
De acordo com a opinio do engenheiro do SAAE, no houve investimentos necessrios,
e por isso o SAAE encontra-se desta forma, sem as condies mnimas de
operacionalidade.
Segundo a representante do Sub-comit do Ribeiro J equitib, existem verbas e o SAAE
utiliza desses recursos para fazer investimentos na rede de captao e distribuio, como
exemplo cita o convnio da autarquia com o Ministrio das Cidades para a construo de
reservatrios e estaes de tratamento. Porm, como j mencionado anteriormente,
essas aes so efetuadas de modo pontual, desvinculadas de um plano de ao que
considere todo o sistema e podem ser consideradas obras emergenciais.
Alm da questo apontada sobre investimentos em infra-estrutura, foi demonstrada a
preocupao de todos os entrevistados em investimentos na qualificao profissional.
5.10 QUALIFICAO DA GESTO DAS GUAS EM SETE LAGOAS
fundamental que a gesto das guas em um municpio garanta a preservao, o uso, a
recuperao e a conservao da gua em condies satisfatrias para os seus mltiplos
usurios e de forma compatvel com a eficincia e o desenvolvimento equilibrado (Leal,
2003). Ao serem questionados sobre a gesto das guas subterrneas no municpio, os
entrevistados, de modo geral, apontaram para uma gesto fraca, centralizadora, sem a
participao da populao e sem a integrao entre o poder pblico, os usurios e as
entidades que atuam ou se interressam pela gesto.
A resposta seguinte serve para ilustrar a opinio dos entrevistados:
99
Eu a qualificaria de irregular para fraca, no tem outra forma de dizer.
Na verdade no uma critica a este governo e aos gestores que esto
l hoje, uma critica a um modo de pensar da cidade. A crise que o
SAAE passa no obra de um governo, obra de um pensamento que
j permeia na cidade h uns trinta anos, e que no v como estratgia
fundamental a gente cuidar do setor de saneamento, de uma maneira
prioritria, principalmente porque este municpio est em cima de um
carste. Ento o setor de saneamento tem que ter um outro olhar dentro
de um municpio que tem essas caractersticas (Ex-presidente-diretor do
SAAE).
A resposta demonstra a centralizao e a falta de integrao na gesto das guas em
Sete Lagoas e ainda salienta sobre a importncia de priorizar as aes de saneamento,
especialmente por peculiaridades ambientais do municpio, caracterizadas pelo domnio
das rochas calcrias. Portanto o saneamento merece ateno devido s fragilidades que
esse tipo de ambiente apresenta, principalmente, pelas possibilidades de poluio do
aqfero.
De acordo com as informaes do gerente em hidrogeologia do SAAE, a questo da
gesto das guas em Sete Lagoas delicada e carente de soluo. Ele enfatiza que a
burocracia do sistema o grande entrave para poder melhorar as condies de gesto.
Para o representante do Frum das guas, a melhoria da gesto depende de vontade
poltica. Entretanto, o engenheiro do SAAE contesta as opinies anteriores ao relatar que
a gesto das guas est se qualificando no municpio:
A gesto de gua de Sete Lagoas est melhorando muito com essa
nova poltica de racionalizao, de estudo, de nova concepo. Depois
da populao ter rejeitado a Copasa, o municpio se viu obrigado a
investir no servio de gua, que de responsabilidade municipal. Ento,
com isso, eu acredito que dentro de pouco tempo vai estar tudo
recuperado (Engenheiro do SAAE).
Sua resposta ressalta a participao da populao no processo de concesso da gua,
porm desconsidera outros aspectos da gesto, como a centralizao das decises e a
integrao das aes. Entretanto, como j mencionado, at o presente momento, no
100
houve grandes investimentos no sistema de captao e distribuio de gua de Sete
Lagoas que caracterizassem uma nova poltica.
5.11 PROCESSO DE CONCESSO SAAE VERSUS COPASA
O processo de concesso do gerenciamento dos recursos hdricos movimentou a cena
poltica no ano de 2007. Evidentemente, houve opinies a favor das empresas envolvidas
e contra elas. Entre as questes mais relevantes durante o processo esto: a garantia de
bons servios e o preo final dos mesmos. Todos os entrevistados acreditam que a
COPASA, por ser uma empresa consolidada de grande porte, possui profissionais com
melhor qualificao tcnica, possibilitando um controle mais ordenado do sistema.
Quanto ao atendimento populao, acreditam que melhoraria exatamente pela
padronizao dos servios.
Entretanto h duas respostas que salientam a necessidade de investimentos no sistema
atual visando sua melhoria:
Mas mesmo a copasa vindo, os investimentos no podem deixar de
ocorrer. Eu no sei se a COPASA viria para Sete Lagoas e realizaria
todos os investimentos necessrios. um chute... a gente precisaria de
um investimento, a curto prazo, de 500 milhes. Eu no sei se a copasa
faria este investimento. Ento, olhar o que a empresa COPASA e o
que o SAAE, bvio que a COPASA muito melhor. Mas, ser que
estar disposta a assumir esse servio e fazer todos os investimentos
necessrios? Eu realmente no sei. Ento, por falta desse
conhecimento, eu no me arriscaria a dizer que o servio melhoraria
substancialmente (Ex-presidente-diretor do SAAE).
Eu acho que enquanto no fizer o estudo hidrogeolgico, no deve
decidir a respeito de mudar o tipo de captao da gua, tem que
remanejar sim o sistema de poos, mas o que eu penso que tem que
ter responsabilidade, porque no d pra dizer simplesmente: vamos
trazer a COPASA acho que d pra resolver aqui mesmo, faltam
investimentos (Representante do Frum das guas).
101
As afirmaes demonstram preocupao com o modelo de gesto, uma vez que
acreditam que, de qualquer forma, os investimentos no sistema so necessrios para a
melhoria dos servios.
Apesar de ressaltar a qualidade dos servios da COPASA e o seu potencial para a
recuperao imediata do sistema, o engenheiro do SAAE, assegura que se a autarquia
for reestruturada, tem condies, a mdio prazo, de prestar um servio de qualidade
populao.
Durante as reunies pblicas, foi possvel observar que havia motivao entre os
presentes para a reestruturao do SAAE e talvez esse seja um dos fatores que
influenciaram a deciso da Cmara Municipal de Vereadores pela continuidade da
concesso ao SAAE.
Sobre o aspecto do preo final dos servios pagos pelos usurios, os entrevistados
ficaram divididos e somente um no soube responder. Caso a COPASA ganhasse a
concesso, a proposta principal para o sistema era a captao superficial no Rio das
Velhas, portanto a preocupao com o aumento dos preos devido ao repasse desses
custos para os usurios, j que as obras foram oradas inicialmente em 250 milhes de
reais.
A resposta do engenheiro do SAAE exemplifica e justifica a noo dos entrevistados que
confiam que os preos deveriam diminuir, pois, segundo ele, haveria melhoria no
sistema, fato que economizaria gua, j que a perda de gua na rede muito grande, e,
assim sendo, os custos com energia seriam fixos e as tarifas poderiam diminuir ou ficar
estabilizadas.
O ex-presidente-diretor do SAAE explica que Sete Lagoas poderia lucrar com a captao
superficial, feita pela COPASA ou pelo prprio SAAE e, desta maneira, acredita que os
preos dos servios no iriam subir:
A captao no Rio das Velhas, a 35 a 40 km daqui, vai passar pelo
municpio de Funilndia, ter uma estao de tratamento de gua ainda
dentro daquele municpio, com todos os parmetros legais e as
liberaes entre os municpios de Funilndia e Sete Lagoas. A gua
tratada no s iria servir a Sete lagoas, mas tambm aos municpios
102
vizinhos. O fornecimento de gua a outros municpios poderia gerar
receita para Sete Lagoas, e o custo final para a populao do municpio
no ia ser alterado, ele continuaria nas mesmas bases (Ex-presidente-
diretor do SAAE).
5.12 DEMANDA E OFERTA
O modelo de gesto adotado pelo SAAE preocupa-se constantemente com a oferta, haja
vista que as obras sempre so voltadas para a garantia da disponibilidade da gua.
Durante as visitas de campo e nos relatrios elaborados no SAAE, no houve meno
sobre uma gesto preocupada com a demanda, que consiste em aes para o controle
do uso, principalmente, por meio de procedimentos administrativos ou com a utilizao de
instrumentos econmicos e de regulao (Leal, 2003).
Os entrevistados foram questionados sobre a gesto da oferta e da demanda. O
representante do Frum das guas reconhece que a gesto das guas no municpio
voltada para a poltica da oferta:
[...] dentro de uma projeo de crescimento da cidade, como vamos
fazer? Vamos fazer outra aduo ou vamos aumentar o sistema de
poos? Ento, de qualquer maneira, tem que ser feito um estudo. Eu
acho que a gente tambm no deve sair por a, pensando que, se
dobrar a populao, vai dobrar o consumo. Eu acho que a tendncia
daqui pra frente existir uma educao ambiental e uma
conscientizao da populao para se evitar o desperdcio, para se ter
um uso mais consciente, que se faa o reuso da gua dentro das
empresas. Ento acho que no uma idia simplista de que dobrou a
populao dobra o consumo. Essa questo de suprir a demanda com
mais oferta ultrapassada (Representante do Frum das guas).
Sua resposta demonstra preocupao com a gesto da oferta, que, no municpio, sempre
foi feita sem conhecimento prvio, haja vista que a perfurao dos poos feita de
maneira aleatria. E, tambm, com a gesto da demanda, que necessita de melhorias no
gerenciamento efetivo e direto, na fixao de normas e nas orientaes populao,
objetivando a disciplina quanto ao uso da gua.
103
Segundo o engenheiro do SAAE, a captao no Rio das Velhas uma soluo muito
boa:
No principio, eu estudei muito esse aspecto do Rio das Velhas, e hoje
eu vejo que ela cada vez mais necessria, para que ns possamos ter
uma devida equalizao do abastecimento de gua. Ento com dois
sistemas, tem-se como fazer a programao no sistema subterrneo,
com um horrio menor de funcionamento dos poos, permitindo a
recarga do lenol, o que no acontece hoje (Engenheiro do SAAE).
Com sua resposta, percebe-se claramente que ainda no h uma preocupao com a
gesto da demanda no SAAE, os planos contemplam a disponibilidade da oferta. Todos
os outros entrevistados levantaram questes sobre o crescimento populacional e
industrial do municpio, lembrando somente da necessidade da oferta como garantia de
desenvolvimento.
5.13 PROBLEMAS DA GUA EM SETE LAGOAS
Ao questionar os entrevistados acerca dos conflitos da gua no municpio, buscou-se ter
noo da percepo dos mesmos sobre tais problemas.
Dentre os conflitos identificados pelos entrevistados, destacam-se:
(i) A falta peridica de gua, que, segundo a maioria deles, acontece em todos
os bairros da cidade. Esse um problema oriundo da carncia de estudos e
planejamento da rede de captao e distribuio de gua, aliado falta de
investimentos necessrios para a melhoria da rede. Segundo o engenheiro do
SAAE, na prtica, os motivos para a falta gua so: a instalao inadequada
de equipamentos (como as bombas dos poos), a falta de pessoal treinado e
qualificado e o sucateamento de equipamentos da autarquia.
(ii) O esgotamento sanitrio, atribudo poluio industrial e domstica das
guas, tanto superficiais como subterrneas. Sobre esses aspectos faltam, no
municpio, normas, fiscalizao e investimentos em obras.
104
(iii) A caracterstica da gua devido elevada concentrao de carbonatos,
interferindo no gosto da gua.
(iv) A prestao de servios de qualidade. Esse aspecto est ligado diretamente
falta de padronizao dos servios prestados pelo SAAE.
(v) A demanda industrial. A escassez da gua no municpio pode inviabilizar a
instalao de indstrias e, conseqentemente, afetar o crescimento
econmico da cidade. O comentrio do ex-presidente-diretor do SAAE destaca
a preocupao com o volume de gua para atender demanda industrial, mas
questiona a relao entre crescimento e desenvolvimento:
Sete Lagoas est num momento de ouro. Entretanto h uma confuso
entre crescimento e desenvolvimento. Do ponto de vista do
desenvolvimento econmico, o municpio est crescendo. Mas precisa-
se aliar o desenvolvimento com a questo do crescimento econmico.
Pela posio geogrfica, geopoltica e geoestratgica da cidade, um
municpio propcio a receber muitos investimentos. Tem muitas
empresas multinacionais vindo pra cidade e o complexo industrial est
crescendo. O grande problema mesmo o volume de gua para
abastecer todo esse complexo (Ex-presidente-diretor do SAAE).
Os conflitos destacados pelos entrevistados evidenciam que necessria uma mudana
no modelo de gesto municipal das guas por meio de uma nova cultura hdrica, que
considera novas relaes sociedade-natureza. Espera-se que atitudes inovadoras
possam contribuir com a sustentabilidade do desenvolvimento e a compatibilizao do
uso e ocupao do solo e com a conservao das guas, garantindo a sua
disponibilidade de maneira racional.
105
CAPTULO 6
PERSPECTIVAS PARA O FUTURO DA GESTO DAS GUAS EM SETE LAGOAS
Durante a elaborao deste trabalho, foi possvel verificar que, em Sete Lagoas, assim
como em vrias regies com excedente hdrico, problemas de falta de gua no esto
somente relacionados ao aumento do consumo. A questo , sobretudo, como se planeja
racionalmente a utilizao dos recursos hdricos, que requer, inclusive, excelncia no
gerenciamento dos sistemas de abastecimento de gua. Pode-se dizer que no apenas
a atual preocupao com a quantidade de gua disponvel que caracteriza o problema.
H que se considerar, tambm, os processos intrinsecamente conexos organizao
poltico-administrativa, uma vez que tais aspectos concorrem fortemente para que o
cenrio em Sete Lagoas seja de ineficcia e insegurana frente ao sistema de
abastecimento pblico de gua. No h escassez de gua, existem falhas na captao e
distribuio. Esses problemas esto inteiramente relacionados ao gerenciamento do
sistema.
A dificuldade de gesto das guas em Sete Lagoas deve-se, principalmente, ausncia
de instrumentos de gesto, definidos por Leal (2003) como:
Um conjunto de mecanismos, regras e normas
tcnicas, econmicas e legais que fornecem a base
de atuao e vo condicionar a estruturao das
instituies que compem o sistema de gesto como
as polticas e os planos de recursos hdricos (LEAL,
2003) p.76.
A atual situao do sistema de captao e distribuio de gua de Sete Lagoas
resultado de uma gesto ineficiente que prioriza a oferta da gua. Deve-se deixar claro
que tal resultado decorrente das perfuraes contnuas de poos que tinham o objetivo
de solucionar o problema imediato de falta de gua. Entende-se que a realidade
ambiental de Sete Lagoas no um entrave para a gesto, pois os problemas do sistema
de abastecimento de gua so decorrentes da falta de planejamento dos aspectos
relacionados com a infra-estrutura do sistema e da falta de informaes e conhecimento
tcnico. Acredita-se que as deficincias do sistema poderiam ter sido evitadas, pois no
houve investimentos adequados captao da gua, expanso da rede e nem em
cuidados tcnicos para a operalizao do sistema.
106
De acordo com Magalhes (2007), h cinco tipos de crises inter-relacionadas no domnio
da gesto das guas e, diante das caractersticas do atual sistema de captao e
distribuio de gua em Sete Lagoas, pode-se identificar que o sistema passa pelo
menos por trs crises:
(i) Crise do suprimento e de demanda, relacionada carncia de infra-estrutura
de abastecimento de gua, como redes e captao;
(ii) Crise organizacional, relacionada ao gerenciamento, traduzida como
carncia de recursos humanos, quadro legal ineficiente, sobreposio e
lacunas institucionais, dentre outras;
(iii) Crise de dados e de informao, referente disponibilidade de dados, sua
confiabilidade, consistncia e comparabilidade, mas tambm a processo de
interpretao, integrao, combinao, julgamento, modelagem e construo
de sistemas de suporte s decises.
No modelo de gesto atual, no h transparncia sobre o sistema e nem h integrao
das informaes entre os prprios setores do SAAE. Essa falta de preparo incompatvel
com a realidade da demanda na cidade. As perspectivas para o sistema de captao e
distribuio de gua de Sete Lagoas apontam para a continuidade de intenso crescimento
populacional urbano e industrial. Dessa forma, ao adotar um horizonte at 2030, daqui a
22 anos, verifica-se que a demanda total de gua quase duplicar e, nesse mesmo
perodo, a carga poluidora poder crescer no mesmo volume. Com isso, o sistema atual
apresenta um futuro preocupante em, pelo menos, em quatro aspectos:
(i) os colapsos na rede de distribuio mais constantes, devido falta de
manuteno adequada, s perdas na rede e baixa operacionalizao dos
equipamentos de captao;
(ii) o desequilbrio acentuado entre a crescente demanda por gua e a
disponibilidade de recursos hdricos, decorrente da falta de investimentos
adequados;
(iii) o comprometimento da qualidade da gua para o abastecimento, devido ao
aumento da carga poluidora nos cursos superficiais, podendo atingir as guas
subterrneas;
(iv) aumento no custo de captao, no tratamento e na distribuio da gua,
devido necessidade de projetos e obras reparadoras.
A tabela 6.1 apresenta informaes sintetizadas sobre o sistema de captao e
distribuio de gua de Sete Lagoas.
107
Tabela 6.1 - Caractersticas do sistema de abastecimento de gua em Sete Lagoas/MG
Caractersticas do Sistema de Abastecimento de gua em Sete Lagoas/MG
Captao Observaes
Origem da captao Subterrnea
Desde 1950, o sistema de abastecimento 100%
subterrneo.
Tipo de unidade abastecedora Aqfero crstico
A principal caracterstica a dissoluo do
carbonato de clcio pela ao da gua.
Potencialidades No h conhecimento
O armazenamento ocorre nas galerias ou sales,
canais ou condutos. Geralmente, possui grandes
volumes de gua.
Fragilidades Alta
As fragilidades desse sistema se devem: (i) ao
desgaste da rocha, podendo ocorrer subsidncias
e (ii) vulnerabilidade do ambiente crstico a
poluio.
Demanda Observaes
Tipo da demanda Domstica e industrial
1. A demanda de gua atende aproximadamente
220.000 habitantes com um consumo mdio dirio
de 220 litros.
2. Para o consumo industrial, no h dados.
Porm, na ltima dcada, destaca-se a instalao
de uma fbrica de automveis e de uma srie de
indstrias alimentcias, alm das indstrias de
laticnios, txteis e siderrgicas, tradicionais no
municpio.
Perfil da demanda Crescente
Durante o perodo de 1940 a 2008, acredita-se
que o consumo dirio de gua passou de 50 litros
para 220 litros per capita. Para 2030, projeta-se
390 litros per capita dia.
Comportamento dos usurios
Uso exagerado com
desperdcios
No h preocupao por parte dos usurios com
o uso da gua.
Gerenciamento Observaes
Planos e aes para a captao Insuficiente
A rede de captao expandiu-se de maneira
desordenada.
Planos e aes para a rede de
distribuio
Insuficiente
Pequenas obras para atendimento imediato e
paliativo.
Planos e aes de controle da
demanda e educao sobre o uso
da gua
Nulo
No h a preocupao com a educao para o
uso da gua no municpio e nem com novas
posturas frente aos problemas.
Planos e aes integrados com
outras reas
Nulo
No h a compreenso da importncia da
integrao de projetos, aes, pesquisas ou
atuaes dentro dos rgos municipais.
Controle da captao Insuficiente
No h um departamento no SAAE responsvel
pelo controle dos dados hidrogeolgicos.
Reposio e manuteno de
equipamentos
Insuficiente
No h controle sobre o tempo de utilizao e a
necessidade de reposio dos equipamentos. A
reposio somente ocorre, quando h defeitos.
Sobre a manuteno, no h planos de ao.
Qualificao profissional Baixa
Poucos profissionais so adequados s funes
que exercem. Falta funcionrios para funes
especficas.
Instalaes Ruins
Podem ser qualificadas como precrias e de baixa
qualidade e baixa funcionalidade de trabalho.
Investimentos Baixos
Esses somente so feitos em pequena escala
para atender s necessidades pontuais.
108
A gesto da gua em Sete Lagoas deve priorizar alguns aspectos da captao, da
distribuio e do armazenamento da gua, objetivando a melhoria do sistema em curto
prazo. No caso da captao, necessrio acompanhamento sistemtico dos poos.
Entende-se que de fundamental importncia a criao de um banco de dados com o
objetivo de organizar informaes de rotina, referentes aos pontos de captao de
maneira sistemtica, podendo gerar produtos cartogrficos, redes de monitoramento de
quantidade e qualidade da gua e sistemas de informao, elementos necessrios ao
processo de gesto, pois so indispensveis ao controle, manuteno e ao
gerenciamento do sistema de captao de gua. Para a melhoria no sistema de
distribuio e armazenamento, seria necessria a elaborao e a execuo de um plano
amplo de reestruturao da rede e a construo de reservatrios com maior capacidade
de armazenagem.
Sobre outros aspectos, a gesto da demanda uma estratgia alternativa expanso de
oferta, sendo necessria a atuao do sistema de recursos hdricos junto a todos os
usurios da gua, com vistas ao controle e racionalizao do uso da gua. Assim como
deve-se somar esforos para a integrao entre os sistemas de gesto de recursos
hdricos e a gesto territorial, responsvel pelo controle de uso e ocupao do solo, com
o objetivo de obter domnio da expanso do sistema de abastecimento e, tambm, inibir
processos de degradao do aqfero e dos cursos superficiais de gua. importante
ressaltar que, diante dos aspectos peculiares do ambiente crstico, deve-se considerar o
Aqfero Bambu como arcabouo de uma unidade de gesto mista, que englobe tanto a
bacia de drenagem superficial quanto subterrnea, uma vez que os elementos desses
sistemas so interdependentes.
A cidade de Sete Lagoas necessita de reestruturar o gerenciamento dos recursos
hdricos, adotando um modelo de gesto das guas descentralizado, participativo e
integrado, que considere a interao dos aspectos do carste e da gua subterrnea, das
bacias hidrogrficas, dos crescimentos econmico, industrial e populacional, modelo
pautado na preocupao com a utilizao racional dos recursos hdricos e no
conhecimento cientfico.
109
REFERNCIAS
AGNCIA NACIONAL DAS GUAS. Abastecimento Pblico de gua. Disponvel
<http://www.ana.gov.br/>. Acesso em mai 2007.
ALMEIDA, J . B. et al. Planejamento ambiental. Rio de J aneiro: Thex, 1999.
ANDRADE, Danton. Teatro Redeno: memria e destino. Revista Maestria n.2. 176p.
Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de Sete Lagoas. Sete Lagoas, 2004.
AZEVEDO, Guiomar G. A Regio de Sete Lagoas. Tese de concurso livre docncia da
cadeira de Geografia do Brasil da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de
Minas Gerais. Belo Horizonte, UFMG, 1963.
BARTORRELLI, Andrea. Geologia do Continente Sul-Americano. Evoluo da obra de
Fernando Flvio Marques de Almeida. 1ed. So Paulo: Ed. Beca, 2004. 674p.
CABRAL, J ayme. Informaes bsicas para a gesto territorial - Zoneamento
Geotcnico e Aptido dos Terrenos do municpio de Sete Lagoas. Projeto Vida. Belo
Horizonte, CPRM: 1994.
CAICEDO, N. L.. guas Subterrneas. In: TUCCI, C. E. M. (Org.) Hidrologia: cincia e
aplicao. So Paulo: ABRH, EDUSP, 1993. 943P.
CASSETI, Walter. Elementos de Geomorfologia. Editora da UFG: Goinia, 2001.
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Informaes bsicas para a
gesto territorial - Regio de Sete Lagoas-Lagoa Santa/Minas Gerais: Mapeamento
Geolgico da Cidade de Sete Lagoas-MG com Vistas Aplicao no Planejamento
Urbano. Projeto Vida. Belo Horizonte: CPRM, 1994.
GLEICK, P. H. Water Conflict Chronology. Studies in Development, Environment and
Security. The Pacific Instiue, 2000. Disponvel <www.worldwater.org/conflict.htm>
Acesso em mai. 2008.
HIRATA, R. Recursos Hdricos. In: TEIXEIRA, W. et al (Org.). Decifrando a Terra. So
Paulo. Editora Oficina de textos, 2002. 558 p.
110
HOGAN, D.J . e VIEIRA, P.F. (Org.). Dilemas socioambientais e desenvolvimento
sustentvel. 2ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA. Cidades. Disponvel em <
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>Acesso em: 06 abr. 2006a.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA. Censos Demogrficos,
1980, 1991 e 2000. Disponvel em <http: //www .ibge.gov.br/>Acesso em: 05 jan. 2006b.
J OHNSON, E. El agua subterranea y los pozos. J ohnson Division, UOP Inc. 1975.
KARMANN, Ivo. Ciclo da gua, gua subterrnea e sua ao geolgica. In:
TEIXEIRA, Wilson et Alli. Decifrando a Terra. So Paulo: Oficina de Textos, 2000. 114-
136p.
KARMANN, Ivo. Evoluo e Dinmica Atual do Sistema Crstico do Alto Vale do Rio
Ribeira de Iguape. Sudeste do Estado de So Paulo, So Paulo. Tese Doutorado. 1994.
LANNA, A.E.L. Gesto dos recursos hdricos. In: TUCCI, C.E.M. (Org.). Hidrologia:
ciencia e aplicao. Porto Alegre: Ed. da Universidade: ABRH: EDUSP, 1997. p. 727-68.
LEAL, A.C. Gesto urbana e regional em bacias hidrogrficas: interfaces com o
gerenciamento de recursos hdricos. In: BRAGA, Roberto (Org.) Recursos hdricos e
planejamento urbano e regional. Rio Claro: Laboratorio de Planejamento Municipal:
EDUSP, 2003. p. 65-86.
LLAD, Noel. Fundamentos de Hidrogeologia crstica: introduccin a la
geoespeleologa. Ed. Blume. Madrid, 1970. pg. 35.
MAGALHES, Antnio P. J . Indicadores Ambientais e Recursos Hdricos: realidade e
perspectivas para o Brasil a partir da experincia francesa. Rio de J aneiro: Bertrand
Brasil, 2007. 688p.
MARINHO, Maurcio Alcntara. O Carste em Rochas Carbonticas. Disponvel em
<http://www.gpme.org.br/qcorpo4.htm>Acesso em 16 de set.2006.
111
MINISTRIO DAS CIDADES. Diagnstico dos Servios de gua e Esgotos 2002.
Braslia: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental SNSA: Instituto de Pesquisas
Econmica Aplicada IPEA, 2004. V.8 420p.
MINISTRIO DO MEIO AMBIENTE. Resoluo No. 396. Disponvel <
http://www.mma.gov.br/ >Acesso em 25 de maio de 208.
NOGUEIRA, Marly. A Autonomia de Uma Cidade Mdia- Sete Lagoas (MG).
Geografia, vol. 24, n.1. Rio Claro: Ageteo, 1999.
NOGUEIRA, Marly. Sete Lagoas: a dinmica funcional de um lugar na rede urbana
de Minas Gerais. Rio de J aneiro: UFRJ /CCMN/IGEO, 2003.
PESSOA, Paulo. Caracterizao Hidrogeolgica da Regio de Sete Lagoas MG:
Potencialidades e Riscos. Dissertao de Mestrado. Departamento de Geocincias,
Universidade de So Paulo. So Paulo: 1996.
PETRELLA, Ricardo. O manifesto da gua: argumentos para um contrato mundial.
RJ : Vozes, 2001.
PINHEIRO, Maria Ins Teixeira. Conflitos pelo uso da gua no estado do Cear: um
estudo de caso. Disponvel <http://www.deha.ufc.br/ticiana/
Arquivos/Publicacoes/Congressos/2003/Conflitos_pelo_uso_da_agua_Ceara_8_jun_def.
pdf>Acesso em 17 de janeiro 2008.
PINTO, Andr Luiz. Saneamento Bsico e Qualidade das guas Subterrneas.
Geografia e produo do espao regional: sociedade e ambiente. Org. Edvaldo Csar
Moretti e Maria J os Martinelli Silva Calixto. Campo Grande: Ed. UFMS, 2003. 256p.
PITTON, S. E. C. A gua e a cidade. In: BRAGA, R. e CARVALHO, P. F. (Org.)
Recursos hdricos e planejamento urbano e regional. Rio Claro: Laboratrio de
Planejamento Municipal/UNESP,2003, 131p.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS. Relatrio para o Plano Diretor do
Municpio de Sete Lagoas. Sete Lagoas, 2006a.
112
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS. Sete Lagoas - Informaes Bsicas.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econmico, Polticas Urbanas e Meio
Ambiente. Sete Lagoas, 2006b.
RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do poder. Traduo: Maria Ceclia Franca.
Pour une geographie du pouvoir, Paris, 1980. So Paulo: Editora tica, 1993.
REBOUAS, A. C. guas subterrneas. In: REBOUAS, A. C. et al (Org.). guas
doces no Brasil: capital ecolgico, uso e conservao. 2 ed. So Paulo: Escrituras
Editora, 2002. 702 p.
RIBEIRO, Wagner Costa. guas doces: conflitos e segurana ambiental. Uso e
gesto dos recursos hdricos no Brasil: desafios tericos e poltico-institucionais /
organizao: Rodrigo Constante Martins e Norma Felicidade Lopes da Silva Valncio.
So Carlos: RIMA, 2003.
SCHOBBENHAUS, Carlos. Geologia do Brasil. Departamento Nacional de Produo
Mineral, 1984. pg. 275, 276, 277.
SERVIO BRASILEIRO DE APOIO S MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Sistema de
Informaes Mercadolgicas Municipais de Sete Lagoas. Edio SEBRAE/MG. Belo
Horizonte: SEBRAE, 1995. 124p.
SILVA, B. Adelbani. Hidrogeologia de Meios Crsticos. Disponvel:
http://www.nehma.ufba.br/cursos/apostilas_monografia/Graduacao/LIVROtexto.pdf.
Acesso em 12 jan. 2006.
TUCCI, Carlos E. M, HESPANHOL, Ivanildo, NETTO, Oscar. Cenrio da gesto da
gua no Brasil: Uma contribuio para a Viso Mundial da gua . Revista Analise
e Dados, Salvador, v.13, n.especial, 2003. p.357-370.
TUNDISI, J os Galzia. Recursos Hdricos. Revista Multicincia, v.1, 2003.
URBAN, T. Quem vai falar pela terra? In: NEUTZLING, Incio (org.).gua: bem pblico
universal. So Leopoldo: UNISINOS, 2004, 143p.
113
VARGAS, Marcelo. O gerenciamento integrado dos recursos hdricos como
problema scio-ambiental. Revista Ambiente e Sociedade. Ano II, n.5, 1999.
VILLIERS, Marq. Water. Stoddart Publishing Company, Canada, 1999.
VON SPERLING, Marcos. Introduo qualidade das guas e ao tratamento de
esgotos. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitria e Ambiental:
Universidade Federal de Minas Gerais, 1996. 243p.
114
ANEXOS
115
ANEXO I
Relao dos Documentos Consultados
Nome do Documento Elaborao Tipo de Informaes Ano
Aspectos da Captao Superficial
1 Relatrio de Viagem Fernando Otto Von Sperling Captao de gua superficial. 1967
2 Relatrio de Viagem Fernando Otto Von Sperling Captao de gua superficial. 1968
3 Relatrio de Viagem
Fernando Otto Von Sperling e Fbio
Mximo Lenzoni
Captao de gua superficial. 1969
4 Relatrio de Viagem
Fernando Otto Von Sperling e Fbio
Mximo Lenzoni
Captao de gua superficial. 1969
Aspectos da Captao subterrnea e Distribuio de gua
5 Lei n5. 453
Secretaria Municipal de Planejamento /
Secretaria Municipal da Administrao
Dispe sobre a perfurao de poos
tubulares profundos no municpio de Sete
Lagoas e d outras providncias.
1997
6 Controle de poos de terceiros SAAE Dados sobre poos particulares 1999
7 Controle de poos de terceiros SAAE Dados sobre poos particulares 1999
8 Estatsticas e Indicadores SAAE
Dados sobre a captao e rede de
distribuio de gua
2000
9 Relatrio de Atividades - 1997, 1998 e 1999 SAAE Dados sobre as atividades do SAAE 2000
10 Relao de poos SAAE Dados de localizao e produo 2001
11 Pesquisa sobre a gua - Sete Lagoas SAAE Dados sobre o sistema de abastecimento 2001
12 Relao de poos SAAE Dados de localizao e produo 2003
13
Diagnstico dos Servios de gua e
Esgotos, 2002
Sistema Nacional de Informaes sobre
Saneamento - SNIS
Servios de Saneamento 2004
14
Estudo da captao, distribuio e consumo
da gua em Sete Lagoas
Cludia Helena Martins de Souza Maia
Dados sobre o abastecimento de gua em
Sete Lagoas
2005
15 Dados Estatsticos SAAE Indicadores de desempenho 2006
16 Dados Estatsticos SAAE Indicadores de desempenho 2006
17 Relao de poos SAAE Dados de localizao e produo 2006
18 Resposta ao Ofcio: 559/SEC/2006 Maria de Ftima de M. Cassini L'Abbate Dados sobre o sistema de abastecimento 2006
19 Ofcio - smop /136/2007
Arnaldo Nogueira - Secretario Municipal de
Obras Pblicas
Informaes sobre o sistema de captao
e abastecimento de gua e esgoto de Sete
Lagoas.
2007
20
Relatrio de Concluso dos Trabalhos
referentes ao Objeto do Contrato de n
002/02
Engesolo Engenharia S/A
Avaliao de servios prestados pelo
SAAE
2007
21
Relao de poos outorgados, novos poos
e tamponamento
SAAE
Relao de poos, localizao, vazo e
profundidade.
2007
22 Relao de poos para adequao e outorga SAAE Autos de infrao do IGAM 2007
23 Relatrio SAAE Laboratrio do SAAE Dados sobre a qualidade da gua 2007
Informaes Geolgicas / Geotcnicas
24
Relatrio Tcnico Relativo aos Problemas de
Trincamento de Estruturas na Regio do
Bairro So Geraldo, Sete Lagoas-MG
Roberto Augusto Barbosa Campos Risco geolgico 1991
25
Colapso de Solo Afetando Edificaes na
Rua Dr. Chassim e Avenida Renato Azeredo
em Sete Lagoas-MG
Engeo Sociedade Civil LTDA Risco geolgico 2000
26
Laudo Tcnico - Abatimentos de Solo
Potencial de Risco Geolgico
Stafano Lanza - Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente
Risco geolgico, Aspectos geotcnicos e
Aptido de terrenos
2003
27 Ao Civil Pblica Geraldo David Camargo Risco geolgico 2005
28 Parecer tcnico Maria de Ftima de M. Cassini L'Abbate Risco geolgico 2007
Aspectos da Expanso Urbana e Dados Populacionais
29 Plano Diretor de Sete Lagoas Prefeitura Municipal de Sete Lagoas Dados gerais 2006
116
ANEXO II
Relao de entrevistados na primeira fase de entrevistas - Conversa formal
N Funo
rgo ou empresa que
representa
Local Data
1 Vereador Cmara Municipal Sete Lagoas 24/8/2006
2 Responsvel pelo setor de engenharia SAAE Sete Lagoas 29/8/2006
3 Diretor presidente SAAE Sete Lagoas 29/8/2006
4 Secretrio Secretaria de Meio Ambiente Sete Lagoas 8/1/2007
5
Tcnico responsvel pela manuteno
e controle dos poos
SAAE Sete Lagoas 8/1/2007
6 Diretor presidente SAAE Sete Lagoas 9/7/2007
7 Gerente de Hidrogeologia SAAE Sete Lagoas 17/9/2007
8 Engenheiro Secretaria de Obras Sete Lagoas 17/9/2007
9
Gelogo
Prestou servios a prefeitura
municipal de Sete Lagoas
Belo Horizonte 20/2/2008
10 Coordenao de outorga IGAM Belo Horizonte 29/05/2008
117
ANEXO III
Relao de entrevistados na segunda fase de entrevistas - Perguntas estruturadas
N Funo
rgo ou empresa que
representa
Local Data
1 Gerente de Hidrogeologia SAAE Sete Lagoas 16/abr./08
2 Gerente de Engenharia SAAE Sete Lagoas 16/abr./08
3 Representante Frum das guas Sete Lagoas 16/abr./08
4 Engenheiro Secretaria Municipal de Obras Sete Lagoas 16/abr./08
5
Ex-presidente do SAAE e Ex-
secretrio municipal de meio
ambiente
SAAE/Secretaria Municipal de
Meio Ambiente
Sete Lagoas 16/abr./08
6
Presidente do Sub-comit do
Ribeiro J equitib
Secretaria de Educao Sete Lagoas 17/abr./08
7
Secretrio
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente
Sete Lagoas 17/abr./08
118
ANEXO IV
Entrevista estruturada aplicada aos atores envolvidos com a problemtica da gua no
Municpio de Sete Lagoas
Perguntas
Aspectos Profissionais
1. Empresa onde trabalha ou representa?
2. Qual a sua funo?
3. Grau de escolaridade?
Aspectos Hidrogeolgicos
2. Em Sete Lagoas, h comprometimento dos recursos hdricos subterrneos?
3. O aqfero tem potencial para suprir as necessidades da cidade?
4. H uma real exausto e degradao do aqfero? J ustifique
Aspectos da Captao e Distribuio
5. A captao de gua em Sete Lagoas pode ser considerada de forma indiscriminada?
6. Houve diminuio da oferta da gua nestes ltimos anos frente ao crescimento da demanda?
7. H falta de gua ocasional em determinadas reas da cidade?
8. H um acompanhamento sistematizado dos poos?
9. Quais os motivos da falta de acompanhamento?
10. Quais as vantagens dessa prtica?
11. H evidencias de poos contaminados ou poludos?
12. Os abatimentos tm relao com a captao de gua?
Aspectos da Administrao e Gerenciamento do Sistema de gua
13. H problemas relacionados ao gerenciamento do sistema?
14. Houve investimentos em infra-estrutura adequados ao sistema nos ltimos anos?
15. H infra-estrutura de trabalho no SAAE? O que falta?
16. Como voc qualificaria a gesto da gua em Sete Lagoas?
17. Com a concesso do gerenciamento do sistema de gua de Sete Lagoas a COPASA, como cogitou-se em
2007, o que mudaria no sistema?
18. E, em relao ao servio ou qualidade da gua?
19. Com a captao mais distante, como est no projeto j em andamento de captao no Rio das Velhas, o
preo final da gua para o consumidor ir subir?
20. A soluo do problema est na adaptao da oferta de gua a demanda da populao?
21. Quais os conflitos da gua que so mais preocupantes no municpio?
22. A questo da gua pode interferir no crescimento econmico de Sete Lagoas?
23. O municpio enfrenta dificuldades de elaborar planos e projetos para a rea da captao e distribuio da
gua?
Crise da gua
24. Sete Lagoas passa por uma crise da gua?
25. Quais seriam os fatores que desencadearam a crise?
26. Qual seria a soluo para a iminente escassez de gua no municpio?
119
ANEXO V
Relao das visitas de campo
Vistas de Campo
Quantidade Perodo Objetivo
Conhecer as instalaes do SAAE
1 10 e 11 de julho/2006
Pesquisar documentos
Conhecer as instalaes do sistema de captao e distribuio de gua
Conhecer reas de risco geolgico
Visitar reservatrios e poos
2 8 a 19 de janeiro/2007
Pesquisar documentos
Visitar locais de subsidncias
Visitar reservatrios e poos
Visitar a oficina de manuteno do SAAE
3 9 a 13 de julho/2007
Pesquisar documentos
Visitar novas instalaes do SAAE
4
15 a 17 de
outubro/2007 Visitar reservatrios e poos
120
ANEXO VI
Relao das reunies assistidas
Data Reunies Pblicas Local
13/fev./07
Saneamento ambiental do municpio de Sete Lagoas e
a Meta 2010
Cmara Municipal Sete Lagoas
9/mai/07
Concesso do servio de gua e esgoto do municpio
de Sete Lagoas
Ginsio Coberto Sete Lagoas
24/fev./08 I Frum das guas de Sete Lagoas Auditrio do Colgio Regina Pacis Sete Lagoas
121
ANEXO VII
Relao dos poos do SAAE Perfurao por Dcada
Relao dos poos do SAAE Perfurao por Dcada
Dcada
Ano de
Perfurao
Nome do Poo
(SAAE) Localizao
1942 Mucuri_P1 Rua Major Castanheira, 65
1956 Mucuri_P2 Rua Major Castanheira ao lado do N298
1964 Eldorado Honorina Rua Olavo Bilac N4131 Honorina Pontes
1968 J os Custdio II Rua Emlia, 56
1968 So Geraldo II Rua J os Antnio Chamon, s/n
1
9
4
0
a
1
9
6
9
1968 Eldorado I Avenida Perimetral esq. C/ Rua Ouro Branco
1970 J os Custdio I (Bambu) Rua Emlia, 109
1970 Progresso Rua D. J oo VI, 480
1972 So Geraldo I Rua J os Antnio Chamon, s/n
1972 Nery I Avenida Castelo Branco, 1500
1973 Vapabuu Saturno L. Verdolin, 181
1974 Tiro de Guerra I Rua Professor Abeylard, 182
1976 Lagoa da Catarina I Avenida 21 de setembro, 712
1977 Horta Vapabuu Rua Potiguar, s/n
1977 Quintas do Lago I Rua Pao So Carlos, 70.
1979 Santo Antnio I Avenida Boqueiro s/n
1
9
7
0
1979 Pousada do Sol Clube Pousada do Sol
1980 Centro Comunitrio Rua Cascalho Rico, 839
1981 Melancias Rua das Melancias, 620
1981 Lagoa Boa Vista I Rua Maurlio de J esus Peixoto, 1595
1981 CDI-I Avenida Norte, 500
1981 Vila Vicentina Rua Floripes G. Cotta, 784
1981 Verde Vale Rua J oo Estanislau n 193
1982 Tiro de Guerra II Rua Professor Abeylard, 250
1982 Lagoa Cercadinho Rua Engenheiro J os Evangelista Frana, 455
1983 Itapo Rua Araponga, 141
1984 Santa Luzia Rua Santa Luzia, 64
1985 Boa Vista II Rua Maurlio de J esus Peixoto, 252
1986 Rodoviria Rua Dr. Sebastio Mascarenhas, 105
1986 Santo Antnio II Avenida Boqueiro s/n
1986 Nery II Rua J oo Damasceno, 774
1986 Avenida das Naes Avenida das Naes, 57
1987 CDI II Avenida Norte, 500
1
9
8
0
1987 Estiva Estiva
1990 Policlnica Rua Felipe Vasconcelos N 301
1990 Boa Vista III Rua Maurlio de J esus Peixoto, 999
1991 Recanto do J acar I Avenida Alberto Moura, 4265
1991 Alvorada I Rua Clara Nunes, 895
1991 Belo Vale I Fazenda Goiabeiras
1991 Morro Redondo Poo I Poo perto da Cabine
1
9
9
0
1992 Belo Vale II Fazenda Goiabeiras
122
1993 Sinh Andrade I Avenida Renato Azeredo, 2575
1993 Serra I (Tefilo Otoni I) Rua J air Sales
1995 Alvorada II Avenida Israel Pinheiro, 613
1996 Monte Carlo IV Avenida Renato Azeredo s/n
1996 Areias Areias
1996 Barreiro I Fazenda Luiz Felipe
1996 Belo Vale III Fazenda Goiabeiras
1996 Dona Dora Rua Bernardo Alves Costa, 600
1997 Recanto do J acar II Avenida Alberto Moura, 4265
1997 Sindicato P. Exposies Rua Dallas, 120
1997 Barreiro II Rua 10, 143
1997 Cidade de Deus I Estrada de Funilndia
1997 Silva Xavier I Poo perto da ponte
1997 IVECO II Rodovia Santana de Pirapama
1998 Fazenda Velha Rua 2, 1804
1998 Horta J K I Avenida Arquimedes, s/n
1998 Parque da Cascata Serra de Santa Helena
1998 Riacho do Campo II Rua Rufino Teixeira n 40
2000 Fazenda do Benjamin ?
2000 Iveco I Rodovia Santana de Pirapama
2000 Wenceslau Braz III
Poo fica a 180 metros do poo W Braz 01 na estrada prximo
a tronqueira
2000 Sinh Andrade II Avenida Renato Azeredo n 2575
2001 Serra II (Tefilo Otoni II) Rua J air Sales
2001 Fbrica de Manilhas Rua Alcides Fonseca, s/n
2001 Mata Grande Poo Loteamento de Silvio Dutra
2001 Nossa Senhora de Lourdes Avenida Padre Tarcsio, s/n
2001 Tefilo Otoni IV Avenida Perimetral, n 38
2001 Wenceslau Brz I Final da J os Srvolo Soalheiro
2001 Wenceslau Braz II Poo prximo da porta da Fazenda
2002 Hospital N.S.das Graas Rua Tefilo Otoni, s/n
2002 J ardim Primavera Avenida 05, 399
2002 Mangabeiras Rua Floripes G. Cotta, s/n
2002 Morro Redondo II Morro Redondo - Poo Perto da escola
2003 Centro de Zoonose ?
2003 Horta J K II ?
2003 Lontrinha III BR.040 DEPOIS DA PETROLUB A DIREITA
2004 Quintas das Varginhas I Rua 19, 70
2004 Braslia Praa Rua ROBERTO MACIEL DE OLIVEIRA , em FRENTE n253
2004 Canad =Monte Carlo?
Final da Avenida Perimetral no Canad POO NA CURVA DA
AVENIDA
2004 Montreal Rua Geraldina Fonseca?
2005 Silva Xavier II Em frente Igreja da localidade
2005 Esmeraldas Rua Alfredo C. Santiago, 175
2005 Est. Ecolgica ?
2006 Horta do Barreiro ?
2006 Itapo ? (repete nome) Rua ARAPONGA N 141
2006 Manoa (repete nome) Rua Felipe dos Santos
2006 Manoa (repete nome) Rua ITAIPU s/n
2006 Presdio Cadeo B. Santa felicidade (CADEO)
2008 Serra Santa Helena Avenida Perimetral c/ Avenida Naes Unidas
2
0
0
0
2008 Recanto do J acar IV Estrada p/ Mata Grande
123
2008 Horta Vapabuu Final da Horta Vapabuu
2008 IVECO VI (I) Dentro da IVECO (porto fundos)
2008 IVECO VII (II) Dentro da IVECO (aude)
2008 Barreiro J ardim Carolina
2008 Wenceslau Braz IV Poo da estrada
2008 Esmeraldas II Poo da lagoa (Poo Recuperado)
124
ANEXO VIII
Relao de Poos perfurados por particulares e empresas em Sete Lagoas
Poos de Terceiros
Nmero Proprietrios
Ano de
perfurao
1 Construtora Casa Nova 2006
2 Libe Construtora Poo do Terminal Rodovirio 2004
3 CIA. FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 11 1999
4 PLANTAR SIDERURGIA 1999
5 SIDERPA 1999
6 CENTRAL BETON LTDA 1999
7 POSTO LUBRIMAX LTDA 1999
8 EXPRESSO SETELAGOANO 1998
9 TRANSETE 1998
10 CONSULTORIA DE NGOCIOS LTDA 1998
11 GHL Consultoria Negcios 1998
12 COOP. CENTRAL DOS PROD. RURAIS - ITAMBE 1998
13 EMPRESA DE MELHORAMENTOS S. LAGOAS VIT. HOTEL 1997
14 IRMOS GUISCEM E CIA LTDA 1997
15 SIVEF - COMP. AUTOMOTIVOS LTDA 1997
16 SADA FORJ AS 1997
17 TECNO SULFUR 1997
18 CIA FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 10 1997
19 CLUBE NUTICO DE SETE LAGOAS 1997
20 CARLOS ALBERTO MAGALHES E OUTROS - RENOIR 1996
21 IBRA - BARREIRO 1996
22 PREMSEL 1996
23 TURISMO SANTA HELENA (MOTEL OMNI) 1996
24 COOP. CENTRAL DOS PROD. RURAIS - ITAMBE 1994
25 POSTO J - FILIAL (POSTO CASTELO) 1993
26 BOMBRIL MINAS LTDA 1992
27 CALSETE - RUA BERNARDO PAIXO 1200 1991
28 CIA FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 09 1991
29 SIDERRGICA IRONBRAS 1991
30 SIDERRGICA IRONBRAS 1991
31 POUSADA DO SOL CAMPING CLUBE 1991
32 FRIGOSSISA 1991
33 MATOS E RIBEIRO LTDA - (POSTO SO SEBASTIO) 1991
34 FEBEM 1991
35 CERMICA SO SEBASTIO 1991
36 CIA FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 04 1990
37 CIA FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 07 1990
38 CIA FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 08 1990
39 AVG SIDERURGIA LTDA - POO Nr 04 1989
40 FRIGORFICO VAPABUU 1989
41 SICAFE SIDERURGIA 1989
42 AVG SIDERURGIA LTDA - POO N 06 1989
43 CIA FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 05 1989
44 AVG SIDERURGIA LTDA - POO N 09 (Desativado) 1989
125
45 SIDERRGICA INTERLAGOS 1989
46 CURTUME CHAVES 1988
47 ITASIDER 1988
48 ITASIDER 1988
49 SANTA HELENA SEMENTES 1988
51 AVG SIDERURGIA LTDA - POO N 08 (Desativado) 1988
52 MARCELO CEC VASCONCELOS DE OLIVEIRA 1988
53 CIA FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 03 1988
54 Fazenda Lontrinha 1987
55 HURACAN ATLTICO CLUBE 1987
56 CIA FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 06 1986
57 ITASIDER 1986
58 SANTA MARTA 1986
59 AVG SIDERURGIA LTDA - POO Nr 02 (Desativado) 1986
60 INSIVI 1986
61 CERMICA SETELAGOANA 1986
62 PLANTAR SIDERURGIA 1985
63 SANTA MARTA 1985
64 MINISTRIO DO EXRCITO 020/4 -4 GAAAe 1984
65 SICAFE SIDERURGIA 1984
66 SIDERRGICA INTERLAGOS 1984
67 SIDERPA 1984
68 COSSISA - RUA BERNARDO PAIXO, 744 1980
69 POSTO CANECO 1980
70 Terraplanagem e Transportadora Trevo 1979
71 SIDERRGICA BANDEIRANTE 1978
72 AABA 1978
73 COOP. Regional. PROD. LEITE DE SETE LAGOAS 1977
74 CIA FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 02 1977
75 COOP. CENTRAL DOS PROD. RURAIS - ITAMBE 1976
76 SIDERRGICA BANDEIRANTE 1975
77 HOSPITAL N . SENHORA DAS GRAAS 1975
78 POSTO CANECO 1974
79 SIDERRGICA IRONSIDER 1974
80 POSTO TRS PODERES 1973
81 CIA FIAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA POO 01 1973
82 WRV EMPREENDIMENTOS E PART. LTDA (S.M.MINEIRO) 1971
83 POSTO ARIZONA 1970
84 Indstria e Comrcio Ferro Guza-Trifusa 1970
85 CERMICA SETELAGOANA 1969
86 INSTITUTO REGINA PACIS Sem informao
87 POLAV Sem informao
88 SIDERRGICA NOROESTE
Sem informao
89 CEMIG
Sem informao
90 AUTO POSTO DA SERRA LTDA
Sem informao
91 CERMICA N. SRA. DAS GRAAS
Sem informao
92 ENGEMIX S/A
Sem informao
93 MOTEL STAR LIGHT
Sem informao
94 POSTO GAUCHO
Sem informao
95 POSTO GAUCHO
Sem informao
96 SIDERRGICA IRONBRAS
Sem informao
97 SIDERRGICA IRONBRAS
Sem informao
126
98 SIDERRGICA IRONBRAS
Sem informao
99 SIDERRGICA IRONSIDER
Sem informao
100 MGS SIDERURGIA
Sem informao
101 MGS SIDERURGIA
Sem informao
102 CALSETE - ROD. BR 040 - KM 476
Sem informao
103 SIDERRGICA KVIA
Sem informao
104 FERROVIA CENTRO ATLNTICA
Sem informao
105 EMBRAPA
Sem informao
106 EMBRAPA
Sem informao
107 EMBRAPA
Sem informao
108 EMBRAPA Sem informao
109 EMBRAPA Sem informao
127
ANEXO IX
Relao das subsidncias registradas no perodo de 1940 a 2008 no municpio de Sete
Lagoas/MG
Subsidncias registradas em Sete Lagoas - Perodo de 1940 a 2008
No. Local Bairro Ano
1
Rua entre as siderrgicas entre a
Avenida Renato Azeredo e o Bairro Boa Vista
Boa Vista 2008
2 Colgio Sinh Andrade Sinh Andrade 2007
3 Rua Araatuba (Praa J os Ribeiro Sobrinho) Bairro Vapabuu 2006
4 Final da Avenida Renato Azeredo Fbrica de telas Progresso 2006
5
Avenida Boqueiro quase no encontro com
Avenida Renato Azeredo
Piedade 2003
6
Rua J oaquim Vicente Ferreira ente as
Ruas Eponina Soares dos Santos e J oo Capistrano
Bairro das Indstrias I 2002
7 Avenida Renato Azeredo prximo ao Posto de Gs Bairro Chcara do Paiva 2001
8 Rua Dr. Chassim trecho: da Praa V Fina at a Fbrica Itamb Centro 2000
9 Rua Tefilo Otoni (SERPAF) com Avenida Renato Azeredo Bairro Chcara do Paiva 2000
10 Rua Platina at confluncia com a Rua Equador Bairro Industrial 2000
11 Avenida Renato Azeredo (CEDRO) com Rua J oaquim Madaleno Bairro J . Amlia 1999
12 Avenida Renato Azeredo Praa da Rodoviria Centro 1998
13 Rua Cuba com Rua Sandro Bruno Ferreira at Rua Estela de Souza
Bairro Nova Cidade/Conj.hab.
Bernardo Valadares
1995
14
Entroncamento das ruas Dr. J os Chamon, Avelino Macedo e Braz Filizola
(prximo ao Colgio J oo Herculino)
Bairro S. Geraldo 1994
15
Rua Cel. Amrico Teixeira Guimares com Ruas J oo Librio J unior e Ricart
Normand
Bairro S. Geraldo 1990
16 Rua Nestor Fscolo com Rua Tupiniquins Bairro Santa Luzia 1988
17 Rua Heitor Lanza Neto Bairro Progresso/Centenrio ?
18 Beco J os Flix Bairro Chcara do Lago ?
19 Chcara do Piava Bairro Chcara do Paiva 1940
128
ANEXO X
Propaganda da Copasa.
129
ANEXO XI
Panfleto Frum das guas
130
Você também pode gostar
- Modelo de Ficha de Entrevista para ConsolidaçãoDocumento4 páginasModelo de Ficha de Entrevista para ConsolidaçãoMissionario Gilberto RamosAinda não há avaliações
- Técnicas e DinâmicasDocumento82 páginasTécnicas e DinâmicasValmor Alovisi JuniorAinda não há avaliações
- Coesp Estudo PDFDocumento169 páginasCoesp Estudo PDFdanilonava100% (1)
- Treinamento para o Sacerdcio - A Presidencia Do Quorum de ElderesDocumento12 páginasTreinamento para o Sacerdcio - A Presidencia Do Quorum de ElderesValdir Dos Santos RodriguesAinda não há avaliações
- Terapia Ocupacional SocialDocumento12 páginasTerapia Ocupacional SocialMAYARA DAYANE DA SILVAAinda não há avaliações
- Alma Dos Animais - Entrevista Com Celso Martins (CVDEE)Documento5 páginasAlma Dos Animais - Entrevista Com Celso Martins (CVDEE)Jonathan DavidAinda não há avaliações
- Desenho e Análise de CargosDocumento23 páginasDesenho e Análise de CargosSergio Alfredo Macore100% (4)
- Instrumentos Da Pesquisa Qualitativa - Observação e EntrevistaDocumento5 páginasInstrumentos Da Pesquisa Qualitativa - Observação e EntrevistaRita Magalhaes100% (1)
- LIV Material-Do-Professor Fund 2-AnoDocumento47 páginasLIV Material-Do-Professor Fund 2-AnoCesar BündchenAinda não há avaliações
- Colônias de Pescadores e Luta CidadaniaDocumento8 páginasColônias de Pescadores e Luta CidadaniaHenri E KarineAinda não há avaliações
- Quivy & Campenhoudt - (PDF) Manual de Investigação em Ciências SociaisDocumento30 páginasQuivy & Campenhoudt - (PDF) Manual de Investigação em Ciências Sociaisivan talon100% (1)
- Dicas CurriculumDocumento4 páginasDicas Curriculumleonelbeira100% (2)
- Aula 08 - Técnicas de Reportagem Jornalística - A Importância Da EntrevistaDocumento13 páginasAula 08 - Técnicas de Reportagem Jornalística - A Importância Da EntrevistahgsoaresAinda não há avaliações
- 100-Texto Do Artigo-187-231-10-20120207Documento10 páginas100-Texto Do Artigo-187-231-10-20120207Aurélia CleroAinda não há avaliações
- Aula 8 - MORAES, Lucas - Hordas Do Metal Negro - Cap 3Documento218 páginasAula 8 - MORAES, Lucas - Hordas Do Metal Negro - Cap 3Francine NunesAinda não há avaliações
- Trabalho IMIGDocumento14 páginasTrabalho IMIGGildo MandaveiraAinda não há avaliações
- Blended Active and Persistent An Investigative Study of Blended Learning Affordances For Active 12171.en - PTDocumento9 páginasBlended Active and Persistent An Investigative Study of Blended Learning Affordances For Active 12171.en - PTDIEGO HENRIQUE DE MORAES TRIDICOAinda não há avaliações
- METODOLOGIADocumento13 páginasMETODOLOGIAManoella BombasaroAinda não há avaliações
- 1 VA Presencial - Revisão Da TentativaDocumento8 páginas1 VA Presencial - Revisão Da TentativaWanderley JuniorAinda não há avaliações
- Análise Psicológica-Casas de Abrigo em PortugalDocumento8 páginasAnálise Psicológica-Casas de Abrigo em PortugalJPAAinda não há avaliações
- Recrutamento e Seleção - 6 EtapasDocumento4 páginasRecrutamento e Seleção - 6 EtapasMarília TeixeiraAinda não há avaliações
- O Ensino Do BandolimDocumento57 páginasO Ensino Do BandolimEman AcioleAinda não há avaliações
- Projecto TCC-FINAL - 3 - 28.11.15Documento17 páginasProjecto TCC-FINAL - 3 - 28.11.15quisito almajaneAinda não há avaliações
- 4º Ano 2º Sem 2021 07.01.21Documento110 páginas4º Ano 2º Sem 2021 07.01.21Síria DiasAinda não há avaliações
- A Comunicação Organizacional - Caso Hospital Central de Nampula (2020-2021)Documento19 páginasA Comunicação Organizacional - Caso Hospital Central de Nampula (2020-2021)Junety DamasAinda não há avaliações
- Recrutamento e SeleçãoDocumento29 páginasRecrutamento e SeleçãoGilbertodeBritto100% (1)
- Azul Da Cor Do Mar - Marina Carvalho PDFDocumento192 páginasAzul Da Cor Do Mar - Marina Carvalho PDFRogerio PradoAinda não há avaliações
- Melhoria Contínua Um Estudo Sobre A Filosofia Kaizen em Uma IndústriaDocumento16 páginasMelhoria Contínua Um Estudo Sobre A Filosofia Kaizen em Uma Indústriavitoria.ita19Ainda não há avaliações
- Projecto de Disertacao Sufo Auasse AtuaDocumento25 páginasProjecto de Disertacao Sufo Auasse AtuaJorge José Dias SalihinaAinda não há avaliações
- Adriano-Nuvunga em Entrevista Ao Canal de MocambiqueDocumento5 páginasAdriano-Nuvunga em Entrevista Ao Canal de MocambiqueAnselmo MatusseAinda não há avaliações