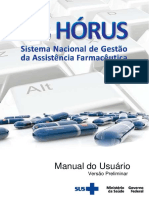Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Gramática e o Sentido Da Gramática
A Gramática e o Sentido Da Gramática
Enviado por
MirandaJuliana0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações17 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações17 páginasA Gramática e o Sentido Da Gramática
A Gramática e o Sentido Da Gramática
Enviado por
MirandaJulianaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 17
MDULO DE LNGUA PORTUGUESA
Prof Leiva de Figueiredo Viana Leal
A gramtica do sentido e o sentido da gramtica
INTRODUO
Neste mdulo temos, como objetivo, refletir e analisar qual o sentido de se conhecer e saber
gramtica, qual o lugar que ela ocupa na constituio de nossa capacidade discursiva.
Precisamos, em primeiro lugar, deixar claro de qual gramtica estamos
falando. E, aqui, reportamo-nos ao pesquisador Franchi, em sua obra Criatividade e
Gramtica, quando afirma que precisamos saber o que as palavras significam e no
apenas como que elas se classificam. Assim, nosso ponto de partida esse: a
gramtica do sentido. O que produzir sentido? , em primeira instncia, produzir
discursos, isto , produzir efeitos sobre nossos interlocutores. Os sentidos, no entanto,
no esto prontos, merc de quem os tome; ao contrrio, os sentidos so construdos
na interao.Por isso vai depender sempre das condies de produo, o que nos leva a
situar nossa discusso no campo da Pragmtica-que considera quem diz, para quem diz,
onde diz, por que diz e como diz ou seja, a contextualidade. A concepo que aqui
defendemos a de saber gramtica no apenas saber normas e regras(elas so parte
de nosso conhecimento lingstico), mas no so suficientes para produzir sentido, para
nos ajudar no uso discursivo das palavras.
Grande parte desses efeitos discursivos encontram-se no uso consciente do
que conhecemos como gramtica , em especial, sobre Morfologia. No poderemos
abordar aqui todos os itens que encobrem essa questo. Se voc tiver compreendido, ao
final desse estudo, que precisamos das palavras e dos seus sentidos e no apenas de
sua classificao, para sermos melhor compreendidos e melhor compreendermos nossos
interlocutores, teremos cumprido parte de nossos objetivos.
Esperamos desenvolver os seguintes objetivos, que aqui se expressam nos tpicos e
habilidades do CBC:
4.2
4.3
6.5
6.6
6.7
Tpico 28
Tpico 30
1- Texto
Ao discutirmos gramtica estamos colocando junto o conceito de TEXTO e,
assim, tornar a gramtica como constituidora e, portanto, como importante e no secundria.
Estamos tomando a posio de que para produzirmos ou analisarmos linguagem, esta no
pode ser reduzida ao enunciado puro, s frases.
sabido que os grandes gramticos das lnguas modernas no tomaram o texto
como objeto de anlise. E isto se d porque eles entendiam que um falante domina as
regras gramaticais e sabe fazer frases bem formadas, ento, tambm, sabe compor
textos bem formulados.O problema que para se chegar ao sentido, no basta
decodificar as relaes coesivas que se estabelecem na superfcie textual, considerando
exclusivamente seu contexto lingstico. Para chegar ao sentido, passa-se por uma
operao que envolve locutor e interlocutor, pelo vis da consistncia. Ir para a
consistncia de um texto significa remeter s relaes que convocam interpretao
desse texto em sua relao com o acontecimento discursivo. Ou seja, para que haja
interpretao preciso passar do contexto lingstico ao contexto situacional.
Observemos que o texto abaixo, intitulado Inimigos, do autor Lus Verssimo, conhecido
pela sua competncia de produzir humor inteligente, formado por um conjunto de
referentes pronominais que , analisados luz da lingstica, seriam simples pronomes,
PARTE I- Revendo alguns conceitos
mas que luz do texto e do sentido, o que possibilita a construo de uma cadeia
semntica que esclarece o ttulo. Leia o texto com esse objetivo:
INIMIGOS
Luis Fernando Verssimo(Novas Comdias da Vida Privada)
O apelido de Maria Teresa, para o Norberto, era Quequinha. Depois do casamento
sempre que queria contar para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava sua mo
carinhosamente, e comeava:
- Pois a Quequinha...
E a Quequinha, dengosa, protestava.
- Ora, Beto!
Com o passar do tempo, o Norberto deixou de chamar a Maria Teresa de Quequinha. Se
ela estivesse ao seu lado e ele quisesse se referir a ela, dizia:
- A mulher aqui...
Ou, s vezes:
- Esta mulherzinha...
Mas nunca mais Quequinha.
(O tempo, o tempo. O amor tem mil inimigos, mas o pior deles o tempo. O tempo ataca
em silncio. O tempo usa armas qumicas.)
Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por Ela.
- Ela odeia o Charles Bronson.
- Ah, no gosto mesmo.
Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura, embora a chamasse de Ela, ainda usava um
vago gesto da mo para indic-la. Pior foi quando passou a dizer essa a e a apontar
com o queixo.
- Essa a...
E apontava com o queixo, at curvando a boca com um certo desdm.
(O tempo, o tempo. O tempo captura o amor e no o mata na hora. Vai tirando uma asa,
depois a outra...)
Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o Norberto nem olha na sua direo.
Faz um meneio de lado com a cabea e diz:
- Aquilo...
2- O conceito de AUTORIA
Em primeiro lugar, a expresso autoria coloca em destaque que o sujeito o
responsvel pelo texto que produz. Referimo-nos posio de um sujeito que,
escolhendo as palavras, selecionando os verbos e os tempos verbais, escolhendo
determinado articulador e no outro, utilizando de certos conectores, escolhendo
modalizadores, est sendo autor de seu discurso. Trata-se de uma operao
enunciativa fundamental, que depende no s do conhecimento lingstico, mas
pragmtico e discursivo.
Essa perspectiva, embora sem a iluso de uma liberdade absoluta, nos permite
aumentar nossa conscincia a respeito do que fazemos e do que fazemos levar em
conta quando utilizamos a linguagem. Nossa autoria se refora quando o enunciado-
matria lingstica- organizado em funo do destinatrio; o grau de informao que
o interlocutor tem a situao; suas convices, suas concepes, seus diferentes
conhecimentos, leva em conta as disposies e expectativas que percebe no seu
interlocutor, bem como as imagens mentais que os participantes fazem de si mesmos,
do assunto, da situao, do jogo discursivo. Tambm organiza seu enunciado em
funo dos objetivos a serem atingidos, da ao a ser desenvolvida, do efeito a ser
produzido.
Explicando melhor: o caminho alterar o olhar sobre a gramtica, a saber,
compreender que cada palavra selecionada, cada pontuao escolhida, a ordenao
frasal utilizada, os conectores preferidos, os tempos verbais, enfim, tudo o que se
relaciona forma (e, portanto, constante de uma gramtica normativa) so
determinantes do sentido que se deseja produzir no interlocutor. Por exemplo, na
propaganda, quase impossvel deixar de lado a possibilidade de se discutir a
utilizao dos tempos e modos verbais, e em especial, do imperativo e do uso de
adjetivos como operador argumentativo para seduzir e/ou causar no leitor o efeito
desejado. Concordamos com Carlos Franchi quando afirma que a gramtica o
estudo das condies lingsticas da significao. buscar entender o que as
palavras significam e no como as palavras se classificam. Aprender a significao s
possvel se as palavras forem analisadas luz da situao discursiva que as
produziram.
Serve como exemplo, a atividade que segue, elaborada pela Professora Regina Helena
Souza Ferreira (E.S.) a partir de uma capa de revista.
C Co on nt te ex xt to o: : d de en n n nc ci ia a d de e c co or rr ru up p e es s n no o m me ei io o p po ol l t ti ic co o p pa ar rt ti id d r ri io o
Para trabalhar a pontuao como elemento importante, tambm, na formao
discursiva de um texto, resolvi explorar a capa da revista Veja, de 13 de julho de
2005, colocando a seguinte questo:
a) Qual a manchete em
destaque na capa da
revista?
b) A partir da manchete em
destaque, o que
podemos inferir sobre o
contedo da matria
principal? Por qu?
c) No lugar da tarja preta,
h um sinal de
pontuao. Na sua
opinio, qual seria?
Baseado em quais
pistas voc construiu a
sua resposta?
Colocar no quadro, os
enunciados abaixo e
trabalhar o significado
do sinal de pontuao com os alunos:
ELE SABIA.
ELE SABIA?
ELE SABIA!
ELE SABIA....
Mostrar o sinal de ? como o sinal da manchete.
Ler a notcia para relacion-la ao ponto de interrogao. (Os alunos descobriro
que a interrogao nada mais do que uma jogada discursiva, j que, no interior
da revista, a matria, indiretamente, afirma que Lula sabia).
1- Leia , agora, o texto abaixo e responda ao que se segue:
2- Apresentamos, agora, duas questes objetivas de Vestibular para que voc as
resolva:
A gramtica do texto-resposta questo do sentido, da autoria e do discurso
Leia, a seguir, texto da prof. COSTAVAL(........), a respeito do que estamos
tratando:
O que estou chamando de gramtica do texto e no texto diz respeito ao conjunto
de conhecimentos e habilidades dos falantes que lhes possibilita interagir lingisticamente
produzindo e interpretando textos, falados e escritos, nas diversas situaes de sua vida;
noutros termos, diz respeito ao saber internalizado dos falantes que os habilita a lidar com
os recursos lingsticos gramaticais na produo e na compreenso dos textos que
circulam nas prticas sociais de linguagem. a gramtica que funciona nesses textos.
Essa maneira de compreender e tratar a gramtica se inspira em Bakhtin
(1929/1986: 104-105) e no empenho desse estudioso no sentido de superar o abismo
intransponvel que se interpe entre a sintaxe e o discurso nas abordagens formalistas
Parte II Aprofundando nossas discusses
da lngua, dado que, para ele, a gramtica da forma nada tem a contribuir para a
compreenso dos processos discursivos.
Outra ressalva que considero necessrio explicitar diz respeito abordagem dada
aos conhecimentos lingsticos na sala de aula. De nada adiantar substituir os
contedos da gramtica tradicional por outros mais atuais e manter o mesmo tratamento
formalista e classificatrio, que s prope aos alunos a identificao e a categorizao
dos recursos expressivos, sem considerar o seu uso. Por exemplo, mostrar um quadro
dos recursos coesivos e pedir aos alunos eles os localizem em textos e classifiquem, ou
que com eles preencham lacunas em exerccios, adotar, com um contedo moderno,
uma perspectiva idntica do ensino gramatical tradicional, que provavelmente no trar
qualquer contribuio aos alunos para o desenvolvimento da habilidade de produzir textos
adequados.
Do mesmo modo, a observao orientada e o levantamento dos tipos de palavras
que aparecem em determinado texto escrito podem levar descoberta das classes de
palavras bsicas do Portugus verbos, substantivos, adjetivos, conectivos, algumas
subclasses de pronomes e advrbios e compreenso de suas caractersticas
flexionais, de seu funcionamento sinttico e de seus traos semnticos comuns, bem
como percepo da complexidade do sistema, das dificuldades de se construir uma
categorizao coerente e dos problemas da classificao tradicional.
Responda , com base no texto:
Como sabia do seu destino ....e, mesmo assim dei-me .....No pude nem chorar , quando
ca Ceclia Meireles
Suponhamos que a poetisa, desejando dizer a mesma coisa, produzir o mesmo efeito
discursivo, iniciasse seu poema da seguinte forma?Complete, ajudando-a a verificar como
ficaria o texto se assim comeasse:
1- Quando cai.......
2- Nem pude nem chorar.....
3- Mesmo sabendo do seu destino......
4- Porque dei-me.....
Seguimos com mais uma parte do texto de COSTAVAL:
Outra possibilidade de colocar a reflexo gramatical a servio do uso textual e
discursivo da lngua , analisando as frases no texto, constatar e explicar os recursos
anafricos inclusive a elipse de termos que as interligam entre si e com elementos do
contexto. Pode-se tambm focalizar a ordem dos constituintes frasais e buscar
compreender seu papel na progresso temtica e na articulao do texto: o deslocamento
de termos na orao ou no perodo no questo que diz respeito apenas estrutura
sintaxe da frase, mas tem a ver com o jogo entre informaes novas e informaes dadas
que se constri no texto, com a busca de expressividade do autor, com os efeitos de
sentido que pode provocar.
Assim o aluno memoriza e recita conjugaes, compreende a estrutura do
sistema verbal, mas pode no saber como correlacionar os tempos e modos na
construo da coeso e da sintaxe textual de determinados gneros em que a articulao
de formas verbais marca constitutiva.
COSTA VAL, Maria da Graa. A gramtica do texto, no
texto.
Revista de Estudos da Linguagem. Belo Horizonte:
Faculdade de Letras da UFMG, v.10, n.2, jul./dez. 2002.
p. 107-134.
Acrescentamos aqui um outro texto que dialoga com o que estamos discutindo neste
mdulo:
Luiz Carlos Travaglia
Ao ensinarmos gramtica, queremos que o aluno domine a lngua para ter
uma competncia comunicativa nessa lngua, mas como diz Geraldi (1993:16-17)
preciso entender que dominar uma lngua no significa apenas incorporar um conjunto de
itens lexicais (o vocabulrio); aprender um conjunto de regras de estruturao de
enunciados e aprender um conjunto de mximas ou princpios de como construir um
texto oral (participando de uma conversao ou no) ou escrito, levando em conta os
interlocutores possveis e os objetivos que se tem ao dizer, bem como a prpria situao
de interao como elementos pertinentes nessa construo e no estabelecimento do
efeito de sentido que acontece na interao comunicativa. Aprender a lngua, seja de
forma natural no convvio social, seja de forma sistemtica em uma sala de aula, implica
sempre uma reflexo sobre a linguagem, formulao de hipteses e verificao do acerto
ou no dessas hipteses sobre a constituio e funcionamento da lngua. Quando nos
envolvemos em situaes de interao h sempre reflexo (explcita ou no, e neste caso
automtica) sobre a lngua, pois temos de fazer corresponder nossas palavras s do outro
para nos fazer entender e para entender o outro. Impossvel, pois, usar a lngua e
aprender a lngua sem reflexo sobre ela. Esse um ponto importante para a proposta
que estruturamos (...) e aceitando:
1) que o objetivo de ensino de lngua materna prioritariamente desenvolver a
competncia comunicativa;
2) que, em decorrncia dessa opo em termos de objetivos, o que se deve fazer
essencialmente um ensino produtivo, para a aquisio de novas habilidades lingsticas,
embora o ensino descritivo e o prescritivo possam ter tambm um lugar nas atividades de
sala de aula, mas um lugar redimensionado em comparao com aquele que tm
habitualmente tido no ensino de lngua materna;
3) que a linguagem uma forma de interao;
4) que o texto um conjunto de marcas, de pistas que funcionam como instrues
para o estabelecimento de efeito(s) de sentido numa interao comunicativa;
5) que o domnio da linguagem exige alguma forma de reflexo;
prope-se que o ensino de gramtica seja basicamente voltado para uma gramtica de
uso e para uma gramtica reflexiva, com o auxlio de um pouco de gramtica terica e
normativa, mas tendo sempre em mente a questo da interao numa situao especfica
de comunicao e ainda o que faz da seqncia lingstica um texto, que exatamente
(TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramtica e interao: uma
proposta para o ensino de gramtica no 1 e 2 graus. 7
ed., So Paulo: Cortez, 2001, pp.107-109)
4) Considerando que o texto um conjunto de marcas, de pistas que funcionam
como instrues para o estabelecimento de efeito(s) de sentido numa interao
comunicativa, aponte o(s) efeito(s) possvel(-eis) nos pares abaixo:
a) Ele viajou porque tinha problemas urgentes a resolver.
Ele viajou, mas tinha problemas urgentes a resolver.
________________________________________________________________________
b) Ele estava to gripado que contagiou os demais.
Ele est muito gripado, portanto contagiar os demais.
________________________________________________________________________
Apresentamos agora 4 (quatro) questes de vestibular para que voc as resolva,
observando o que acabou de realizar e analisar.
Leia, agora, o que pensa o prof. Srio Possenti a respeito do assunto:
Eu diria que o mais importante no identificar, mas tentar explicitar o que que tal
palavra ou locuo est fazendo a. Especialmente, que importncia tem para a
significao. Com quais outras palavras ou expresses est relacionada? Se mudasse de
lugar, provocaria uma mudana de sentido?
Tomemos um exemplo bastante simples (se que h algum exemplo simples em
alguma lngua) a frase: O chefe disse que ia viajar ontem. Tenho certeza de que, se
essa frase fizesse parte de um exame qualquer, e supondo que o examinador quisesse
checar o conhecimento do candidato a propsito de ontem, perguntaria pela funo
dessa palavra na frase ou por sua classificao segundo a gramtica. Jamais haver ou
ser to raro que ningum perceber perguntas do tipo: segundo essa frase, quando
que o chefe viaja? Ou: quando que o chefe disse o que disse? E, no entanto, a questo
interessante o resto moleza, nem merece queimao de neurnio : como se
interpreta essa frase, se ela ocorrer? Que o chefe disse ontem e viaja no importa quando
ou que ele viajou ontem e disse isso no importa quando?
Outra coisa interessante a fazer com uma frase como essa seria deslocar a palavra
ontem para todos os lugares da frase que ela pode ocupar e tentar verificar se, mudada
sua posio, muda o sentido da frase. Por exemplo: Ontem o chefe disse que..., o chefe
ontem disse que..., o chefe disse ontem que..., o chefe disse que ontem.... Seria
interessante verificar, alm disso, que certas construes no funcionam: o ontem chefe
disse que..., o chefe que ia disse ontem viajar...,etc. Penso que essas atividades
seriam, alm de ilustrativas, interessantes, isto , os estudantes talvez at fizessem tal
trabalho com prazer.
Se levarem em conta vrios fatores, em especial o da significao, uma pergunta
como onde est o adjunto adverbial? na frase acima analisada pode ser menos ingnua
ou boba do que parece. Uma resposta como o adjunto est deslocado depois do verbo
viajar pode ser menos verdadeira ou menos bvia do que parece. Algum poderia achar
que estou ficando maluco, que evidente que a palavra est l. Mas a palavra pode estar
num lugar da frase e produzir seu efeito em outro. Por exemplo, a palavra ontem est
escrita e falada depois do verbo viajar. Mas, se interpretssemos a frase como se ela
significasse que o chefe disse ontem que ia viajar sabe Deus quando, a palavra ontem
afetaria disse, que est longe, sem afetar viajar, que est ao lado. Ento, onde est a
palavra ontem? Est onde est ou onde produz seu efeito?
H uma concepo de linguagem que imagina que ela o espelho do pensamento,
e que o pensamento sempre claro e ordenado. H uma outra que imagina que a
linguagem um lugar de equvocos, que manifesta eventualmente um contedo no
controlado, no pensado. esta concepo que pode explicar melhor, entre outras
coisas, as piadas. Como a seguinte, que vem a calhar, exatamente a propsito da posio
de advrbios. Um cara diz a um amigo:Estou com vontade de transar com a Luza Brunet
de novo. O amigo pergunta, com uma ponta de inveja: O qu? Voc j transou? E o
primeiro responde: No. Mas j tive vontade antes.
O leitor pode fazer uma anlise sinttica e descobrir que esta piada tem a ver
tambm com a questo dos advrbios.
(In: POSSENTI, Srio. A cor da lngua e outras croniquinhas de
lingista. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2001)
1) Na perspectiva apresentada pelo lingista Possenti, pode-se afirmar que o ensino de
gramtica desnecessrio? SIM / NO Justifique.
________________________________________________________________________
Qual a relao entre ensino gramatical / entendimento de ambigidades e piadas?
________________________________________________________________________
4) O raciocnio do autor pode ser utilizado para a explicao da seguinte piada? Sim/no
justifique sua resposta.
- O que que voc me conta de novo? pergunta algum ao encontrar um amigo.
- Por que eu contaria de novo? responde o outro.
Qualquer manifestao de fala ou de escrita aparece emoldurada em um gnero. Est,
portanto, condicionada ao do sujeito de linguagem. Usamos a lngua em gneros,
modelos de referncia utilizados para agirmos em diferentes situaes de uso da
linguagem, nas diferentes esferas comunicativas. Por isso, a produo oral e de sua
escrita de um gnero mobiliza: capacidade de ao (verificar quem o interlocutor, os
papis discursivos envolvidos no evento comunicativo, dentre outras), capacidade
discursiva (que efeitos pretende provocar, que modelos discursivos sero mobilizados?),
capacidade lingstica discursivas (domnio de operaes lingsticas apropriadas ao
gnero).
Parte III - A gramtica do sentido : atualizando a discusso/ o gnero textual
Embora reconhecendo que h muito ainda o que aprofundar nesse sentido, optamos
agora, por questes de espao e recorte conceitual, em dividir , nossa reflexo em dois
nveis, considerando, sempre a impossibilidade de produzir e de analisar textos fora de
seu contexto, fora da concepo de gnero textual.O primeiro nvel tem a ver com a
subjetividade, isto , o uso deliberado de modalizadores, de operadores de argumento, de
marcadores atitudinais na produo de sentido. O segundo se refere ao uso consciente
de elementos coesivos como recursos que se encontram disposio do produtor de
texto , capazes de deixar no texto, a sua marca, a sua subjetividade, a sua
irrepetibilidade.
3.1- Marcadores de subjetividade
-os modalizadores
-os operadores de argumentos
-os indicadores atitudinais
3.2- Elementos Coesivos
-os artigos definidos e indefinidos
Exemplo:
-o tempos e modos verbais
Exemplo:
-os marcadores de tempo e de espao
Exemplo:
-as anforas pronominais
Exemplo:
-os diticos
Exemplo:
-as anforas lexicais
Exemplo:
-os conectores
Exemplos
-os articuladores ou organizadores textuais
Exemplos
-a pontuao
Exemplos
1-Para ajudar na compreenso da utilizao desses recursos, apresentamos a., abaixo,
um texto comentado.
(aqui colocar o texto do Moacyr Scliar) mais ou menos duas pginas
2-Procure responder, agora, as seguintes questes, todas retiradas de vestibulares de
universidades brasileiras:
Como se fosse uma concluso:
At aqui, estamos nos referindo ao aspecto pragmtico de um dado texto, e a uma
perspectiva de construo e de identificao da funo do texto em sua totalidade
discursiva. ele.Do que discutimos, podemos concluir que essas tarefas reflexivas que
tomam como referncia a condio discursiva, ajuda no s o produtor, mas,
especialmente, o leitor do texto. Isso porque Se, por um lado, o leitor aprende a construir,
por outro, aprende o seu contrrio: a desconstruo, que exatamente a capacidade de
colocar-se no lugar do produtor e procurar recuperar, no apenas o tema do texto, mas as
escolhas feitas e os caminhos trilhados por ele.
Trata-se de entender a lgica com que o texto foi ganhando materialidade, de reconhecer
e identificar pistas lingsticas, semnticas (lexicais), semiticas, enfim, os recursos que,
agenciados pelo produtor e recuperados pelo leitor, trazem de volta a funo scio
discursiva do gnero textual. Exige, portanto, outros conhecimentos, que vo desde
conhecimentos sobre a lngua, seu uso, sobre a seleo vocabular, sobre os tempos e
dos modos verbais e dos demais recursos coesivos nominais, at a que usos o produtor
faz da paragrafao e da pontuao, de que modo organizou as idias, de que modo as
seqenciou, que argumentos ou que elementos pe em relevncia. Isto , qual o seu
estilo. nessa dialtica dinmica que o leitor, juntando o todo com as partes, reconstri o
sentido do texto.
Pelo que acabamos de expor, fica evidenciado que o ato de ler e de ensinar a ler passa
pela capacidade de se debruar sobre o texto, no com um leitor indiferente, mas um
leitor interessado que faz perguntas e busca as respostas, que interroga o texto,
rastreando pistas. Interrogar o texto significa buscar entender porque certas palavras e
no outras, porque certa configurao, porque o uso de determinado (e no qualquer)
adjetivo ou conector. Assim, o leitor busca respostas e identifica as que melhor cabem s
perguntas feitas e, desse modo, pode justific-las no texto, considerando-o como uma
rede na qual tudo se junta para produzir sentido. Quanto mais o sujeito capaz de
perguntar, mais capaz de compreender, de inferir, de reelaborar sentidos. , enfim, a
possibilidade de encontro entre leitor e produtor, o que nem sempre significa harmonia,
principalmente se levarmos em conta que a leitura um processo de significao
revelador de valores e dos sistemas de referncia que so constitutivos tanto do leitor
quanto do produtor de texto.
ANTUNES, Irand. (2003) Aula de portugus: encontro e interao. So Paulo: Parbola.
BAGNO,Marcos.(2000) Dramtica da lngua portuguesa: tradio gramatical, mdia e
excluso social. So Paulo: Loyola.
________________(2002). A inevitvel travessia: da prescrio gramatical educao
lingstica. In: Lngua materna letramento, variao & ensino. So Paulo: Parbola
______________(2003) A norma oculta lngua e poder na sociedade brasileira. So Paulo:
Parbola
BORTONI-RICARDO, Stela Maris. (2004) Educao em lngua materna a sociolingstica
na sala de aula. So Paulo: Parbola.
SILVA, Rosa Virginia M. (2000) Contradies no ensino de portugus: a lngua que se fala x
a lngua que se ensina. So Paulo: Contexto (UFBA Repensando a lngua portuguesa)
____________________( 2004) O portugus so dois... Novas fronteiras, velhos problemas.
So Paulo: Parbola.
____________________(2004) Variao, mudana e norma Movimentos no interior do PB
IN: Diversidade Lingstica e Ensino. Bahia:Edufba.
PERINI, Mrio Alberto (1997) Sofrendo a Gramtica Ensaios sobre a linguagem. So
Paulo:tica.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. (1995) Gramtica e interao: uma proposta para o ensino de
gramtica
No 1 e 2 graus. So Paulo: Cortez, 7 ed.
____________________ (2003) Gramtica: ensino plural. So Paulo: Cortez.
R Re ef fe er r n nc ci ia as s b bi ib bl li io og gr r f fi ic ca as s: :
Você também pode gostar
- BinóculoDocumento26 páginasBinóculoMatheus MelloAinda não há avaliações
- LEI KANDIR Comentada - Fantoni - 2022Documento192 páginasLEI KANDIR Comentada - Fantoni - 2022Socorro Oliveira100% (2)
- Modelo PiafDocumento2 páginasModelo PiafPamela Niero70% (23)
- Modelo PiafDocumento2 páginasModelo PiafPamela Niero70% (23)
- CIOM Códigos de Falha de Diagnóstico Volvo FH4Documento6 páginasCIOM Códigos de Falha de Diagnóstico Volvo FH4wesley batistaAinda não há avaliações
- Atividade de NivelamentoDocumento2 páginasAtividade de NivelamentoPamela NieroAinda não há avaliações
- Dobradura Poetica PDFDocumento3 páginasDobradura Poetica PDFPamela NieroAinda não há avaliações
- Atividade Cruzadinha NumbersDocumento1 páginaAtividade Cruzadinha NumbersPamela NieroAinda não há avaliações
- Curriculo LPDocumento264 páginasCurriculo LPPamela NieroAinda não há avaliações
- AutoavDocumento1 páginaAutoavPamela NieroAinda não há avaliações
- Contagem de Coliformes em Placas e NMPDocumento40 páginasContagem de Coliformes em Placas e NMPGenilson Batista0% (1)
- 09-Apr Alimentação Dos ContainerDocumento4 páginas09-Apr Alimentação Dos ContainerJOEL FERREIRA DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Tributação Da Economia Digital - Desafios No Brasil, Experiência InternacionDocumento1.963 páginasTributação Da Economia Digital - Desafios No Brasil, Experiência Internacionisabelalalmeidaa100% (1)
- Dicas Básicas para Acertar o BoloDocumento3 páginasDicas Básicas para Acertar o BololrobertothAinda não há avaliações
- Concretismo No BrasilDocumento19 páginasConcretismo No BrasilAnna luiza Gonçalves santosAinda não há avaliações
- Tipos de DesenhoDocumento17 páginasTipos de Desenhojoaquim pereiraAinda não há avaliações
- Calendario Ensino Médio 3 º 05-03-2024 Com Simulados Poliedro - SiteDocumento2 páginasCalendario Ensino Médio 3 º 05-03-2024 Com Simulados Poliedro - SiteVeranubiaAinda não há avaliações
- Power 212 Plus V3Documento5 páginasPower 212 Plus V3Milton Pereira Dos SantosAinda não há avaliações
- Modelos Lineares Generalizados e Extens OesDocumento493 páginasModelos Lineares Generalizados e Extens OesAna Paula CameloAinda não há avaliações
- O Serviço de Extensão Rural No Amapá 2Documento3 páginasO Serviço de Extensão Rural No Amapá 2Eulálio LucienAinda não há avaliações
- A Hereditariedade e o Meio - FadpsiDocumento2 páginasA Hereditariedade e o Meio - FadpsiCocaína 27Ainda não há avaliações
- Manual Do Usuario Horus PDFDocumento89 páginasManual Do Usuario Horus PDFRaphael Wanderley Alckmin MaiaAinda não há avaliações
- Analista de Tecnologia Da Informação GV Prova e GabaritoDocumento26 páginasAnalista de Tecnologia Da Informação GV Prova e Gabaritojonas grossiAinda não há avaliações
- Empresas Credenciadas de Cobranca AmigavelDocumento27 páginasEmpresas Credenciadas de Cobranca AmigavelSilvio InstrutorAinda não há avaliações
- Módulo 04 - Frente B - Organização Do EspaçoDocumento18 páginasMódulo 04 - Frente B - Organização Do EspaçoSamantha DinalliAinda não há avaliações
- SlidesCompactado - Eletrônica Digital 1 A 543Documento543 páginasSlidesCompactado - Eletrônica Digital 1 A 543marceloestimuloAinda não há avaliações
- Ética Do Profissional de Ambiente. - 2Documento1 páginaÉtica Do Profissional de Ambiente. - 2Paulo de Almeida césarAinda não há avaliações
- EmergênciasDocumento149 páginasEmergênciasAnaBamonteAinda não há avaliações
- Cláudio - Exo Com Via AlveolarDocumento8 páginasCláudio - Exo Com Via AlveolarAmanda BerçamAinda não há avaliações
- Cap3 - Técnicas EspeciaisDocumento5 páginasCap3 - Técnicas EspeciaisJhonnes ToledoAinda não há avaliações
- Caderno1-Administrativo 2013 05 03Documento87 páginasCaderno1-Administrativo 2013 05 03Matthew StokesAinda não há avaliações
- Cinesiologia e Biomecanica Aplicada À MusculaçãoDocumento39 páginasCinesiologia e Biomecanica Aplicada À MusculaçãoFellipe Ferraz1Ainda não há avaliações
- Caderno de Prova MPCE Analista 2020 AlunosDocumento38 páginasCaderno de Prova MPCE Analista 2020 AlunosKaio SoaresAinda não há avaliações
- Breve Panorama Da Terapia Analítico-ComportamentalDocumento248 páginasBreve Panorama Da Terapia Analítico-ComportamentalRegienne PeixotoAinda não há avaliações
- 4 PSSDocumento45 páginas4 PSSJu SilvaAinda não há avaliações
- JapãoDocumento46 páginasJapãomaryAinda não há avaliações
- Tabela de EmissividadesDocumento3 páginasTabela de EmissividadesdddidsAinda não há avaliações