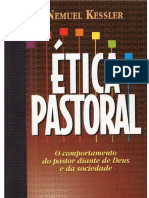Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Crítica Escritura em Maurice Blanchot PDF
Enviado por
Diego Arthur Lima PinheiroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Crítica Escritura em Maurice Blanchot PDF
Enviado por
Diego Arthur Lima PinheiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
[www.dEsEnrEdoS.com.
br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
A CRTICA-ESCRITURA EM MAURICE BLANCHOT
Rodrigo da Costa Araujo (UFF/FAFIMA)1
RESUMO: Com um saber apaixonado e ancioso Maurice Blanchot [1907-2003], visto como crtico-escritor, segundo Leila Perrone Moiss-, traa um novo tipo de
texto, em que se fundem as caractersticas do discurso crtico com o discurso
potico. A teorizao desse novo tipo de texto corresponde quilo que recebeu,
posteriormente, a designao de ps-estruturalismo e que chamamos, nessa leitura
que se apresenta, de crtica-escritura.
PALAVRAS-CHAVE: crtica literria - leitura-escritura - Maurice Blanchot.
ABSTRACT: With one out in love and looking forward Maurice Blanchot [1907-2003]
- seen as a critic-writer, second Leila Perrone-Moiss, shows a new type of text,
which merge the features of critical discourse with poetic discourse. The theory of
this new type of text corresponds to what we received, then the appointment of poststructuralism and we call, in this reading is presented, criticism and writing.
KEYWORDS: literary criticism - reading and writing - Maurice Blanchot.
Primeiro objeto de um olhar, depois de um fazer e, finalmente, de um homicdio,
atinge hoje um ltimo avatar, a ausncia: nessas escritas neutras chamadas aqui o
grau zero da escrita, pode-se facilmente discernir o movimento mesmo de uma
negao, (...), como se a Literatura, tendente h um sculo a transmudar a sua
superfcie numa forma sem hereditariedade, no mais encontrasse pureza a no ser
na ausncia de todo o signo, propondo enfim o cumprimento desse sonho rfico: um
escritor sem Literatura.
Roland Barthes
O TEXTO E A ESCRITURA
Roland Barthes [1915-1980] define a escritura como uma realidade formal
situada entre a lngua e o estilo e independente de ambos. A lngua considerada
um corpo de prescries e hbitos, comuns a todos os escritores de uma poca; o
estilo uma herana do passado individual do escritor, um conjunto de
automatismos artsticos que nascem da mitologia pessoal e secreta do autor. Para
[www.dEsEnrEdoS.com.br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
ele, a lngua e o estilo seriam um produto do tempo e da pessoa
biolgica[BARTHES, 1971, p.23].
Pelo compromisso da escritura com a criao artstica e com a sociedade,
essa escritura se torna, porm, ambgua, visto que ao mesmo tempo em que ela
resulta de uma Relao do escritor com a sociedade, ela resulta, tambm, de uma
relao inexorvel com as fontes instrumentais no processo de criao artstica. Ou
seja, entre a Histria do seu tempo e a tradio, a escritura goza de uma liberdade
produtiva ao mesmo tempo em que se submete a uma lembrana (reprodutiva).
Como decorrncia, presa entre esses dois tempos, a escritura est igualmente presa
a dois objetivos aparentemente contraditrios, dizer a Histria (voltar-se para o
mundo) e dizer a literatura (voltar-se para ela mesma): a escritura precisamente
esse compromisso entre a liberdade e uma lembrana; essa liberdade lembrante
que s liberdade no gesto da escolha, mas j no mais na sua durao [...]
(BARTHES, 1974, p.24). Para ele, como Liberdade, a escritura , portanto, apenas
um movimento. Mas esse movimento um dos mais explcitos da Histria, j que a
Histria sempre e antes de tudo uma escolha e os limites dessa escolha. Mesmo
reconhecendo o carter ambguo da escritura, Barthes reconhece, nela, a
supremacia do gesto da escolha que, em ltima instncia, traz consigo a marca da
Histria.
Posteriormente, em sua obra Essais Critiques, o crtico francs passa a
considerar a escritura no mais em seu carter de destinao social e de
compromisso com a Histria, mas, sim, enfatizando-a enquanto enunciao
intransitiva e ambgua. Para ele, a escritura no uma forma de comunicao e,
sim, uma questo de enunciao: a escritura parece construda para dizer algo,
mas ela s feita para dizer ela mesma. Escrever um ato intransitivo (BARTHES,
1964, p.276). Mas, curiosamente, escrever , ao mesmo tempo, um ato que
ultrapassa a obra; encarregar os outros de fecharem as palavras; portanto, a
escritura nada mais do que uma proposio da qual jamais se conhece a resposta.
A escritura para o autor de Le plaisir du texte inauguradora de uma
ambiguidade, pois ela se oferece, paradoxalmente, como um silncio a ser
decifrado, visto que mesmo quando ela afirma, no faz seno interrogar: a obra
nunca de tudo significante e tambm nunca inteiramente clara; ela , por assim
dizer, sentido suspenso: ou seja, oferece-se ao leitor como sistema significante
declarado mas, furta-se como objeto significado. Da o carter deceptivo da obra de
2
[www.dEsEnrEdoS.com.br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
arte, visto que ela faz perguntas ao mundo (e a si mesma), sem contudo respondlas. Esse conceito da ambiguidade aproxima-se das noes de intertextualidade e
de polifonia.
A concepo da escritura como duplo escritura-leitura encontra-se, tambm,
na obra de Derrida, ora explcita, ora implcita: o texto literrio; ida e volta, o
trabalho entre escritura e a leitura: o que se comea a escrever j lido, o que se
comea a dizer j respondido. A escritura , em primeiro lugar, algo sobre que nos
debruamos (DERRIDA, 1975, p.25). Para Derrida, esse trabalho faz-se a dois: o
eu e o outro: a escritura escavao no outro em direo do outro (escavao na
qual o sujeito pode se perder) (DERRIDA, 1975, p.52). Mas, o outro no est,
primeiramente, na paz do que se denomina a intersubjetividade, mas trabalho e no
perigo da inter-rogao.
Tambm na concepo semiolgica, a escritura implica, de certa forma, uma
relao dialgica: s que o eu como que perde sua subjetividade ( o sujeito a se
oculta sob uma pseudo-objetividade), sendo que o outro deve perceber essa
escritura-leitura, pois escrever implica ler. Assumindo esse mesmo vis de
discusso, Em Texto, crtica, escritura (1993), Leyla Perrone-Moiss levanta um
panorama da crtica em quatro perodos, a saber, a crtica enquanto rplica
(imitao), enquanto simulacro, relacionada ideologia e a crtica enquanto arte,
que Barthes denomina de crtica da escritura.
A crtica enquanto rplica baseia-se em uma concepo religiosa da obra,
segundo a qual o crtico deveria submeter-se ao discurso literrio por este conter
uma verdade transcendental s perceptvel ao autor. Portanto, a crtica configura-se
como um discurso inferior. Isso muda, de acordo com Perrone-Moiss, a partir do
sculo XIX, motivada principalmente pelos questionamentos sobre a existncia de
uma verdade absoluta, que pudesse ser plasmada pelo autor para, s ento, ser
decifrada pelo crtico.
Barthes, no artigo O que a crtica (1964. p.252), aponta alguns conceitos
sobre a crtica literria a partir da situao dos crticos franceses na dcada de 1960.
Posteriormente, a estudiosa reafirma as ideias do autor e sintetiza os caminhos
apontados pelo crtico no seguinte:
Optando pela modernidade, restam crtica duas possibilidades. A primeira cientfica [...]
Teremos ento uma metalinguagem cada vez mais formalizada, cada vez menos verbal e
[www.dEsEnrEdoS.com.br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
discursiva. [...] O outro o da escritura. [...] Esse discurso [...] entrar, em p de igualdade com o
discurso potico, na circularidade infinita da linguagem (PERRONE-MOISS, 1993, p. 29).
De acordo com Barthes, cada uma destas correntes corresponde a um
posicionamento ideolgico e caberia aos crticos assumi-lo e aceitar o fato de que a
leitura que eles fazem de determinada obra no constitui uma verdade absoluta
acerca da obra. Para o semilogo, a crtica caracteriza-se como metalinguagem, ou
seja, como um discurso ideologicamente marcado que atua sobre outro, o do autor,
tambm ideologicamente marcado. De acordo com ele, a tarefa da crtica seria
puramente formal, consistindo em ajustar, como bom marceneiro que aproxima
apalpando inteligentemente duas peas de mvel complicado, a linguagem que lhe
fornece sua poca [...] linguagem, isto , ao sistema formal de constrangimentos
lgicos elaborados pelo prprio autor segundo sua poca (BARTHES, 1964, p.
256).
O segundo caminho indicado por Barthes para crtica constitui-se da crtica
realizada pelos prprios escritores, na qual o exerccio da crtica aproxima-se do
processo da criao potica ou mesmo do desejo, e a esse respeito ele afirma:
" Assim tocar um texto, no com os olhos, mas com a escrita, abre, entre a crtica e o leitura, um
abismo, o mesmo que qualquer significao abre entre o seu bordo significante e o seu bordo
significado. Porque, tanto do sentido que a leitura d obra como do significado, nada se sabe,
talvez porque esse sentido, sendo o desejo, se estabelece para alm do cdigo da lngua. S a
leitura ama a obra, mantm com ela uma relao de desejo. Ler desejar a obra, pretender ser
a obra, recusar dobrar o obra fora de qualquer outra fala que no a prpria fala da obra: o nico
comentrio que um puro leitor, que puro se mantivesse, poderia produzir, seria o decalque (como
indica o exemplo de Proust, amante de leituras e de decalques). Passar da leitura crtica
mudar de desejo: deixar de desejar a obra para desejar a prpria linguagem. Mas, pelo mesmo
acto, tambm remeter a obra para o desejo da escrita, que a gerou. Assim, gira a fala em torno
do livro: ler, escrever, de um desejo para o outro caminha a leitura. Quantos escritores no
escreveram por terem lido? Quantos crticos no leram para escrever? Aproximaram os dois
bordos do livro, as duas faces do signo, para que da sasse uma s fala. A crtica apenas um
momento dessa histria em que entramos e que nos conduz unidade - verdade da escrita "
(BARTHES, 1987, p. 77).
Assim como Roland Barthes, e muito prximo dele em muitas colocaes,
Maurice Blanchot tambm afirma:
[...] A arte j no capaz de conter a necessidade de absoluto. [...] S no passado a arte est
prxima do absoluto e s no Museu continua a ter valor e poder. Ou ento, desgraa mais grave,
acabamos por reduzi-la a simples prazer esttico ou auxiliar da cultura. Tudo isso bem
conhecido. um futuro j presente. No mundo da tcnica, podemos continuar a enaltecer os
escritores e a enriquecer os pintores, podemos prestar honras aos livros e enaltecer as
bibliotecas; podemos reservar arte um lugar porque til ou porque intil. Favorvel, est
ltima hiptese talvez seja a mais desfavorvel. Aparentemente, a arte no nada se no for
soberana. Da o sentimento de incmodo do artista, ao dar-se conta de que ainda qualquer
coisas num mundo onde no se encontra justificao. (BLANCHOT, 1984, p.205-206)
[www.dEsEnrEdoS.com.br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
Maurice Blanchot, ento, ao recusar, qualquer pretenso de explicar (porque
o sentido de um texto no redutvel a unidades semiticas, temas ou
determinaes sociais), o crtico, para fazer justia alteridade radical da obra, deve
agir como seu eco amplificado. Nesse contexto, o fascnio exercido pelo
pensamento blanchotiano, ao longo da segunda metade do sculo XX, se deve ao
fato de terem sido expressos com o cenrio do mito de Orfeu (Quando Orfeu desce
em direo a Eurdice, a arte o poder que faz com que a noite se abra) e o das
Sereias da Odissia.
O SABER APAIXONADO DE BLANCHOT
A essncia da literatura escapar a toda a determinao essencial, a toda a afirmao
que a estabilize ou a realize: junca j l est, est sempre por encontrar ou por
reinventar.
[Maurice Blanchot. O livro por vir. 1984. p.210]
Se aquele que escreve, escreve porque ouviu o inaudvel, podemos pensar
que aquele que escreve quem olhou o interminvel, ainda que desviasse seu olhar
para no morrer, tal qual Orfeu ao voltar seu olhar para Eurdice. Esse raciocnio e
indagao poderiam resumir o poder-ver, a disponibilidade do leitor para acolher a
palavra escorregadia de Blanchot, a experincia de um impossvel de que a escrita
nos d conta.
A obra de Maurice Blanchot (1907-2003) uma obra de crtica-escritura,
afirma Leila Perrone-Moiss (1993, p.93), em Texto, Leitura, Escritura. O seu
discurso, ao sentido barthesiano, algo intransitivo, no diz nada a no ser ele
mesmo. Nesse jogo discursivo, a literatura vivida como um drama ontolgico, cujo
segredo todo escritor, solitariamente, tenta decodificar.
A afirmao da solido essencial da obra uma marca de seus discursos,
mas isso no significa que ela seja incomunicvel, que lhe falte o leitor. Mas quem
l entra nessa afirmao da solido da obra, tal como aquele que a escreve
pertence ao risco da solido, diz ele (BLANCHOT, 1987, p.12). Isso permite dizer
que, parece se estabelecer entre quem l e quem escreve uma relao de
participao, um segredo mesmo da escrita.
Para Blanchot, contudo, o segredo da literatura reside no fato de que as obras
do uma forma sempre nica experincia fundamentalmente paradoxal que todo
homem faz das palavras, uma vez que o poder de nomear nos separa e nos exclui
5
[www.dEsEnrEdoS.com.br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
do mundo. Nessas intricadas relaes sobre a natureza da literatura, enfocando o
problema a partir de vrios ngulos, escolhidos no por acaso (ainda que o acaso
esteja presente), Blanchot especulou em O Espao Literrio (1987) sobre a
possibilidade da literatura ser apenas imagem, no uma linguagem em imagens,
mas uma linguagem que seria imagem de si mesma, imaginria e por ningum
falada, j que ela prpria se falaria a partir da sua ausncia. E, por isso mesmo
disse: [...] Ver supe a distncia, a deciso separadora, o poder de no estar em
contato... Ver significa que esta separao tornou-se, porm, reencontro [...] Quando
o que visto impe-se ao olhar, como se este fosse capturado, tocado, posto em
contato com a aparncia? [...] o olhar atrado, arrastado e absorvido num
movimento imvel e para um fundo sem profundidade. O que nos dado por um
contato a distncia a imagem, e o fascnio a paixo da imagem. (BLANCHOT,
1987, pp. 22-23)
Como fogo que consome aquilo de que vive, o espao literrio fatalmente
aquele onde se d a morte do escritor (como origem suposta de seu discurso) uma
vez que uma ausncia irremedivel fala por meio dele. Este anonimato da palavra
conduziu Maurice Blanchot a conceber a experincia literria como uma dramaturgia
da linguagem, da qual sua obra crtica e romanesca espelho.
Essa leitura filosfica permite pensar o projeto crtico blanchotiano como
forma de retirar da literatura tudo o que no ela (o autor e sua histria, as relaes
de gnero, estilo, lngua, tudo que for relativo ao material lingustico da obra).
Escrever quebrar o vnculo que une a palavra ao eu, quebrar a relao que,
fazendo-me falar para ti, d-me a palavra no entendimento que essa palavra
recebe de ti, porquanto ela te interpela, a interpelao que comea em mim porque
termina em ti. Escrever romper esse elo. alm, disso, retirar a palavra do curso
do mundo, desinvesti-la do que faz dela um poder qual, se eu falo, o mundo que
se fala (BLANCHOT, 1987, p.17).
Em outras palavras, escrever o interminvel, o incessante (1987, p.17). O
escritor, para Blanchot, pertence a uma linguagem que ningum fala, que no se
dirige a ningum, que no tem centro, que nada revela. Tudo isso pode ser
percebido em O Espao Literrio livro que faz uma meditao sobre a natureza da
literatura, perpassando, querendo ou no, sobre uma morte plural, sobre o silncio.
Este livro se compe em fragmentos, mas ao mesmo tempo, so costurados pela
linha de um pensamento de que a linguagem potica se ope linguagem do
6
[www.dEsEnrEdoS.com.br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
mundo, na medida em que nesta ltima, a linguagem cala-se como ser da
linguagem e como linguagem do ser (para permitir que os seres falam). Enquanto
a fala potica buscaria justamente o silncio dos seres, seria uma linguagem na qual
ningum fala e o que fala no ningum, em outras palavras, a linguagem
essencial, circundada, confirmada e ameaada pelo silncio.
Escrever, para Blanchot, fazer-se eco do que no pode parar de falar - e,
por causa disso, para vir a ser o seu eco, devo de uma certa maneira impor-lhe
silncio (1987, p.17). A literatura, diz ele, mais do que ningum, perde-se na finitude
( a morte) - erra - e faz do seu erro, um espao sem limites no estrito limite de seu
espao. Um dos centros desse espao, seria, para ele, a solido essencial, a
infinitude da escrita, do desnvel entre a obra e o livro, da noite, da purificao, da
morte.
O Espao Literrio por mais labirntico que seja, consegue um centro que, no
sendo e sendo ao mesmo tempo fixo (como nos adverte o prprio autor), desloca-se
e esquiva-se, mas acaba por impor-se de forma imperiosa, o que podemos ler no
prefcio:
Um livro, mesmo fragmentrio, possui um centro que o atrai: centro esse que no fixo mas
se desloca pela presso do livro e pelas circunstncias de sua composio. Centro fixo
tambm, que se desloca, verdade, sem deixar de ser o mesmo e tornando-se sempre mais
central, mais esquivo, mais incerto, e mais imperioso. Aquele que escreve o livro, escreve-o
por desejo, por ignorncia desse centro. O sentimento de o ter tocado pode nada mais ser do
que a iluso de o ter atingido; quando se trata de um livro de esclarecimentos, h uma
espcie de lealdade metdica a declarar na direo daquele ponto para o qual parece que o
livro se dirige: aqui, na direo das pginas intituladas O Olhar de Orfeu.
BLANCHOT E A MORTE DE ORFEU
[...] toda escritura um exerccio de domesticao ou de repulso em face dessa FormaObjeto que o escritor encontra fatalmente no seu caminho, que ele tem de olhar, enfrentar,
assumir, e que no pode jamais destruir sem se destruir a si mesmo como escritor
[Roland Barthes. Novos ensaios crticos. 1971.p.118)
Pensar Maurice Blanchot sem pensar a escritura, impossvel, sobretudo nos
pensamentos que desaparecem como algo cristalino, e a um s tempo nos
atravessam durante a experincia de ler. Isso porque Blanchot um filsofo, isto ,
um criador de um slido sistema capaz de ler o mundo literrio. Ele , a um s
tempo, um filsofo obcecado e obcecante.
Entrar no discurso blanchotiano , portanto, aceitar em primeira mo, uma
leitura destinada ao indizvel ou a dizer o indizvel que escapa, como explicou Leila
[www.dEsEnrEdoS.com.br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
Perrone Moiss (1983). Nessa perspectiva, s podemos entrar no discurso
blanchotiano e, semiologicamente, minar sua errncia louca. De qualquer forma, o
leitor atento a este discurso, perceber que a voz que ecoa de dentro do seu texto,
tambm devorar o leitor, consumindo-o aos poucos, pgina por pgina, de um livro
a outro, sem conseguir sair ileso desse tenso e denso trabalho com a linguagem.
Dos vrios ensaios que compem a explicativa para o espao literrio, o
texto intitulado O Olhar de Orfeu chama a ateno. Nele, Blanchot esboa uma
interpretao do mito grego que est nas origens das tentativas de explicar (ou
entender) a poesia. Para Blanchot Orfeu pode tudo, exceto olhar um determinado
ponto de frente, salvo olhar o centro da noite na noite (BLANCHOT, 1987. p.171).
O olhar de Orfeu, nesse sentido, deve ser sempre desviante, esse seria o
nico meio de se acercar dele. Esse ponto chave e semiolgico se resumia em
Eurdice - o extremo que a arte pode atingir - o ponto profundamente obscuro para
o qual parecem tender a arte, o desejo, a morte, a noite. Esse ponto central e
originrio, isto , o instante sem tempo em que o eu pressente a presena do
outro. a revelao, para aquele que busca a intimidade da noite, o essencial - da
outra noite, do abismo, do vazio e do silncio, que liquidam a individualidade do
sujeito, aniquilam sua existncia concreta ao revel-la como inessencial, mas ao
mesmo tempo indicam e confirmam a proximidade do ponto profundamente
obscuro que o seu absoluto.
Orfeu (e porque no o leitor?) percebe-se numa encruzilhada, porque a est
o paradoxo - ele pode tudo, exceto olhar este ponto de frente, exceto olhar o centro
da noite na noite. Mas como todo ser humano deseja ver, deseja olhar, a regra
desfeita. Portanto, olhando o determinado ponto, Orfeu perde Eurdice, desvia-se
para o inessencial, afasta-se desse absoluto que a outra noite. Nesse ponto de
reflexo, o leitor deve se perguntar: Que sentido (s) tem o olhar de Orfeu? Ele o
signo do necessrio fracasso do poeta, da sua impossibilidade de atingir o ponto
central e originrio da poesia?
Sim e no, diz Blanchot. Ao olhar o centro (Eurdice), Orfeu, assim, arruna a
obra, perde Eurdice e deixa de captar a essncia da noite, mas no olh-la no
seria menor traio: porque Orfeu no quer Eurdice em sua verdade diurna e em
seu acordo cotidiano, mas a quer em sua obscuridade noturna, em seu
distanciamento. Ele deseja no faz-la viver, mas ter viva nela a plenitude de sua
noite. Ou seja, o desejo de Orfeu o de ir alm da medida e, fazendo face ao nada,
8
[www.dEsEnrEdoS.com.br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
encontrar o que , o ponto onde a essncia aparece, onde essencial e
essencialmente aparncia.
Roland Barthes ao falar do escritor e do crtico no prefcio de Essais critiques
(1964) acentua a linguagem indireta do escritor. E sendo ela indireta, tambm,
simultaneamente obstinada e desviante. Seria esse olhar, segundo o crtico
francs, uma situao rfica, no porque Orfeu cante, mas porque o escritor e
Orfeu esto ambos tomados pela mesma interdio, que faz o seu canto: a
interdio de se voltarem para aquilo que amam (BARTHES, 1964, p. 16).
Na leitura barthesiana, portanto, o escritor e o crtico, encontram-se, numa
situao rfica por excelncia. Pensando nisso e no texto blanchotiano seria
possvel questionar: no ser transgredir essa interdio, para o crtico, a condio
necessria para escrever? Ou ter ele, atravs de uma escrita intransitiva, a
instncia de silenciar, dando a "ultima voz" ao outro?
De qualquer forma, para Barthes escrever tornar-se silencioso como um
morto (1964, p. 9). atravs da escrita, segundo ele, que a lngua nasce e morre,
dipersando-se numa diferena, infinita, pelo Texto, de que o sujeito pluralizado o
enunciador mltiplo, nele se constituindo e dissolvendo, entre o prazer e o gozo
(BARTHES, 2004, p.8). Semelhante Barthes, e ao discurso rfico, para Blanchot
escrever morrer (LEVINAS, 2000, p.36). A morte no para Blanchot o pattico
da ltima possibilidade humana, possibilidade da impossibilidade, seno a
reverberao incessante do que pode ser captado. Portanto, se relermosreescrevermos- o texto blanchotiano, entre a luz e a sombra do mito (diramos, no
seu intertexto mitolgico, tambm, dionisaco), reconheceremos em figuraes e
desfiguraes mltiplas, os fragmentos mitolgicos que nele citacionalmente
comparecem e desaparecem.
A DISPERSO SEMIOLGICA DO OLHAR
Assim como a escritura essa luta sempre idntica e sempre recomeada, a crtica de
Blanchot tambm o . Essa crtica, que repetio incessante, ronda ela prpria o centro
inatingvel, mora ela prpria nos infernos.
[Leila Perrone-Moiss. Texto, Crtica, Escritura. 1993. p.90]
Como o mito grego, a escritura, para Blanchot, fazendo impotente para a
revelao desejaria tornar-se revelao do que a revelao destri. A escritura para
ele no exploraria suas riquezas infinitas, mas seus pontos de fuga, suas dobras, em
[www.dEsEnrEdoS.com.br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
obras que foram a lngua a alcanar o que est alm das suas possibilidades, alm
das suas funes. A escrita em si lhe permite se retirar do mundo e responder ao
impossvel.
Nesse labirinto de luz que cega, o finito questionvel e a morte no d o fim
que promete: a literatura seria, ento, como a curiosidade de Orfeu uma luz
desviante, por um motivo que fascina, que a faz dobrar-se infinitamente em torno de
um centro, sempre deslocados por essa mesma perdio, por esta maldio.
Esse duplo olhar do pensamento blanchotiano (olhar e no olhar), permite
pensar a literatura como produo do paradoxo irremedivel, o lastro que poderia se
resumir em: essncia e morte; tambm nos pares: ver-no-ver, desejo-proibio,
caminho-descaminho.
Essa morte aparente desnaturalizada pela e na linguagem que habitamos: a
literatura, diz ele, vai para si prpria, para a sua essncia, que o seu
desaparecimento (BLANCHOT, 1984, p.205). Ela , nesse desvio blanchotiano,
entrar na afirmao da solido onde o fascnio ameaa E correr o risco da
ausncia de tempo, onde reina o eterno recomeo (BLANCHOT, 1987, p.29). Ela
a paixo de se questionar a si prpria (BLANCHOT, 1984, p.220).
A experincia da literatura precisamente a prova da disperso
(BLANCHOT, 1984, p.216). Disperso a se propagar, como um espelho, no ato da
escritura, manifestando-se como uma prtica que territorializa as modalidades do
visvel alm do campo visual.
Essa disperso blanchotiana tangencia um lugar de luz e sombras aps a
retirada da palavra no curso do mundo, fazendo-a delirar. Ela seria sombra que se
refere escurido, s trevas. Nesse lugar onde as almas dos mortos habitam e onde
o silncio se faz soberano, Blanchot passeia.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
BARTHES, Roland. Novos ensaios crticos. O grau zero da escritura. So Paulo.
Cultrix, 1971.
______. Essais critiques. Paris. Seuil. 1964.
______. Le plaisir du texte. Paris. Seuil. 1973.
______. Crtica e verdade. Lisboa. Edies 70.1997.
10
[www.dEsEnrEdoS.com.br - ISSN 2175-3903 - ano II - nmero 05 - teresina - piau - abril maio junho 2010]
BLANCHOT. Maurice. O Livro por vir. Lisboa. Relgio Dgua. 1984.
_______. O Espao Literrio. Rio de Janeiro, Rocco. 1987.
_______. A Parte do Fogo. Rio Janeiro. Rocco. 1997
_______.A Conversa Infinita: a palavra plural.. So Paulo. Escuta 2001.
BRANCO, Lucia Castello (org.) Maurice Blanchot. So Paulo. Annablumme, 2004.
CULLER. Jonathan. As idias de Barthes. So Paulo. Cultrix.1988.
DERRIDA. Jacques. A escritura e a diferena. So Paulo. Perspectiva.1971.
LEVINAS, Emmanuel. Sobre Maurice Blanchot. Madrid. Trotta, 2000.
PERRONE-MOISS, Leila. Texto, Crtica, Escritura. So Paulo, tica, 1993.
QUEIROZ, Andr e outros. Apenas Blanchot! Rio de Janeiro. Pazulin.2008.
_______. Barthes/Blachot. Um encontro possvel. Rio de Janeiro. Sete Letras. 2007.
Rodrigo da Costa Arajo professor de Literatura Infantil e Teoria da Literatura na FAFIMA Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de Maca, Mestre em Cincia da Arte [2008 - UFF] e
Doutorando em Literatura Comparada [UFF]. Ex Coordenador Pedaggico do Curso de Letras da
FAFIMA, pesquisador do Grupo Estticas de Fim de Sculo, da Linha de Pesquisa em Estudos
Semiolgicos: Leitura, Texto e Transdisciplinaridade da UFRJ/ CNPq e do Grupo Literatura e outras
artes, da UFF.
E-mail: rodricoara@uol.com.br
11
Você também pode gostar
- A Ilha Deserta Completa Gilles Deleuze PDFDocumento375 páginasA Ilha Deserta Completa Gilles Deleuze PDFAna GodoyAinda não há avaliações
- Entre Faulkner e Guimarães RosaDocumento6 páginasEntre Faulkner e Guimarães RosaAna GodoyAinda não há avaliações
- Ana Godoy - Menor Das Ecologias 2Documento12 páginasAna Godoy - Menor Das Ecologias 2Ana GodoyAinda não há avaliações
- 2008 Conservar Docilidades Ou Experimentar Intensidades2007Documento10 páginas2008 Conservar Docilidades Ou Experimentar Intensidades2007Ana GodoyAinda não há avaliações
- Ana GodoyDocumento17 páginasAna GodoyAna GodoyAinda não há avaliações
- Ecologias Inventivas UFSC 2010Documento13 páginasEcologias Inventivas UFSC 2010Ana GodoyAinda não há avaliações
- A Sombra Da Cidadania Suely RolnikDocumento17 páginasA Sombra Da Cidadania Suely RolnikAna GodoyAinda não há avaliações
- Libras - Os Cinco ParâmetrosDocumento3 páginasLibras - Os Cinco Parâmetrosamandalopes123Ainda não há avaliações
- Mudar A Forma de Ensinar e de Aprender Com TecnologiasDocumento14 páginasMudar A Forma de Ensinar e de Aprender Com TecnologiasClaudia FariaAinda não há avaliações
- Teste Portugues 9 Ano A Aia SolucoesDocumento1 páginaTeste Portugues 9 Ano A Aia SolucoesHugo LoureiroAinda não há avaliações
- Aula Sobre o Chamado de Deus - PR - Paulo Afonso GenerosoDocumento2 páginasAula Sobre o Chamado de Deus - PR - Paulo Afonso GenerosoRoni VitorAinda não há avaliações
- Nathan Camilo - PDFDocumento229 páginasNathan Camilo - PDFJohnny FachiniAinda não há avaliações
- Mario Ferreira Dos Santos - Análise de Temas Sociais 02Documento108 páginasMario Ferreira Dos Santos - Análise de Temas Sociais 02api-19748310Ainda não há avaliações
- Joyeux Noël - A Construção Da Memória Da Grande Guerra Por Uma Europa UnidaDocumento6 páginasJoyeux Noël - A Construção Da Memória Da Grande Guerra Por Uma Europa UnidaMarcelo CarreiroAinda não há avaliações
- Historicidade Final-5 4Documento213 páginasHistoricidade Final-5 4mfernandes_257394Ainda não há avaliações
- A Didática Na Prática EducativaDocumento4 páginasA Didática Na Prática EducativaFabio Dos Santos Oliveira75% (4)
- Mestrado - Elcio Siqueira - Cogestão PerusDocumento371 páginasMestrado - Elcio Siqueira - Cogestão PerusdanulerAinda não há avaliações
- COMO FAZER UMA RESENHA CRÍTICA e Bibliografias de FilósofosDocumento25 páginasCOMO FAZER UMA RESENHA CRÍTICA e Bibliografias de FilósofosFabiano Badu Badu0% (1)
- ALCKMAR SANTOS - Leitura de Nós - Ciberespaço e LiteraturaDocumento152 páginasALCKMAR SANTOS - Leitura de Nós - Ciberespaço e LiteraturaRosariaAparecidaAinda não há avaliações
- O Elogio Do CapitalismoDocumento1 páginaO Elogio Do CapitalismoMatheus PazAinda não há avaliações
- O Modernismo e Os Seus - IsmosDocumento9 páginasO Modernismo e Os Seus - IsmosAna Sofia SequeiraAinda não há avaliações
- Elementos - AstrodienstDocumento2 páginasElementos - AstrodienstLila MaffraAinda não há avaliações
- Existencialismo MerleauDocumento2 páginasExistencialismo MerleauRodrigo Potier Alves100% (1)
- História Do Sistema PrisionalDocumento13 páginasHistória Do Sistema PrisionalDiogo Drago CostaAinda não há avaliações
- O Mundo Do Trabalho Nas Sociedades Da Antiguidade Clássica PDFDocumento2 páginasO Mundo Do Trabalho Nas Sociedades Da Antiguidade Clássica PDFKarina MarquesAinda não há avaliações
- MCGRATH MCGRATH, Alister E. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica (QUESTIONÁRIO)Documento6 páginasMCGRATH MCGRATH, Alister E. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica (QUESTIONÁRIO)andreweb13Ainda não há avaliações
- Uma Sociedade Sem Escola A (Des) Escolarização, Dentro Da Visão de Ivan IllichDocumento11 páginasUma Sociedade Sem Escola A (Des) Escolarização, Dentro Da Visão de Ivan Illichleo_lino86% (7)
- Cadernos Do ISER Unidades de Polícia Pacificadora Debates e Reflexões. Rio de Janeiro ISER, n.67, Ano 31, 2012Documento105 páginasCadernos Do ISER Unidades de Polícia Pacificadora Debates e Reflexões. Rio de Janeiro ISER, n.67, Ano 31, 2012Rachel BarrosAinda não há avaliações
- Nemuel Kessler - Ética Pastoral PDFDocumento185 páginasNemuel Kessler - Ética Pastoral PDFSergio de Pina100% (3)
- Livro Do Professor Estagio 1Documento62 páginasLivro Do Professor Estagio 1Marcia Andrea100% (1)
- Padrão de Resposta - Prova Discursiva Concurso de Provas E Títulos - Conselho Federal de Psicologia Especialidade: NeuropsicologiaDocumento38 páginasPadrão de Resposta - Prova Discursiva Concurso de Provas E Títulos - Conselho Federal de Psicologia Especialidade: NeuropsicologiaCarol PinheiroAinda não há avaliações
- Teste de Portugues 12 AnoDocumento4 páginasTeste de Portugues 12 AnoRaquel MotaAinda não há avaliações
- Classificação Dos Seres Vivos PDFDocumento3 páginasClassificação Dos Seres Vivos PDFGiseleDuvalAinda não há avaliações
- Vencencendo Os Inimigos Da PerseverançaDocumento2 páginasVencencendo Os Inimigos Da PerseverançaapagenorAinda não há avaliações
- Lina Bo Bardi - Thais de BhanthumchindaDocumento10 páginasLina Bo Bardi - Thais de BhanthumchindaFelippe FidelesAinda não há avaliações
- Aula 06 - Sinóticos - Introdução Sermão Da Montanha (01!04!2018)Documento2 páginasAula 06 - Sinóticos - Introdução Sermão Da Montanha (01!04!2018)Jocinei GodoyAinda não há avaliações
- Modelo - TCC - Processos de FabricaçãoDocumento24 páginasModelo - TCC - Processos de FabricaçãoJean FerreiraAinda não há avaliações