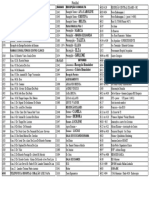Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Atuação Do Psicólogo Hosp. Na Un. de Te. Inten PDF
Atuação Do Psicólogo Hosp. Na Un. de Te. Inten PDF
Enviado por
Rafael Garcia ChagasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Atuação Do Psicólogo Hosp. Na Un. de Te. Inten PDF
Atuação Do Psicólogo Hosp. Na Un. de Te. Inten PDF
Enviado por
Rafael Garcia ChagasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A ATUAO DO PSICLOGO HOSPITALAR NA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
RODRIGUES, Ktia Regina Beal
RESUMO
O campo da psicologia hospitalar tem crescido significativamente nas ltimas dcadas,
constituindo-se de uma especialidade da psicologia, com cursos de especializao em vrias
reas da sade. No obstante, ainda h obstculos a serem contornados para delinear com
maior preciso a rea de atuao do psiclogo na equipe interdisciplinar, dentro da
perspectiva de assistncia integral e integrada. A atuao do psiclogo no hospital vem dar
oportunidade para que mostre o que significa o percurso da vida: viver, adoecer, morrer. O
psiclogo hospitalar tem em mente o aspecto humano, permitindo que o paciente tenha uma
expresso livre de seus sentimentos, medos, desejos e que tenha, acima de tudo, o controle de
sua vida e, portanto, podendo participar de tudo o que lhe acontece, sem minimizar os dados
acerca da situao do paciente. O psiclogo hospitalar deve tratar a dor do paciente como se
fosse nica, proporcionando uma elaborao do processo do adoecimento e colocando-se
disposio do paciente e seus familiares. O presente artigo aborda, em linhas gerais, os
principais pontos a serem considerados em relao atuao do Psiclogo da Sade em
Unidades de Terapia Intensiva. Traz uma srie de consideraes sobre o histrico e avano
dessa rea de ateno sade humana, e busca estabelecer interface entre a viso
biopsicossocial da pessoa internada na UTI e a importncia da ateno integral a esta em um
momento to crtico de sua existncia.
Palavras-Chave: Psicologia da Sade e Hospitalar, Psiclogo Hospitalar, Unidade de Terapia
Intensiva.
ABSTRACT
The field of hospital psychology has grown significantly in the last decades, consisting of a
specialty of psychology, with courses of specialization in some areas of the health. Not
obstinate, still they find obstacles to be contouring to delineate with bigger precision the area
of performance of the psychologist in the team to interdisciplinary, inside of the perspective
of integral and integrated assistance. The performance of the psychologist in the hospital
comes to give to the chance and elaboration of that it means the passage of the life: to live, to
adducers, to die. The hospital psychologist has in mind the human aspect, allowing that the
patient has a free expression of its feelings, fears, desires and that it has, above of everything,
the control of its life and, therefore, being able to participate of that it happens to it, not to
minimize the data concerning the situation of the patient. The hospital psychologist must deal
with pain the patient as if she was only providing an elaboration of the process of the illness
and placing it the disposal of the patient and its familiar ones.
The present article approaches, in general lines, the main points to be considered in relation to
the performance of the Psychologist of the Health in Centers of Intensive Therapy. It brings a
series of considerations on the description and advance of this area of attention to the health
human being, e searchs to establish interface enters the biopsicossocial vision of the interned
person in the C.T.I. and the importance of the integral attention to this at a so critical moment
of its existence.
Key-words: Health and Hospital Psychology, Hospital Psychologist, Center of Intensive
Therapy.
________________________
Este trabalho resulta do relatrio de estgio supervisionado em Psicologia da Sade e Hospitalar, realizado na
UTI do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon (Hospital Evanglico) de Rio Verde GO, desenvolvido pela autora,
apresentado em Dezembro de 2006, sob a orientao e superviso do Professor Mestre Joel Marcos Spadoni.
Psicloga Clnica CRP 09/5096. Consultrio Particular UNICLNICA - Rua Rosulino Ferreira Guimares,
868 Centro Rio Verde GO. Instrutora SENAC e SENA AIRES.
1 INTRODUO
A Unidade de Terapia Intensiva um recurso hospitalar destinado ao tratamento de
graves enfermidades. O paciente que est na UTI recebe um tratamento especial pelas suas
condies, e por toda a demanda de cuidados que lhe so propostos pela terapia intensiva.
A terapia intensiva uma especialidade voltada completamente a este paciente, que
no est internado somente por um comprometimento especfico, mas um comprometimento
sistmico, em todo o seu organismo.
O cuidado com o paciente que se encontra na UTI nico entre as especialidades da
medicina. Enquanto outras especialidades estreitam o foco de conhecimento e interesse para
um particular tipo de terapia, ou um particular grupo de idades, a medicina intensiva dirigida
a pacientes com ampla variedade de patologias, cujo denominador comum a extrema
severidade da doena ou o risco de desenvolvimento de complicaes da doena. At mesmo
o risco de vida.
A Unidade de Terapia Intensiva tem, ento, o propsito de conter as complicaes em
pacientes crticos atravs de um tratamento de cuidados intensivos.
1.1 A Unidade de Terapia Intensiva
A Unidade de Terapia Intensiva uma unidade do hospital onde esto concentrados os
recursos humanos e materiais necessrios ao adequado atendimento aos pacientes, cujo estado
clnico exige cuidados mdicos e de enfermagem constantes, especializados e ininterruptos.
Seu objetivo principal restabelecer, nestes doentes considerados graves, o funcionamento de
um ou vrios sistemas orgnicos, gravemente alterados, at que a patologia que motivou a
internao seja adequadamente compensada ou at que os parmetros fisiolgicos atinjam
nveis aceitveis.
Segundo Di Biaggi (2002), existem critrios para a admisso de pacientes na UTI, tais
como: pacientes para os quais a probabilidade de sobrevida sem tratamento intensivo
pequena, porm com o tratamento intensivo grande; pacientes que no esto gravemente
enfermos, mas que possuem um alto risco de se tornarem, porque h a necessidade de
cuidados intensivos para prevenir graves complicaes ou trat-las; pacientes com pequena
probabilidade de sobrevida apesar dos recursos disponveis na UTI.
Ao mesmo tempo em que favorece as possibilidades de recuperao orgnica, a UTI
traz toda uma gama de situaes, que atuam como desestabilizadores para o equilbrio
psicolgico, incluindo alteraes psicolgicas e psiquitricas, tambm desencadeadas por
situaes ambientais.
Segundo Angerami-Camon (1994), as caractersticas da UTI com a rotina de trabalho,
as situaes de morte iminente, somados dimenso individual do sofrimento da pessoa
internada, tais como a dor, o medo, a ansiedade, o isolamento do mundo, trazem vrios fatores
psicolgicos que interatuam de maneira grave na enfermidade que a pessoa possui.
Nos dias atuais, as UTIs existentes, de modo geral, so locais onde se internam
doentes graves que ainda tm um prognstico favorvel para viver. Nesse local, so atendidos
casos de pessoas que se encontram em uma situao limite (entre a vida e a morte) e
necessitam de recursos tcnicos e humanos especializados para sua recuperao. So espaos
no muito grandes, com divises internas semelhantes: sala onde ficam os pacientes,
recepo, sala de reunio, quartos de descanso dos profissionais, banheiro e copa. Eles so
reconhecidos e legitimados pelos mdicos como um ambiente onde so utilizadas tcnicas e
procedimentos sofisticados para reverter distrbios que colocam em risco vidas humanas.
No incio, segundo Oliveira (2000), as UTIs eram reservadas a pacientes com infarto
agudo; depois, com a criao de equipamentos mais sofisticados, passou-se a cuidar tambm
de pacientes portadores de insuficincia respiratria, insuficincia renal aguda, hemorragia
digestiva alta, em estado de coma, estado de choque e diversas outras situaes igualmente
graves.
Os profissionais que ali trabalham so altamente especializados e recebem
treinamentos especiais. Nas UTIs, podem ser encontrados profissionais com diferentes
formaes: mdicos, enfermeiros, tcnicos de enfermagem, fisioterapeutas e psiclogos. Certo
que, em poucos locais se encontra uma equipe de trabalho formada com todos esses
profissionais.
No momento da ida para a UTI, comea a se evidenciar a rotina dessa unidade
hospitalar. A primeira ao normalmente a ser realizada a da perda das roupas, caso ainda
no tenham sido retiradas em outra unidade. Esse processo inicial de internao remete a
outras perdas, como a da sade e a dos direitos. Outros procedimentos, da competncia da
equipe, tambm podem ser observados, tais como colher dados a respeito da doena, verificar
o estado clnico de quem est sendo atendido, guardar os pertences pessoais. Alm disso,
encontram-se cuidados especiais, como a colocao de roupas da unidade, a escolha do leito
apropriado e todo um aparato higinico no que diz respeito a banhos e desinfeco. Aos
familiares, so dadas instrues especficas. Isso tudo normalmente ocorre em um curto
espao de tempo e com muita rapidez. O ritual de preenchimento de formulrios aumenta o
clima de capitulao pessoal.
A UTI um lugar isolado, separado por uma porta, onde se pode ler: entrada
permitida somente para pessoas autorizadas. L, o tempo torna-se uma incerteza, e, s vezes,
nesses locais, no existe nem mesmo relgio para orientar os pacientes. Geralmente est
localizado no ltimo andar do hospital geral ou de uma casa de sade. Os rudos dos aparelhos
utilizados so intensos e irreconhecveis pelo senso comum. As janelas so fechadas e a luz
artificial. A temperatura constante, mantida por ar condicionado. No ar, odor de remdio ou
desinfetante.
Internado nesse local, o doente torna-se um paciente, uma pessoa resignada aos
cuidados mdicos, que deve esperar serenamente a melhora de sua doena. Esse paciente
perde sua identidade, transforma-se em nmero, em um caso clnico, deixa de ser responsvel
por si mesmo, sua doena e vida. O paciente vulnervel, submisso e dependente.
Para o paciente e seus familiares, esses procedimentos so assustadores e invasivos,
considerando a UTI um lugar frio, impessoal e mecanizado, visto por muitas pessoas at
mesmo como sinnimo de morte. Entre a casa e a UTI h, assim, divergncias, como a falta
de cumplicidade que imposta, mas tambm ocorrem convergncias, como a busca de ajuda
que dedicada ao paciente. Ao que parece, a equipe acredita que as emoes interferem
negativamente no tratamento. Algumas vezes at pode ser, mas no se tem tal preceito como
absoluto. Talvez o que se tenta mesmo fugir do confronto com a morte. Relacionar-se com
uma pessoa que est muito doente difcil. mais fcil lidar de forma abstrata com a doena
de um determinado leito. Nem informaes sobre o estilo de vida do paciente e circunstncias
psicossociais so registradas nos pronturios.
Aos poucos, a equipe intensivista impe ao novo doente e seus familiares um modo
de ser paciente. Uma outra estratgia utilizada: trata-se das informaes dadas aos
familiares sobre o estado clnico do paciente. Nem sempre essas informao so claras, pois
os mdicos utilizam termos tcnicos em seus boletins. Mesmo assim, so satisfaes
oferecidas a respeito de um ente querido, que est sendo cuidado por uma equipe que vai
apresentando sua competncia. Uma relao de confiana precisa, ento, ser estabelecida para
que o papel do paciente internado e obediente seja aceito.
Na UTI as tenses so constantes. Os profissionais, ao perceberem que os outros de
que esto tratando so seres humanos como eles, parecem experimentar uma vivncia de
extrema angstia. Vivem ali algo que parece ser pior que a morte e que, freqentemente, no
se leva em considerao. difcil defrontar-se com pacientes de fraldas, imobilizados, com
aparelhos, chorando, despertos, conscientes ou no de seu estado clnico, alm de outras
situaes constrangedoras. Constata-se que, para os profissionais, essa experincia tambm
revestida de dificuldades. Cuidar de algum e, efetivamente, aproximar-se dessa pessoa, faz
com que da experincia da morte do prximo, surja a conscincia do que seja morrer.
Vale observar que muitos dos que vivenciaram a experincia desse tipo de internao
sobreviveram por haver algo mais alm de aparelhos e tecnologia. Talvez, o desejo de
continuarem vivos. Por outro lado, h tambm que se pensar na opo que alguns pacientes
fazem pela morte. A princpio, pode-se considerar que essa escolha no existiria e,
inevitavelmente, ningum desejaria, de antemo, morrer. No entanto, alguns pacientes, em
nmero cada vez menor, passam a olhar a morte com aceitao e, mesmo, serenidade. No
entanto, h toda uma luta contra a morte, na UTI, ocasionando verdadeiros embates.
interessante perceber que a UTI mantida pela comunho dos objetivos (salvar
vidas), solidariedade, existncia de um adversrio comum (a doena) e formao de equipe
para combater o mal. At os uniformes dos mdicos e profissionais de sade so iguais: roupa
branca, azul ou verde. Nesse ambiente fechado, a atuao da equipe caracteriza-se pelo
trabalho em conjunto. Freqentemente ouve-se nessa unidade: todos so importantes. A
busca da melhora do paciente une os integrantes do setor. As desavenas ficam para depois,
ou so esquecidas. A urgncia e a necessidade de vencer a doena no propiciam tempo
para se pensar em questes que no so nobres, a no ser salvar vidas. A idia de conjunto de
pessoas, todas importantes, para salvar vidas, fundamental, mas a glria individual de um
mdico no eliminada e isso pode ser observado. Assustando a alguns, o objetivo maior
desses profissionais, de vencer as doenas e prolongar vidas, provoca desequilbrio.
Esse desequilbrio pode surgir em decorrncia da onipotncia. Mas se a morte
inerente espcie humana, e os indivduos recusam-na, conseguindo prolongar a vida por
muito mais do que o esperado. Segue-se a essa constatao uma srie de paradoxos: to perto
da morte, profissionais e pacientes, cada vez mais a ignoram. Lutando pela espcie, os
profissionais afirmam sua individualidade.
No territrio da UTI, de tantos desequilbrios, incertezas e paradoxos, facilmente se
passa da luta pela vida morte resignada (e vice-versa); do desafio que se impe ao risco de
continuar vivo, ao medo de morrer (e vice-versa). Nada permanente, sendo um espao
ambguo, onde se procura controlar, atravs mesmo da negao e isolamento, o imprevisvel.
Na UTI se esconde e se denuncia: o paciente que morre, o seqelado, o que ficou em coma, o
profissional que no consegue fazer o diagnstico no salva sempre, impotente e onipotente.
Vale ainda evidenciar que, mesmo havendo pontos em comum entre as UTIs, como a
presena dos respiradores e a ausncia de relgio, cada uma tem sua particularidade e termos
especficos para a sua rotina. Esses fatos fazem com que se pense na singularidade de cada
espao construdo: espao social e individual.
Conforme Oliveira (2000), no espao da UTI, alguns controles so feitos em relao
temperatura ambiente (baixa e constante), luminosidade (sempre a mesma, seja dia ou
noite), aos rudos das mquinas e contaminao. Uma imagem que surge a de um tero.
Ali a pessoa pode viver de novo. Passa por um ambiente parecido com o tero materno onde,
a princpio, o ambiente prov as necessidades. Mas o (re)nascimento exige que a pessoabeb respire por si mesma e que, nas vias do desejo, (re)viva.
Quando uma pessoa internada em uma UTI, torna-se impotente, incapaz de efetuar
uma ao para alvio de sua dor, sede, fome, movimentos como andar, mover-se na cama,
falar e at mesmo respirar.
Oliveira (2000) acrescenta que uma primeira vivncia de satisfao do beb ser
encontrada no registro da necessidade; geralmente a fome ser saciada com o alimento
oferecido. Em se tratando de seres humanos, no entanto, essa experincia, apesar de ocorrer
em um registro orgnico, inscreve-se no nvel do aparelho psquico. A partir de ento, cada
demanda do beb vincular-se- com o trao de lembranas deixado por essa primeira
experincia.
Essa explicao, segundo Oliveira (2000), foi elaborada por Freud e faz com que se
pense no conceito de realidade psquica. Vale lembrar que o beb tambm pode realizar seu
desejo atravs de uma alucinao, assim como o paciente, atravs de sua capacidade de
pensar, pode manter um controle diante da situao pela qual est passando. No entanto, tanto
a alucinao do beb, como o pensamento do paciente no so suficientes para satisfazer suas
necessidades. O beb dispe de suas manifestaes corporais para anunciar a tenso em que
se encontra e precisa do outro para aliviar seu estado de privao. O paciente pode reclamar
da comida, gua, calor, falta de ar, entre outras coisas, solicitando aportes reais de que carece
para acalm-lo. Os dois, alm da satisfao de suas necessidades, dependero da mo que
d o que eles solicitam. Os procedimentos necessrios vida do paciente (dieta, oxignio,
medicao, exames, posio, cuidados higinicos e assim segue), assim como os cuidados
com o beb, como j foi escrito, inscrevem-se no nvel do aparelho psquico. Nos dois casos,
no basta saciar a necessidade, porque existe uma demanda, que demanda de amor.
O paciente, quando internado na UTI, por vezes, sofre perdas violentas, tanto
fisicamente quanto no nvel de sua singularidade e subjetividade. Perde suas garantias, no
sabe como ser sua vida depois, tem medo de ser um fardo para a famlia, de perder o
emprego. Fica bastante frgil, desamparado e se encontra em um perodo difcil. Muitas
vezes, precisa (re)significar sua vida, precisa (re)aprender a respirar sozinho. De alguma
forma, vivencia a experincia de renunciar aos seus investimentos. Ele ficar afastado da
famlia, amigos, trabalho e lazer. A rotina de sua vida ser alterada, passar por um estado de
privao, isolamento, entregue aos outros, aos profissionais de sade.
A forma como cada um vai lidar com essa renncia e privao, provavelmente, estar
relacionada sua histria de vida. Como alguns pacientes conseguem suportar tanta privao?
Por que outros esbravejam e at fogem da UTI? Por que outros preferem a morte? Alguns, por
fim, terminam perguntando sobre si, sua histria, seu vazio, e, ao viverem de novo, podem
descobrir que, ao respirarem sozinhos, so responsveis tanto por sua histria passada como
pela que vir.
1.2 Os Aspectos Psicolgicos evidenciados na UTI
Di Biaggi (2002) considera a possvel ruptura entre a normalidade psquica anterior e a
provvel alterao ps-internao em UTI. O autor considera que quando uma pessoa adoece
gravemente, algo em seu sentimento de inviolabilidade se rompe, constituindo um
estreitamento de horizonte pessoal, uma ruptura em muitas das suas ligaes com o seu meio,
sua vida real e uma distoro do seu relacionamento com os demais, frente a esta nova
condio. Corpo fsico e referenciais emocionais esto frgeis. A internao em uma UTI
invariavelmente se associa a uma situao de grande risco. Em termos psquicos e emocionais
mobilizam-se sentimentos extremos como o medo insuportvel, manifestaes de ansiedade
como a agitao psicomotora, ou a grave depresso. O clima da UTI, por caractersticas
bastante especficas, acentua sensaes e sentimentos de desvinculao, ressentimento,
desamparo.
Angerami-Camon (1994) coloca que os fatores psicolgicos devem ser observados
durante o perodo de internao, tais como: agitao, depresso, anorexia, insnia e perda do
discernimento. A agitao refere-se ao reflexo orgnico somado ansiedade, aumento da
presso arterial, dificuldades circulatrias e baixa resistncia dor. Isso pode dificultar at
mesmo a absoro de alguns medicamentos; a depresso a instncia final do quadro
psquico evolutivo do enfermo, onde seus mecanismos de defesa, como a negao,
racionalizao e a projeo vem-se falidos, apresentando uma apatia vida e persistncia
de fantasias mrbidas, muitas vezes evoluindo a morte; a anorexia o estado em que a
pessoa torna-se de difcil contato e passa a reclamar e solicitar a todos o tempo todo. A cama
ruim, reclama da comida, da enfermagem, do mdico; a insnia a dificuldade de dormir
porque o sono, para alguns pacientes, pode estar associado morte e perda do
discernimento que pode ocorrer porque a UTI um ambiente artificial, sem luz do dia e sem
alteraes significativas de rotina. Por essa razo a pessoa perde a noo de tempo e espao.
1.3 Atuao do Psiclogo na Unidade de Terapia Intensiva
Os objetivos do psiclogo no hospital, bem como na UTI, trabalhar com o paciente,
com a famlia e com a prpria equipe de sade.
Segundo Angerami-Camon (1994), o sofrimento fsico e emocional do paciente
precisa ser entendido como coisa nica, pois os dois aspectos que o constituem interferem um
sobre o outro, criando um crculo vicioso onde a dor aumenta a tenso e o medo que, por sua
vez, exacerbam a ateno do paciente prpria dor que, aumentada, gera mais tenso e medo.
Essa compreenso ajuda o psiclogo a quebrar esse crculo vicioso de forma a tentar
resgatar, junto com o paciente, um caminho de sada para o sofrimento onde, de um
lado, as manobras mdicas, medicamentos, exames, introduo de aparelhos intra e
extracorpreos vo se somar s do psiclogo, que favorece a manifestao dos medos
e fantasias do paciente, estimula sua participao no tratamento, ouve e pondera sobre
questes que o afligem (ANGERAMI-CAMON, 1994, p.31).
A famlia tambm um fator importante no processo da internao. A famlia est fora
da UTI esperando por notcias do paciente. Angustiada e sofrida, sente-se impotente, e ao
mesmo tempo, desorientada pela doena. A famlia, portanto, tambm precisa do psiclogo
porque a fonte de motivao do paciente para lutar contra a doena.
A pessoa que est internada no tem como foco principal a ateno primria, porque a
preocupao da equipe de sade nesse momento garantir a vida. Mas o trabalho do
psiclogo, na UTI, importante porque este faz um preparo para que as limitaes advindas
da doena no tragam pessoa sentimentos de inutilidade para si e para o mundo.
O atendimento multidisciplinar, na UTI, de primordial importncia, uma vez que os
profissionais esto envolvidos no atendimento a esse paciente, que se encontra no momento
mais frgil de sua vida.
Angerami-Camon (1994) acrescenta que, tanto o paciente quanto o cirurgio, devem
ser providos de um representante pessoal, o psiclogo, cujas funes seriam, de um lado,
__________________________
A viso multidisciplinar enfoca o paciente visto atravs de vrias especialidades que constituem na integrao
10
dos servios de sade voltados para o paciente e sua famlia.
representar o paciente que, com seu estado mental e fsico afetado, no tem condies para
representar a si mesmo, e, por outro lado, o cirurgio, que nem sempre consegue ser to til
quanto gostaria no lidar com os medos e fantasias do paciente em relao ao que vai
acontecer. O representante seria algum que nada faria ao paciente, como cortar ou suturar,
caso contrrio, tambm, ele se veria obrigado a esconder ou reprimir seus sentimentos e
angstias. o que se entende como privilgio do psiclogo no hospital, na medida em que
ele no representa ameaa.
O autor acredita que essa ponte tem grande importncia porque possibilita desenvolver
dois sentimentos imprescindveis para o bom prognstico emocional da relao do indivduo
com a cirurgia e o processo de internao e recuperao que so a confiana e a autorizao.
1.4 Objetivos a serem alcanados na Unidade de Terapia Intensiva pelo Psiclogo
Hospitalar
Di Biaggi (2002) relata alguns dos objetivos a serem alcanados pelo psiclogo
hospitalar na UTI, tais como: trabalhar terapeuticamente a relao emocional do paciente com
a sua doena e/ou momento de crise pela necessidade de permanncia na UTI para o
tratamento; orientar o paciente durante o processo de internao, avaliando o quadro psquico
e intercorrncias emocionais; favorecer a expresso no verbal do paciente entubado ou sem
possibilidade de comunicao verbal, atravs de tcnicas adaptativas situao, aliviando o
estresse, sempre com carter preventivo em sade mental; favorecer a expresso de
sentimentos e emoes dos pacientes, sobre seu tratamento e sobre sua experincia e vivncia
na UTI, ambiente psicopatolgico por excelncia e mobilizador de conflitos; ampliar, atravs
de tcnicas psicolgicas, a conscincia adaptativa do doente frente ao ambiente estressor,
levando em conta o carter deste paciente e seus recursos internos de enfrentamento;
estimular a equipe a perceber suas dificuldades em lidar com situaes crticas, atuando em
momentos paralisantes ou de grande angstia, com suporte psicolgico, visando ao
fortalecimento do profissional; acompanhar e preparar psicologicamente os familiares de
pacientes em situaes crticas como pr-bitos ou morte sbita, morte enceflica, comas, e
impacto de eventos traumticos; estimular pacientes comatosos com aes especiais, visando
a ampliar as possibilidades humanizadoras, frente s condies inspitas vividas por estes
pacientes, at a superficializao de conscincia, o que se traduz em cuidado intensivo e
11
afetivo aos momentaneamente incapacitados de reaes observveis; prevenir a sade mental
de familiares que apresentam reaes neurovegetativa na UTI, prprias do ambiente crtico,
tais como: desmaios, perdas de equilbrio, sudoreses, quedas de presso, surtos psicticos,
reaes histricas, frente emoo de ver seu familiar internado na UTI, atravs de
entrevistas e atendimentos anteriores entrada na UTI; realizar acompanhamento psicolgico
de familiares, oferecendo condies para expresso de dvidas, fantasias, falsos conceitos em
relao doena e necessidade de permanncia do paciente na UTI; desenvolver atividades
de estudo e pesquisa em biotica, principalmente, na Unidade de Terapia Intensiva; promover
a humanizao da tarefa do intensivismo, melhorando a qualidade de vida do paciente, da
famlia e equipe de sade; desenvolver atividades didticas com os estagirios das reas da
sade na UTI, graduandos e formados, com internos e residentes mdicos e outros
profissionais de sade, atuando de forma integrada, colaborando para uma viso global do
paciente e contribuir para um maior entendimento por parte da equipe de sade, de forma
multidisciplinar, dos comportamentos e situaes de alto grau de estresse para o paciente,
familiares e equipe de sade.
Di Biaggi (2002) coloca ainda que o atendimento deve ser realizado atravs da
Psicoterapia Breve . Observou-se que as respostas s experincias traumticas so de
importncia fundamental na prtica da sade psicolgica. Amplia-se a hiptese que
intervenes preventivas aumentam a contribuio para alm da dinmica intrapsquica,
principalmente em situaes de crise. A Psicoterapia Breve extremamente eficiente em
situaes de crise ou de emergncia. Crises e tenses comuns vida da maioria dos seres
humanos produzem uma demanda urgente e de interveno rpidas. Uma interveno rpida
eficaz e sempre solicitada em acontecimentos catastrficos. A Psicoterapia Breve eficaz
para um ambiente como a UTI. Segundo Di Biaggi (2002), a Psicoterapia Breve identificada
com um mtodo de tratamento para sintomas ou desajustamentos que exigem o alvio mais
rpido possvel, por causa da capacidade que estes sintomas psquicos tm de levar a ameaa
de vida.
A Psicoterapia Breve visa elevar a eficincia operacional do paciente por meio de uma
readaptao na mais ampla escala possvel, possibilitando assim a melhora dos mecanismos
de adaptao e enfrentamento. Apresenta-se como uma tcnica que no reformula o
indivduo, mas o ampara de fora para dentro. O sentido da terapia breve soluo de
problemas, em que o fundamental a motivao e a utilizao de tcnicas de aprendizagem,
para fortalecimento da auto-estima e uma maior tolerncia do paciente.
___________________
12
Psicoterapia breve um mtodo de terapia que busca obter uma melhora da qualidade de vida a curto prazo,
escolhendo um determinado problema mais premente e focando os esforos na sua resoluo.
2. METODOLOGIA
2.1 Estudo de Campo
O presente trabalho foi realizado na UTI do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, de Rio
Verde GO, como parte das atividades realizadas no Estgio Supervisionado em Psicologia
da Sade e Hospitalar, tendo como objetivos principais exercer a reflexo de sentimentos para
com a equipe de enfermagem da UTI, paciente e famlia; compreender os estressores que
envolvem o profissional de sade intensivista; elaborar as necessidades mais urgentes do
profissional intensivista; e trabalhar as relaes existentes na UTI de forma multi e
interdisciplinar .
2.2 Intervenes
Em um primeiro momento foi estabelecido o rapport com a equipe, que se mostrou
gentil e receptiva ao nosso trabalho. A ateno estende-se aos pacientes estabelecendo
contatos verbais e tteis, situando-os na esfera tmporo-espacial.
No identificamos resistncias da equipe, e aps o estabelecimento de vnculos, foi
possvel elaborar algumas questes relacionadas ao trabalho intensivista.
A atuao do psiclogo hospitalar na UTI de fundamental importncia tanto para a
equipe, como para pacientes e familiares. Para a equipe, por precisar trabalhar algumas
questes referentes ao distanciamento de determinados sentimentos e emoes para
conclurem suas funes, ficando assim para o profissional de psicologia as intermediaes
entre mdico/equipe de enfermagem/paciente/famlia, sendo o facilitador dos sentimentos que
esto latentes e so manifestos pelo aparente distanciamento por parte da equipe, e da apatia
ou desespero do paciente.
O profissional de enfermagem o elo entre o mdico e a famlia, ele que no manejo
dos cuidados corporais e das medicaes, faz o papel de compreender e minimizar o
sofrimento emocional e corporal dos pacientes.
13
___________________
A equipe formada por vrios profissionais ocupando-se de sua rea especfica, mas tambm se preocupando
com o que acontece paralelamente, de forma que o tratamento seja global, integrativo e interativo, sendo
fundamental a troca de informaes.
Termo em ingls, utilizado em alguns meios teraputicos para designar o relacionamento paciente-profissional.
O ideal que exista um bom rapport, ou seja, confiana, respeito, simpatia e cooperao de ambas as partes.
A equipe de enfermagem possui um grande potencial para com os cuidados fsicos,
porm fica claro que no possui e no tem condies para a minimizao do sofrimento
emocional que envolve um paciente acamado, fragilizado por pensamentos e necessidades
que no so corporais.
Observa-se que se faz necessrio identificar anseios, angstias e dificuldades da
unidade familiar em relao doena e ao seu tratamento; a famlia apresenta uma escuta
seletiva, o que torna ainda mais sensvel a transmisso de informaes, pois a emoo
apresenta-se bastante abalada.
O trabalho do psiclogo de fundamental importncia para o resgate do equilbrio
perdido pela doena com a internao na UTI, tanto para o paciente como para a famlia. A
interdisciplinaridade deixa transparente o papel de cada profissional diante das dificuldades e
exigncias nesta situao de emergncia, amenizando e dividindo a dor do paciente e de seus
familiares.
As intervenes com os pacientes foram feitas de forma sistemtica, tanto para os que
estavam em coma tanto para os que estavam em estados conscientes, trabalhando
principalmente a localizao no tempo e no espao como tambm a reestruturao psicolgica
na busca da compreenso da doena e aceitao para melhoramento do estado geral.
Diante da diversidade de problemas, as atitudes facilitadoras citadas por AngeramiCamon (2002), a considerao, a compreenso e a empatia foram as mais utilizadas. Atitudes
que possibilitam o reconhecimento do outro enquanto paciente e a sua perda de autonomia
diante da situao em que se encontra.
O exerccio da empatia refere-se a estar diante de uma situao de impotncia vivida
pelo doente, em que o olhar e o tato tornam-se ferramentas poderosssimas, e a congruncia
que se torna uma elaborao do paciente e do interventor.
Essas atitudes so to marcantes que se observam agradecimentos constantes,
mostrando o quanto o paciente diante de um gesto de compreenso torna-se aceito,
compreendido.
14
3. DISCUSSO
A vida, a doena e at mesmo a morte constituem-se como aspectos que devem ser
considerados de forma multi e interdisciplinar na UTI. E como tal, devem ser estruturados e
tratados por diferentes profissionais: mdicos, psiclogos, enfermeiros, fisioterapeutas entre
outros profissionais de sade.
A sade implica a doena, bem como esta implica aquela. A morte, ento, tambm
numa perspectiva dialtica, coexiste com a vida; logo, coexiste com a doena.
Numa viso mecanicista e cartesiana, h a crena de que a tcnica e a cincia dariam
conta de todos os males, inclusive da morte. A medicina, como cincia cartesiana, desenvolve
toda uma tecnologia a fim de lutar para que o ideal cartesiano de supresso de todos os males
se efetive.
A psicologia que no exerce a cura, no sentido de Descartes, e sim o cuidado, no
sentido de Heidegger, no se preocupa com a tecnologia, mas sim com o humano. Importa ao
psiclogo o sentido dado por aquele que est doente, bem como o de seus familiares,
doena, vida e possibilidade do morrer.
Nossa atuao na UTI baseou-se no sentido de tornar claro o que significa o percurso
da vida: viver, adoecer, morrer. Buscamos ter em mente o aspecto humano, permitindo que o
paciente tivesse uma expresso livre de seus sentimentos, medos, desejos e que se sentisse,
acima de tudo, dono de sua vida e, portanto, podendo participar de tudo que lhe acontecesse;
no minimizando os dados acerca da situao do paciente. Procuramos cuidar de falar aquilo
que pode ouvir e a seu modo; tratando a doena como algo inerente quele indivduo em
determinado momento; respeitando as diferenas individuais, fazendo de cada relao uma
situao singular; colocando-se disposio do paciente e seus familiares, bem como
estabelecendo um trabalho com as famlias no horrio da visita.
A partir da, atuamos na funo de interlocutor, buscando estabelecer um equilbrio
nas relaes entre os profissionais e profissionais, profissionais e pacientes, profissionais e
familiares, familiares e pacientes. Na relao com o paciente, procuramos ser observadores
atentos, estabelecendo um dilogo como fator de cuidado e uma escuta atenta da fala do
paciente; deixando clara a necessidade de refletir sobre o significado do adoecer e
mobilizando recursos prprios de cada paciente para o seu processo de reestabelecimento. Na
relao com os familiares, sabendo-se que o desajuste do grupo familiar algo freqente
como decorrncia do surgimento da doena, objetivamos apoiar psicologicamente os
membros da famlia, dando-lhes ateno, bem como as informaes pertinentes, realizando
15
intervenes no ato da internao para obter dados referentes ao paciente e a seus familiares;
informando sobre a doena, a importncia da alimentao, da higiene e da relao com o
paciente.
4 CONSIDERAES FINAIS
Alm da competncia tcnica, o psiclogo precisa refinar-se como instrumento
de trabalho, ampliando recursos de comunicao que propiciem a melhora substancial da
qualidade do seu relacionamento com o paciente, com a famlia e com a equipe de sade. O
psiclogo precisa entender como vive o paciente para que o ato teraputico exera-se em toda
a sua plenitude. A base do relacionamento o encontro entre a pessoa do profissional e a
pessoa do cliente, no contexto em que realiza o atendimento.
A Psicologia Hospitalar tem como objetivo principal, portanto, a minimizao
do sofrimento causado pela hospitalizao e as seqelas e decorrncias emocionais dessa
hospitalizao, pois notria a evidncia cada vez maior de que muitas patologias tm seu
quadro clnico agravado a partir de complicaes emocionais do paciente, da a importncia
da atuao do psiclogo no hospital.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ANGERAMI-CAMON, W. A. (org.), Psicologia Hospitalar: Teoria e Prtica. So Paulo:
Pioneira, 1994.
ANGERAMI-CAMON, W. A. (org.), E a Psicologia Entrou no Hospital. So Paulo:
Pioneira, 2003.
ANGERAMI-CAMON, W. A. (org.), Psicologia da Sade: Um Novo Significado para a
Prtica Clnica: Pioneira, 2002.
ANGERAMI-CAMON, W. A. (org.). Urgncias psicolgicas no hospital. So
Paulo:Pioneira Thomson Learning, 2002.
DI BIAGGI, T. M. Relao Mdico-famlia em UTI: a viso do mdico intensivista.
Dissertao de Mestrado, So Paulo: Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, 2002.
16
OLIVEIRA, E. C. N. Viver resistir: a singularidade da sade a partir das prticas nos
C.T.I.s. Dissertao de Mestrado, Rio de Janeiro: UERJ/Instituto de Psicologia, 2002.
Você também pode gostar
- LIVRO Avaliacao de Linguagem e Funcoes Executivas em Adultos Vol 2Documento197 páginasLIVRO Avaliacao de Linguagem e Funcoes Executivas em Adultos Vol 2Alice Bulka100% (10)
- Trabalhos Com Risco ElétricoDocumento9 páginasTrabalhos Com Risco ElétricoFilipa Afonso SilvaAinda não há avaliações
- Modelo de ContratoDocumento1 páginaModelo de ContratoAlice Bulka67% (3)
- Revista Portuguesa de Cirurgia - Hérnia InguinalDocumento19 páginasRevista Portuguesa de Cirurgia - Hérnia InguinalRicardo PaivaAinda não há avaliações
- O Violino de AuschwitzDocumento2 páginasO Violino de AuschwitzMariana Batista100% (1)
- NeuroSemNeura-Ebook-pdf - Passei Direto 4Documento7 páginasNeuroSemNeura-Ebook-pdf - Passei Direto 4Alice BulkaAinda não há avaliações
- Questionário Dex FamiliarDocumento4 páginasQuestionário Dex FamiliarAlice BulkaAinda não há avaliações
- NeuroSemNeura-Ebook-pdf - Passei Direto 2Documento10 páginasNeuroSemNeura-Ebook-pdf - Passei Direto 2Alice BulkaAinda não há avaliações
- NeuroSemNeura-Ebook-pdf - Passei Direto 3Documento10 páginasNeuroSemNeura-Ebook-pdf - Passei Direto 3Alice BulkaAinda não há avaliações
- Tudo Começa em Casa Parte Um WinnicottDocumento45 páginasTudo Começa em Casa Parte Um WinnicottAlice BulkaAinda não há avaliações
- Avaliação Psicologica e NeuropsicologicaDocumento77 páginasAvaliação Psicologica e NeuropsicologicaAlice BulkaAinda não há avaliações
- Autismo - Avaliação Psicológica e Neuropsicológica - Cap.1Documento22 páginasAutismo - Avaliação Psicológica e Neuropsicológica - Cap.1Alice Bulka100% (3)
- Historia Da Loucura - Michel FoucaultDocumento21 páginasHistoria Da Loucura - Michel FoucaultAlice BulkaAinda não há avaliações
- Baum Compreender o Behaviorismo PDFDocumento152 páginasBaum Compreender o Behaviorismo PDFAlice BulkaAinda não há avaliações
- Friedrich Froebel o Formador Das Criancas PequenaspdfDocumento5 páginasFriedrich Froebel o Formador Das Criancas PequenaspdfAlice BulkaAinda não há avaliações
- Decreto #54.453, de 10 de Outubro de 2013Documento14 páginasDecreto #54.453, de 10 de Outubro de 2013Alice BulkaAinda não há avaliações
- Lista de Aparelhos Da Prefeitura (Saúde)Documento20 páginasLista de Aparelhos Da Prefeitura (Saúde)Alice BulkaAinda não há avaliações
- Anotação de EnfermagemDocumento14 páginasAnotação de Enfermagemjuliano dorival100% (1)
- Portuguese Words and Phrases For BirthDocumento6 páginasPortuguese Words and Phrases For BirthGiseliaAinda não há avaliações
- Guia Do Quadril PDFDocumento27 páginasGuia Do Quadril PDFVandinaldo VieiraAinda não há avaliações
- Cap. 08Documento20 páginasCap. 08RamonnmFernandes100% (1)
- Envelhecimento e Saúde MentalDocumento452 páginasEnvelhecimento e Saúde MentalBd DanAinda não há avaliações
- Puncao de Acesso Venoso PerifricoDocumento6 páginasPuncao de Acesso Venoso PerifricoCarolina FramholzAinda não há avaliações
- Manual Neo Nov 2016Documento713 páginasManual Neo Nov 2016Camila GiachimAinda não há avaliações
- Atividades Discurso Direto e Discurso Indireto Atividades 6 AnoDocumento4 páginasAtividades Discurso Direto e Discurso Indireto Atividades 6 AnoBeatriz SilvaAinda não há avaliações
- Ramais AtualizadoDocumento1 páginaRamais AtualizadoWanderson Castilho RamosAinda não há avaliações
- Diretrizes Clinicas em Saude MentalDocumento269 páginasDiretrizes Clinicas em Saude MentalCamila MarchioriAinda não há avaliações
- MedSenior BLACK - ABRIL23poarsrsrsDocumento15 páginasMedSenior BLACK - ABRIL23poarsrsrsMariah Maria100% (1)
- CATETERISMODocumento20 páginasCATETERISMOFlair RochaAinda não há avaliações
- 6 Resultados Criticos de LaboratorioDocumento4 páginas6 Resultados Criticos de LaboratoriosgtsoniaAinda não há avaliações
- POP ENF 012 Arrumação de LeitosDocumento3 páginasPOP ENF 012 Arrumação de Leitosgerenciaenfermagem22Ainda não há avaliações
- História Da Saúde Mental No BrasilDocumento2 páginasHistória Da Saúde Mental No BrasilTainá VincoAinda não há avaliações
- Ip092 - Iso 45001Documento7 páginasIp092 - Iso 45001ROBERTO SILVA MARTINSAinda não há avaliações
- Pré OperatorioDocumento5 páginasPré Operatorioanab_cbr2533Ainda não há avaliações
- Encavilhamento em Fracturas Patológicas Da Diáfise Do ÚmeroDocumento9 páginasEncavilhamento em Fracturas Patológicas Da Diáfise Do ÚmeroNuno Craveiro LopesAinda não há avaliações
- Assim Saúde PJDocumento4 páginasAssim Saúde PJLoucos de PlantãoAinda não há avaliações
- Negrinha de Monteiro LobatoDocumento16 páginasNegrinha de Monteiro LobatoFelipeN.DrozinoAinda não há avaliações
- IS.07 - Instruções Primeiros SocorrosDocumento6 páginasIS.07 - Instruções Primeiros SocorrosAna TavaresAinda não há avaliações
- Animais PeçonhentosDocumento63 páginasAnimais Peçonhentos070971weAinda não há avaliações
- O Vínculo Da Arteterapia e Da Reforma Psiquiátrica No BrasilDocumento3 páginasO Vínculo Da Arteterapia e Da Reforma Psiquiátrica No BrasilPortal Banco Cultural100% (2)
- Beat Sheet ChernobylDocumento5 páginasBeat Sheet Chernobylantoniomello8201Ainda não há avaliações
- Clínica Do EsquecimentoDocumento100 páginasClínica Do EsquecimentoJuliane Garcia de AlencarAinda não há avaliações
- 03 - SiemDocumento36 páginas03 - SiempedroaorAinda não há avaliações
- Admissão e Alta UTIDocumento43 páginasAdmissão e Alta UTIWalfrido Farias GomesAinda não há avaliações