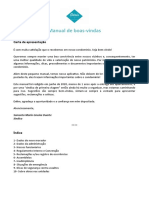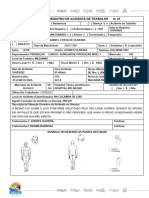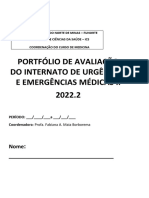Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Análise Da Implantação Do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel em Cinco Capitais Brasileiras
Análise Da Implantação Do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel em Cinco Capitais Brasileiras
Enviado por
Mateus EstevamTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Análise Da Implantação Do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel em Cinco Capitais Brasileiras
Análise Da Implantação Do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel em Cinco Capitais Brasileiras
Enviado por
Mateus EstevamDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ARTIGO ARTICLE
Anlise da implantao do sistema de
atendimento pr-hospitalar mvel em cinco
capitais brasileiras
Analysis of the implementation of a mobile
pre-hospital treatment system in five Brazilian
state capitals
Maria Ceclia de Souza Minayo 1
Suely Ferreira Deslandes 2
1 Escola Nacional de Sade
Pblica Sergio Arouca,
Fundao Oswaldo Cruz,
Rio de Janeiro, Brasil.
2 Instituto Fernandes
Figueira, Fundao Oswaldo
Cruz, Rio de Janeiro, Brasil.
Correspondncia
M. C. S. Minayo
Centro Latino-Americano de
Estudos de Violncia e Sade
Jorge Careli, Escola Nacional
de Sade Pblica Sergio
Arouca, Fundao
Oswaldo Cruz.
Av. Brasil 4036, sala 700,
Rio de Janeiro, RJ
21040-361, Brasil.
cecilia@claves.fiocruz.br
Abstract
Introduo
The article presents a description and analysis
of the implementation of a pre-hospital treatment system (SAMU) as part of the research
project Diagnostic Analysis of the Implementation of a National Policy for the Reduction of
Violence and Accidents. Implementation and
organization of the SAMU service, together with
the related materials, human resources, and
equipment, was studied in five Brazilian State
capitals with high morbidity and mortality rates
from external causes: Curitiba (Paran), Recife
(Pernambuco), Braslia (Federal District), Rio de
Janeiro, and Manaus (Amazonas). The study involved four phases, each developing exploratory
and analytical cycles, combined with fieldwork,
triangulating quantitative and qualitative data.
Implementation of the pre-hospital treatment
system is now a key health sector asset. Further
necessary steps include: comprehensive legislation covering vehicles, personnel, and equipment; closer networking between mobile units
and healthcare facilities; focus on information
generated in this sub-system, thus facilitating
planning; and maintaining and upgrading high
qualifications for SAMU crews. The service is officially establishing, standardizing, and regulating a sub-system that is crucial for saving lives.
Este artigo apresenta descrio e anlise da implantao e da implementao de um sistema
de atendimento pr-hospitalar mvel (Servio
de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU),
oficializado pelo Ministrio da Sade por meio
do Decreto n. 5.055, de 27 de abril de 2004 1. Esse
decreto foi acompanhado por vrias portarias, citadas neste artigo, que o regulam de acordo com
as diretrizes da Poltica Nacional de Reduo da
Morbimortalidade por Acidentes e Violncias 2. Os
dados primrios aqui descritos e analisados fazem
parte de um estudo emprico denominado Anlise
Diagnstica sobre Implantao da Poltica Nacional de Reduo de Acidentes e Violncias, realizado
por pesquisadores do Centro Latino Americano de
Estudos sobre Violncia e Sade, Escola Nacional
de Sade Pblica Sergio Arouca, Fundao Oswaldo Cruz (CLAVES/ENSP/FIOCRUZ) 3 em cinco capitais brasileiras onde violncias e acidentes constituem relevantes causas de traumas e de mortes.
O estudo completo analisou os subsistemas prhospitalar, hospitalar e de reabilitao, bem como
aes de preveno e promoo da vida, em Braslia (Distrito Federal), Curitiba (Paran), Manaus
(Amazonas), Recife (Pernambuco) e Rio de Janeiro.
Portanto, o objeto deste artigo um recorte do referido estudo.
Considera-se atendimento pr-hospitalar
toda e qualquer assistncia realizada, direta ou
indiretamente, fora do mbito hospitalar, utili-
Prehospital Care; Emergencies; Prehospital Services
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 24(8):1877-1886, ago, 2008
1877
1878
Minayo MCS, Deslandes SF
zando-se meios e mtodos disponveis. Esse tipo
de atendimento pode variar de um simples conselho ou orientao mdica at o envio de uma
viatura de suporte bsico ou avanado ao local
da ocorrncia onde haja pessoas traumatizadas,
visando manuteno da vida e minimizao
de seqelas. No Brasil, o sistema se divide em
servios mveis e fixos. O pr-hospitalar mvel,
objeto desta reflexo, tem como misso o socorro imediato das vtimas que so encaminhadas
para o atendimento pr-hospitalar fixo ou para o
atendimento hospitalar 4.
O atendimento pr-hospitalar, seja mvel,
seja fixo, tem como premissa o fato de que, dependendo do suporte imediato oferecido vtima, leses e traumas podem ser tratados sem
gerar seqelas significativas.
Um dos fatores crticos que interfere no prognstico das vtimas de trauma o tempo gasto
at que o tratamento definitivo possa ser efetivado. O Committee on Trauma of American College
of Surgeons 5, dos Estados Unidos, estabelece o
tempo de vinte minutos como intervalo mximo
ideal para execuo dos primeiros procedimentos, em casos graves 6,7. A necessidade de presteza do atendimento se deve ao fato de que as
primeiras horas ps-evento traumtico tm sido
apontadas por vrios autores 7,8 como o perodo de maior ndice de mortalidade. Estudos de
Champion et al. 9 constatam que, em geral, entre
as vtimas de traumas, mais da metade no chega
a resistir 24 horas.
Albuquerque & Minayo 10 e Deslandes 11 indicam que o modelo pr-hospitalar mvel vigente
em quase todas as partes da sociedade ocidental tem sido inspirado na organizao de origem
americana e francesa. A primeira prioriza o atendimento feito por paramdicos (tcnicos), enquanto a segunda adota a presena de mdicos
nas ambulncias 12.
Os denominados paramdicos, de acordo
com a legislao de cada estado americano, podem realizar a administrao de medicamentos. No Japo e na Inglaterra, por exemplo, esses profissionais esto aptos tambm a realizar
procedimentos de suporte avanado de vida, tais
como desfibrilao, entubao endotraqueal e
aplicao de medicamentos por via intravenosa
13,14. Na Frana, o atendimento feito por mdicos nas unidades mveis, assim os bombeiros
se ocupam do resgate de vtimas com leses de
baixa gravidade bem como realizam manobras
para a liberao da vtima no caso de ela estar
presa a ferragens 15.
O Brasil oficialmente adotou o modelo francs, o SAMU, adequando-o s peculiaridades nacionais. Seus princpios so: (1) considerar o auxlio mdico de urgncia uma atividade sanitria;
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 24(8):1877-1886, ago, 2008
(2) atuar rapidamente no local do sinistro com
procedimentos eficazes e adequados; (3) abordar
cada caso com cuidados mdicos, operacionais
e humanitrios; (4) trabalhar em interao nas
operaes de socorro, mas com responsabilidades estabelecidas para cada profissional; (5)
realizar aes preventivas em complementao
com a ao de urgncia.
O SAMU, no Brasil, prope um modelo de assistncia padronizado que opera com uma central de regulao, com discagem telefnica gratuita e de fcil acesso (linha 192), com regulao
mdica regionalizada, hierarquizada e descentralizada. Nesse sistema, h uma normalizao para
a composio das equipes de socorro, segundo
complexidade, regulando os tipos de unidades
mveis e suas atribuies e recursos. H protocolos para atendimento de mltiplas vtimas, alm
de ferramentas operacionais regulares (mapa de
rea de atuao identificando os pontos de apoio
das unidades bsicas e das unidades de maior
complexidade; grade de referncia e contra-referncia dos servios interligados de urgncia do
municpio ou regio; lista de todos os telefones;
mapas para capacidade instalada dos servios de
urgncia e viria e mapas de risco) 4.
O perodo em que a presente pesquisa foi realizada (2003-2006) demarca o incio da implantao do SAMU. Esse processo se configura como
uma transio do modelo de atendimento realizado tradicionalmente pelo Corpo de Bombeiros
ou, em poucos casos, associado com sistemas
locais pr-existentes. A transio tem se caracterizado pela convivncia dos dois modelos. Historicamente, o Corpo de Bombeiros tem atuado em
todo o pas, com atendimento em linha prpria
(193), sem ter necessariamente uma regulao
mdica. O atendimento feito, habitualmente,
por tcnicos de enfermagem. Em algumas capitais, como o caso do Rio de Janeiro, contudo,
os servios de bombeiros incluem a presena de
mdicos, sendo organizados por meio de uma
central de regulao e dispondo de ambulncias
diferenciadas, conforme a complexidade.
Este artigo busca dar nfase aos dados do
estudo avaliativo, segundo diretrizes da Poltica
Nacional de Reduo da Morbimortalidade por
Acidentes e Violncias, pesquisa que foi feita com
o intuito de contribuir para o monitoramento
das aes visando a responder s necessidades
da populao brasileira.
Metodologia
O conceito metodolgico bsico do estudo o
de anlise diagnstica, pautada nas perspectivas
compreensivas e interpretativas, que busca dar
ANLISE DA IMPLANTAO DO SAMU
conta: (1) dos xitos e das dificuldades do sistema de sade para atender crescente demanda
e s mudanas qualitativas das leses e traumas
provenientes das violncias e acidentes; (2) de
criar alternativas e possibilidades para o melhor
desenvolvimento da gesto. Uma anlise situacional leva em conta as condies gerais de infra-estrutura, de pessoal qualificado, de planejamento e de apoio oferecido para o desempenho
das aes.
Do ponto de vista operacional, foram adotados os princpios da triangulao de mtodos,
proposta de articulao interpretativa que integra mltiplos pontos de vista de autores, tcnicas, estratgias e mtodos 16,17,18.
A investigao que d origem ao artigo se fez
de forma cooperativa entre o CLAVES e vrios
centros de pesquisa das capitais includas: o Departamento de Servio Social da Universidade
de Braslia (Braslia, Distrito Federal); o Ncleo
de Estudos em Sade Coletiva da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro); a Faculdade de Educao da Universidade Federal de
Manaus (Manaus, Amazonas); a Pontifcia Universidade Catlica de Curitiba (Curitiba, Paran)
e a Faculdade de Cincias Mdicas da Universidade de Pernambuco (Recife, Pernambuco).
A escolha das capitais para o estudo, que ordenou por magnitude os 224 municpios do pas
com populao acima de 100 mil habitantes, teve
como base uma pesquisa realizada por Souza et
al. 19, para o Ministrio da Sade. Com base nela,
foi elaborado um ndice de violncia que considerou o nmero de bitos e as taxas de mortalidade por homicdio, acidente de transporte e suicdio no ano de 2000. Segundo esse ndice, o Rio
de Janeiro situou-se em segundo lugar; Recife,
em terceiro; Braslia, em quinto; Manaus, em 13
e Curitiba, no 17o posto. Com exceo do Rio de
Janeiro, todas as demais cidades tm as taxas de
violncia mais elevadas em sua regio, segundo o
referido indicador composto. No ano de 2000, as
cinco cidades somaram 45.434 internaes por
causas externas, representando 6,5% das hospitalizaes realizadas no pas 19.
A operacionalizao dessa investigao foi
construda em torno de quatro fases de trabalho,
cada qual agregando diferentes ciclos de pesquisa (exploratrio, trabalho de campo, anlise e divulgao dos dados).
Na parte exploratria, entrevistas com 23
especialistas e gestores tiveram a finalidade de
agregar informaes, opinies e relatos de experincias para subsidiar a elaborao dos instrumentos quantitativos e qualitativos do estudo. A anlise dessa etapa foi acompanhada por
jornadas de estudo de portarias de referncia
do Ministrio da Sade para o atendimento pr-
hospitalar. Esses documentos tratam: (1) do incentivo financeiro para adequao da rea fsica
das Centrais de Regulao Mdica de Urgncia
em estados, municpios e regies de todo o territrio nacional Portaria n. 1.828/GM, de 2 de
setembro de 2004 4; (2) do grupo tcnico para
avaliar e recomendar estratgias de interveno
do Sistema nico de Sade (SUS), para abordagem dos episdios de morte sbita Portaria
n. 2.420/GM, de 9 de novembro de 2004 4; (3)
da Poltica Nacional de Ateno s Urgncias, a
ser implantada em todas as unidades federadas,
respeitadas as competncias das trs esferas de
gesto Portaria n. 1.863/GM, de 29 de setembro
de 2003 4; (4) do componente pr-hospitalar mvel da Poltica Nacional de Ateno s Urgncias:
SAMU-192 Portaria n. 1.864/GM, de 29 de setembro de 2004 4; (5) do Comit Gestor Nacional
de Ateno s Urgncias Portaria n. 2.072, de
30 de outubro de 2003 4, que faz vrias modificaes no sistema vigente, revogando a Portaria n.
814, de 1 de junho de 2001 20 e Portaria n. 2.048/
GM, de 5 de novembro de 2002 4. As diretrizes da
Poltica Nacional de Reduo da Morbimortalidade por Acidentes e Violncias, no que concerne
sistematizao, ampliao e consolidao do
atendimento pr-hospitalar 2, foi a refernciachave, apontando trs focos para a ateno prhospitalar: (1) existncia e padronizao de veculos, materiais e rotinas, para os quais, nacional
e internacionalmente, existem hoje suficientes
conhecimento, orientao e planos j testados;
(2) existncia de integrao e coordenao entre o atendimento pr-hospitalar e o hospitalar,
objetivando sobrevivncia e ao conforto das
vtimas; (3) mapeamento das reas de risco para
acidentes e violncias, de modo a promover uma
contra-referncia visando a propostas e procedimentos de preveno.
Na segunda fase, foi feito o mapeamento
da rede. O instrumento construdo, na forma
de um questionrio, objetivou a identificao
das organizaes governamentais que realizam
atendimento s vtimas de acidentes e violncias,
contendo: (a) identificao da unidade; (b) caracterizao das atividades de atendimento; (c)
descrio da estrutura existente.
Na terceira fase, foram elaborados questionrios especficos. No caso do atendimento prhospitalar, esse instrumento continha 26 questes distribudas entre as seguintes temticas:
(1) identificao; (2) estrutura (nmero total de
atendimentos por acidentes e violncias, realizados nos anos de 2004 e primeiro semestre de
2005, equipamentos e pessoal disponveis); (3)
organizao do servio (mecanismos de transferncia e transporte de pacientes; integrao e
suporte diagnstico; articulao com a central de
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 24(8):1877-1886, ago, 2008
1879
1880
Minayo MCS, Deslandes SF
regulao; rotinas e protocolos de atendimento
s vtimas de acidentes e violncias; capacitao
dos profissionais; indicadores do atendimento
pr-hospitalar mvel; registro do atendimento).
Foram estudados os servios de atendimento
pr-hospitalar mvel (SAMU de Curitiba, Recife,
Braslia, Rio de Janeiro; Grupamento de Socorro
de Emergncia GSE do Rio de Janeiro; SOS e
SAMU de Manaus) na sua histria, processo de
implantao, organizao, recursos humanos,
materiais e equipamentos. Os indicadores para
medir a eficincia do sistema foram: (a) tempo
mdio de resposta das equipes de urgncia: tempo transcorrido desde a hora da recepo do chamado na central de regulao at a chegada do
SAMU/GSE ao lugar do sinistro; (b) tempo mdio
decorrido no local de ocorrncia: tempo transcorrido desde a chegada do SAMU/GSE ao local
do sinistro at a sada do cenrio; (c) tempo mdio de transporte at a unidade de referncia; (d)
tempo mdio de resposta total: tempo transcorrido desde a hora da recepo do chamado pela
central de regulao at a entrada do paciente no
servio hospitalar de referncia.
Foram tambm elaborados roteiros de entrevistas semi-estruturadas destinadas aos gestores
responsveis pela coordenao do comit gestor ou responsvel pela Rede Pactuada de Atendimento s Emergncias (ou equivalente) e ao
coordenador ou diretor do servio, identificado
como responsvel pelo resgate de vtimas de acidentes e violncias nas capitais. Realizaram-se
16 entrevistas qualitativas: quatro em Manaus,
trs em Recife, trs em Braslia, trs no Rio de
Janeiro e trs em Curitiba. Ao trmino desse processo, houve um terceiro seminrio interno para
analisar o percurso da coleta de informaes e
preparar a fase de anlise.
A quarta fase da pesquisa foi dedicada
anlise crtica e ao aumento da qualidade dos
dados e da validade das interpretaes. Nesse movimento, todos os relatrios locais foram
cuidadosamente analisados por profissionais de
estatstica, epidemiologia e cincias sociais do
CLAVES e reenviados s equipes locais a fim de
que se ajustassem as informaes e sua forma
de apresentao. A partir da, os relatrios finais
das cidades serviram de base para a construo
da anlise transversal, incluindo ainda, como
matria de consulta e exame, todos os acervos
originais (banco de entrevistas e de dados das
unidades).
Os questionrios foram digitados em um
banco de dados (Epidata; Epidata Association,
Odense, Dinamarca) e, em seguida, submetidos
a crticas. A anlise quantitativa teve carter exploratrio, sendo usadas medidas estatsticas
descritivas (freqncias simples e relativas) apli-
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 24(8):1877-1886, ago, 2008
cadas s variveis em cada cidade. Na anlise
qualitativa, buscou-se interao entre contedos
manifestos e inferncia de contedos latentes,
valendo-se dos depoimentos e das anotaes de
campo. As entrevistas foram processadas a partir
de leitura temtica e os trechos pertinentes foram codificados, identificando-se argumentos,
significados e relatos de prticas relevantes, em
face dos objetivos do trabalho. A seguir, foi realizado um exerccio de triangulao das anlises
quantitativas e dos significados das relaes e
representaes dos diferentes atores, na busca
de uma viso abrangente e compreensiva do processo 21.
Resultados e discusso
Sobre esse conjunto de aes do SAMU, realizouse uma anlise descritiva e crtica, colocando-se
esse subsistema no interior do sistema de urgncia e emergncia com nfase em: transio entre
formas anteriores; tipologia dos atendimentos;
organizao e interao entre servios e gesto
de recursos.
Transio entre outras modalidades e
efetivao do SAMU
Esta anlise se refere, principalmente, s mudanas que vm ocorrendo nas funes exercidas tradicionalmente pelo Corpo de Bombeiros
que, na maioria dos estados, efetuava os servios pr-hospitalares mveis e implantao
do SAMU. A transio entre os modelos vem
ocorrendo de forma desigual entre as capitais
pesquisadas, embora a maioria dos gestores e
profissionais envolvidos nos servios pr-hospitalares considere o SAMU uma iniciativa bemvinda porque capaz de agregar mais recursos
e garantir maior cobertura. No entanto, especialmente onde o Corpo de Bombeiros j atuava
com atendimento mdico, avalia-se a perda de
espao poltico e de financiamento da corporao. Nesse momento de transio, destacam-se
trs realidades distintas.
Em Manaus, at janeiro de 2006, atuavam
conjuntamente dois servios: o SOS, de responsabilidade municipal, e o Resgate, realizado pelo Corpo de Bombeiros. Ambos no contavam
com mdicos na equipe e nem equipamentos
adequados. Os dois servios prestavam os primeiros cuidados, faziam imobilizao de vtimas e as encaminhavam s unidades de sade.
Atendiam ainda, de forma complementar, pessoas de outros municpios com traumas graves.
Com a chegada do SAMU, coube ao Corpo
de Bombeiros manauense apenas o resgate de
ANLISE DA IMPLANTAO DO SAMU
vtimas nas chamadas zonas quentes, ou seja,
onde e quando h risco de desmoronamento ou
incndio e em situaes com pessoas presas a
ferragens. Mesmo que a substituio da oferta
anterior pela implantao do SAMU tenha sido
bem aceita pelos gestores, a nova diviso do trabalho est ocorrendo com o nus da insatisfao
dos bombeiros. Eles se ressentem por no contarem com apoio e suporte financeiro do setor sade ao programa j existente e pela desvalorizao
de tanta experincia acumulada.
Apesar das contradies, que esto sendo
administradas, h grande expectativa de melhoria da qualidade do atendimento, de padronizao de normas e procedimentos, de dotao, por
parte do Ministrio da Sade, de equipamentos
de resgate, de acordo com as caractersticas
da regio, carente, ainda, de unidades areas e
fluviais para localidades de difcil acesso. A implantao do SAMU representa, para Manaus,
a garantia de maior cobertura com expectativa
de funcionamento de 14 unidades regionais,
embora no momento apenas oito estejam em
ao.
No Rio de Janeiro, o quadro de transio
mais conflituoso. Desde 1986, o Grupamento de
Socorro de Emergncia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (GSE/
CBMERJ) vinha sendo responsvel pela assistncia pr-hospitalar, que inclua equipes mdicas para regulao e para atendimento. Durante a implementao do Programa Nacional de
Enfrentamento de Emergncias e Traumas, em
1992, o GSE colaborou, formando bombeiros
para a ateno pr-hospitalar mvel em diversos estados.
Com a implantao do SAMU e o redimensionamento das funes entre instituies, a experincia dos bombeiros foi pouco considerada.
Os gestores do GSE, quando entrevistados, teceram enfticas crticas ao Ministrio da Sade por
no ter envolvido a corporao na formulao e
implantao do SAMU. Segundo eles, a interao
entre os rgos possibilitaria, alm de maior eficincia, elevar consideravelmente o oramento
do GSE. A desconsiderao foi interpretada por
um dos gestores do GSE como uma clssica dificuldade que a rea de sade tem para agir de
forma intersetorial, contrariando a imagem que
o setor propala.
Na verdade, parece ter havido uma tmida
tentativa de promover a integrao, mas essa
foi subjugada por entraves e questes de menor relevncia, como obrigatoriedade do uso de
logotipos, uniformes e equipamentos especficos. O certo que o processo de capacitao dos
profissionais que integrariam o SAMU no Rio de
Janeiro foi realizado sem a participao do GSE,
fato tambm considerado pelos entrevistados
dessa corporao como pouco produtivo por ter
focado contedos alheios realidade fluminense. Certamente, o argumento considerado mais
injusto no estremecimento das relaes institucionais foi o que considerou improcedente o
repasse de verbas da estrutura SAMU para os
bombeiros.
Apesar dos conflitos, com a implantao do
SAMU em 2005 foi estabelecido um acordo informal entre as partes, segundo o qual os bombeiros atenderiam apenas as urgncias clnicas
e domiciliares. Em outros termos, mesmo sem
verba complementar, o GSE continua a ser o responsvel pelo socorro pr-hospitalar mvel.
Na cidade de Curitiba, os gestores consideram que conseguiram uma boa articulao entre
bombeiros e SAMU. O socorro era feito, desde
1990, pelo Sistema Integrado de Atendimento ao
Trauma e Emergncia (SIATE), gerenciado pelo
Corpo de Bombeiros, que continuou responsvel
pela prestao de atendimentos s vtimas de acidentes e violncias, agora de forma integrada ao
Sistema de Atendimento Municipal s Urgncias.
Assim, o SIATE cuida das situaes de acidentes
e violncias e o SAMU, de emergncias clnicas.
Ao ligar-se para a linha 193 do Corpo de Bombeiros, a central de comunicao transfere a ligao
para a linha 192 (SAMU), onde uma central de
regulao mdica avalia a gravidade da situao
e designa ambulncia e equipe apropriada para
atender ao chamado.
Tipologia dos atendimentos e uso dos
dados para planejamento
Observando dados dos sistemas de resgate a vtimas de causas externas nos anos de 2004 e 2005
(Tabela 1), em cada capital estudada, concluise que o socorro para traumatizados no trnsito,
transporte ou em demais acidentes constitui a
maioria dos cuidados realizados. A ateno s
leses por agresses, em 2005, destacou-se nas
cidades de Manaus, Rio de Janeiro e Curitiba.
Os gestores do programa no Rio de Janeiro
e Recife assinalam que a notificao que realizam no segue a Classificao Internacional de
Doenas, 10a reviso (CID-10). Contudo, representantes das cinco capitais afirmaram que realizam anlise sistemtica dos dados, tomando-os
como base para o planejamento das aes. Uma
vez questionados sobre com que nota avaliariam
seus registros, os gestores atriburam valores
elevados (entre 7 e 10). No trabalho de campo,
todavia, observaram-se contradies, pois os
bancos de dados no esto articulados com os
de outras instituies que prestam atendimento
s vtimas.
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 24(8):1877-1886, ago, 2008
1881
1882
Minayo MCS, Deslandes SF
Tabela 1
Nmero absoluto dos tipos de atendimento de pr-hospitalar mvel por acidentes e violncia, realizados nas capitais brasileiras estudadas, nos anos de 2004
e 2005 *.
Braslia
Total de atendimentos
Atendimentos por agresso
Curitiba
Manaus
Recife
Rio de Janeiro
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
514.349
537.282
824.022
429.144
964.892
680.358
363.514
213.794
1.547.138
816.422
267
398
2.413
1.430
2.289
496
670
280
2.633
1.426
139
129
41
26
20
143
66
554
326
47
70
Atendimentos por leso
autoprovocada
Atendimentos por leso decorrente
de intervenes legais
Atendimentos por acidentes de
trnsito/transportes
108
136
5.247
2.208
5.795
1.007
3.447
1.541
40.964
21.379
Atendimentos por quedas
71
652
4.288
2.530
1.703
852
13.920
7.293
Atendimentos por demais acidentes
118
473
390
134
81
396
185
3.278
1.732
* No ano de 2005 s foram includos dados referentes ao primeiro semestre.
Gesto de recursos do sistema
Esse item trata dos equipamentos e medicamentos preconizados pela Portaria n. 2.048/
GM 4 para um atendimento de qualidade. Os
veculos apropriados so definidos de acordo
com a Poltica Nacional de Atendimento s Urgncias 4. Ambulncias (veculo terrestre, areo
ou aquavirio que se destina exclusivamente a
transporte de pacientes) podem ser do tipo A
(prprias para remoes simples de carter eletivo), B (adequadas ao suporte bsico de vida
para paciente com risco de morte em transporte inter-hospitalar e paciente do pr-hospitalar
com risco de morte desconhecido), C (prprias
para resgate, atendimento pr-hospitalar de vtimas de acidentes ou que estejam em locais de
difcil acesso, com equipamento de salvamento)
e D (visando ao suporte avanado de vida de
paciente com alto risco e de transporte interhospitalar para os que necessitam de cuidados
mdicos intensivos e uso de equipamentos).
considerada do tipo E a aeronave de asa fixa ou
rotativa para transporte inter-hospitalar e de
resgate de paciente. Do tipo F a embarcao
para transporte em via martima ou fluvial. H,
ainda, a previso de meios de interveno rpida, utilizando veculos leves para transporte de
mdicos com equipamentos para suporte avanado de vida e outros veculos adaptados para
transporte de pacientes de baixo risco.
O SAMU preconiza os seguintes parmetros
demogrficos para seus servios: uma equipe
de suporte bsico de vida para cada 100/150 mil
habitantes (um motorista, um auxiliar/tcnico
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 24(8):1877-1886, ago, 2008
de enfermagem e uma ambulncia tipo B); uma
equipe de suporte avanado de vida para cada
400/450 mil habitantes (um motorista, um mdico e um enfermeiro e uma ambulncia tipo
D); um mdico regulador para cada central e
um Ncleo de Educao em Urgncia em cada
capital 4.
A disponibilidade dos recursos previstos nas
diversas portarias varia consideravelmente nas
cinco capitais, embora em todas exista pelo menos um dos trs tipos de ambulncia preconizados: B, C ou D. Ao se examinar o que, efetivamente, existe em cada uma delas, verificam-se
desigualdades e diferenas expressivas.
Em Manaus, por ocasio da pesquisa, no havia ambulncias do tipo D e E, ainda que houvesse planejamento para a obteno desses recursos.
Em contrapartida, havia ambulncias do tipo F.
No possuir unidades com suporte avanado de
vida configura insegurana grave no cotidiano
das operaes. O SAMU de Recife no contava
com ambulncias do tipo C nem aeronaves. O
subsistema dispunha de 15 ambulncias e existia
plano de expanso do atendimento, incorporando toda a regio metropolitana. Esse plano previa
aumento de cerca de um milho e meio de habitantes na cobertura do sistema. Braslia somente
possua ambulncias do tipo B e D, o que significa baixa diversidade de opes para cobrir as
necessidades desse vasto complexo urbano. No
Rio de Janeiro, o GSE/CBMERJ contava com 78
ambulncias, sendo a metade com suporte avanado, presena de mdicos, alm de contar com
todos os tipos previstos de ambulncias. Curitiba
possua uma estrutura mais completa e coesa,
ANLISE DA IMPLANTAO DO SAMU
reunindo vrios servios integrados de SIATE/
SAMU e suporte hospitalar. Isso representava um
total de 64 ambulncias (13 SIATE, 21 SAMU e 30
da central de ambulncias). Dispunha dos tipos
B, C e D, menos aeronaves.
Foi pesquisada a disponibilidade de outros
equipamentos e medicamentos preconizados
pela Portaria n. 2.048/GM 4 e apenas o GSE do
Rio de Janeiro preenchia todos os critrios. Apesar das deficincias constatadas, os gestores aferiram notas altas (entre 9 e 10) aos equipamentos
e medicamentos disponveis nos seus sistemas
pr-hospitalares. Somente os de Braslia pontuaram esses quesitos com nota mais baixa (7). Um
dos servios de Manaus pontuou com nota 0 o
item medicamentos e atribuiu nota 9 aos equipamentos.
Pesquisou-se, tambm, a adequao dos
recursos humanos funo. Os profissionais
das cinco capitais tm formao apropriada e
todas as equipes foram capacitadas em Advanced Trauma Life Support (ATLS). No entanto, h
problemas em Braslia, pois o SAMU, em vez de
contratar, desloca profissionais da rede de sade.
O gestor mencionou enfaticamente que existem
deficincias na capacitao da equipe.
Em Manaus, os dois servios existentes contam, juntos, com dois coordenadores, 27 enfermeiras, 164 auxiliares e 96 motoristas. Em Recife,
existe perspectiva de mudana da sede do sistema para um espao maior, expandindo o atendimento com regulao mdica e aumentando
o quadro de pessoal, que atualmente comporta
um coordenador, 28 mdicos, 17 enfermeiras,
84 auxiliares de enfermagem e 70 motoristas. O
GSE do Rio de Janeiro tem a maior equipe dentre
todas as capitais analisadas: 14 coordenadores,
221 mdicos, 4 enfermeiras, 492 auxiliares de
enfermagem, 1 assistente social. J o SAMU de
Curitiba opera com 7 coordenadores, 23 mdicos
na central de regulao, 47 mdicos nas unidades
avanadas de suporte, 72 auxiliares de enfermagem, 28 enfermeiros e 68 motoristas.
A avaliao dos gestores quanto ao nmero e
qualificao dos profissionais disponveis para o
atendimento recebeu notas mais crticas em Braslia (6 e 5 respectivamente) e em Manaus (nota 6
para a qualificao dos socorristas).
A presteza no socorro um dos itens fundamentais para a ateno pr-hospitalar. Na Tabela
2, apresentam-se os tempos mdios gastos nos
servios mveis, por cada capital, e, considerando o tempo de resposta total como um dos
indicadores de qualidade da ateno, possvel
trabalhar com algumas hipteses.
As informaes da Tabela 2 indicam que Manaus aponta o tempo menor para resposta total, entretanto esse dado fruto de estimativa
e provavelmente indica pouca preciso. Recife
apresenta uma medida intermediria. Rio de Janeiro e Curitiba tm comportamentos opostos.
Esta capital assinala um dos menores tempos,
sendo favorecida pelo trnsito mais ordenado e
por uma boa articulao na interao da unidade
mvel com as unidades pr-hospitalares fixas e
hospitais fato esperado em virtude do modelo integrado existente na cidade. Por sua vez, o
GSE do Rio de Janeiro gasta poucos minutos para
chegar ao local onde se encontra a vtima, porm despende muito tempo at a unidade fixa de
atendimento. Os gestores comentam que isso se
deve precria articulao entre o pr-hospitalar
mvel e a recepo do paciente nas unidades da
rede pblica.
s vezes eu estou aqui; pego o doente e aqui
tem um hospital. S que no posso levar pra c
porque esse hospital no tem capacidade de receber o doente; porque est faltando o Neuro. Tenho
que atravessar a cidade para outro lugar. Os problemas maiores encontrados pela central da regulao, que eu no tenho hospital de referncia,
ento isso aqui um verdadeiro inferno brasileiro.
Tabela 2
Tempos mdios (em minutos) do atendimento pr-hospitalar, segundo as capitais brasileiras estudadas, no primeiro semestre de 2005.
Manaus
Recife
Braslia
Resposta das equipes de urgncia
15
Tempo mdio decorrido no local de ocorrncia
15
20
Tempo mdio de transporte at a unidade de referncia
Espera para o primeiro atendimento
Resposta total
Rio de Janeiro
Curitiba
10
10
13
20
10
20 *
20
15
20
45
66
35
* Quando se trata de um regaste em Braslia, o tempo estimado foi de 20 minutos; quando o resgate era em alguma cidade satlite, o tempo foi de 30 minutos.
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 24(8):1877-1886, ago, 2008
1883
1884
Minayo MCS, Deslandes SF
Tenho tomgrafo, mas no tenho operador; tenho
tomgrafo e operador, mas no tenho filme. O dia
que tenho os trs, falta ar-condicionado. A gente
tem uma falta muito grande de especialista e de
vaga, porque a emergncia no emergncia: todo
mundo procura, porque sabe que algum mdico vai atender (gestor 2 pr-hospitalar Rio de
Janeiro).
Para minimizar o quadro descrito, diretores
e chefes de emergncia dos hospitais pblicos
e representantes do Corpo de Bombeiros se renem mensalmente numa Cmara Tcnica do
Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, na busca de articulao entre os setores prhospitalar e de emergncia. Esses acordos, contudo, constituem compromissos informais, sem
vincular responsabilidades s instncias gestoras
formais. A precria articulao entre esses dois
setores agravada pela baixa disponibilidade de
vagas nos hospitais, problema que atinge tambm vrias capitais. A demanda ambulatorial de
pessoas com doenas crnicas que buscam os
servios de urgncia e o nmero insuficiente de
profissionais foram problemas pontuados pelos
gestores de todas as capitais estudadas. Estudos
de base etnogrfica vm revelando que a populao possui critrios peculiares, a partir de valores e referncias, para denominar o que seja
uma urgncia, e esses parmetros nem sempre se
assemelham aos da biomedicina 11,22.
Apesar de os gestores do subsistema pr-hospitalar mvel afirmarem que existe boa articulao com a rede hospitalar atravs de central de
regulao ou da rede pactuada de servios (no
caso do Rio de Janeiro, esta operada pelos bombeiros), eles aferiram notas mais baixas para essa
interao. Os do Rio de Janeiro, Braslia e Curitiba revelaram maior insatisfao, atribuindo-lhe
nota 6. Ao contrrio, os de Manaus e Recife valorizaram essas relaes com a nota 9. Todos os
servios pr-hospitalares das capitais, segundo
os gestores, apresentam rotinas e protocolos para o atendimento s vtimas de acidentes e violncias.
Os gestores realaram outras dificuldades
para que o subsistema pr-hospitalar mvel
opere com eficincia: (a) chamadas feitas por
pessoas portadoras de doenas crnicas que
lanam mo desse recurso como alternativa
s dificuldades de locomoo, fator de grande
relevncia em Recife; (b) dificuldade de provimento rpido da manuteno de ambulncias,
o que mais grave em Manaus; (c) trotes, que
correspondem a cerca de 60% das ligaes feitas
ao SAMU de Braslia, sendo tambm problema
relevante em Curitiba.
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 24(8):1877-1886, ago, 2008
Concluses
Nesta concluso ressaltam-se alguns pontos que
sobressaram na pesquisa emprica:
Na continuidade do processo de transio,
preciso que a parceria entre Corpo de Bombeiros
e SAMU continue a ser fortalecida, especialmente no Rio de Janeiro, onde se observa acirramento
das divergncias. A competncia e a experincia
do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro um
patrimnio local reconhecido em todo o pas que
deveria ser valorizado, inclusive por meio de suporte financeiro.
A implantao do SAMU nas capitais estudadas vem sendo considerada muito positiva, sobretudo quando se considera que o resgate mvel
no dispunha de centrais mdicas de regulao e
de atendimento mdico nas ambulncias, como
o caso de Manaus. Apesar de alguns problemas
especficos e compreensveis nos processos de
transio, nas cinco capitais a implantao do
SAMU vem representando benefcio para a populao.
A articulao do pr-hospitalar mvel com
as demais unidades de sade por intermdio da
central de regulao tambm um ponto positivo nas capitais. Todavia, no Rio de Janeiro,
os gestores assinalam que existem srios entraves para a obteno de vagas nos hospitais da
rede. Essa desconexo interfere negativamente
na rapidez do atendimento prestado pelo GSE
que, apesar de sua eficincia, perde tempo precioso at a entrega do paciente nas unidades
de sade. Decises tomadas pelos gestores para
solucionar o problema vm servindo para pactuar informalmente a oferta de leitos e trocar informaes sobre a disponibilidade dos servios,
porm os acordos no instituem compromissos
e responsabilidades formais entre secretarias,
programas e hospitais. Em resumo, a falta de
vagas nos hospitais agrava a baixa articulao
entre os setores de atendimento pr-hospitalar
e hospitalar, o que tambm foi assinalado pelos
gestores de Braslia e Curitiba. Esse um problema estrutural do SUS que precisa de alternativas
viveis, sobretudo nos servios de ateno s vtimas de violncias e acidentes, em que o tempo
um dos fatores mais relevantes para salvao
de vidas.
importante dar nfase s informaes com
finalidade de planejamento. Tendo em vista que
traumas graves provocados por acidentes e violncias so os principais tipos de agravos que
exigem ateno especfica, de se esperar que
todas as capitais possuam, pelo menos, todos
os tipos de ambulncia previstos para a estruturao do SAMU. Isso no vem ocorrendo, a
no ser no Rio de Janeiro. Igualmente, o supri-
ANLISE DA IMPLANTAO DO SAMU
mento de equipamentos e medicamentos para
os primeiros socorros constitui exigncia de altssima relevncia para esse tipo de servio, e a
sua escassez ou falta mereceu crtica de muitos
gestores.
A formao de recursos humanos especializados um ponto positivo em quatro das cinco
capitais estudadas. Merece especial ateno o caso de Braslia, onde este ponto est descuidado.
necessrio que a Secretaria de Sade de Braslia
forme seu quadro prprio para o SAMU, o que
deveria ser monitorado e exigido pelo Ministrio
da Sade.
Para a maioria dos gestores e profissionais
que atuam na oferta de servios pr-hospitalares s vtimas de leses e traumas por acidentes
e violncias, o SAMU hoje um bem que o setor
sade oferece sociedade brasileira. Esse tipo
de servio veio oficializar, padronizar e regular
um subsistema fundamental para salvar vidas,
tendo j sido comprovada sua eficcia em vrios pases do mundo. Portanto, preciso que os
administradores do SUS invistam na sua continuidade, no aperfeioamento de sua implantao e implementao e no seu monitoramento,
buscando excelncia e integrao com todo o
sistema de urgncia e emergncia.
Resumo
Colaboradores
Apresentamos descrio e anlise da implantao do
sistema de atendimento pr-hospitalar mvel (Servio de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU). O
texto parte de uma pesquisa denominada Anlise
Diagnstica de Implantao da Poltica Nacional
de Reduo de Acidentes e Violncias. Estudamos a
histria recente da implantao, organizao, recursos
humanos, materiais e equipamentos do SAMU em cinco capitais (Curitiba Paran; Recife Pernambuco;
Braslia Distrito Federal; Manaus Amazonas; Rio
de Janeiro) que apresentam elevadas taxas de morbimortalidade por causas externas. Trabalhamos em
quatro fases, cada qual agregando ciclos exploratrios,
de trabalho de campo e de anlise, triangulando dados
quantitativos e qualitativos. Os resultados mostram
que a implantao do SAMU constitui, hoje, um
avano do setor sade e da sociedade. preciso ainda
completar a implantao de vrias portarias quanto
a veculos, pessoal e equipamentos; intensificar a articulao do pr-hospitalar mvel com as unidades de
sade; enfatizar informaes geradas nesse subsistema
visando ao melhor planejamento das aes; manter
e promover a alta qualificao dos profissionais do
SAMU. Este servio veio oficializar, padronizar e regular um subsistema fundamental para salvar vidas.
M. C. S. Minayo foi responsvel pela redao do artigo.
S. F. Deslandes foi responsvel pela apresentao dos
dados, tabelas e trabalho de campo.
Assistncia Pr-Hospitalar; Emergncias; Servios PrHospitalares
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 24(8):1877-1886, ago, 2008
1885
1886
Minayo MCS, Deslandes SF
Referncias
1.
Ministrio da Sade. Decreto n. 5.055. Institui o
Servio de Atendimento Mvel de Urgncia
SAMU, em municpios e regies do territrio nacional, e d outras providncias. Dirio Oficial da
Unio 2004; 27 abr.
2. Ministrio da Sade. Portaria n. 737, de 16 de
maio de 2001. Poltica Nacional de Reduo de
Morbimortalidade por Acidentes e Violncias. Dirio Oficial da Unio 2001; 18 mai.
3. Minayo MCS, Deslandes SF, organizadoras. Anlise
diagnstica: da Poltica Nacional de Reduo de Acidentes e Violncias. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz;
2007.
4. Ministrio da Sade. Poltica Nacional de Ateno
s Urgncias. Braslia: Ministrio da Sade; 2004.
5. Hospital and prehospital resources for optimal care of the injured patient. Committee on Trauma
of the American College of Surgeons. Bull Am Coll
Surg 1986; 71:4-23.
6. Pepe PE, Wyatt CH, Bickell WH, Bailey ML, Mattox KL. The relationship between total prehospital
time and outcome in hypotensive victims of penetrating injuries. Ann Emerg Med 1987; 16:293-7.
7. Whitaker IY, Gutirrez MGR, Koizumi MS. Gravidade do trauma avaliada na fase pr-hospitalar.
Rev Assoc Med Bras 1998; 44:111-9.
8. Trunkey DD. Trauma. Accidental and intentional
injuries account for more years of life lost in the
U.S. than cancer and heart disease. Among the
prescribed remedies are improved preventive efforts, speedier surgery and further research. Sci
Am 1983; 249:28-35.
9. Champion HR, Copes WS, Sacco WJ, Lawnick MM,
Keast SL, Bain Jr. LW, et al. The Major Trauma Outcome Study: establishing national norms for trauma care. J Trauma 1990; 30:1356-65.
10. Albuquerque VS, Minayo MCS. Atendimento prhospitalar de emergncia: referenciais tcnicos,
gesto dos servios e atuao profissional. Cad
Sade Pblica; submetido.
11. Deslandes SF. Frgeis deuses: profissionais da
emergncia entre os danos da violncia e a recriao da vida. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2002.
12. Lechleuthner A, Emerman C, Dauber A, Bouillon
B, Kubincanek JA. Evolution of rescue systems: a
comparison between Cologne and Cleveland. Prehosp Disaster Med 1994; 9:193-7.
13. Hayashi Y, Hirade A, Morita, H. An analysis of time
factors in out-of-hospital cardiac arrest in Osaka
Prefecture. Resuscitation 2002; 53:121-5.
14. Rainer TH, Houlihan KP, Robertson CE, Beard D,
Henry JM, Gordon MW. An evaluation of paramedic activities in prehospital trauma care. Injury
1997; 28:623-7.
15. Nikkanen HE, Pouges C, Jacobs LM. Emergency
medicine in France. Ann Emerg Med 1998; 31:
116-20.
16. Denzin NK. The research act. Chicago: Aldine Publishing Company; 1973.
17. Minayo MCS, Sanches O. Quantitativo-qualitativo:
oposio ou complementaridade? Cad Sade Pblica 1993; 9:237-48.
18. Minayo MCS, Souza ER, Assis, SG, organizadores.
Avaliao por triangulao de mtodos: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz; 2005.
19. Souza ER, Minayo MCS, Silva CMFP, Reis AC,
Malaquias JV, Veiga JPC, et al. Anlise temporal da
mortalidade por causas externas no Brasil: dcadas de 80 e 90. In: Minayo MCS, Souza ER, organizadores. Violncia sob o olhar da sade: a infrapoltica da contemporaneidade brasileira. Rio de
Janeiro: Editora Fiocruz; 2003. p. 83-107.
20. Ministrio da Sade. Portaria n. 814/GM, de 1o
de junho de 2001. Estabelecer na forma Anexo I,
desta Portaria, o conceito geral, os princpios e as
diretrizes da Regulao Mdica das Urgncias. Dirio Oficial da Unio 2001; 1o jun.
21. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em sade. 9a Ed. So Paulo: Editora
Hucitec; 2006.
22. Giglio-Jacquemot AG. Urgncias e emergncias
em sade: perspectivas de profissionais e usurios. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2005.
Recebido em 13/Set/2007
Aprovado em 26/Dez/2007
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 24(8):1877-1886, ago, 2008
Você também pode gostar
- Apr Trabalho em AlturaDocumento5 páginasApr Trabalho em AlturaBrenda MouraAinda não há avaliações
- Plano de EmergênciaDocumento16 páginasPlano de EmergênciaKessya Fonseca100% (2)
- Pae - Madeirol 2022 (2) IDocumento24 páginasPae - Madeirol 2022 (2) INilsonAinda não há avaliações
- Apostila Samu CONDUTORDocumento63 páginasApostila Samu CONDUTORConstrumenezes67% (3)
- Questões APHDocumento5 páginasQuestões APHNinJaDu Games100% (1)
- DENTINOGENESEDocumento2 páginasDENTINOGENESEMayara França0% (1)
- CartilhaDocumento27 páginasCartilhaINCRÍVEISAinda não há avaliações
- Mapa - Saúde Coletiva - 1° Semestre 2023Documento4 páginasMapa - Saúde Coletiva - 1° Semestre 2023Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações
- POP - SAMU Santa CatarinaDocumento140 páginasPOP - SAMU Santa CatarinaDavid Ribeiro da Silva100% (3)
- Cartilha Tea OabDocumento30 páginasCartilha Tea OabEliana CruzAinda não há avaliações
- Legisla Exercicio Licito Odontologia No Brasil2008Documento14 páginasLegisla Exercicio Licito Odontologia No Brasil2008Mayara FrançaAinda não há avaliações
- Atenção e Cuidado Da Saúde Bucal Da Pessoa Com DeficiênciaDocumento232 páginasAtenção e Cuidado Da Saúde Bucal Da Pessoa Com DeficiênciaMayara França100% (1)
- HIDROCOLÓIDEDocumento3 páginasHIDROCOLÓIDEMayara FrançaAinda não há avaliações
- Resumão 2 Prova FARMACOLOGIA PDFDocumento27 páginasResumão 2 Prova FARMACOLOGIA PDFDanilloSAinda não há avaliações
- Cement oDocumento2 páginasCement oMayara França100% (2)
- DOEMSDocumento117 páginasDOEMSVinicius MacielAinda não há avaliações
- Resumo de Primeiros Socorros.Documento3 páginasResumo de Primeiros Socorros.GPortoPortoAinda não há avaliações
- Cartilha Semsa Final Web BaixaDocumento35 páginasCartilha Semsa Final Web BaixaRebeca JatahyAinda não há avaliações
- Treinamento LeigosDocumento23 páginasTreinamento LeigosarturdosamuAinda não há avaliações
- Anais Do 3º CEPExDocumento257 páginasAnais Do 3º CEPExUlt DefAinda não há avaliações
- 2024 02 27 Urgencia e EmergenciaDocumento70 páginas2024 02 27 Urgencia e Emergenciagetulio.mourabeloAinda não há avaliações
- Atendimento Na Sala de EmergenciaDocumento2 páginasAtendimento Na Sala de EmergenciaAndre TatiAinda não há avaliações
- Comunicado de AcidenteDocumento2 páginasComunicado de AcidenteValeska RamosAinda não há avaliações
- Portfólio de Avaliação Do Internato de Urgências E Emergências Médicas Ii 2022.2Documento19 páginasPortfólio de Avaliação Do Internato de Urgências E Emergências Médicas Ii 2022.2TURMA XXV - MED FUNORTEAinda não há avaliações
- Revista Avante Bombeiro Dezembro2010Documento56 páginasRevista Avante Bombeiro Dezembro2010Gilson Ventura100% (1)
- Pro - Uue .002 - Protocolo de Atendimento A Evento Com Multiplas Vitimas EmvDocumento37 páginasPro - Uue .002 - Protocolo de Atendimento A Evento Com Multiplas Vitimas EmvPsgo UfuAinda não há avaliações
- AVC IsquêmicoDocumento55 páginasAVC IsquêmicoAdalberto BatistaAinda não há avaliações
- Primeiros SocorrosDocumento18 páginasPrimeiros SocorrosThiago AndradeAinda não há avaliações
- Linha Do Tempo 2003 A 2004Documento4 páginasLinha Do Tempo 2003 A 2004Elenita Dos Santos Luzardo Da SilvaAinda não há avaliações
- TCC Cad Cavachini 2013Documento88 páginasTCC Cad Cavachini 2013mcavachini cavachiniAinda não há avaliações
- Diario Oficial de Nova Iguaçu de 06 de Agosto de 2013.Documento8 páginasDiario Oficial de Nova Iguaçu de 06 de Agosto de 2013.GMESPORTESAinda não há avaliações
- Capitulo 2 SAE em Uma Unidade de Urgência e Emergência Autonomia e Visibilidade Da Equipe de EnfermagemDocumento17 páginasCapitulo 2 SAE em Uma Unidade de Urgência e Emergência Autonomia e Visibilidade Da Equipe de EnfermagemIvan Borges JeremiasAinda não há avaliações
- Portaria n.2971-08Documento5 páginasPortaria n.2971-08Guilherme De Almeida LopesAinda não há avaliações
- Acidente Com Ônibus Deixa Feridos em Boa Sorte - Folha ItaocarenseDocumento3 páginasAcidente Com Ônibus Deixa Feridos em Boa Sorte - Folha ItaocarenseAline AlvesAinda não há avaliações
- Psicólogo ProvaDocumento6 páginasPsicólogo ProvaThiago BarrosoAinda não há avaliações
- Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24H: Percepção Da EnfermagemDocumento7 páginasUnidade de Pronto Atendimento - Upa 24H: Percepção Da EnfermagemElis DominguesAinda não há avaliações