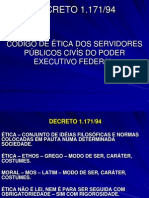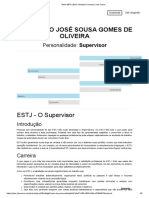Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Quando A Morte É Um Ato de Cuidado - Obstinação Terapêutica em Crianças
Quando A Morte É Um Ato de Cuidado - Obstinação Terapêutica em Crianças
Enviado por
Júlio ZoéTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Quando A Morte É Um Ato de Cuidado - Obstinação Terapêutica em Crianças
Quando A Morte É Um Ato de Cuidado - Obstinação Terapêutica em Crianças
Enviado por
Júlio ZoéDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FRUM FORUM
Quando a morte um ato de cuidado:
obstinao teraputica em crianas
When death is an act of care:
refusing life support for children
Debora Diniz
1 Programa de Ps-graduao
em Poltica Social,
Universidade de Braslia,
Braslia, Brasil.
Correspondncia
D. Diniz
Programa de Ps-graduao
em Poltica Social,
Universidade de Braslia.
C. P. 8011, Braslia, DF
70683-970, Brasil.
anis@anis.org.br
Abstract
Introduo
This paper analyzes a court case involving parents refusal of life support measures for an 8month-old infant with spinal muscular atrophy
type I, a fatal degenerative genetic disease. The
parents filed for a court injunction to ensure
that the infant would not be submitted to mechanical ventilation in case of respiratory distress. The Brazilian courts recognized the parents right to refuse life support measures, and
the infant died a week after the ruling. The parents request was to guarantee their right to
avoid medical procedures that would not alter
the infants clinical prognosis. The author of
this paper was called on to provide expert ethical counsel in this case, and the article is a modified and condensed version of the authors report to the presiding judge.
O avano tecnolgico tornou possvel manter
uma pessoa muito doente ou em estgio terminal indefinidamente viva, porm ligada a aparelhos de sustentao artificial da vida, como a
ventilao mecnica. A obstinao teraputica,
tambm conhecida como distansia, ou seja,
uma morte lenta e com intenso sofrimento, caracteriza-se por um excesso de medidas teraputicas que impem sofrimento e dor pessoa doente, cujas aes mdicas no so capazes de modificar o quadro mrbido. Fazer uso
dessas medidas no o mesmo que dispor dos
recursos mdicos para salvar a vida de uma
pessoa em risco: os mesmos recursos teraputicos podem ser considerados necessrios e ordinrios em um caso e extraordinrios e hericos em outro 1.
No se define obstinao teraputica em
termos absolutos. Um conjunto de medidas teraputicas pode ser considerado necessrio e
desejvel para uma determinada pessoa e excessivo e agressivo para outra. Essa fronteira
entre o necessrio e o excesso nem sempre
consensual, pois o que h por trs dessa ambigidade so tambm diferentes concepes
sobre o sentido da existncia humana. H casos de pessoas que, mesmo diante de situaes
irreversveis e letais, desejam fazer uso de todos os recursos teraputicos disponveis para
se manterem vivas. Outras pessoas definiram
Right to Die; Passive Euthanasia; Bioethics
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 22(8):1741-1748, ago, 2006
1741
1742
Diniz D
limites claros medicalizao de seu corpo, estabelecendo parmetros que nem sempre podem estar de acordo com o que os profissionais
de sade considerariam como a conduta mdica adequada ou recomendada. O desafio tico
para os profissionais de sade, tradicionalmente treinados para sobrepor seu conhecimento
tcnico s escolhas ticas de seus pacientes,
o de reconhecer que as pessoas doentes possuem diferentes concepes sobre o significado da morte e sobre como desejam conduzir
sua vida.
A obstinao teraputica resultado de um
ethos irrefletido das carreiras biomdicas. Os
profissionais de sade so socializados em um
ethos que, erroneamente, associa a morte ao
fracasso. O paradoxo dessa associao moral
que se, por um lado, so os profissionais de
sade os que mais intensamente lidam com o
tema da morte, por outro lado, so eles tambm
os que mais resistem a reconhecer a morte como um fato inexorvel da existncia. Uma possvel explicao para esse fenmeno de enfrentamento tcnico e ocultamento moral da morte a confuso entre sacralidade da vida e santidade da vida 2,3. O direito a se manter vivo
um direito fundamental expresso em nosso ordenamento jurdico e compartilhado por diferentes concepes filosficas e religiosas. O
pressuposto desse direito que a existncia
um bem individual garantido publicamente e,
em termos ticos, pode ser traduzido pelo princpio da sacralidade da vida.
O princpio da sacralidade da vida assegura
o valor moral da existncia humana e fundamenta diferentes mecanismos sociais que garantem o direito de estar vivo 2. Esse um princpio laico, tambm presente em diferentes cdigos religiosos, mas no o mesmo que o princpio da santidade da vida. Reconhecer o valor
moral da existncia humana no o mesmo
que supor sua intocabilidade. O princpio da
santidade da vida de fundamento dogmtico
e religioso, pois pressupe o carter heternomo da vida humana 4. Em um Estado laico como o Brasil, o que est expresso em nosso ordenamento jurdico pblico o princpio da
sacralidade da vida humana e no o princpio
da santidade da vida humana. O valor moral
compartilhado o que reconhece a vida humana como um bem, mas no como um bem intocvel por razes religiosas. Todavia, a socializao dos profissionais de sade confunde ambos os conceitos, o que acaba por sobrepor valores privados e metafsicos a respeito do sentido da existncia e da morte a princpios coletivos, como o da sacralidade da vida e o da autonomia.
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 22(8):1741-1748, ago, 2006
O crescente envelhecimento populacional
associado ao rpido avano das tecnologias biomdicas favorece a ampliao do horizonte de
debates sobre o direito de morrer, a eutansia e
a obstinao teraputica 5,6,7. Certamente, este
ser um fenmeno que exigir uma rpida reviso dos currculos das carreiras de sade, e a
biotica pode ser um instrumento analtico
importante para essa redefinio dos papis na
relao entre os profissionais de sade e os pacientes. O tema do direito de deliberar sobre a
prpria morte extrapolou as fronteiras acadmicas do Direito, da Medicina e da Biotica, ganhando o espao da fico, do cinema e do debate cotidiano 7. Ao contrrio de outros temas
bioticos, a ressignificao da eutansia como
uma expresso da cultura dos direitos humanos, ou seja, como um tema relativo a princpios ticos como a autonomia ou a dignidade,
um movimento crescente no Brasil.
Neste artigo, discutirei um caso especfico
de recusa de obstinao teraputica para um
beb de oito meses, portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I, uma doena gentica
incurvel, degenerativa e com curto prognstico mdico de sobrevida. O diagnstico mdico
foi realizado por volta dos cinco meses de idade do beb, e as primeiras paradas cardacas
ocorreram aos oito meses. No foi realizada
nenhuma interveno invasiva para manter a
respirao artificial do beb, por solicitao
dos pais, os quais buscaram suporte judicial
para garantir que a criana no fosse compulsoriamente submetida a mecanismos de respirao artificial, caso apresentasse novas paradas cardiorrespiratrias durante atendimento
hospitalar. O beb foi a bito por parada cardaca uma semana aps a deciso favorvel da
Justia. O argumento dos pais foi de que os recursos para garantir a respirao artificial deveriam ser entendidos como obstinao teraputica, dado o quadro clnico e irreversvel do
beb. A solicitao de ambos Justia justificou-se pela garantia do direito de recusar procedimentos mdicos que no modificariam o
quadro clnico da criana, em especial a ventilao artificial.
O caso chegou Justia recentemente, ocasio em que participei do processo fornecendo
assessoria. Os dados aqui apresentados so resultados de duas entrevistas formais com a famlia imediata e extensa do beb, de visitas espordicas ao hospital e ao domiclio da famlia,
de acompanhamento do processo judicial e de
anlise dos laudos mdicos. Este artigo uma
verso modificada do relatrio tico apresentado Justia. Todos os dados so verdicos e,
para fins de sigilo e garantia da privacidade, foi
QUANDO A MORTE UM ATO DE CUIDADO
omitido o Tribunal de Justia em que o caso foi
julgado, bem como qualquer outro dado que
permitisse a identificao das pessoas envolvidas. Os pais do beb autorizaram a publicao
da histria e foram os primeiros leitores deste
artigo.
Diferentes conceitos: eutansia, suicdio
assistido e obstinao teraputica
Alguns conceitos bioticos se prestam a vrias
interpretaes, e o de eutansia um deles. H
autores que definem eutansia pela etimologia
do conceito: uma prtica eutansica seria aquela que garantiria a boa morte 1,8. E boa morte
seria aquela resultante de uma combinao de
princpios morais, religiosos e teraputicos. No
basta uma boa Medicina para garantir a boa
morte, preciso cuidado respeitoso com as
crenas e valores que definem o sentido da vida e da existncia para que se garanta a experincia de uma boa morte para a pessoa doente 4. De acordo com essa interpretao, eutansia converte-se em um ato de cuidado e de respeito a direitos fundamentais, em especial
autonomia, dignidade e ao direito a estar livre de tortura.
Para muitos autores, em especial os que entendem a prtica da eutansia como o resultado de um direito individual de deliberar sobre
a prpria existncia, preciso diferenciar as
prticas eutansicas.
H a eutansia ativa (aquela em que se induz a morte pela administrao de medicamentos, por exemplo) e a eutansia passiva (aquela
em que se retiram mecanismos de sustentao
artificial da vida ou se retiram medicamentos),
podendo cada uma delas ser classificada como
voluntria ou involuntria 5. A eutansia voluntria quando fruto da deliberao individual, informada e esclarecida de cada pessoa,
e involuntria quando a pessoa no se pronunciou e no h como conhecer sua opinio, ou
mesmo quando ela no desejava a prtica da
eutansia.
A segunda forma de entender a eutansia
consider-la como sinnimo de homicdio ou
de suicdio. Essa interpretao pouco comum
biotica, mesmo biotica de inspirao crist
no Brasil, sobrepe o debate contemporneo a
respeito de eutansia s prticas de extermnio
nazista, em que pessoas vulnerveis e minorias
tnicas e raciais eram assassinadas por valores
genocidas e racistas de um Estado totalitrio 1.
O fantasma deixado pela II Guerra Mundial e
os relatos atrozes dos crimes cometidos pelos
mdicos nazistas , ainda hoje, uma sombra ao
debate biotico sobre o direito de morrer. Para
muitas pessoas, em geral aquelas pautadas em
premissas religiosas, eutansia seria sinnimo
de extermnio de pessoas vulnerveis, e a simples enunciao do conceito um tabu moral.
H ainda um terceiro tipo de procedimento,
o suicdio assistido, que tambm se aproxima
do debate sobre eutansia. A diferena entre a
eutansia ativa e o suicdio assistido que, neste ltimo, a pessoa doente apenas assistida
para a morte, mas todos os atos que aceleraro
esse desfecho so por ela realizados. Como h
casos de pessoas que solicitam o suicdio assistido, mas que no possuem independncia locomotora suficiente sequer para levar um copo
boca, foram desenvolvidos mecanismos para
garantir que apertando um boto de uma mquina, por exemplo, seja acionado um dispositivo para injetar o medicamento. Aqueles que
defendem o suicdio assistido argumentam que
esta uma maneira de no envolver os profissionais de sade no ato da eutansia, uma vez
que a prpria pessoa quem toma a deciso e
realiza as medidas necessrias para garantir sua
morte. O auxlio que porventura necessite pode
ser garantido por qualquer pessoa de seu crculo de relaes afetivas ou sociais.
Uma caracterstica deste debate que no
se considera a possibilidade da eutansia ativa,
passiva ou do suicdio assistido para pessoas
saudveis. Trata-se de tema circunscrito s pessoas doentes e, em particular, quelas em estgio terminal, com intenso sofrimento fsico, para quem a Medicina oferece restritas possibilidades de mudana do quadro clnico. Na biotica, no se fala de direito eutansia de pessoas
saudveis que desejam cometer o suicdio 1. Se,
por um lado, no se confunde eutansia com
prticas de extermnio de pessoas vulnerveis,
por outro, no se confunde eutansia com suicdio. Grande parte dos protocolos internacionais para garantir o acesso eutansia passiva,
isto , retirada de medicamentos ou tratamentos mdicos, pressupe que a pessoa doente
seja atendida por psiquiatras e psiclogos 9.
Em pases democrticos e plurais, o desafio
entender eutansia como um ato de expresso do livre arbtrio individual. Nesse contexto,
o que necessitaria ser regulamentado no seria
o direito a deliberar sobre como queremos morrer, mas sim sobre como garantir que o exerccio desse direito seja livre, informado e consciente. O desafio biotico o de retirar o tema
da boa morte do campo do tabu para garantir
seu enfrentamento como uma questo de direitos humanos. O direito a deliberar sobre a
prpria morte deve ser uma garantia no apenas mdica, mas tambm tica e jurdica. Nes-
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 22(8):1741-1748, ago, 2006
1743
1744
Diniz D
se processo de afastamento da boa morte do
tabu e de aproximao dos direitos humanos,
o tema da eutansia passiva e do direito a estar
livre da obstinao teraputica so os mais intensamente discutidos no cenrio internacional da biotica.
Obstinao teraputica
e tortura mdica
O caso que chegou Justia brasileira envolvia
um beb de oito meses, com um quadro clnico degenerativo, incurvel, e que exigia sesses
dirias de interveno no corpo para mant-lo
vivo. Seus pais descreveram essas intervenes
como atos de tortura: Isso que a gente chama
de tortura a fisioterapia, puncionar a veia, aspirar o pulmo duas ou trs vezes por dia, isso
tudo o incomoda, machuca (...) e no h qualquer possibilidade de modificar o quadro dele.... Por no haver mudana no quadro clnico do beb ou qualquer possibilidade de conter o avano da doena, prticas invasivas, como a sonda nasogstrica, eram medidas consideradas exageradas, porm tolerveis para os
pais do beb. A tortura da medicalizao definia-se pela impossibilidade de as medidas invasivas reverterem ou modificarem o quadro
clnico ...o que eu acredito que, se houvesse
prognstico de cura para ele, isso no poderia
ser nomeado tortura, isso seria uma terapia dolorida. Mas ele no vai ser curado, ns no estamos indo em direo a uma cura.... Essas eram
medidas que serviriam apenas para manter o
beb em sobrevida, jamais atuariam para curlo ou para aliviar os sintomas da doena. As
mesmas medidas invasivas, quando aliviavam
o sofrimento do beb, no eram definidas pelos pais como torturantes, apenas como dolorosas. Para estes, a fronteira entre tortura e dor
deveria ser traada pelo resultado de cada ao
mdica: algumas melhoravam a sobrevida do
beb, outras serviam apenas como medidas de
obstinao teraputica.
E foi sobre uma das aes mdicas a ventilao mecnica que os pais do beb solicitaram o direito de escolha Justia. Uma das
caractersticas da sndrome gentica do beb
era a crescente e incontrolvel perda da capacidade muscular. Ainda hoje, a Medicina no
sabe como interromper o processo de degenerao muscular do corpo provocado pela sndrome 10,11. Os principais hospitais e centros
de reabilitao locomotora do Pas se recusam
a internar pacientes com Amiotrofia Espinhal
Progressiva Tipo I. Essa recusa no se d por
uma discriminao gentica, mas simplesmen-
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 22(8):1741-1748, ago, 2006
te por um reconhecimento da incapacidade tcnica da Medicina em oferecer qualquer recurso
teraputico ou medidas paliativas para aliviar
o quadro clnico. E sobre isso os pais do beb
estavam conscientes e conformados: no havia
absolutamente nada o que fazer para conter o
avano da sndrome, ou nas palavras do pai
....este um jogo em que j comeamos perdendo....
Quadros clnicos como o desse beb so casos-limite para os quais a Medicina tem pouco
a oferecer. H promessas de futuras terapias
gnicas, remotas possibilidades de descobertas
no campo da farmacogentica, mas o fato
que no h qualquer recurso mdico disponvel; tampouco se considera que qualquer avano neste campo estaria acessvel s pessoas j
em estgio to avanado de perda muscular,
como era o caso do beb. A sndrome gentica
do beb lhe impunha uma curta existncia corporal: a estimativa de sobrevida seria de poucos anos 11. E foi exatamente a certeza da existncia reduzida pela sndrome uma batalha
em que a Medicina no est habilitada ainda a
enfrentar que fez os pais do beb solicitarem
limites para cada procedimento mdico.
Mas se os recursos mdicos so limitados, e
no h responsveis para essa limitao do conhecimento humano, os pais do beb reconheciam outros cuidados como prioritrios para
garantir a integridade e a dignidade do filho:
eram dedicados e amorosos com a criana. Desde o nascimento, a me no trabalhava para dedicar-se integralmente aos cuidados do beb
prematuro, que, precocemente, foi diagnosticado como portador da sndrome gentica; o
pai abandonou o trabalho desde a primeira internao hospitalar do filho. Os dois alternavam-se ininterruptamente nos cuidados e na
vigilncia do beb e passaram a ser mantidos pela ajuda da famlia extensa que, em sua maioria, estava de acordo com a deciso do casal.
Essa dedicao irrestrita ao beb no deve ser
entendida apenas como um ato compulsrio da
maternidade ou da paternidade, mas como um
profundo ato de amor de um jovem casal que,
antecipadamente, sentia saudades do filho.
Os cuidados intensivos da criana exigiam
diferentes atitudes dos pais. Por um lado, cuidar de um beb com as limitaes impostas pela sndrome pressupunha uma dedicao fsica
e temporal irrestrita. Os pais converteram-se
na extenso do corpo debilitado e fraco do filho. A sobrevida do beb s paradas cardiorrespiratrias foi resultado do cuidado incondicional de seus pais. Por outro lado, estes tiveram
que aprender a suspender o tempo: eles eram
pais de um filho cuja existncia tinha data mar-
QUANDO A MORTE UM ATO DE CUIDADO
cada para terminar. A morte uma condio
humana, mas a existncia pr-determinada
desconcertante. O beb morreria em breve, com
ou sem ventilao mecnica, e os pais tinham
pressa de viver os ltimos momentos com a
tranqilidade de quem ignora a proximidade
da morte. A morte do beb no era apenas uma
certeza da condio humana, mas uma sentena. A passagem de condio para sentena fez
com que os pais aprendessem que amor e apego so sentimentos diferentes, ...o amor fundamental com desapego...e o nosso amor por ele
desapegado, no poderia ser diferente.... Por
fim, eles precisavam de proteo: somente a
Justia impediria que eles fossem transformados de pais amorosos em assassinos.
A solicitao dos pais Justia foi para garantir que o beb, em caso de parada cardiorrespiratria, no seria submetido ventilao
mecnica e no seria internado em uma UTI.
Em outras palavras, a solicitao do casal visava a garantir que a capacidade de respirar independentemente de uma mquina fosse o limite da medicalizao do corpo do filho. Nos
termos do casal, o pedido judicial seria a garantia de que a independncia respiratria fosse o limite da tortura. No mais ser capaz de
respirar era o sinal definitivo de que o curso da
vida do beb deveria ser seguido sem a interveno tcnica. Impor a ventilao artificial seria um ato de obstinao teraputica que apenas impediria por algum tempo que o ciclo natural da curta existncia do beb seguisse seu
rumo. O pedido dos pais de recusa de procedimento mdico baseava-se na compreenso de
que a ventilao mecnica no era um ato mdico necessrio para o tratamento do beb, mas
sim uma interveno cruel que impediria a falncia definitiva do corpo.
Ser capaz de respirar foi o limite fsico estabelecido pelos pais, mas que deve ser redescrito em termos ticos. Os pais defendiam que
enquanto o beb fosse capaz de respirar sem o
auxlio de medidas invasivas, ele seria capaz de
lutar pela vida: ...a partir do momento em que
ele precisar daquela mquina para poder respirar porque ele no vai mais conseguir respirar
(...) porque ele no deveria estar vivo. porque no para ele estar mais vivo.... Os pais estavam conscientes, informados e esclarecidos
que recusar a ventilao mecnica significaria
no mais prolongar a existncia do beb, ou
em termos mdicos estritos, levaria ao bito do
beb. possvel, equivocadamente, descrever
a solicitao dos pais como um ato de eutansia, j que o recurso da ventilao mecnica
manteria o beb em sobrevida por mais tempo.
Muito provavelmente, o beb no morreria por
problemas decorrentes de colapsos respiratrios, pois a mquina o manteria respirando, mas
sua morte se daria por infeces secundrias,
pneumonias, ou falncias de rgos. Certamente, a curta existncia do beb seria expandida
de alguns meses (em geral 24 meses) para alguns anos, mas a pergunta dos pais era exatamente sobre o sentido de submeter o beb a
medidas hericas e invasivas.
A ventilao mecnica garantiria a sobrevida do beb, mas no interromperia o avano
da sndrome. Ele se manteria vivo, porm permanentemente ligado mquina para respirar,
piorando continuamente e sem qualquer experincia de vida independente. Uma vez ligado
mquina, no haveria retorno: o beb e a mquina de respirao seriam uma nica existncia. Na mquina, os movimentos fsicos dele se
reduziriam ao piscar de olhos; por ocasio do
pedido judicial, o choro do beb j era sem som,
pois os msculos das cordas vocais j haviam
se enfraquecido; ele ainda ria, mas seus pais
sabiam que rapidamente a sndrome impediria
a expresso do sorriso. O casal se esforava para acompanhar esses ltimos sinais da interao do beb com o mundo ...a gente o est perdendo, mas perdendo de um jeito bonito. De um
jeito justo. Com integridade.... No hospital, o
beb passou a se alimentar por sonda nasogstrica. Na verdade, ele s conhecera duas formas
de se alimentar: o leite materno e o alimento
da sonda. Ele ainda era um beb que se alimentava no seio da me quando, na primeira parada
respiratria, perdeu a capacidade de deglutir.
Foi nesse mesmo perodo que os pais passaram mais seriamente a pensar nos limites da
medicalizao do corpo e da existncia do beb. At ento, os relatos mdicos sobre o prognstico da sndrome eram bastante evasivos,
uma caracterstica do discurso mdico quando
se defronta com situaes clnicas que lhe exigem o reconhecimento da impotncia tcnica.
Segundo os pais, os relatos mdicos eram genricos: ora afirmavam que no havia padro
nico de evoluo da doena, ora confundiam
os trs tipos de Amiotrofia, sugerindo ser possvel que o beb viesse a sentar numa cadeira
de rodas, mas ...ningum nos disse que ele vai
chegar num ponto que no vai respirar mais....
Essa ambigidade discursiva permitiu que os
pais nutrissem expectativas de que, no havendo padro nico de evoluo da sndrome, talvez, o beb no desenvolvesse a doena, ou mesmo de que fosse possvel que a sndrome estagnasse e ele sobrevivesse em uma cadeira de rodas. Os pais o queriam vivo e em condies de
viver a vida, no importando com que restries de funcionalidade. Jamais a possibilidade
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 22(8):1741-1748, ago, 2006
1745
1746
Diniz D
da vida com deficincia foi um problema para
os pais do beb. Mas a expectativa foi destroada pela primeira parada cardaca e pela tentativa de coloc-lo num CPAP (Continuous Pressure Airway Positive), recurso de respirao artificial 12. Nessa ocasio, os pais entenderam
que, alm de ter que aprender a lidar com a breve existncia do filho, era preciso enfrentar o
tema de como queriam que o beb experimentasse os meses de vida que lhe restavam.
Ao contrrio do debate tradicional sobre o
direito de morrer, em que se apela para a autonomia e o livre arbtrio individual para justificar o exerccio do direito de deliberar sobre a
vida, neste caso no havia como conhecer a opinio do beb. E jamais seria possvel conhecla. Mesmo que, desrespeitando a vontade de
seus pais, o beb fosse mantido sob ventilao
mecnica permanente, ele no sobreviveria o
suficiente para atingir a maioridade e poder se
pronunciar. Na melhor das hipteses, a respirao artificial lhe daria alguns anos de sobrevida, confinado a um leito de hospital ou aos
cuidados domsticos intensivos e sem qualquer independncia fsica ou locomotora, pois
todos os msculos estariam permanentemente
debilitados. Diante da total impossibilidade de
se conhecer a opinio do beb, seus pais eram
os representantes legtimos de sua vontade 2. E
o foram, no por uma concesso do Estado que
reconhece o ptrio poder, mas por uma demonstrao irrefutvel do incondicional cuidado
dos pais ao beb.
...Meu filho uma extenso de mim, sendo
uma extenso de mim no posso deixar que ele
passe o que eu no passaria. No posso permitir: uma extenso de mim no vai sofrer uma
coisa que eu no concordo. Eu estou salvando
meu filho.... Com essas palavras, os pais descreveram o fundamento tico do pedido por aliviar o beb da obstinao teraputica. Confin-lo a uma mquina seria escraviz-lo a uma
existncia limitante e degradante, seria retirar
dele a dignidade da morte. Impedi-lo de morrer naturalmente seria uma agresso existncia j repleta de limites do beb. A Medicina
no necessitaria impor outra sentena quela
irrefutvel da loteria da natureza. Os pais descreveram a ventilao mecnica como uma
ameaa ao livre arbtrio do beb: o arbtrio de
uma existncia livre da tecnologia mdica. A
dignidade do beb passava pelo direito de morrer livre da tortura mdica diria e isenta de
sentido teraputico. A tortura no est na sentena da morte precoce, na degenerao muscular ou no sofrimento fsico do beb, mas nos
procedimentos mdicos invasivos e incapazes
de oferecer qualquer alternativa real de rever-
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 22(8):1741-1748, ago, 2006
so do quadro clnico j instaurado. A ventilao mecnica significaria apenas uma extenso da sobrevida do beb e, muito provavelmente, a substituio da causa de sua morte: de parada respiratria seguida de parada cardaca
para infeco generalizada ou pneumonia.
Os pais defenderam o direito de morrer livre da tortura da medicalizao, um argumento desafiante para o ordenamento moral cristo e para o ethos biomdico, que associam a
morte ao fracasso. ...No respirador, nem um
minuto. Do nosso ponto de vista, aquilo no
mais vida. Aquilo condenar uma pessoa a no
poder morrer (...) Uma criana no respiradouro
no tem a possibilidade de morrer.... Seria possvel traduzir o apelo dos pais como a recusa
pela obstinao teraputica. Mas a questo
ainda mais sofisticada que meramente a recusa de procedimento. A condenao morte no
foi decretada pelos pais, mas pelo carter implacvel da sndrome. A ventilao mecnica
manteria o beb indefinidamente vivo, mas seria um procedimento tcnico irreversvel: uma
vez no respirador, o beb s seria desconectado da mquina com a morte. Diante disso, no
aceitar a ventilao mecnica no deve sequer
ser entendido como uma recusa de tratamento
mdico, pois sua eleio uma falsa opo. Os
pais, na verdade, no tinham opo: a morte
precoce do beb era uma sentena e, como tal,
no havia negociao. O que a UTI do hospital
tinha a oferecer seria um prolongamento da
existncia do beb e a substituio da causa de
sua morte.
O dilema tico que se instaurou era exatamente pela ausncia de opo. No havia nada
o que oferecer ao beb e sua famlia. Nesse contexto dilacerante de absoluta impotncia da Medicina, comparam-se variveis que no se prestam equiparao: de um lado, concepes privadas sobre o sentido da vida para os pais e, de
outro, recursos teraputicos inteis para o quadro clnico do beb. A ventilao mecnica se
justificaria como uma medida temporria com
vistas a garantir o retorno respirao independente de uma pessoa doente. No era esse o caso do beb e sobre isso no h qualquer dvida
na literatura mdica 10,11. Portanto, apelar para
o direito de morrer como fundamento tico para a deciso dos pais em recusar a obstinao teraputica pressupor que a ventilao mecnica seria uma opo vivel para o beb. O mais
correto seria apelar para o direito a estar livre da
tortura da medicalizao. Neste caso especfico,
a ventilao mecnica no se justificaria em termos clnicos, tampouco ticos.
A resistncia em reconhecer a respirao
artificial como uma opo foi, acima de tudo,
QUANDO A MORTE UM ATO DE CUIDADO
um posicionamento tico dos pais, expresso
pelo seguinte argumento em termos de um juramento dos pais ao beb: ...Ns amamos muito nosso filho. E por causa disso que ns fizemos este juramento para com ele. um juramento nosso: ns no vamos permitir daquela
parte em diante. um compromisso, uma obrigao. Ns sabemos que a partir daqui no ser
bom para ele. Ele pode ficar descansado sobre
isso.... H quem possa contestar afirmando que
este seria um caso de conflito de juramentos:
de um lado, o juramento dos pais e, de outro, o
juramento hipocrtico em que os mdicos prometem no provocar nenhum dano em seus
pacientes. Mas novamente este um falso conflito. No h dano a ser infringido ao beb pela
recusa da ventilao mecnica. Ao contrrio, o
dano est no confinamento do beb mquina. Com ou sem respirao artificial, no haveria mudana no curso implacvel da sndrome.
Neste caso, o juramento hipocrtico dos mdicos era o mesmo que o juramento de amor dos
pais: ambos comprometeram-se a cuidar do
beb. O equvoco est em entender o cuidado
como a exigncia do agir tcnico permanente:
h situaes e esse caso demonstra isso em
que a nica forma de cuidado o respeito s
convices pessoais das pessoas doentes e de
seus cuidadores.
Consideraes finais
Em resumo, o pedido dos pais foi considerado
eticamente legtimo, pois: (i) os pais eram as
pessoas jurdica e eticamente legtimas para
tomar decises relativas ao cuidado do beb;
(ii) o carter heternomo do beb no poderia
jamais ser suplantado, ou seja, seria preciso
sempre que algum representasse seus interesses e seus pais deram provas substantivas de
que representam seus melhores interesses; (iii)
no havia opo teraputica, possibilidades de
reverso do quadro clnico ou mesmo medidas
disponveis de conteno da sndrome que justificassem a obstinao teraputica; o prognstico de sobrevida do beb era curto (em torno
de 24 meses), no mximo de alguns anos se
submetido respirao artificial; (iv) a ventilao mecnica no representava uma opo teraputica para o beb, era apenas uma possibilidade tcnica no indicada para quadros clnicos como o dele; (v) a ventilao mecnica seria antes uma escolha tica e pessoal que uma
indicao mdica, e o posicionamento dos pais
foi de total recusa da ventilao mecnica; (vi)
os pais estavam conscientes, informados e esclarecidos de que a recusa ventilao mecnica no estenderia a sobrevida do beb; (vii) os
pais apelaram para o direito humano de estar
livre de tortura, no caso do beb entendido como o direito de estar livre da tortura da medicalizao.
Esse caso e a procura indita dos pais Justia devem ser entendidos no apenas como
uma submisso legalidade do Estado, mas
tambm como uma expresso pblica do ato
de cuidado por um beb no fim de sua vida. A
garantia de que o apelo tico dos pais desse beb o direito a estar livre da tortura da medicalizao no ser um clamor privado, mas um
princpio tico coletivo em face da crescente
medicalizao da morte, ser um dos desafios
que esse caso deixar para a biotica brasileira.
Resumo
Este artigo discute um caso especfico de recusa de obstinao teraputica para um beb de oito meses, portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I, uma
doena gentica incurvel, degenerativa e com curto
prognstico mdico de sobrevida. Os pais buscaram
suporte judicial para garantir que o beb no fosse
compulsoriamente submetido a mecanismos de respirao artificial, caso apresentasse paradas cardiorrespiratrias durante atendimento hospitalar. O beb foi
a bito por parada cardaca uma semana aps a deciso favorvel da Justia. A solicitao dos pais Justi-
a foi pela garantia do direito de recusar procedimentos mdicos que no modificariam o quadro clnico do
beb, em especial a ventilao artificial. O caso chegou
Justia recentemente, ocasio em que participei do
processo fornecendo assessoria biotica. Este artigo
uma verso modificada do relatrio tico apresentado
Justia.
Direito a Morrer; Eutansia Passiva; Biotica
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 22(8):1741-1748, ago, 2006
1747
1748
Diniz D
Referncias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pessini L. Eutansia: por que abreviar a vida? So
Paulo: Edies Loyola; 2004.
Kuhse H. Should the baby live? The problem of
handicapped infants. Cambridge: Ashgate Publishing; 1994.
Singer P, Kuhse H. Unsanctifying human life: essays on ethics. London: Blackwell; 2002.
Dworkin R. Domnio da vida: aborto, eutansia e
liberdades individuais. So Paulo: Martins Fontes;
2003.
Diniz D, Costa S. Eutansia. In: Diniz D, Costa S,
organizadores. Biotica: ensaios. Braslia: Letras
Livres/So Paulo: Brasiliense; 2006. p. 47-52.
Siqueira-Batista R, Schramm FR. Conversaes
sobre a boa morte: o debate biotico acerca da
eutansia. Cad Sade Pblica 2005; 21:111-9.
Ribeiro CDM, Schramm FR. A necessria frugalidade dos idosos. Cad Sade Pblica 2004; 20:
1141-8.
Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, 22(8):1741-1748, ago, 2006
8.
Diniz D. Por que morrer? Um comentrio ao filme
Mar Adentro. Alter Jornal de Estudos Psicanalticos 2004; 23:123-6.
9. Moreno J. Arguing euthanasia: the controversy
over mercy killing, assisted suicide, and the right
to die. New York: Touchstone; 1995.
10. Aicardi J. Diseases of the motor neuron. In: Aicardi J, editor. Diseases of the nervous system in
childhood. 2 nd Ed. Cambridge: Cambridge University Press; 1998. p. 699-708.
11. Swaiman K, Ashwal S. The spinal muscular atrophies. In: Swaiman K, Ashwal S, Ferriero DM, editors. Pediatric neurology: principles and practice.
v. 2. 3rd Ed. St. Louis: Mosby; 1999. p. 1164-9.
12. Emmerich JC. Suporte ventilatrio: conceitos atuais. 2a Ed. Rio de Janeiro: Revinter; 1998.
Recebido em 24/Abr/2006
Aprovado em 24/Abr/2006
Você também pode gostar
- 01-Ética Geral e ProfissionalDocumento54 páginas01-Ética Geral e ProfissionalFlavio Cardoso Filho100% (1)
- Espinosa e A Afetividade HumanaDocumento34 páginasEspinosa e A Afetividade HumanaJonas Muriel Backendorf100% (1)
- PR Nr. 277Documento32 páginasPR Nr. 277Joao PerdigaoAinda não há avaliações
- Filosofia Geral e JurídicaDocumento49 páginasFilosofia Geral e JurídicaRodrigoAraujoo100% (1)
- VILLAÇA, Flávio. São Paulo - Segregação Urbana e DesigualdadeDocumento22 páginasVILLAÇA, Flávio. São Paulo - Segregação Urbana e DesigualdadePedro QueirozAinda não há avaliações
- Geral Fundamentos Da AdministracaoDocumento414 páginasGeral Fundamentos Da AdministracaoMarcio BarbosaAinda não há avaliações
- Joao Biehl - Do Incerdo Ao InacabadoDocumento33 páginasJoao Biehl - Do Incerdo Ao InacabadoEverton RangelAinda não há avaliações
- Caderno 3 Auxiliar de Comunicacao 20110620 171324Documento4 páginasCaderno 3 Auxiliar de Comunicacao 20110620 171324MoselineAinda não há avaliações
- PLANEJAMENTO 2º Anos - FGB 2024 - Ciências Da Natureza e Suas Tecnologias 1ºBDocumento6 páginasPLANEJAMENTO 2º Anos - FGB 2024 - Ciências Da Natureza e Suas Tecnologias 1ºBClaudio Gomes FelixAinda não há avaliações
- Caderno Convivência Escolar e Cultura de PazDocumento116 páginasCaderno Convivência Escolar e Cultura de PazEroni Souza MartinsAinda não há avaliações
- Nietzsche e FoucaultDocumento12 páginasNietzsche e FoucaultRodrigo CoutinhoAinda não há avaliações
- SEDUC-PA - Ciencias Humanas - Ensino Médio-EmentasDocumento25 páginasSEDUC-PA - Ciencias Humanas - Ensino Médio-EmentasDa Paz Da PazAinda não há avaliações
- 30553-Texto Do Artigo-160621-1-10-20170531Documento19 páginas30553-Texto Do Artigo-160621-1-10-20170531Angelle SantosAinda não há avaliações
- Aristoteles PDFDocumento12 páginasAristoteles PDFKalil Manoel SantosAinda não há avaliações
- O Aprendiz2Documento153 páginasO Aprendiz2secretaria_396449457Ainda não há avaliações
- AULA DECRETO 1171 Exercícios ÉticaDocumento27 páginasAULA DECRETO 1171 Exercícios ÉticaRogerio DelevedoveAinda não há avaliações
- FREIRE COSTA, Jurandir. Sem Fraude Nem Favor.Documento36 páginasFREIRE COSTA, Jurandir. Sem Fraude Nem Favor.Raquel Sant'Ana83% (6)
- Ensaio 1Documento9 páginasEnsaio 1Ze ManueliAinda não há avaliações
- Etica Do Profissional CalistoDocumento10 páginasEtica Do Profissional CalistoHelder AngeloAinda não há avaliações
- A Critica Da Violencia de Walter Benjami PDFDocumento19 páginasA Critica Da Violencia de Walter Benjami PDFAndressa CoelhoAinda não há avaliações
- Alto Rendimento - Filosofia - Aula 08Documento9 páginasAlto Rendimento - Filosofia - Aula 08Weslley MatosAinda não há avaliações
- Sigilo ProfissionalDocumento1 páginaSigilo ProfissionalPedroFerreiraAinda não há avaliações
- Código de Conduta PDFDocumento30 páginasCódigo de Conduta PDFAndremroczekAinda não há avaliações
- Filosofia Da Tecnologia Um Convite Ebook PDFDocumento236 páginasFilosofia Da Tecnologia Um Convite Ebook PDFAna Paula Pimentel100% (1)
- Resumo NBC TA 300 - JVCBDocumento2 páginasResumo NBC TA 300 - JVCBJoão Victor CatulioAinda não há avaliações
- Conservação de AcervosDocumento206 páginasConservação de Acervoselisa_taia9603100% (2)
- Resumo - Ética Nas OrganizaçõesDocumento5 páginasResumo - Ética Nas OrganizaçõesJohnAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO - O Daîmon Socrático em PlatãoDocumento76 páginasDISSERTAÇÃO - O Daîmon Socrático em PlatãoGUILHERME DE SOUZAAinda não há avaliações
- Teste MBTI - Comportamental Jobconvo - DelloiteDocumento3 páginasTeste MBTI - Comportamental Jobconvo - DelloiteFernando OliveiraAinda não há avaliações
- Língua Brasileira de Sinais LIBRAS 1Documento58 páginasLíngua Brasileira de Sinais LIBRAS 1Joao Paulo RodriguesAinda não há avaliações