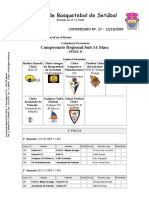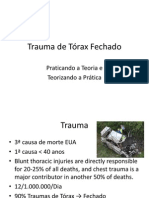Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Diabetes Mellitus Tipo 2 Aspectos FDiabetes Mellitus Tipo 2 Aspectos Fisiológicos
Diabetes Mellitus Tipo 2 Aspectos FDiabetes Mellitus Tipo 2 Aspectos Fisiológicos
Enviado por
Rafae Neves de OliveiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Diabetes Mellitus Tipo 2 Aspectos FDiabetes Mellitus Tipo 2 Aspectos Fisiológicos
Diabetes Mellitus Tipo 2 Aspectos FDiabetes Mellitus Tipo 2 Aspectos Fisiológicos
Enviado por
Rafae Neves de OliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ARTIGO De reviso
Diabetes Mellitus tipo 2: Aspectos fisiolgicos,
genticos e formas de exerccio fsico
para seu controle
Type 2 Diabetes Mellitus: Physiological and genetic aspects
and the use of physical exercise for diabetes control
Gisela Arsa 1,3
Laila Lima 1,3
Sandro Soares de Almeida 2
Srgio Rodrigues Moreira 1
Carmen Slvia Grubert Campbell 1
Herbert Gustavo Simes 1
Resumo Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) uma doena metablica caracterizada
por hiperglicemia e disfunes cardiovasculares, as quais podem ser controladas
com exerccios fsicos, controle diettico e tratamento farmacolgico. Pesquisas
recentes tm demonstrado associaes entre DM2 e alguns polimorfismos genticos,
em especial do gene da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA). A proposta
desse estudo foi abordar a fisiopatologia do DM2 e a prtica de exerccio fsico
como forma de controle no farmacolgico da glicemia e presso arterial destes
pacientes, bem como a associao entre o DM2 e polimorfismos do gene da ECA.
A pesquisa incluiu livros da rea de sade, bem como artigos de reviso e originais
referentes ao tema abordado, pesquisados nos bancos de dados disponveis na internet: Pubmed, Scielo e Portal Capes. As palavras chave utilizadas foram blood
glucose, type 2 diabetes, exercise, blood pressure e ACE gene polymorphism,
e suas tradues para a lngua portuguesa. Os principais assuntos do presente artigo
referem-se prtica diria de exerccios, tipo e intensidades adequadas que tm se
mostrado eficazes no controle glicmico e hemodinmico, assim como as possveis
relaes com os polimorfismos da ECA, que ainda se apresentam incipientes, pois
a constatao de associaes entre estes podem ser fortemente influenciadas pelo
tipo de populao estudada. Os benefcios do exerccio so indiscutveis e suas
recomendaes apresentadas nesta reviso. Porm a literatura ainda carente de
estudos analisando os efeitos do exerccio fsico para diabticos, considerando sua
relao com aspectos genticos, o que coloca este assunto em evidncia como objeto
de estudo na atualidade.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Exerccio fsico; Polimorfismo gentico.
1 Universidade Catlica
de Braslia. Programa de
Mestrado e Doutorado
em Educao Fsica. DF.
Brasil
2 Universidade de Mogi
das Cruzes. Programa de
Mestrado e Doutorado em
Biotecnologia. SP. Brasil.
3 Bolsista CAPES.
Recebido em 14/12/07
Aprovado em 16/06/08
Abstract Type 2 Diabetes mellitus (DM2) is a metabolic disease characterized by
hyperglycemia and cardiovascular dysfunctions that can be controlled with physical exercise, dietary control and pharmacological treatment. Recent research has demonstrated
associations between DM2 and some genetic polymorphisms, especially alterations to
the gene that codes for Angiotensin Converting Enzyme (ACE). The purpose of this
study was to discuss the pathophysiology of DM2 and the use of physical exercise as a
non-pharmacological method for controlling these patients glycemia and blood pressure.
The relationship between DM2 and polymorphisms of the ACE gene was also covered.
The literature search included textbooks in the healthcare field in addition to review
articles and original articles found on the databases Pubmed, Scielo and Portal Capes.
Keywords used were blood glucose, type 2 diabetes, exercise, blood pressure
and ACE gene polymorphism and their translations in Portuguese. The main subject
of this article is the practice of daily exercise, the types and intensities that have proven
effective for glycemic and haemodinamic control and possible relationships with the ACE
polymorphism, which are currently still tentative, since the evidence of associations can
be strongly influenced by the population studied. The benefits of exercise are unquestionable and the recommended forms are discussed in this review. However the literature
is still lacking studies that analyze the effects of physical exercise on diabetics and take
into account the relationship with genetic aspects. This area is evidently an appropriate
subject for further research.
Key words: Diabetes mellitus; Physical exercise: Genetic polymorphisms.
Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2009, 11(1):103-111
Diabetes Mellitus tipo 2
INTRODUO
O Diabetes Mellitus (DM) uma doena endcrina caracterizada por um grupo de desordens
metablicas, incluindo elevada glicemia de
jejum (hiperglicemia) e elevao das concentraes de glicose sangunea ps-prandial,
devido a uma menor sensibilidade insulnica
em seus tecidos alvo e/ou por reduzida secreo
de insulina1.
De acordo com a ADA1 ,existem 4 classificaes de DM: tipo 1 ou insulino-dependente
(DM1); tipo 2 ou no insulino-dependente
(DM2); gestacional; e secundrio a outras
patologias. Independente da classificao, a
principal caracterstica do DM a manuteno da glicemia em nveis acima dos valores
considerados normais. O retardo para o incio
do tratamento do DM pode acarretar no desenvolvimento de doenas cardiovasculares,
retinopatias, neuropatias autonmicas e perifricas, nefropatias, doena vascular perifrica,
aterosclerose, doena cerebrovascular, hipertenso, susceptibilidade a infeces e doenas
peridontais.
O DM tipo 2 associado a fentipos como
o sedentarismo e a obesidade, e esses fentipos
interagem com alguns genes que podem ser
responsveis por uma maior susceptibilidade a
essa patologia2.
O gene da ECA (Enzima Conversora de
Angiotensina) tem sido considerado um candidato que pode estar envolvido nessas respostas
metablicas diferenciadas entre os indivduos.
Seus polimorfismos apresentados so de deleo
(alelo D) ou insero (alelo I), que resultam em
alta ou baixa atividade da ECA, respectivamente, a qual atua no sistema renina-angiotensina,
convertendo a angiotensina I (Ang I) em angiotensina II (Ang II), um potente vasoconstritor,
causando elevao da presso arterial3.
Nveis aumentados de ECA circulantes,
observados na presena do alelo D, resultam
em elevao da presso arterial quando comparado a indivduos que apresentam o alelo I4, e
tambm resultam em menor biodisponibilidade
da enzima bradicinina (BK), responsvel por
promover vasodilatao5 e diminuio da resistncia a insulina nas clulas musculares6.
Diabticos tipo 2 apresentam 1,77 mais
vezes o polimorfismo de deleo nos dois alelos
homozigotos DD quando comparado a pessoas
saudveis (48% em diabticos e 27% em no
104
Arsa et al.
diabticos)7, o que pode resultar em respostas
diferenciadas ao exerccio fsico, considerando
que 52% desses diabticos podem ser homozigotos para insero (II) ou heterozigotos (ID).
Ainda assim, o controle do DM2 pode
ser feito por meio da associao de uma dieta
alimentar adequada de baixo ndice glicmico,
prtica de exerccio fsico e uso de medicamentos hipoglicemiantes1.
Muitos estudos8-11 tm demonstrado que o
exerccio fsico resulta em melhoras significativas para os portadores de DM2, como a reduo da glicemia aps a realizao de exerccio,
reduo da glicemia de jejum, da hemoglobina
glicada (HbA1c), bem como melhora da funo
vascular2.
Os estudos ainda no esclarecem totalmente as associaes observadas entre o polimorfismo do gene da ECA, diabetes tipo 2, sistema
renina-angiotensina e exerccio fsico. Mediante
isso, essa reviso de literatura tem como objetivo
abranger aspectos relacionados a fisiopatologia
da doena em questo, incluindo associaes
genticas do polimorfismo da ECA a fim de
colaborar para o maior entendimento dos danos que o DM2 ocasiona, o papel do exerccio
fsico como tratamento no medicamentoso
do diabetes tipo 2 e, finalmente, abordar as
possveis relaes entre as respostas ao exerccio
e polimorfismos do gene da ECA.
Diabetes Mellitus e prevalncia
Pessoas adultas acima dos 40 anos so mais acometidas por DM2, que pode vir acompanhado
de obesidade, hipertenso arterial sistmica
(HAS), dislipidemia, e disfuno endotelial.
Sintomas como sede e diurese excessiva, dores nas pernas, alteraes visuais e aumento
de peso1 so caractersticos de portadores de
DM2.
O DM2 caracterizado pela incapacidade
da insulina exercer normalmente suas funes.
A resistncia ao da insulina impede o desencadeamento de respostas enzimticas, que
envolvem a auto-fosforilao da tirosina-quinase
para o substrato IRS-112 e IRS-2 (substrato do
receptor de insulina 1 e 2), os quais fosforilam
diversas protenas, como o fosfatidilinositol
3 quinase (PI 3-quinase), que est associada
sntese e translocao dos transportadores
de glicose (GLUT) para a membrana celular.
Assim, no DM2, a translocao de GLUT-4
(transportador de glicose 4) e a captao de
glicose pelas clulas ficam prejudicadas, levando
hiperglicemia crnica13.
Alm da hiperglicemia crnica, anormalidades no metabolismo de lipdios (excesso
de cidos graxos livres circulantes no sistema
portal) so observadas com freqncia em diabticos tipo 21, contribuindo para a formao de
ateromas e aparecimento de leses no msculo
liso dos vasos sanguneos, alm de disfunes
endoteliais desencadeadas pela resistncia
insulina14.
O DM uma doena de ordem mundial,
que freqentemente acomete adultos, sendo
que para o ano 2000 a estimativa foi de 171
milhes de novos casos. Calcula-se que esse nmero alcance, aproximadamente, 366 milhes
at 2030. A populao urbana, mais afetada
por essa patologia, deve dobrar em pases em
desenvolvimento entre 2000 e 2030. Esta mudana demogrfica est associada ao aumento
na prevalncia de diabetes, alm do aumento da
proporo de pessoas com mais de 65 anos de
idade, mais freqentemente acometidas por essa
doena. No Brasil, acredita-se que esse nmero
alcance 11,3 milhes de pessoas15.
Alm disso, o DM2 aumenta em 2 a 3 vezes
o risco de se desenvolver doena arterial coronariana, e a maior incidncia de mortalidade em
diabticos tipo 2 est intimamente relacionada
ao estado diabtico e associao da doena
com outros fatores de risco cardiovasculares,
como sedentarismo, obesidade, hipertenso
arterial sistmica, dislipidemia, entre outros16.
Insulina e Diabetes Tipo 2
A insulina um hormnio importante para
a manuteno da homeostase glicmica e
tambm para o crescimento e diferenciao
celular. Tem funo anablica e secretada pelo
pncreas (clulas das Ilhotas de Langerhans),
em funo da elevao da glicemia, dos nveis
circulantes de aminocidos e de cidos graxos livres, como ocorre aps a realizao de refeies.
Esta secreo aumentada de insulina promove
a captao de glicose pelas clulas adiposas e
musculares, inibindo processos catablicos17.
A captao de glicose possvel devido a
inmeras reaes enzimticas desencadeadas
pela insulina quando em contato com seu receptor transmembrana, sendo uma subunidade
, localizada no exterior da clula, e uma su-
bunidade , localizada no citoplasma da clula.
A subunidade possui o stio de ligao para a
insulina e a subunidade transmite os sinais e
possui atividade tirosina quinase, com caracterstica de autofosforilao, fosforilando a famlia
IRS, que ento ativa a PI 3-quinase e esta por
sua vez ativa a translocao do GLUT para a
superfcie da membrana celular, possibilitando
a captao de glicose 18.
A inibio da ao da insulina leva ao
desenvolvimento de resistncia insulina e do
DM2, podendo ser ocasionada pela adiposidade central, fator clssico para o aparecimento
da resistncia insulina, estando associada
ao aumento dos nveis de triglicrides, baixas
concentraes de lipoprotena de alta densidade (HDL) e presso arterial aumentada18
resultando no desenvolvimento de disfunes
macrovasculares.
Essa resistncia insulina pode ser resultado
de alteraes intracelulares, nos ps-receptores
de insulina, na interao IRS e PI 3-quinase,
diminuindo a translocao dos transportadores
de glicose para a superfcie da membrana, alteraes relacionadas com fatores como o excesso
de cidos graxos livres circulantes, inflamao
e estresse oxidativo do retculo endoplasmtico,
aumentando a ativao de algumas enzimas que
resultam em inativao do IRS19.
A resistncia insulina, com inibio do
IRS-1, leva a uma hiperinsulinemia compensatria e ao desenvolvimento de disfuno endotelial, uma vez que o IRS-1 inibido impede a
ativao da PI 3-quinase, que est envolvida na
gerao do estmulo para a produo de xido
ntrico nas clulas endoteliais. Com a diminuio do estmulo para a produo do xido
ntrico, a atividade contrtil da angiotensina II
se torna mais evidente, produzindo vasoconstrio e reduo da contratilidade vascular14,
bem como nefropatia, retinopatia, neuropatia
e hipertenso19.
Fatores Genticos
Polimorfismos de Insero e Deleo do
Gene da ECA: Relaes com o Diabetes
Mellitus Tipo 2 e a Hipertenso Arterial
Sistmica
O Sistema Renina-Angiotensina (SRA) responsvel pela homeostase de sdio e pela regulao da presso arterial, tendo a Ang II como
Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2009, 11(1):103-111
105
Diabetes Mellitus tipo 2
o principal efetor desse sistema. A formao da
Ang II dada pela ao da ECA, responsvel
pela converso da Ang I, a qual tem pouco ou
nenhum efeito sobre a presso arterial, em Ang
II, um potente vasoconstritor, atuando sobre os
receptores AT1 e AT220.
A ECA tem presena abundante na superfcie endotelial do pulmo e alm de formar Ang
II, tambm inativa a ao de peptdeos vasoativos como a bradicinina (BK) e a calidina4.
Polimorfismos de Insero (I) e Deleo (D)
para o gene da ECA, responsvel pela expresso dessa enzima, podem estar associados com
nveis normais ou elevados da ECA circulante.
Os polimorfismos podem ser do tipo ID (heterozigotos insero/deleo), II (homozigotos para
insero) e DD (homozigotos para deleo),
estando este ltimo associado a maiores concentraes e atividade da ECA3.
O gene da ECA est localizado no cromossomo 17 com insero (alelo I) ou deleo (alelo
D) de 287 pares de bases (pb) no intron 162.
Arzu Ergen et al.7 verificaram polimorfismos
do gene da ECA em diabticos tipo 2 e no
diabticos, e a freqncia de polimorfismo de
DD (homozigoto para deleo) em diabticos
tipo 2 foi de 48%, enquanto que, em pessoas
saudveis, a presena desse polimorfismo DD
foi de 27%, estando o polimorfismo de DD do
gene da ECA 1,77 vezes maior em diabticos
do que em pessoas saudveis, sugerindo risco
de desenvolvimento de nefropatia, j que o
polimorfismo DD da ECA considerado fator
de risco independente para essa doena21.
Indivduos que possuem o alelo D apresentam maior atividade da ECA circulante, a
qual converte a Ang I em Ang II, promovendo
vasocontrio. Como a ECA degrada a BK,
responsvel pela vasodilao, maiores nveis de
ECA reduzem a biodisponibilidade de BK, potencializando a vasocontrio, e com isso nveis
de presso arterial mais elevados so observados
em funo do alelo D quando comparados a
indivduos que apresentam o alelo I4.
Nveis aumentados de ECA esto associados
com a hipertenso arterial, hipertrofia cardaca2, e com a nefropatia no DM27.
A BK tambm atua na captao de glicose
pelas clulas musculares, ligando-se ao receptor
de membrana B2, aumentando a ao da insulina, mas devido a sua menor biodisponibilidade
pela ao da ECA na presena do alelo D, essa
atuao diminuda6.
106
Arsa et al.
Diabticos tipo 2 homozigotos para deleo apresentam nveis maiores de insulina em
jejum em relao a diabticos homozigotos para
insero. Essas diferenas no foram verificadas
em indivduos no diabticos22.
Molnar et al.23 analisaram polimorfismos de
I/D do gene da ECA em 145 diabticos tipo 2
e verificaram que aqueles que carregam o alelo
D foram os que apresentaram maiores nveis de
frutosamina (maioria das protenas glicosiladas
circulantes) em relao aos que carregavam o
alelo I. Alm disso, os autores constataram um
nvel aumentado da atividade de gama-GT e de
albuminria, marcadores de estresse oxidativo
e danos endoteliais respectivamente naqueles
que carregam o alelo D. Assim, o alelo D pode
contribuir para a elevao da glicao, bem
como do estresse oxidativo, contribuindo com
o desenvolvimento de alteraes orgnicas
prejudiciais em diabticos tipo 2.
O polimorfismo de I/D do gene da ECA
foi associado com a existncia de sndrome
metablica (SM) em Chineses com DM2, pois
86,1% dos diabticos tipo 2 tinham o gentipo
DD de ECA e apresentavam SM, sugerindo que
o sistema renina-angiotensina tem relao com
danos metablicos em diabticos tipo 224.
Costa et al.25 pesquisaram polimorfismos de
insero/deleo do gene da ECA em brasileiros
diabticos, j que esse polimorfismo considerado fator de risco para desencadear doenas
como HAS, DM2 e doena arterial coronariana
(DAC), porm no encontraram associao do
polimorfismo com a presena de SM em pessoas
diabticas. Os pesquisadores atriburam esses
resultados a grande miscigenao dos brasileiros, sugerindo estudos que identifiquem a etnia
prevalente no grupo pesquisado.
J Wang et al.21 pesquisaram 1.281 Chineses
com DM2 durante aproximadamente 41 meses,
observando a ocorrncia de problemas renais,
cardiovasculares e mortes, analisando os polimorfismos de I/D do gene da ECA apresentados
por esses pacientes. Foram constatadas associaes do alelo D com o desenvolvimento de
nefropatia na presena de outros fatores de risco
como dislipidemia, hipertenso e DM2, devido
a maior concentrao da ECA circulante.
O uso de medicamentos inibidores da ao
da ECA no organismo foi associado com diminuio nos riscos de mortalidade e ocorrncia
de falncia renal em Chineses diabticos tipo 2,
mas esses benefcios foram mais evidentes entre
diabticos tipo 2 que carregam polimorfismo
II e ID comparados aos diabticos tipo 2 que
apresentaram polimorfismo DD26.
Da mesma forma que os medicamentos
podem resultar em maior ou menor atuao de
acordo com o tipo de polimorfismo do gene da
ECA em diabticos tipo 2, talvez isso ocorra
tambm com relao ao exerccio fsico. Essas
interaes genticas e fisiolgicas do DM2 no
esto bem esclarecidas.
O que se sabe que o exerccio fsico,
quando realizado de forma adequada, promove
benefcios importantes para o paciente diabtico de forma mais ou menos aparente.
Papel do Exerccio Fsico no controle
glicmico e hemodinmico
Os benefcios proporcionados pela prtica de
exerccio fsico no indivduo diabtico e que
geralmente hipertenso2 podem ser agudos (em
curto prazo) ou crnicos (longo prazo).
Larsen et al.8 compararam o comportamento das concentraes sanguneas de glicose e
insulina ps-prandial em diabticos tipo 2 aps
realizao de exerccio e/ou no (controle). Os
pacientes submeteram-se a exerccio fsico em
cicloergmetro, em intensidades intermitentes
(3min a 574% do VO2max, 4min a 985% do
VO2max), com intervalos de recuperao de 6
min, por 46 min. Foram observados decrscimos
considerveis na glicemia e nas concentraes
de insulina durante o exerccio e tambm no perodo ps-exerccio, quando comparados ao dia
controle. Aps 140 min de recuperao ps-exerccio, os participantes receberam uma refeio,
composta de carboidratos (53%), lipdeos (31%)
e protenas (16%), sem diferenas significativas
observadas para respostas da insulina e glicemia,
entre as sesses de exerccio e controle.
Poirier et al.9 avaliaram, em diabticos
tipo 2, as respostas da glicemia e insulinemia
durante e aps realizao de exerccio fsico (1
hora a 60% do VO2pico) nas condies de jejum
e alimentado. O efeito do exerccio em reduzir
a glicemia foi melhor quando os participantes
se alimentaram duas horas antes de sua realizao. Segundo os autores, a ingesto alimentar
antes do exerccio fez com que os praticantes
realizassem o mesmo com a insulinemia mais
elevada, e que somado ao efeito do exerccio em
captar glicose por vias independentes ao da
insulina, isto teria contribudo para um maior
efeito hipoglicemiante ps-prandial em relao
condio jejum.
Alteraes hormonais em resposta ao
exerccio resultam nesse efeito hipoglicemiante,
via sinalizao dos receptores de membrana,
independentes da ao da insulina, a qual est
inibida durante o exerccio pela ao de catecolaminas (epinefrina e norepinefrina). Assim,
o aumento da captao de glicose pelas clulas
musculares, mediante a translocao do GLUT4 feito por mecanismos independentes da ao
insulnica, por meio de contraes musculares
e/ou aumento da bradicinina plasmtica5.
A utilizao de fosfatos para produo de
energia e o aumento da concentrao de adenosina mono-fosfato (AMP), fosforilam e ativam as
isoformas IRS-1 e IRS-2, associando-as a diversas protenas, como a enzima fosfatidilinositol
3-quinase (PI 3-quinase), que provavelmente
responsvel por ativar a translocao de GLUT4 no sarcolema, aumentando a captao de
glicose durante o exerccio13.
Taguchi et al.27, submeteram diabticos tipo
2 a 20 minutos de exerccio fsico incremental
em cicloergmetro e verificaram os nveis de
bradicinina plasmtica no repouso, a cada 5
minutos de exerccio e ao trmino do exerccio. Os diabticos com elevados percentuais
de HbA1c apresentavam menor formao de
bradicinina aps o exerccio do que os diabticos
com percentuais menores de HbA1c.
A BK est envolvida na sinalizao do
GLUT-4, ativando sua translocao para a
borda da membrana nas clulas musculares, aumentando a captao da glicose do sangue para
o interior das clulas5, bem como melhorando a
ao da insulina no perodo ps-exerccio27.
Henriksen et al.28, verificaram o aumento
da BK por meio do decrscimo da ao da Ang
II, inibindo a ECA em ratos obesos. Com a
inibio da ECA houve maior estmulo para
a captao de glicose no msculo. A maior
disponibilidade de BK incrementou a ao
da insulina, alm de aumentar a produo de
xido ntrico.
A inibio da ECA pode reduzir a presso
arterial, bem como aumentar a ao da insulina
na captao de glicose quando h o quadro de
resistncia insulina28.
O exerccio fsico promove reduo da
presso arterial abaixo dos valores observados
no repouso, fenmeno denominado hipotenso
ps-exerccio (HPE). Esse fenmeno pode ser
verificado em normotensos29 e hipertensos30 e
Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2009, 11(1):103-111
107
Diabetes Mellitus tipo 2
durar de 123 a 22 horas30 em hipertensos30, com
decrscimo de at 20 mmHg31.
MacDonald et al.32 verificaram resposta hipotensora na presso arterial mdia (PAM) em
hipertensos borderline, apresentando redues significativas aos 5 e 15min de recuperao
ps-exerccio, independente da intensidade de
exerccio (50 ou 75% VO2pico).
Brando Rondon et al.30 verificaram a HPE
da presso arterial sistlica e da PAM em hipertensos idosos, aps exerccio em cicloergmetro
a 50% do VO2max, permanecendo diminudas de
forma significante quando comparadas com os valores obtidos no repouso, deixando em evidncia
o efeito hipotensor proporcionado pelo exerccio
de longa durao em hipertensos idosos.
Os mecanismos fisiolgicos envolvidos na
HPE esto associados, principalmente, reduo da resistncia vascular perifrica, mediada
pela atuao do sistema de calicrenas-cininas,
que promove vasodilatao por aumento da
liberao da BK e conseqentemente dilatao
vascular33, resultando em reduo dos nveis
pressricos e contribuindo para reduo de
disfunes micro e macrovasculares.
A reduo da presso arterial aps a realizao de exerccio foi verificada em hipertensos
submetidos a corrida na gua, devido ao aumento das concentraes de BK ps exerccio34. O
polimorfismo da ECA no foi identificado, bem
como no foram avaliadas as concentraes de
ECA. No entanto, talvez possa ter havido maior
formao de BK e menor degradao da mesma
por meio da ECA, devido supresso do sistema
renina-angiotensina.
No se sabe ao certo se diabticos tipo 2
apresentam essa mesma reduo da presso
arterial ps-exerccio, uma vez que dependendo
dos valores de hemoglobina glicada a produo
de BK pode ser maior ou menor ps-exerccio27,
alm de tambm estarem associados ao polimorfismo da ECA.
Com relao aos benefcios crnicos obtidos
pela prtica de exerccio fsico, Silva e Lima10
submeteram diabticos tipo 2 a um programa
de 10 semanas de exerccios fsicos aerbios e
resistidos combinados, e obtiveram redues
nos percentuais de HbA1c (-1,0%), redues na
glicemia de jejum (-8,65 mg.dL-), freqncia
cardaca de repouso (-10 bpm) e ndice de massa
corporal (-0,65 kg/m).
Steen et al.35, estudaram a interao do
treinamento fsico e a inibio da ECA na ao
108
Arsa et al.
da insulina em ratos obesos durante 6 semanas.
Os ratos tratados somente com o treinamento
fsico e os treinados com combinao de inibidores da ECA reduziram a hiperinsulinemia
de jejum, obtiveram reduo da rea abaixo da
curva de glicose e insulina no teste de tolerncia
a glicose, com aumento da ao da insulina no
transporte de glicose para o interior da clula
muscular.
O exerccio fsico promove benefcios
importantes para o paciente diabtico e hipertenso, desde que seja empregado na intensidade
e durao adequada, respeitando o estado
diabtico.
Exerccios Fsicos Recomendados para
Diabticos Tipo 2
Os exerccios recomendados so aqueles de
caracterstica aerbia como caminhar, nadar,
correr, andar de bicicleta, etc, que envolvem
grande massa muscular, com freqncia de
trs a quatro vezes semanais e durao 20 a 60
minutos, no devendo ultrapassar a intensidade
de 85% do VO2max, podendo este controle de
intensidade ser feito tambm com base na PSE
(Percepo Subjetiva de Esforo)36.
Homens japoneses diabticos tipo 2 foram
comparados com no diabticos, durante teste
incremental em cicloergmetro com anlise
ventilatria, no qual os pacientes diabticos
apresentaram capacidade reduzida para realizar
exerccio, tendo as intensidades de exerccio
calculadas para 60% da FCmx e Percepo
Subjetiva de Esforo (PSE) de 12, utilizandose escala Borg de 15 pontos37, principalmente,
para aqueles diabticos com idades avanadas.
Em estudo recente38, foram verificadas as intensidades de exerccio correspondentes aos
limiares de lactato, ventilatrio e glicmico de
diabticos tipo 2 sedentrios, de indivduos no
diabticos sedentrios e tambm de diabticos
tipo 2 fisicamente ativos, e estas correspondiam
PSE prxima de 13 na escala de Borg de 15
pontos. De modo geral, para a maioria dos pacientes no seria recomendvel a prescrio de
exerccios aerbios de intensidades superiores
aos limiares (de lactato ou ventilatrio), uma
vez que em estudo realizado em nosso laboratrio, foi observado que em exerccio aerbio
realizado no domnio intenso (ex. 10% acima do
limiar anaerbio) as respostas da presso arterial
sistlica e do duplo produto de diabticos tipo
2 aumentavam significativamente ao longo de
20 minutos de exerccio, podendo resultar em
maiores riscos cardiovasculares aos praticantes39. Assim, apesar de termos evidenciado que
a intensidade do exerccio desempenha papel
importante na reduo da presso arterial de
DM2 ps-exerccio (maior HPE na intensidade
10% acima VS 10% abaixo do limiar anaerbio)40, intensidades prximas e ligeiramente
abaixo do limiar anaerbio tem se mostrado
mais seguras39 e tambm resultam em benefcios
para o controle glicmico e hemodinmico de
diabticos tipo 240, 41.
A prtica regular de exerccios fsicos por
indivduos diabticos, dentro das intensidades
recomendadas, podem resultar em reduo
de 10% a 20% na hemoglobina glicosilada, e
tambm em melhor transporte de oxignio pela
corrente sangunea1.
Para proporcionar melhora da aptido fsica, tem sido recomendada a associao entre
exerccios aerbicos e resistidos, com cargas
baixas. Este tipo de associao colabora para
o aumento da capacidade cardiorrespiratria,
da fora e resistncia muscular, as quais so
necessrias para uma melhor qualidade de vida,
facilitando a execuo de atividades da vida
diria, como subir escadas, carregar compras
do supermercado, etc., alm de contribuir para
o controle da glicemia11.
Embora existam recomendaes quanto
intensidade e durao do exerccio para o
melhor controle do diabetes e da hipertenso,
uma vez que os diabticos geralmente desenvolvem a HAS, as relaes entre o sistema
renina angiotensina, calicrena-cininas para
cada tipo de polimorfismo da ECA no esto
bem estabelecidos.
Por meio dessa reviso, verifica-se que o
exerccio pode colaborar para o aumento da liberao de bradicinina, aumentando a captao
da glicose durante e aps realizao de exerccio,
e tambm colaborar para uma reduo aguda
da presso arterial ps-exerccio, mesmo com
a expresso aumentada de ECA em diabticos
que apresentem o alelo D.
Esse efeito agudo precisa ser investigado,
averiguando o tempo de ao e o nmero de
vezes que a bradicinina pode aumentar e ser
efetiva na captao de glicose e, por conseguinte, na reduo dos nveis pressricos em
diabticos homozigotos para deleo, insero
e heterozigotos.
Estudos futuros poderiam investigar e pro-
por protocolos de exerccio e recuperao psexerccio especficos, que sejam sensveis para
avaliar o grau de comprometimento vascular/
endotelial (ex. ocorrncia ou no de dilatao
endotlio dependente e/ou de hipotenso psexerccio) e metablico (ex. avaliao da reduo da glicemia durante e aps o exerccio), e
com isso avaliar tanto a gravidade da patologia
em alguns indivduos, e a predisposio em
outros. Este tipo de avaliao tornaria ainda
possvel a prescrio de programas de exerccio
mais especficos para cada caso.
Consideraes Finais
Com base nas evidncias apresentadas por essa
reviso de literatura, pde-se concluir que o
DM2 afeta de maneira efetiva os ajustes fisiolgicos relacionados ao metabolismo de carboidratos, trazendo conseqncias desastrosas para
os demais sistemas fisiolgicos, principalmente
o vascular, resultando em doenas que podem
em ltima instncia, levar morte. O DM2
um problema de sade pblica e pesquisas
envolvendo gentica, como o estudo dos polimorfismos da ECA e formas de tratamento
no-farmacolgico, como o exerccio fsico,
so fundamentais para garantir futuramente a
preveno e melhorar a eficcia do tratamento
do diabetes tipo 2, promovendo melhora no
prognstico dessa doena. Estudos adicionais
envolvendo exerccio fsico, diabetes mellitus
tipo 2 e polimorfismos da ECA ainda precisam ser realizados, com o intuito de analisar
as respostas fisiolgicas ao exerccio fsico e
suas associaes com polimorfismos genticos
especficos.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1. American Diabetes Association. Diabetes Care
2005; 28: S37-S42.
2. Oliveira EM, Alves GB, Barauna VG. Sistema
renina-angiotensina: interao gene-exerccio. Rev
Bras Hipertens 2003;10(2):125-129.
3. Rigat B, Hubert C, Alhenc-Gelas F, Cambien F,
Corvol P, Soubrier F. An insertion/deletion polymorphism in the angiotensin I-converting enzyme
gene accounting for half the variance of serum enzyme levels. J Clin Invest 1990;86(4):1343-1346.
4. Moleda P, Majkowska L, Kaliszczak R, Safranow
K, Adler G, Goracy I. Insertion/deletion polymorphism of angiotensin I converting enzyme gene and
left ventricular hypertrophy in patients with type 2
diabetes mellitus. Kardiol Pol 2006;64(9):959-965.
Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2009, 11(1):103-111
109
Diabetes Mellitus tipo 2
5. Bhoola KD, Figueroa CD, Worthy K. Bioregulation
of kinins: Kallikreins, kininogens, and kininases.
Pharmacol Rev 1992;44(1):1-80.
6. Shiuchi T, Cui TX, Wu L, Nakagami H, Takeda-Matsubara Y, Iwai M et al. ACE inhibitor improves insulin
resistance in diabetic mouse via bradykinin and NO.
Hypertension 2002;40(3):329-334.
7. Arzu Ergen H, Hatemi H, Agachan B, Camlica
H, Isbir T. Angiotensin-I converting enzyme gene
polymorphism in Turkish type 2 diabetic. Exp Mol
Med 2004;36(4):345-350.
8. Larsen JJ, Dela F, Madsbad S, Galbo H. The effects
of intense exercise on postprandial glucose homeostasis in type II diabetic patients. Diabetologia
1999;42(11):1282-1292.
9. Poirier P, Mawhinney S, Grondin L, Tremblay
A, Broderick T, Clroux J, et al. Prior meal
enhances the plasma glucose lowering effect of
exercise in type 2 diabetes. Med Sci Sports Exerc
2001;33(8):1259-1264.
10. Silva CA, Lima WC. Efeito benfico do exerccio
fsico no controle metablico do diabetes mellitus
tipo 2 curto prazo. Arq Bras Endocrinol Metab
2002;46(5):550-556.
11. Tokmakidis SP, Zois CE, Volaklis KA, Kotsa K,
Touvra AM. The effects of a combined strength
and aerobic exercise program on glucose control
and insulin action in women with type 2 diabetes.
Eur J Appl Physiol 2004;92(4-5):437-442.
12. Combettes-Souverain M, Issad T. Molecular basis of
insulin action. Diabetes Metab 1998; 24(6):477-489.
13. Shulman GI. Cellular mechanisms of insulin resistance. J Clin Invest 2000;106(2):171-176.
14. El-Atat FA, Stas SN, Mcfarlane SI, Sowers J. The
relationship between hyperinsulinemia, hypertension and progressive renal disease. J Am Soc
Nephrol 2004;15(11):2816-2827.
15. Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H.
Global prevalence of diabetes: estimates for the
year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care
2004;27(5):1047-1053.
16. Consenso Brasileiro sobre Diabetes. Diagnstico
e classificao do diabetes melito e tratamento
do diabetes melito tipo 2. Sociedade Brasileira de
Diabetes. Rio de Janeiro: Diagraphic; 2002.
17. Cavalheira JBC, Zecchin HG, Saad MJA. Vias
de Sinalizao da Insulina. Arq Bras Endocrinol
Metab 2002;46(4):419-425.
18. Savage DB, Petersen KF, Shulman GI. Mechanisms of
insulin resistance in humans and possible links with
inflammation. Hypertension 2005;45(5):828-833.
19. Groop PH, Forsblom C, Thomas MC. Mechanisms
of disease: pathway-selective insulin resistance and
microvascular complications of diabetes. Nature
Clin Pract 2005;1(2):100-110.
20. Fleming I, Kohlstedt K, Busse R. The tissue renin
angiotensin system and intracellular signaling. Current Opin Nephrol Hypertens 2006;15(1):8-13.
110
Arsa et al.
21. Wang Y, Magi CY, So WY, Tong PCY, Ronald
CW, Chow CC, et al. Prognostic effect of Insertion/Deletion polymorphism of the ACE gene
on renal and cardiovascular clinical outcomes in
Chinese patients with type 2 diabetes. Diabetes
Care 2005;28(2):348-354.
22. Panahloo A, Andres C, Mohamed-Ali V, Gould
MM, Talmud P, Humphries SE, Yudkin JS. The
insertion allele of the ACE gene I/D polymorphism.
A candidate gene for insulin resistance? Circulation 1995;92(12):3390-3393.
23. Molnar GA, Wagner Z, Wagner L, Melegh B,
Koszegi T, Degrell P, et al. Effect of ACE carbohydrate metabolism, on oxidative on end-organ
damage in type-2 diabetes mellitus. Orv Hetil
2004;145(16):855-859.
24. Lee YJ, Tsai, JCR. ACE gene insertion/deletion
polymorphism associated with 1998 world health
organization definition of metabolic syndrome in
Chinese type 2 diabetic patients. Diabetes Care
2002;25(6):1002-1008.
25. Costa AC, Canani LH, Maia AL, Gross JL. The
ACE Insertion/Deletion polymorphism is not
associated with the metabolic syndrome (WHO
definition) in Brazilian type 2 diabetic patients.
Diabetes Care 2002;25(12):2363-2364.
26. So WY , Ma RC, Ozaki R, Tong PC, Ng MC, Ho
CS, et al. Angiotensin-converting enzyme (ACE)
inhibition in type 2, diabetic patients interaction with ACE insertion/deletion polymorphism.
Kidney Intern 2006; 69(8):1438-1443.
27. Taguchi T, Kishikawa H, Motoshima H, Sakai K,
Nishiyama T, Yoshizato K, et al. Involvement of bradykinin in acute exercise-induced increase of glucose uptake and GLUT-4 translocation in skeletal
muscle: studies in normal and diabetic humans and
rats. Metabolism 2000;49(7):920-930.
28. Henriksen SJ, Kinnick EB, Youngblood EB, Schmit
MB, Dietze GJ. Ace inhibition and glucose transport in insulin-resistant muscle: roles of bradykinin
and nitric oxide. Am J Physiol Regulatory Integrative Comp Physiol 1999;277(1): R332-R336.
29. Forjaz CL, Matsudaira Y, Rodrigues FB, Nunes N,
Negro CE. Post-exercise changes in blood pressure, heart rate and rate pressure product at different exercise intensities in normotensives humans.
Braz J Med Biol Res 1998;31(10):1247-1255.
30. Brando Rondon MU, Alves MJNN, Braga
AMFW, Teixeira OTUN, Barreto ACP, Kreiger
EM, et al. Postexercise blood pressure reduction in
elderly hypertensive patients. J Am Coll Cardiol
2002;39(4):676-682.
31. Halliwill JR. Mechanisms and clinical implications
of postexercise hypotension in humans. Exerc Sport
Sci Rev 2001;29(2):65-70.
32. MacDonald JR, Hogben CD, Tarnopolsky MA,
MacDougall JD. Post exercise hypotension is sustained during subsequent bouts of mild exercise
33.
34.
35.
36.
37.
38.
and simulated activities of daily living. J Hum
Hypertens 2001;8(15):567-71.
Moraes MR, Bacurau RF, Ramalho JD, Reis
FC, Casarini DE, Chagas JR et al. Increase in
kinins on post-exercise hypotension in normotensive and hypertensive volunteers. Biol Chem
2007;388(5):533-540.
Pontes Jr FL, Bacurau RF, Moraes MR, Navarro F,
Casarini DE et al. Kallikrein kinin system activation in post-exercise hypotension in water running
of hypertensive volunteers.Int Immunopharmacol
2008; 8(2):261-266.
Steen MS, Foianini EB, Youngblood EB, Kinnick
TR, Jacob S, Henriksen EJ. Interactions of exercise
training and ACE inhibition on insulin action in
obese Zucker rats. J Appl Physiol 1999;86(6):20442051.
American College of Sports Medicine. Manual de
pesquisa das diretrizes do ACSM para os testes de
esforo e sua prescrio. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan; 2003.
Kunitomi M, Takahashi K, Wada J, Suzuki H,
Miyatake N, Ogawa S, et al. Re-evaluation of
exercise prescription for Japanese type 2 diabetic
patients by ventilatory threshold. Diabetes Res Clin
Pract 2000;50(2):109-115.
Moreira SR, Simes GC, Hiyane WC Campbell, CSG, Simes, HG. Identificao do limiar
anaerbio em indivduos com diabetes tipo-2
sedentrios e fisicamente ativos. Rev Bras Fisioter
2007;(11):289-296.
39. Do Valle G, Simes HG, Hyane W, Moreira SR,
Ohata I, Campbell CSG. Respostas cardiovasculares de diabticos tipo 2 durante exerccio realizado em diferentes intensidades. Diabetes Clnica
2006;(10):271-276.
40. Lima LC, Assis GV, Hiyane W, Almeida WS,
Arsa G, Baldissera V, Campbell CSG, Simes HG.
Hypotensive effects of exercise performed around
anaerobic threshold in type 2 diabetic patients.
Diabetes Res Clin Pract 2008;81(2): 216-22.
41. Hiyane W, Moreira SR, Ferreira CES, de Souza
MV, de Oliveira RJ, Campbell CSG, Simes HG.
Blood glucose responses of type-2 diabetics during
and after exercise performed at intensities above
and below anaerobic threshold. Revista Brasileira
de Cineantropometria & Desempenho Humano
2008; 1(10): 8-11.
Endereo para correspondncia
Gisela Arsa da Cunha
Endereo: Rua Prefeito Jos de Melo Franco,
n. 136 Jardim Universo
CEP 08740-540 Mogi das Cruzes SP
E-mail: gisarsa@gmail.com
Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2009, 11(1):103-111
111
Você também pode gostar
- 02 - Instrumentos EndodônticosDocumento8 páginas02 - Instrumentos EndodônticosBianca Gomes TeixeiraAinda não há avaliações
- Alunossisu PDFDocumento419 páginasAlunossisu PDFAdonai FrotaAinda não há avaliações
- Fisioquantic ProtocolosDocumento39 páginasFisioquantic ProtocolosLu Abrahão100% (15)
- Pós-Graduação em Medicina Intensiva - Redentor - AMIBDocumento5 páginasPós-Graduação em Medicina Intensiva - Redentor - AMIBMarcia Brenner100% (1)
- CP SBMFC FinalDocumento20 páginasCP SBMFC FinalMarcia BrennerAinda não há avaliações
- Primeiros SocorrosDocumento40 páginasPrimeiros SocorrosMarcia BrennerAinda não há avaliações
- Materialdeapoioextensivo Redacao Tiposdetextos 1Documento8 páginasMaterialdeapoioextensivo Redacao Tiposdetextos 1Marcia BrennerAinda não há avaliações
- Atividades TerapeuticasDocumento2 páginasAtividades TerapeuticasMarcia BrennerAinda não há avaliações
- Temas e Práticas em Relações Internacionais - BRI0001Documento4 páginasTemas e Práticas em Relações Internacionais - BRI0001frankcisco.loucoAinda não há avaliações
- Aula 4. Humanização e Atribuições Da Equipe de Enfermagem UTIDocumento15 páginasAula 4. Humanização e Atribuições Da Equipe de Enfermagem UTILeticia CostaAinda não há avaliações
- Marta Artemisa Abel MapengoDocumento109 páginasMarta Artemisa Abel Mapengoodontologia ElizbotelhoAinda não há avaliações
- Associação de Basquetebol de SetúbalDocumento5 páginasAssociação de Basquetebol de SetúbalpsbarreiroAinda não há avaliações
- Manual de WatsuDocumento12 páginasManual de Watsureikianos0% (2)
- Cuidados de Casa RespondidaDocumento3 páginasCuidados de Casa RespondidaMelissa FerreiraAinda não há avaliações
- Metalografia Do Cobre e Suas LigasDocumento59 páginasMetalografia Do Cobre e Suas LigasRafael TrianiAinda não há avaliações
- Material Base - Flávio BalanDocumento9 páginasMaterial Base - Flávio BalanKaren Guisantes Jones LopesAinda não há avaliações
- DETERMINAÇÃO DE NITRITOS EM ÁGUAS - Química - UTFPR - 2010Documento14 páginasDETERMINAÇÃO DE NITRITOS EM ÁGUAS - Química - UTFPR - 2010joaomarcoslsAinda não há avaliações
- Trauma de Tórax FechadoDocumento33 páginasTrauma de Tórax FechadomatheustrilicoAinda não há avaliações
- Algas Marinhas UtilidadesDocumento19 páginasAlgas Marinhas UtilidadesYury LorenzAinda não há avaliações
- Apostila Processo de Fabricação de CervejaDocumento25 páginasApostila Processo de Fabricação de CervejaMARCELO SOUZA100% (1)
- DPOC 03. 11 (01.11) - FinalDocumento15 páginasDPOC 03. 11 (01.11) - FinalGabriella CarolineAinda não há avaliações
- Instruções de Segurança para Uso de MaçaricoDocumento2 páginasInstruções de Segurança para Uso de MaçaricoDelmer SalesAinda não há avaliações
- Iliada - Episódio HefestosDocumento3 páginasIliada - Episódio HefestosDebora Sales da RochaAinda não há avaliações
- Aula IFC - CalorDocumento48 páginasAula IFC - CalorMarielza TiecherAinda não há avaliações
- Intolerância e AlergiasDocumento45 páginasIntolerância e AlergiasStefhani Eller FlorindoAinda não há avaliações
- Aula 2 - Prof Viviane - Língua PortuguesaDocumento8 páginasAula 2 - Prof Viviane - Língua PortuguesapedagogagsmAinda não há avaliações
- Mutação e Reparo de Dna RecombinaçãoDocumento17 páginasMutação e Reparo de Dna RecombinaçãoJairo Moreira Dos SantosAinda não há avaliações
- Hematologia - Unidade Curricular - Universidade de CoimbraDocumento3 páginasHematologia - Unidade Curricular - Universidade de Coimbraleite sousaAinda não há avaliações
- Hipertrofia Intermediário DezembroDocumento61 páginasHipertrofia Intermediário DezembroFrancilane SilvaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Humano Adolescência, Adultez e Velhice Unidade 2 AVA AOL 2Documento5 páginasDesenvolvimento Humano Adolescência, Adultez e Velhice Unidade 2 AVA AOL 2Leônidas LeitteAinda não há avaliações
- Controle de Microrganismos - Departamento de MicrobiologiatextoDocumento4 páginasControle de Microrganismos - Departamento de MicrobiologiatextoTamires CarvalhoAinda não há avaliações
- Intoxicacao Por Allium Cepaem Pequenos Animais - Revisao BibliograficaDocumento4 páginasIntoxicacao Por Allium Cepaem Pequenos Animais - Revisao BibliograficaDaniel VieiraAinda não há avaliações
- 5º Ano 3 Atividade - AbrilDocumento39 páginas5º Ano 3 Atividade - AbrilFabrícia SimplícioAinda não há avaliações
- Projeto de RedutorDocumento22 páginasProjeto de RedutorRosiana SilvaAinda não há avaliações
- NOTA CONASEMS Novos Regramentos Relativos Aos ACS e ACE e o 14º SalárioDocumento5 páginasNOTA CONASEMS Novos Regramentos Relativos Aos ACS e ACE e o 14º SalárioOrsimar RosendoAinda não há avaliações