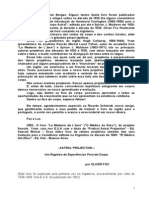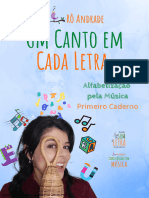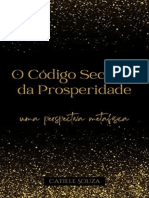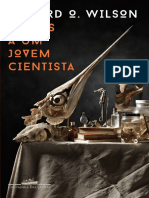Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Para Um Programa de História Intelectual - Carlos Altamirano
Para Um Programa de História Intelectual - Carlos Altamirano
Enviado por
Paula RejaneDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Para Um Programa de História Intelectual - Carlos Altamirano
Para Um Programa de História Intelectual - Carlos Altamirano
Enviado por
Paula RejaneDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Idias para um programa de Histria intelectual
Carlos Altamirano
Traduo de Norberto Guarinello
A Histria intelectual, como se sabe, praticada de muitas maneiras e
no possui em seu mbito uma linguagem terica ou modos de proceder
que funcionem como modelos obrigatrios nem para analisar, nem para
interpretar seus objetos nem tampouco para definir, sem referncia a
uma problemtica, a quais objetos conceder primazia. Desse ponto de vista, o quadro no muito diferente do que se observa hoje no conjunto da
prtica historiogrfica e, de forma mais geral, no conjunto de disciplinas
que at a pouco designvamos como cincias humanas, nas quais domina
a disperso terica e a multiplicao dos critrios para recortar seus objetos. Mais ainda: pode-se dizer que a disseminao e o apogeu que se observam hoje em dia na Histria intelectual no esto desvinculados da
eroso sofrida pela idia de um saber privilegiado, ou seja, de um setor do
conhecimento que opere como fundamentao para um discurso cientfico unitrio sobre o mundo humano.
Pode-se considerar que essa situao provisria e ter confiana em que
o futuro produzir uma nova ordem; ou pode-se celebr-la, ressaltando as
possibilidades que cria para a emancipao de qualquer hierarquia entre os
saberes. Pode-se dizer, por exemplo, como faz Bronislaw Baczko (1991, p.
25), que o tempo da ortodoxia caducou e que assim se abre, afortunadamente, uma nova poca, a poca das heresias eclticas. Contudo, quer a
celebremos, quer a imaginemos apenas como um estado provisrio que est
Idias para um programa de Histria intelectual, pp. 9-17
em busca de um paradigma ou de uma nova sntese, o fato que no se
pode ignorar essa pluralidade de enfoques tericos, de recortes temticos e
de estratgias de investigao que animam hoje as disciplinas relativas ao
mundo histrico e social, entre as quais a Histria intelectual.
Reconhecer essa paisagem, mais abundante do que estruturada, o ponto de partida de nosso texto. Destina-se a agregar, ou seja, a citar e a introduzir para os fins de seu propsito, como prova ou defesa, alguns fatos,
argumentos e exemplos, tendo a nica pretenso de esboar um programa
possvel de trabalho que ponha em comunicao a Histria poltica, a Histria das elites culturais e a anlise histrica da literatura das idias
espao discursivo no qual coexistem os diferentes membros da famlia que
Marc Angenot (1982) denomina de gneros doxolgicos e persuasivos.
Como postulado geral, no encontro frase mais adequada que esta afirmao de Paul Ricouer: Se a vida social no possui uma estrutura simblica,
no possvel compreender como vivemos, como fazemos coisas e projetamos essas atividades em idias, no h como compreender de que modo a
realidade possa chegar a ser uma idia, nem como a vida real possa produzir
iluses... (1991, p. 51). O prprio Ricouer refora em seguida essa afirmao com outra, que assume a forma de uma pergunta: como os homens
podem viver esses conflitos sobre o trabalho, a propriedade, o dinheiro
etc. se no possuem de antemo sistemas simblicos que os ajudem a
interpret-los (cf. Idem, ibidem)?
J desde h alguns anos, a Histria poltica passa por um verdadeiro
renascimento, no qual h um interesse renovado no apenas pelas elites
polticas, mas tambm pelas elites intelectuais. Referindo-se a esse renascimento, Jean-Franois Sirinelli escreveu que sua riqueza repousa em sua
vocao para analisar diferentes comportamentos coletivos, do voto aos
movimentos da opinio, e para exumar, para explicar todas as suas fundaes: idias, culturas, mentalidades (1990, p. 13). o espao de uma vocao globalizante no qual, segundo o mesmo Sirinelli, uma Histria dos
intelectuais encontraria seu lugar. Mas o estudo histrico desses ltimos, de
suas figuras modernas e de seus ancestrais, desenvolveu-se tambm por
outra via, a sociologia da cultura, sobretudo pelo impulso da obra de Pierre
Bourdieu e de seus discpulos.
O novo impulso da Histria poltica e os instrumentos da sociologia das
elites culturais deveriam beneficiar uma Histria intelectual que no se limitasse a ser uma Histria puramente intrnseca das obras e dos processos
ideolgicos, nem contentar-se com referncias sinpticas e impressionistas
10
Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 19, n. 1
Carlos Altamirano
da sociedade e da vida poltica. E, no entanto, como escreveu Dominick
LaCapra, a Histria intelectual no deveria ver-se apenas como simples
funo da Histria social. Ela privilegia certa classe de fatos em primeiro
lugar, os fatos do discurso porque eles do acesso a uma decifrao da
histria que no pode ser obtida por outros meios e porque proporcionam
pontos de observao nicos sobre o passado.
No que diz respeito ao programa que tento aqui delimitar, os prprios
textos so objetos fronteirios, que esto no horizonte de diferentes interesses e disciplinas a Histria poltica, a Histria das idias, a Histria das
elites e a Histria da literatura. O contorno geral desse domnio no mbito
da Histria intelectual foi traado inmeras vezes e basta citar alguns ttulos clssicos para identific-lo rapidamente: o Facundo, de Sarmiento; Nuestra
Amrica, de Mart; Ariel, de Rod; Evolucin poltica del pueblo mexicano,
de Justo Sierra; Siete ensayos de interpretacin de la realidad peruana, de
Maritegui; Radiografa de la pompa, de Martnez Estrada; El laberinto de la
soledad, de Octavio Paz.
Em seu ndice crtico de la literatura hispanoamericana, Alberto Zum
Felde situou essa zona dentro de um gnero especfico o ensaio e o
volume dedicado a ela tem como subttulo os ensastas. No creio, no
entanto, que todos os escritos situados nesse setor fronteirio possam, por
sua vez, ser agrupados como expoentes ou variantes do ensaio, por mais
elstica que seja a noo desse gnero literrio. Ningum duvidaria, por
exemplo, em situar os escritos de Simn Bolvar nessa zona de fronteira.
Mas que vantagem crtica obteramos chamando de ensaios textos que identificamos melhor como proclamaes ou manifestos polticos? Seria prefervel falar de literatura das idias.
Costuma-se, igualmente, agrupar esses tipos textuais sob o termo pensamento, o que corresponde, sem dvida, ao fato de que lidamos com
textos nos quais se discute, se argumenta e se polemiza. Com efeito, como
considerar os textos mencionados seno como objetivaes ou documentos
do pensamento latino-americano ao menos do pensamento de nossas elites? No entanto, definindo dessa maneira o mbito de pertencimento desses escritos, o normal abord-los sem preocupao com sua forma (sua
retrica, suas metforas, suas fices), ou seja, tudo o que oferece resistncia s operaes clssicas da exegese e do comentrio. Mesmo o texto menos
literrio foi objeto de um trabalho que lhe deu forma e no h obra de
pensamento, por mais que se entregue a um discurso demonstrativo, que
escape a essa combinao e, assim, s significaes imaginrias. Como esjunho 2007
11
Idias para um programa de Histria intelectual, pp. 9-17
1.Todas as citaes de
Echeverra referem-se
a esta edio.
12
quecer tudo isso quando tratamos de escritos que costumam ser classificados sob o ttulo de pensamento latino-americano?
Esteban Echeverra, o pensador e poeta cujo nome associado ao incio
do americanismo intelectual e literrio no rio da Prata, oferece-nos a possibilidade de ilustrar rapidamente esse ponto. Echeverra refere-se freqentemente realidade americana por meio de imagens que evocam o corpo. Em
1838, em um texto que rebatizar depois como Dogma socialista, enuncia
uma das frmulas mais citadas de seu americanismo: Pediremos luzes
inteligncia europia, mas sob certas condies [...] teremos sempre um
olho cravado no progresso das naes e outro nas entranhas de nossa sociedade (Echeverra, 1991, pp. 253-254)1. Alguns anos mais tarde, em Ojeada
retrospectiva sobre el movimiento intelectual en el Plata, a imagem orgnica se
repete: Nosso mundo de observao est aqui, escreve, podemos apalplo, observ-lo, estudar seu organismo e suas condies de vida (p. 195).
Essa imagstica, entendida apenas como um simples modo de falar, produziu uma primeira e bsica interpretao do americanismo echeverriano:
por um lado, as luzes, ou seja, a cincia europia, e, por outro, a realidade
local, nossos costumes, nossas necessidades. O encontro, ou a sntese, desses dois fatores resume o programa de uma elite modernizante que acredita
ter descoberto no historicismo a chave para sair do labirinto em que se
extraviou a gerao anterior, a gerao da revoluo e da independncia.
Pode-se ainda acrescentar que a equiparao da sociedade a um corpo, e um
corpo visto como campo de estudo, inspirava-se em um modelo de conhecimento cujo nascimento era ainda recente: o da clnica cientfica moderna.
No entanto, se a palavra entranha ecoa o corpo, no o ecoa como
paradigma de unidade, segundo a velha interpretao da harmonia social,
mas como matria viva e cavidade. Trata-se de um corpo que envolve um
interior: o mundo obscuro, mesmo que palpitante, das vsceras. O que
necessrio apreender nos conduz a esse interior (s entranhas de nossa
sociedade), aquilo que devemos desentranhar. Desentranhar retirar
as entranhas, mas tambm alcanar o significado oculto de alguma coisa.
Esse organismo, que era a sociedade americana, que se podia apalpar e que
se sentia palpitar, escondia, assim, um segredo que devia ser decifrado.
Pois bem, se retornarmos ao enunciado no qual Echeverra resumiu seu
programa americanista, como poderamos desconsiderar essa linguagem para
a qual o que prximo, o que est aqui os costumes e as tradies prprias aparece figurado em termos de um ncleo vivo, mas oculto? Poderamos dizer que o mais imediato mediado, ou seja, mediado por um
Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 19, n. 1
Carlos Altamirano
invlucro externo, enquanto o longnquo, o mediado as luzes da inteligncia europia , parece dar-se sem mediaes. Indo alm, como ignorar
o encadeamento de sentido que conduz das entranhas da sociedade a El
matadero? Com esse relato, Echeverra oferece, com o espetculo de um
mundo brutal e primitivo de abatedores, descarnadores e evisceradores, que
disputam as vsceras entre si, o que , a seus olhos, a verdade social e poltica
da ordem rosista. O foco da federao estava no Matadouro (p. 139),
escreve ele na concluso do relato. O foco, ou seja, o centro, o ncleo, em
outras palavras, as entranhas da federao rosista. Poderamos, assim, acrescentar que o que o autor do Dogma socialista define como entranhas, e
que se compromete a escrutar, no se associa apenas com o desconhecido,
mesmo que prximo, mas tambm com o que hostil.
Seria necessrio, sem dvida, demonstrar a consistncia dessa interpretao, relacionando-a com o restante da obra ideolgica e literria de Echeverra. Se o propsito que guia a interpretao um propsito de conhecimento, necessrio precaver-se, como ensina Jean Starobinski, contra a
seduo do discurso mais ou menos inventivo e livre, que se alimenta apenas ocasionalmente da leitura. Esse discurso sem vnculos tende a converter-se a si prprio em literatura e o objeto do qual fala s lhe interessa como
pretexto, como citao incidental (1979, p. 179).
No creio, no entanto, que seja necessrio entregar crtica literria essa
zona fronteiria que a literatura das idias para admitir que esta no agrega apenas conceitos e raciocnios, mas igualmente elementos da imaginao
e da sensibilidade. Sem dvida, atentar para os traos ficcionais de um texto,
bem como para a retrica de suas imagens, demanda os conhecimentos e,
sobretudo, o tipo de disposio que se cultiva na crtica literria. No entanto, tampouco se poderiam reduzir os textos da literatura das idias a esses
elementos, como se o pensamento que os anima fosse um assunto sem interesse, demasiadamente trivial ou demasiadamente montono, ou seja, demasiadamente vulgar para torn-los objeto de uma reflexo prpria. Em
poucas palavras: uma interpretao que privilegiasse apenas as propriedades
mais reconhecidamente literrias no seria menos unilateral que aquela que
as ignorasse.
Vejamos, porm, o que podemos afirmar de modo positivo, no interior de nossa Histria intelectual, sobre essa fronteira que chamamos de
literatura das idias, dos textos de interveno direta no conflito poltico e social de seu tempo at as expresses dessa forma mais livre e resistente classificao que o ensaio, passando pelas obras de carter sistejunho 2007
13
Idias para um programa de Histria intelectual, pp. 9-17
mtico ou doutrinrio. O elemento comum a todas essas formas do discurso doxolgico que a palavra enunciada a partir de uma posio de
verdade, independentemente de quanta fico se aloje nas linhas desses
textos. Pode tratar-se de uma verdade poltica ou moral, de uma verdade
que retire sua autoridade de uma doutrina, da cincia ou de uma intuio
mais ou menos proftica. Os primeiros dentre esses escritos proclamaes como as de Simn Bolvar ou panfletos como a Carta a los espaoles,
do jesuta Juan Pablo Viscardo parecem indissociveis da ao poltica.
Contudo, para estabelecer o sentido intelectual dos textos (ou os sentidos, caso se prefira) no basta vincul-los ao campo da ao ou, como se
costuma dizer, a seu contexto. Associ-los a seu exterior, a suas condies pragmticas, contribui sem dvida para sua compreenso, mas no
evita o trabalho de leitura interna ou da correspondente interpretao,
mesmo se os considerarmos documentos da Histria poltica e social. Os
ensaios do historiador Franois Xavier Guerra, reunidos em Modernidad
e independencias, so muito ilustrativos sobre o que pode ensinar uma
Histria poltica sensvel dimenso simblica da vida social e da ao
histrica (a relao entre atores escreveu Guerra no se rege apenas
por uma relao mecnica de foras, mas tambm, e sobretudo, por cdigos culturais de um grupo ou de um conjunto de grupos sociais em um
dado momento [1992, p. 14]).
Trate-se de textos de combate ou de textos de doutrina, durante o sculo
XIX todos se ordenam ao redor da poltica e da vida pblica, que foram nos
primeiros cem anos os impulsionadores da literatura das idias em nossos
pases. Um ensasta argentino, H. A. Murena, escreveu que, na Amrica
Latina, h uma grande tradio literria que no , paradoxalmente, literria. a tradio de subordinar a arte de escrever arte da poltica (1962,
pp. 56-57). Nesse sculo, nossa literatura esteve, acrescenta Murena, fascinada pela Medusa da poltica. Poder-se-ia observar que, nessas definies
de Murena, h uma nostalgia de outra tradio, a nostalgia daquilo que
nossos pases no foram ou no tiveram, uma falta que se tornou um tpico
do ensaio latino-americano. De todo modo, o fato que nossas elites, no
apenas as elites polticas e militares, mas tambm as intelectuais (nossos
letrados, nossos pensadores), tiveram que defrontar o problema fundamental e clssico de construir uma ordem poltica que exercesse uma dominao efetiva e duradoura.
Esquematizando ao mximo, poder-se-ia dizer que essa preocupao com
a construo de uma ordem poltica, que foi preponderante na reflexo
14
Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 19, n. 1
Carlos Altamirano
intelectual latino-americana at a segunda metade do sculo XIX, foi dominada por duas questes, ou perguntas, sucessivas. Poderamos formular a
primeira do seguinte modo: o que a autoridade legtima e como instaurla agora, sem a presena do rei? A segunda, que surge quando j se experimentaram as dificuldades prticas para resolver a primeira, seria: qual a
ordem legtima que, ao mesmo tempo, uma ordem possvel?
Paralelamente, por vezes confundindo-se nos mesmos textos com essa
preocupao poltica, foram se cristalizando outros ncleos de reflexo na
literatura das idias de nossos pases. Em alguns escritos, sobretudo quando
assumem a forma de ensaio, esses ncleos se expandem e chegam a dominar
todos os demais tpicos. A que ncleo me refiro? queles que parecem organizar-se em torno da pergunta sobre nossa identidade. Refiro-me, em outras
palavras, ao ensaio de auto-interpretao e autodefinio. Sobre o ensaio de
interpretao, poderamos afirmar que visa a responder a uma demanda por
identidade: quem somos ns, latino-americanos? Quem somos ns, argentinos? Quem somos ns, mexicanos? Quem somos ns, peruanos? E assim
por diante.
Em alguns discursos de Bolvar, podemos encontrar passagens que anunciam essa ensastica de autoconhecimento e auto-interpretao. Leiamos,
por exemplo, esta passagem clssica do discurso de Bolvar no Congresso de
Angostura:
[...] no somos europeus, no somos ndios, mas uma espcie intermediria entre os aborgines e os espanhis. Americanos de nascimento e europeus por direito, encontramo-nos na situao conflituosa de disputar com os naturais os
ttulos de posse e de nos mantermos no pas que nos viu nascer, contra a oposio dos invasores; nosso caso assim o mais extraordinrio e complexo (Bolvar,
1981, p. 219).
Por meio dessa problemtica, que se pe em ao em torno da pergunta,
formulada de modo explcito ou implcito, sobre nossa identidade coletiva,
pode-se realizar uma srie de sondagens em nossa literatura das idias. A
tarefa de definir quem somos foi freqentemente a oportunidade para o
diagnstico de nossos males, ou seja, para denunciar as causas de deficincias coletivas: Entrai, leitores, escreveu, por exemplo, Carlos Octavio
Bunge, em um ensaio de psicologia social que se pretendia cientfico, Nuestra
Amrica. Entremos sem medo, continua ele, no labirinto grotesco e sangrento que se chama poltica criolla (1905, p. 241).
junho 2007
15
Idias para um programa de Histria intelectual, pp. 9-17
Nesse caso, no se trata mais de responder apenas pergunta quem
somos, mas tambm por que no somos de uma determinada maneira.
Por que nossas repblicas de nome no so repblicas verdadeiras? Por que
no conseguimos alcanar a Europa, se somos como os americanos do norte? Nessa literatura de auto-exame e de diagnstico, que comea muito
cedo no discurso latino-americano, a busca conduzir indagao sobre
nosso passado.
Se pensarmos em Alfonso Reyes, em Jorge Luis Borges, em Lezama
Lima ou em Jos Bianco, podemos afirmar que, no sculo XX, a tradio de
subordinar a arte de escrever arte poltica sustentou-se apenas parcialmente, mesmo no campo do ensaio. De qualquer modo, a veia do ensaio social
e poltico no se esgotou e conseguiu sobreviver ao fato que parecia condenla ao desaparecimento h quarenta anos: a implantao das cincias sociais,
com sua aspirao a substituir a doxa do ensasmo pela episteme cientfica.
Vamos alm: lidos sob a perspectiva do tempo transcorrido, muitos dos
textos que nasceram desse novo esprito cientfico podem ser colocados na
prateleira dos ensaios de interpretao da realidade de nossos pases, inaugurada em grande estilo pelo Facundo de Sarmiento. Em outras palavras,
podem ser lidos como seus grandes ancestrais, ou seja, tambm como textos de imaginao social e poltica das elites intelectuais.
Referncias Bibliogrficas
ANGENOT, Marc. (1982), La parole pamphletaire. Paris, Payot.
BACZKO, Bronislaw. (1991), Los imaginarios sociales. Buenos Aires, Nueva Visin.
BOLVAR, Simn. (1981), Discurso pronunciado por el Libertador ante el Congreso
de Angostura. In: Discursos, proclamas y epistolario poltico. Madri, Editora Nacional, p. 219.
BUNGE, Carlos Octavio. (1905), Nuestra Amrica. Buenos Aires, Librera Jurdica.
ECHEVERRA, Esteban. (1991), Dogma socialista. In: _____. Obras escogidas. Caracas,
Biblioteca Ayacucho, pp. 253-254.
GUERRA, Franois-Xavier. (1992), Modernidad e independencias. Madri, Mapfre.
MURENA, H. A. (1962). Ser o no ser de la cultura latinoamericana. In: _____.
Ensayos de subversin. Buenos Aires, Sur, pp. 56-57.
RICOEUR, Paul. (1991), Ideologa y utopa. Buenos Aires, Gedisa.
SIRINELLI, Jean-Franois. (1990), Intellectuels et passions franaises. Paris, Fayard.
STAROBINSKI, Jean. (1979), El texto y el intrprete. In: LE GOFF, J. & NORA, P.
Hacer la historia. II. Nuevos enfoques. Barcelona, Laia.
16
Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 19, n. 1
Carlos Altamirano
Resumo
Idias para um programa de Histria intelectual
Este texto define uma perspectiva e a indicao de um programa de trabalho dentro
do campo conhecido como Histria intelectual. A preocupao central a Histria
intelectual latino-americana, habitualmente reduzida a uma Histria das idias. O
programa que se esboa formula uma alternativa que deveria apoiar-se nas ferramentas forjadas pela sociologia dos intelectuais, pela Histria poltica e pelos meios produzidos pela crtica literria para introduzir-se nas obras e nas prticas discursivas.
Palavras-chave:
Amrica Latina; Discurso; Intelectuais; Literatura de idias; Retrica.
Abstract
Ideas for a program of intellectual History
The text introduces and explains the proposal for a research program within the field
known as intellectual history. The central concern is Latin American intellectual
history, more typically reduced to a history of ideas. The program outlined in the
article formulates an alternative approach, based on tools created by the sociology of
intellectuals, political history and literary criticism in its analysis of literary works
and discursive practices.
Keywords:
Latin America; Discourse; Intellectuals; Literature of ideas; Rhetoric.
Texto recebido em 10/
11/2006 e aprovado
em 10/11/2006.
Carlos Altamirano
diretor do Programa de
Histria Intelectual da
Universidade Nacional
de Quilmes. E-mail:
caltamir@unq.edu.ar.
junho 2007
17
Você também pode gostar
- POSTMAN, Neil - Tecnopólio - A Rendição Da Cultura À TecnologiaDocumento38 páginasPOSTMAN, Neil - Tecnopólio - A Rendição Da Cultura À TecnologiaAndrew YanAinda não há avaliações
- 3 - Caráter e Natureza Do Sistema Colonial PortuguêsDocumento3 páginas3 - Caráter e Natureza Do Sistema Colonial PortuguêsPedro Henrique Ferreira CostaAinda não há avaliações
- GOOGLE (2018) - Guia para ProfessoresDocumento13 páginasGOOGLE (2018) - Guia para ProfessoresPedro Henrique Ferreira CostaAinda não há avaliações
- JOLY, F (1980) - A Cartografia PDFDocumento72 páginasJOLY, F (1980) - A Cartografia PDFPedro Henrique Ferreira Costa100% (1)
- Plano de Aula - Discussão Sobre Centro e Periferia (CHICO BUARQUE)Documento7 páginasPlano de Aula - Discussão Sobre Centro e Periferia (CHICO BUARQUE)Pedro Henrique Ferreira CostaAinda não há avaliações
- Plano Espeleológico (PETAR)Documento126 páginasPlano Espeleológico (PETAR)Pedro Henrique Ferreira CostaAinda não há avaliações
- Plano Municipal Integrado de Saneamento Basico - PMISBDocumento159 páginasPlano Municipal Integrado de Saneamento Basico - PMISBPedro Henrique Ferreira CostaAinda não há avaliações
- Fichas de Leitura 2021Documento8 páginasFichas de Leitura 2021Blanko D BreezyAinda não há avaliações
- 6961-Texto Do Artigo-30150-1-10-20160921Documento6 páginas6961-Texto Do Artigo-30150-1-10-20160921Matheus SantosAinda não há avaliações
- Risco Quimico Na BiotecnologiaDocumento8 páginasRisco Quimico Na BiotecnologiaFlores JardinsAinda não há avaliações
- A Contribuição de Maria Odila À Historigrafia BrasileiraDocumento15 páginasA Contribuição de Maria Odila À Historigrafia BrasileiraJosé carlosAinda não há avaliações
- Tabela-de-Pesos-atualizada-Sisu BahiaDocumento1 páginaTabela-de-Pesos-atualizada-Sisu BahiaTalita BAinda não há avaliações
- Racionalismo CristãoDocumento2 páginasRacionalismo CristãoLuiz Paulo Facciuto RoschelAinda não há avaliações
- Viagem Astral - Oliver Fox, Muldoon, Yram PDFDocumento75 páginasViagem Astral - Oliver Fox, Muldoon, Yram PDFthiago.msnbr2591100% (1)
- Andrade Um Canto em Cada Letra v3Documento150 páginasAndrade Um Canto em Cada Letra v3Roseli TeodoroAinda não há avaliações
- O Código Secreto Da Prosperidade - Catiele SouzaDocumento134 páginasO Código Secreto Da Prosperidade - Catiele Souzacarminda1984100% (1)
- Geertz - Anti Anti RelativismoDocumento19 páginasGeertz - Anti Anti RelativismoAlexander MagalhãesAinda não há avaliações
- Etica Social-Exame-3 Ano MatemáticaDocumento2 páginasEtica Social-Exame-3 Ano MatemáticaValdemiro NhantumboAinda não há avaliações
- Fonseca 2008Documento6 páginasFonseca 2008Rafaela GomesAinda não há avaliações
- Relatório - Sonhos de Akira KurosawaDocumento4 páginasRelatório - Sonhos de Akira KurosawaGuilherme OtávioAinda não há avaliações
- A Matemática Da ComplexidadeDocumento45 páginasA Matemática Da ComplexidadeThera Albuquerque100% (1)
- 7.metodologia - Metodologia Projetual PDFDocumento12 páginas7.metodologia - Metodologia Projetual PDFGuilherme VlainerAinda não há avaliações
- 02 Questionários Adm CientíficaDocumento4 páginas02 Questionários Adm Científica229gjq9x2bAinda não há avaliações
- Simulação de Sistemas de Produção - Slide Aula 031Documento34 páginasSimulação de Sistemas de Produção - Slide Aula 031Aurélia SallesAinda não há avaliações
- Economia DomesticaDocumento12 páginasEconomia DomesticaJeferson FerreiraAinda não há avaliações
- A Negação Da Alteridade Entre JovensDocumento3 páginasA Negação Da Alteridade Entre Jovensfuck_booyAinda não há avaliações
- O Mundo OníricoDocumento18 páginasO Mundo OníricoPsychépáthosAinda não há avaliações
- Atividade - Análise Crítica Da Responsabilidade Social de EmpresasDocumento6 páginasAtividade - Análise Crítica Da Responsabilidade Social de EmpresasGerisval Alves PessoaAinda não há avaliações
- O Conhecimento Da Verdade Na Psicologia - Zelmira SeligmannDocumento6 páginasO Conhecimento Da Verdade Na Psicologia - Zelmira SeligmannAriela Najara GarciaAinda não há avaliações
- Avaliacao Da Performance No Violao EadDocumento7 páginasAvaliacao Da Performance No Violao EadedgarjrmarquesAinda não há avaliações
- Cartas A Um Jovem Cientista Edward ODocumento119 páginasCartas A Um Jovem Cientista Edward OvajimaAinda não há avaliações
- 1- Biocompósitos de Pentóxido de Nióbio, Hidroxiapatita e Β- (Tratamento Térmico CBMM a 1100 Graus Celsius Inicial)Documento140 páginas1- Biocompósitos de Pentóxido de Nióbio, Hidroxiapatita e Β- (Tratamento Térmico CBMM a 1100 Graus Celsius Inicial)Eduardo FerreiraAinda não há avaliações
- Texto de Galileu GalileiDocumento10 páginasTexto de Galileu GalileiAna Maria PalmeiraAinda não há avaliações
- CEC16 10aa9ce912Documento60 páginasCEC16 10aa9ce912CIÊNCIA EM VÍDEO Carmen Lucia ArnosoAinda não há avaliações
- Comunicado - RecuperaçãoDocumento1 páginaComunicado - RecuperaçãoLarissa Santos da SilvaAinda não há avaliações
- O Psicodrama e A Psicodinâmica Do Trabalho: Possíveis Conexões PDFDocumento48 páginasO Psicodrama e A Psicodinâmica Do Trabalho: Possíveis Conexões PDFrodrigopadriniAinda não há avaliações