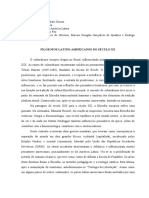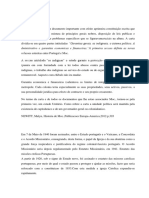Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Prática Crítico Tradutória de Paulo Rónai Um Intelectual Húngaro No Exílio
A Prática Crítico Tradutória de Paulo Rónai Um Intelectual Húngaro No Exílio
Enviado por
adautovTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Prática Crítico Tradutória de Paulo Rónai Um Intelectual Húngaro No Exílio
A Prática Crítico Tradutória de Paulo Rónai Um Intelectual Húngaro No Exílio
Enviado por
adautovDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
A prtica crtico-tradutria de Paulo Rnai, um intelectual hngaro no exlio Adauto Lcio Caetano Villela1
RESUMO: O intelectual hngaro Paulo Rnai (1907-1992) exilou-se no Brasil em 1941, escapando da perseguio nazista aos judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha ento 33 anos e trouxe consigo, em sua ampla bagagem cultural, uma prtica crtico-tradutria que produziu, entre outras obras, o Mar de histrias: antologia do conto mundial, nosso corpus de anlise. Este artigo visa a apresentar uma viso geral de nossa tese de doutoramento, no ponto em que se encontra. Palavras-chave: Estudos culturais; Estudos da traduo; Antologia; Conto; Literatura.
Esta tese de doutoramento, ainda em curso, tem por objetivo descrever e discutir a prtica crtico-tradutria do intelectual hngaro-brasileiro Paulo Rnai (1907-1992), tal como refletida em seu pensamento tradutrio e concretizada em Mar de histrias: antologia do conto mundial. Especificamente, consideraremos que tal prtica crtico-tradutria consiste nos atos de: a) seleo dos contos da antologia, b) redao de apresentaes crticas e biobibliogrficas para cada autor, c) incluso de notas de rodap de contedo referencial, crtico e explicativo, e d) traduo propriamente dita. Para tanto, buscaremos num primeiro momento, com base em consideraes dos Estudos Culturais sobre estrangeiro, exlio, hospitalidade e amizade, entender melhor a formao de Paulo Rnai na Hungria e sua atuao no Brasil. Em seguida, estudaremos a obra Mar de histrias, avaliando os critrios de organizao da antologia e comparando as proposies tericas de Rnai com sua prtica tradutria efetiva, a fim de delimitar aspectos ticos e estticos dessa prtica. Acreditamos que esta tese vir a contribuir para um melhor entendimento da atuao de Paulo Rnai no contexto cultural brasileiro e, consequentemente, para uma viso mais ampliada da histria da traduo no Brasil.
(1)
Comeamos falando sobre o ambiente de origem de Rnai, a Hungria, em cuja capital nasceria em 13 de abril de 1907. O povo hngaro, antes nmade, fixou-se no territrio onde se encontra em 896 d.C. O reino da Hungria foi formalizado com a coroao, no ano 1000, de Istvn, conhecido no ocidente como Santo Estvo I. Desse momento em diante a cultura letrada se expandiu continuamente, sendo o latim a lngua oficial do reino. Chama a ateno o
1
Doutorando em Letras: Estudos Literrios na Universidade Federal de Juiz de Fora.
fato de serem tradues literrias os primeiros textos fixados em lngua hngara nos sculos XII e XIII. Sobre seu pas e a tradio tradutria hngara, Rnai afirma:
Nasci num pequeno pas situado no mago da Europa, no cruzamento das mais variadas correntes espirituais, mas de idioma completamente isolado. Preocupados com a integrao espiritual na comunidade europeia, os intelectuais de todas as pocas no somente estudavam lnguas, mas se empenhavam em traduzir as obras-primas das literaturas estrangeiras (RNAI, 1987, p. 82).
Nelson Ascher (2007) observa que na Hungria a traduo literria era uma arte cultivada com afinco, e prestava-se a demonstrar, por meio da incorporao dos clssicos, que sua lngua nada ficava a dever a qualquer outra. Segundo Ascher Rnai trouxe de l tanto essa experincia como a constatao de que ela ajudava decisivamente a cosmopolitizar uma cultura. No livro O destino dramtico da Hungria (1970) de Yves de Daruvar, descobrimos que uma atitude de longa data liberal dos hngaros, em face de suas nacionalidades, com o que se refere aos estrangeiros e seus descendentes que habitavam na Hungria, foi ditada durante sculos aos hngaros pelas famosas recomendaes de seu primeiro rei Santo Estvo a seu filho Santo Amrico (1970, p. 17). E continua:
Os hspedes e os estrangeiros escrevia [o primeiro rei da Hungria a seu filho] devem ocupar o lugar no seu reino. Acolhe-os bem e deixe aos estrangeiros sua lngua e seus costumes, porque fraco e frgil o reino que possuiu uma s lngua e em toda a parte os mesmos costumes (1970, p. 17).
At as vsperas da Primeira Grande Guerra, cada minoria mantinha sua lngua e seus costumes, e, nas suas respectivas escolas, o hngaro era ensinado como segunda lngua, o que demonstra o cosmopolitismo da nao hngara como resultado de sua tradicional hospitalidade. Contudo, essa situao mudaria aps o final da Primeira Guerra Mundial. Com a assinatura do Tratado de Trianon em 1920, o territrio da Hungria ficou reduzido a meros 28,5% do que era antes, e sua populao, a 36,4%. Pelo raciocnio de Daruvar, a Hungria foi punida, na verdade, no por ter lutado ao lado da Alemanha, Bulgria e Turquia contra os aliados, mas por ter respeitado e deixado livre a cada povo o direito conservao daquele que um dos fatores mais importantes na determinao de uma nacionalidade: a lngua. No entreguerras, com a Hungria debilitada, humilhada e diminuda, a antiga tradio de hospitalidade se perdeu. Em Pomos da discrdia: poltica, religio, literatura etc., Nelson
Ascher explica que, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a Hungria passou a ser governada por um tirano, e entre as tticas de que seu regime lanou mo para se tornar mais popular encontrava-se o antissemitismo (1996, p. 51-57). Dez meses aps o incio da Segunda Guerra, Rnai, de ascendncia judaica, contando ento 27 anos e doutor em filologia e lnguas neolatinas, foi levado a um campo de trabalho, onde permaneceria por seis meses. Como tais campos ainda no eram campos de concentrao, foi concedida uma licena de final de ano aos jovens judeus que ali se encontravam. Rnai aproveitou a oportunidade para conseguir um visto e fugir para o Brasil. O processo que culminou na concesso desse visto pelo Estado brasileiro a Rnai havia se iniciado um ano antes, em 1938, quando Rnai, motivado pelo desejo comum a seus colegas intelectuais de aprender tambm lnguas exticas, estudou sozinho a lngua portuguesa e publicou tradues de poetas portugueses e brasileiro na Hungria, estabelecendo logo sua preferncia pela literatura brasileira. Diante da dificuldade de encontrar livros de nossos poetas, Rnai escreveu ao jornal Correio da Manh, comunicando que j havia publicado tradues de poesias brasileiras e pedindo que lhe fossem enviados livros e poemas. Em fins de abril de 1939, Octavio Fialho, ento embaixador do Brasil em Budapeste, declarou em um ofcio que o Senhor Rnai estuda poesia brasileira moderna com o escopo de traduzir o que possumos de mais caracterstico, mencionando ainda que poca, Rnai j havia preparado sua antologia de poetas brasileiros, intitulada Brazilia Uzen (Mensagem do Brasil), e que [c]om ele e por intermdio dele conto que em pouco tempo a cultura brasileira se tornar conhecida neste pas (VON BRUNN, 1992, p. 34-35). Do interesse de Rnai pela literatura brasileira surgiu o interesse da Diviso de Cooperao Intelectual por ele. Do mtuo conhecimento advindo, decorreram tanto o lanamento de tradues brasileiras em hngaro quanto a concesso do visto que salvaria a vida de Rnai.
(2)
Em 3 de maro de 1941, Paulo Rnai desembarcou no porto do Rio de Janeiro para iniciar uma nova fase, na qual deu continuidade e expandiu sua carreira de professor, tradutor, escritor, dicionarista, gramtico e crtico literrio, iniciada na Europa. Dos 85 anos de sua vida, 52 foram passados no Brasil, durante os quais Rnai publicou 5 dicionrios; 15 livros didticos; 15 tradues de livros; 17 antologias de contos; 18 livros; 240 resenhas; 321 artigos prprios, em portugus.
Conforme registrou Nelson Ascher: Rnai foi, com Anatol Rosenfeld e Otto Maria Carpeaux, um dos trs grandes exilados que, fugindo da crise Europeia, da guerra iminente e da perseguio racista, trouxeram a um Brasil ainda meio provinciano, meio dependente das referncias culturais francesas, novas informaes, ideias, conceitos e prticas que haviam sido aperfeioadas na Europa Central (ASCHER, 2007). Paulo Rnai trouxe principalmente uma postura para com a traduo que contrasta com aquela viso brasileira depreciativa que foi registrada por diversos autores, entre eles Jos Paulo Paes (1990), Rosemary Arrojo (1992), Nelson Ascher (1994) e o prprio Rnai (1981, 1987). Como destaca Ascher, ... ele trouxe consigo em sua bagagem mental [...] essa considerao especial pelo trabalho do tradutor, sendo que no Brasil dos anos 40 isso era novidade e, diga-se de passagem, tal noo no foi inteiramente naturalizada entre ns ainda hoje. [...] No Brasil, a traduo continua sendo vista como um ofcio menor praticado por autores frustrados (1994, p. 19). Ascher detalha ainda:
Ao reunir em Escola de tradutores e A traduo vivida seus textos ensasticos, Rnai introduziu no Brasil o conceito de que a traduo literria e outras, como a tcnica e a cientfica era algo que merecia no somente considerao, como minucioso acompanhamento e discusso crtica e terica. Mas a importncia desses dois volumes no seria obviamente to grande se eles no fossem antes de mais nada o complemento, ou melhor, a coroao de todo um trabalho prtico de traduo, ... a vinda de Rnai ao Brasil ajudou a implantar nestes trpicos um verdadeiro saber tradutrio que, sem sua presena, poderia muito bem levar mais cem anos para emergir de forma autctone (ASCHER, 1994, p. 18-19, nfase acrescentada).
O primeiro contato dos futuros organizadores de Mar de histrias envolveu uma traduo. Rnai estava no Brasil havia poucos dias e, em busca de publicar aqui, levou um artigo para a Revista do Brasil, onde Aurlio trabalhava como revisor. O artigo apresentado fora redigido em francs a partir de material que trouxera da Hungria. Aurlio gostou e demonstrou interesse em public-lo, com a condio de que fosse traduzido para o portugus. Sem ter escrito anteriormente uma palavra sequer em nossa lngua, Rnai empreendeu de prprio punho a traduo de seu artigo. Esta ficou ruim, mas, ao saber que fora Rnai quem se traduzira, estando no Brasil havia apenas 15 dias, Aurlio exclamou: Ah, ento a traduo est magnfica. Vou lhe mostrar o que h de errado (RNAI, 1991). Segundo Rnai, esse foi o evento mais importante naquele ano de 1941, e desde ento se firmaram a amizade e as parcerias com Aurlio. O grmen do projeto Mar de histrias surgiria no ano seguinte. Segundo Rnai:
A primeira ideia da obra ocorreu-nos, a Aurlio e a mim, em 1942 e sua histria est ligada inseparavelmente de uma longa e constante amizade. Nada aproxima melhor duas pessoas que um trabalho executado em comum, sobretudo quando feito com entusiasmo. Eu tinha chegado havia pouco da Europa convulsionada e a minha boa sorte me ps logo em contato com ele, que generosamente se fez revisor de tudo o que eu escrevia. No levamos muito tempo a descobrir que tnhamos em comum a paixo da literatura. Nossas visitas s livrarias convenceram-nos de que faltava uma boa coletnea de contos estrangeiros (RNAI, 1982, p. 2-3).
(3)
Mar de histrias traz, em seus 10 volumes, textos de 45 literaturas diferentes, abrangendo um perodo que vai do sculo XIV a.C. a 1925. So ao todo 197 autores, dos quais 181 escreviam em lngua estrangeira e 16, em portugus. Os 240 contos compilados na obra somam, juntamente com apresentaes e introdues, 3.618 pginas. Cada volume traz um ou mais contos de um determinado autor, e cada autor vem apresentado por uma nota introdutria. A organizao do projeto Mar de histrias foi norteada pela ideia de que o gnero conto passou por uma evoluo, um desenvolvimento de suas caractersticas prprias, em paralelo ao desenvolvimento das lnguas, literaturas e culturas representadas na obra. Essa noo de desenvolvimento e progresso nos remete ao conceito de Bildung. Segundo Antoine Berman, a Bildung uma variante erudita da palavra Kultur, e tem o sentido de formao, especialmente em sua conotao pedaggica e educativa de processo de formao. Segundo Berman (2002, p. 79): Pela Bildung, um indivduo, um povo, uma nao, mas tambm uma lngua, uma literatura, uma obra de arte em geral se formam e adquirem, assim, uma forma, uma Bild. A Bildung sempre um movimento em direo a uma forma que uma forma prpria (BERMAN, 2002, p. 80). Ao definir os critrios de organizao de Mar de histrias, Rnai e Aurlio escolheram apresentar um desenvolvimento histrico do gnero conto, desde suas origens. Conforme explica Rnai:
Em vez de apenas alinhar toa certa poro de contos, achamos melhor agrup-los de maneira que logo pudessem servir de marcos histria do conto na literatura universal. Por isso adotamos, na sucesso deles, a ordem cronolgica mais precisa, e, por outro lado, procuramos escolh-los dentro do maior nmero possvel de literaturas, de tal modo que fossem caractersticos das civilizaes de onde provm. Assim, poder o leitor, ao ler uma aps outra as nossas histrias, acompanhar a progressiva depurao e cristalizao do gnero, processo este que procuramos esclarecer, no s neste prefcio, mas ainda nas notas que precedem cada conto do livro (RNAI, FERREIRA, 1999, p. 13-14).
O fato de a Bildung ser simultaneamente um processo e o resultado desse processo (BERMAN, 2002, p. 80) tem implicaes para o modo de traduzir empregado em Mar de histrias. Para que o leitor pudesse perceber cada conto como posicionado em um contnuo evolutivo seria preciso que a interveno dos tradutores preservasse esses traos caractersticos. H ainda um aspecto crtico na seleo dos contos que integram Mar de histrias. De acordo com Rnai, ele e Aurlio leram uma quantidade muito grande de contos para selecionar aqueles que integrariam a coletnea. Em um clculo aproximado, para escolher os 240 contos que figuram em Mar de histrias, algo em torno de 3.000 contos foram lidos, sendo razovel supor que houvesse um projeto poltico-ideolgico por trs do projeto tradutrio-literrio, passvel de ser revelado pelo estudo, a ser mais bem desenvolvido na prxima etapa desta tese, dos temas recorrentes nos contos selecionados, dentre os quais se encontra a situao de judeus em sociedade multiculturais. Temos at aqui uma viso geral dos trs primeiros captulos de minha tese, no estgio em que se encontram e conforme foram apresentados em abril de 2010 banca de qualificao. Esto previstos cinco captulos, o quarto sendo dedicado anlise dos dez volumes de Mar de histrias, na qual sero destacados os elementos crticos presentes nas introdues e notas de rodap, e o quinto, anlise comparativa entre alguns contos escolhidos e seus originais, como forma de avaliar o quanto Rnai aplicou, em parceria com Aurlio, os preceitos tericos privilegiados por ele em Escola de tradutores (1987 [1952]) e A traduo vivida (1981 [1974]) luz do debate quanto tica da traduo.
ABSTRACT: Paulo Rnai (1907-1992), a Hungarian intellectual, came to Brazil as an exile in 1941, escaping from the Nazi persecution of Jews in Europe during World War II. He was then 33 year-old and brought within his wide cultural background a critic-translation practice which yielded, among other works, Mar de histrias: antologia do conto mundial, the object of analysis of my research. This paper aims at presenting an overview of my doctorates dissertation, as it is at present. Keywords: Cultural studies; Translation studies; Anthology; Short story; Literature.
REFERNCIAS
ARROJO, Rosemary. As questes tericas da traduo e a desconstruo do logocentrismo: algumas reflexes. In: ARROJO, Rosemary; RAJAGOPALAN, Kanavilil (Orgs.). O Signo Desconstrudo: implicaes para a traduo, a leitura e o ensino. Campinas: Pontes Editores, 1992. p. 71-79.
ASCHER, Nelson. Paulo Rnai. In: TradTerm, Revista do Centro Interdepartamental de Traduo e Terminologia da USP. Volume 1. So Paulo: USP/FFLCH/CITRAT, 1994. p. 1920. ______. Paulo Rnai Traduo e Universalidade. In: ________. Pomos da Discrdia. So Paulo: Ed. 34, 1996. p. 51-57. ______. Paulo Rnai no seu centenrio. Folha de S.Paulo, caderno Folha Ilustrada. 17/12/2007. Disponvel em: www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1712200721.htm.
Consultado em 10 de maro de 2010. BERMAN, Antoine. A prova do estrangeiro: cultura e traduo na Alemanha romntica Herder, Goethe, Schlegel, Novalis Humboldt, Schleiermacher, Hlderlin. Trad. Maria Emlia Pereira Chanut. Bauru: EDUSC, 2002. 350 p. DARUVAR, Yves de. O destino dramtico da Hungria. So Paulo: Loyola, 1970. 159 p. DERRIDA, Jacques. Anne Dufourmantelle convida Jacques Derrida a falar Da Hospitalidade. (A. Romane, & P. Ottoni, Trads.) So Paulo: Escuta, 2003. 135 p. _______. O princpio da hospitalidade. In: ________. Papel mquina. Traduo Evando Nascimento. So Paulo, Estao Liberdade, 2004. p. 249-252. PAES, Jos Paulo. Sobre a crtica de traduo. In: Traduo, a ponte necessria: aspectos e problemas da arte de traduzir. So Paulo: Editora tica, 1990. p. 108-116. RNAI, Paulo; FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Mar de histrias: antologia do conto mundial. (4. ed.), VOL. 1: Das Origens ao fim da Idade Mdia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 295 p. RNAI, Paulo. Brazilia Uzen Mai Brazil Kltk. Budapeste: Vajda Jnos, 1939. 75 p. _______. A traduo vivida, 3a Edio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 210 p. _______. Mar de histrias. In: A traduo da grande obra literria. Depoimentos. Revista Traduo & Comunicao, n 2. So Paulo: lamo, 1982. p. 1-19. _______. Escola de tradutores. 6 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, INL, 1987. 171 p. _______. Entrevista com Ascher, In: ASCHER, Nelson. Faz 50 anos que o tradutor e ensasta chegou ao Brasil. In: Folha de S.Paulo, sbado, 27/04/1991. Disponvel em: http://almanaque.folha.uol.com.br/entrevista_paulo_r%F3nai_27abr1991.htm VON BRUNN, Adam Von. Paulo Rnai Documentos Inditos do Itamaraty. In: TradTerm, Revista do Centro Interdepartamental de Traduo e Terminologia da USP. Volume 1. So Paulo: USP/FFLCH/CITRAT, 1994. p.31-37.
Você também pode gostar
- Flashcards para o EnemDocumento91 páginasFlashcards para o EnemMaria EduardaAinda não há avaliações
- As Mulheres No Mundo Dos Homens PDFDocumento23 páginasAs Mulheres No Mundo Dos Homens PDFCristiano BodartAinda não há avaliações
- Cessão de Direitos HereditáriosDocumento3 páginasCessão de Direitos HereditáriosTom MercuryAinda não há avaliações
- Emile Durkheim o Criador Da Sociologia Da EducacaoDocumento4 páginasEmile Durkheim o Criador Da Sociologia Da EducacaoYuri SoarezAinda não há avaliações
- A Homossexualidade Não É Africana, A Héterossexualidade Também NãoDocumento10 páginasA Homossexualidade Não É Africana, A Héterossexualidade Também NãoJeferson RodriguesAinda não há avaliações
- Maria Do Carmo Tavares de MirandaDocumento10 páginasMaria Do Carmo Tavares de MirandaMaicon DouglasAinda não há avaliações
- Artigo Uso Do Drone No CBMRR - CorrigidoDocumento18 páginasArtigo Uso Do Drone No CBMRR - CorrigidoAL CHO ROMULOAinda não há avaliações
- Resumo Estruturado - SAUDE COLETIVA - Por Andrezza LuzDocumento4 páginasResumo Estruturado - SAUDE COLETIVA - Por Andrezza Luzandrezza luzAinda não há avaliações
- 300 Questoes Comentadas Do Sus Lei 8080 90Documento17 páginas300 Questoes Comentadas Do Sus Lei 8080 90Thayna Reis100% (1)
- A Importancia Do Trabalhador Com Projetos No Ensino Fundamental PDFDocumento45 páginasA Importancia Do Trabalhador Com Projetos No Ensino Fundamental PDFDanúbia Caroline H. Ursino da Rocha100% (1)
- Sao Paulo e A Crise HidricaDocumento7 páginasSao Paulo e A Crise HidricaJosue AlmeidaAinda não há avaliações
- Modelo 260 Requerimento para Licenca de FeriasDocumento1 páginaModelo 260 Requerimento para Licenca de Feriasphenom20k9Ainda não há avaliações
- Artigo Cardernos de Educacao - Susana Jimenez e Maria Das Dores Mendes SegundoDocumento19 páginasArtigo Cardernos de Educacao - Susana Jimenez e Maria Das Dores Mendes SegundoericoricardAinda não há avaliações
- A Ditadura Pombalina e As Suas ConsequênciasDocumento4 páginasA Ditadura Pombalina e As Suas Consequênciasdiogooliveira100% (1)
- A Carta OrganicaDocumento4 páginasA Carta OrganicaMahomed Ossufo Ali100% (1)
- R9N4114qLi1OULMuYdwMQc1UoLdxnwMwvcIpcuH0 PDFDocumento185 páginasR9N4114qLi1OULMuYdwMQc1UoLdxnwMwvcIpcuH0 PDFRavena CasemiroAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre América Geografia 8º Ano 1Documento3 páginasExercícios Sobre América Geografia 8º Ano 1Sandra NascimentoAinda não há avaliações
- A Gestante Pode Pedir Demissão Do EmpregoDocumento2 páginasA Gestante Pode Pedir Demissão Do Empregoparadella100% (1)
- Texto Sobre Transcrição e PlágioDocumento4 páginasTexto Sobre Transcrição e PlágioMarilene OlivierAinda não há avaliações
- Uc7 dr1Documento3 páginasUc7 dr1Bruno SantosAinda não há avaliações
- Resumo Sobre Cultura OrganizacionalDocumento2 páginasResumo Sobre Cultura OrganizacionalDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- Contrato de Compromisso de Compra e VendaDocumento10 páginasContrato de Compromisso de Compra e VendaTássia Sá100% (1)
- Introdução À CriminologiaDocumento86 páginasIntrodução À CriminologiaJuliano CorneauAinda não há avaliações
- Simulado II II Livro 3os. AnosDocumento10 páginasSimulado II II Livro 3os. AnosLaura Roxo abattiAinda não há avaliações
- A Mentira BrancaDocumento181 páginasA Mentira BrancaElcio Pimenta MarliAinda não há avaliações
- A Exaltação Da Razão No Iluminismo e A Crítica À Razão Instrumental Da Escola de FrankfurtDocumento23 páginasA Exaltação Da Razão No Iluminismo e A Crítica À Razão Instrumental Da Escola de FrankfurtSérgio RodriguesAinda não há avaliações
- Termo de Confissão de Dívida Com Promessa de PagamentoDocumento4 páginasTermo de Confissão de Dívida Com Promessa de Pagamentojhorge3Ainda não há avaliações
- Direitos Reais - ResumoDocumento13 páginasDireitos Reais - ResumoIsadora BéeAinda não há avaliações
- Lei Exame SexologicoDocumento2 páginasLei Exame SexologicoRafaelAinda não há avaliações
- Tratado de LisboaDocumento4 páginasTratado de LisboaAnita Santos LeiteAinda não há avaliações