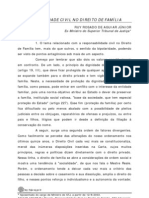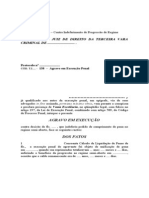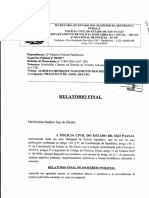Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
06 2009 2 Nov Fev 108 129 Bom
06 2009 2 Nov Fev 108 129 Bom
Enviado por
aridson99Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
06 2009 2 Nov Fev 108 129 Bom
06 2009 2 Nov Fev 108 129 Bom
Enviado por
aridson99Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
O fracasso da pena de priso: alternativas e solues
The failure of imprisonment: alternatives and solutions
Vitor Gonalves Machado
Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Esprito Santo (UFES). Advogado.
1 INTRODUO
Atualmente, forte a corrente doutrinria que sustenta a falncia da pena privativa de liberdade. A comprovao deste fracasso pode ser obtida tendo em vista os efeitos deletrios produzidos no ambiente carcerrio, alm de outros tantos fatores negativos.
Partindo-se dos pensamentos erguidos por Erving Goffman, chegar-se-ia primeira concluso de que a priso, identificada como uma instituio total, um lugar imprprio para se conseguir algum efeito benfico ao desenvolvimento ou ressocializao do indivduo.
Nessa esteira, a priso consiste num sistema social onde predominam as seguintes caractersticas: I) o sistema social carcerrio muito rgido, no permitindo uma fuga do preso ao comportamento e usos sociais predominantes neste sistema interno, alm da dificuldade em haver mobilizao vertical dos papis exercidos pelos reclusos; II) o recluso sofre enorme influncia do sistema social interno desde o momento em que ingressa na instituio (1).
Sendo assim, uma srie de fatores, desde a omisso estatal e a tolerncia da sociedade quanto dignidade e respeito ao preso, considerando ainda os efeitos negativos que a priso produz sobre a pessoa do condenado, culmina inegavelmente na viso pessimista sobre a eficcia da priso em tempos atuais.
108
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
No sentido quase que unnime na doutrina, entende-se que a priso uma instituio ao mesmo tempo antiliberal, desigual, atpica, extralegal e extrajudicial, que perverte, corrompe, deforma, avilta e embrutece, sendo uma sucursal do inferno, drasticamente lesiva para a dignidade do ser humano, penosa e inutilmente aflitiva, considerada, ainda, verdadeira fbrica de reincidncia e indstria do crime (2).
Entretanto, embora se constate essa falncia da pena privativa de liberdade, ela ainda universalmente considerada como resposta penal bsica ao delito. A priso, para muitos, tem sentido no que tange excluso forada do delinqente do convvio social, de modo que a privao de sua liberdade se identifica como a forma mais eficaz e legtima de punir, no importando a realidade em que se encontra o ambiente carcerrio (3).
2 A CRISE DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO
A partir de uma anlise crtica e realista dos presdios brasileiros, o que se percebe a queda acintosa de um modelo estatal, cuja falncia j vem sido admitida h tempo, em virtude de tantas barbries e mazelas que ainda se fazem presentes no crcere.
De fato, as penitencirias no pas vm se tornando cruis masmorras, onde se encontram presos provisrios misturados com condenados, empilhados num espao fsico mnimo, prevalecendo o mais absoluto caos.
A prpria Exposio de Motivos da Lei de Execuo Penal (LEP), em seu item de n 100, ainda na dcada de 1980, j declarava a situao absurda de confinamento de grande parte da populao carcerria nas cadeias pblicas e estabelecimentos similares. Chega at ao ponto de denominar tais lugares como ambientes de estufa e sementeiras de reincidncias, onde prisioneiros altamente perigosos convivem em celas superlotadas com criminosos ocasionais e presos provisrios, para os quais o princpio da presuno da inocncia realmente um mito.
109
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
Contudo, h uma grande despreocupao e tolerncia, tanto do Estado como da sociedade, quanto ao problema carcerrio. A omisso estatal em concretizar os dispositivos positivados na LEP, na Carta Magna e em importantes tratados internacionais, aliada ao fato da indiferena predominante na populao, se demonstram, assim, como fatores tambm cruciais para a gravidade da crise.
Impera na sociedade uma tolerncia absoluta em relao aos direitos dos presos, mostrando-se indiferente quanto situao do sistema carcerrio. O pensamento que predomina que aparentemente a sentena condenatria criminal tem tambm um segundo efeito de retirar a personalidade e a dignidade humana do preso.
Em razo disso, rotineiro presenciar noticirios e discursos por parte de certos segmentos da sociedade, principalmente aps episdios que chocam profundamente as mais sensveis almas, como o caso do menino Joo Hlio e da jovem Suzane Richthofen e irmos Cravinhos (4), com cunho eminentemente agressivo e sensacionalista, onde o mal da comunidade estaria depositado na figura do criminoso, e este deveria ser daquela banido eternamente.
Infelizmente, grande parte da sociedade, amedrontada pelo elevado ndice de criminalidade, induz-se com discursos polticos oportunistas e falaciosos, cujo pensamento retrata ideais em tom de clamor da defesa da sociedade a qualquer custo. Por isso mesmo fcil presenciar idias sobre a implantao da pena de morte no pas, ou outras espcies de penas tais como a perptua ou as cruis, traduzindo um retrocesso aos tempos remotos da aplicao dos esquartejamentos e mutilaes como legtima sano penal.
pela defesa desses pensamentos que partem as concepes advindas do Movimento da Lei e da Ordem e do Direito Penal do Inimigo, tendo este ltimo Gnter Jakobs como seu principal representante.
Em linhas gerais, o Direito Penal do Inimigo se baseia na viso tida como perigoso inimigo aqueles autores de infraes penais consideradas graves, tais como terroristas, criminosos econmicos, delinqentes organizados e outros. Suas principais caractersticas e fundamentos consistem em retirar desses indivduos o status de pessoa, devendo ser punidos de acordo com sua periculosidade e sem a incidncia dos direitos processuais. Ademais, a tese de Jakobs,
110
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
quando eleito o inimigo, propugna pelo aumento desproporcional de penas, pela criao artificial de novos delitos (delitos sem bens jurdicos definidos) e pelo endurecimento sem causa da execuo penal (5).
Tambm nessa mesma linha se incorpora o discurso dos partidrios do Movimento da Lei e da Ordem, salientando que a imposio da pena de morte e de longas penas privativas de liberdade, alm do advento de legislaes severas, so os nicos meios realmente eficazes para intimidar e neutralizar criminosos e controlar a crescente criminalidade e terrorismo desenfreado, ao mesmo tempo em que se faz justia aos homens de bem (6).
Em documento publicado recentemente pela Organizao das Naes Unidas (ONU) sobre a criminalidade no Brasil, ficou constatado que os assassinatos cometidos por esquadres de morte, por milcias e por policiais so apoiados por uma parte significativa da populao brasileira. Ainda de acordo com as concluses da ONU, os policiais em servio so responsveis por uma grande parcela dos homicdios no pas, sendo os do Rio de Janeiro responsveis por quase 18% do nmero total de mortes na cidade (7).
Por isso mesmo, muita reclamao h tendo como alvo a atitude da polcia, que caminha no sentido contrrio s metas ressocializadoras, pois considera o ex-condenado, no raras as vezes, como legtimo representante do mundo do crime e como tal era tratado (8).
A esfera pblica, por sua vez, no tem conseguido enfrentar efetivamente o problema carcerrio, demonstrando enorme dificuldade em implantar na prtica as disposies contidas na Lei de Execuo Penal e demais legislaes sobre o tema. Alis, muitas vezes o prprio Estado quem acaba rasgando a LEP, gerando verdadeiros monstros nas prises e retroalimentando, desse modo, o retorno do preso ao mundo da criminalidade (9).
Quando h tentativa de melhorar a atual situao, ento so desenvolvidos apenas contornos temporrios para a problemtica. No h uma poltica prisional sria, engajada com a melhoria das condies deficientes dos estabelecimentos prisionais, tampouco com a ressocializao do recluso.
111
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
Por exemplo, em 28 de fevereiro de 2007, os governadores dos quatro estados da Regio Sudeste apresentaram ao Congresso Nacional treze propostas para a segurana pblica, oriundas das discusses em torno dessa temtica logo aps a crise de 2006 ocorrida nos estados de So Paulo, do Rio de Janeiro e do Esprito Santo. As propostas se direcionavam a estabelecer maior rigor ao autor de crime hediondo e a certos delitos, atravs do aumento das penas previstas para os crimes contra a incolumidade pblica, para o motim de presos e para o homicdio doloso cometido contra determinadas pessoas, como o policial no exerccio da funo ou em razo dela.
Decerto, durante o perodo ps-crise da segurana pblica nos mencionados estados da Federao houve mais dezenas de propostas nesse sentido, sendo pertinente mencionar aquelas que almejavam extinguir a progresso de pena para assassinos cruis; reduzir de forma drstica o nmero de indultos; limitar ao mximo a permisso s visitas ntimas; e extinguir o limite na aplicao de regime de segurana mxima para presos considerados perigosos (10). Ou seja, nenhuma proposta visando realmente a extinguir ou, ao menos, atenuar eficazmente a problemtica em relevo.
Outra questo importante a se ressaltar que as informaes e dados colhidos pelo Estado no traduzem realmente o que acontece nas prises, seja por serem insuficientes, seja por no apresentar corretamente a realidade, o que acarreta, por conseguinte, a no realizao de uma racional e eficaz poltica criminal.
Mais agravante ainda a omisso dos rgos incumbidos de realizar a vistoria dos estabelecimentos prisionais especificados no art. 61, incisos I a VII, da Lei n 7.210/1984 , que, apesar de ser em considervel nmero, raramente realizam rotineiras inspees com o intuito de combater as irregularidades, as quais persistem em continuar sem providncia alguma.
E essa crise, com todas as deficincias existentes nas penitencirias e na execuo das penas privativas de liberdade, acaba afrontando importantes princpios expressos na Carta Magna, na LEP e nos tratados internacionais em que o Brasil faz parte, em especial ao respeito integridade fsica e moral do preso, o que no pode prosperar em hiptese alguma. Assim, a questo da afronta a outros direitos que no correspondentes queles retirados pela sentena
112
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
condenatria mais um absurdo que se presencia no cotidiano vivenciado nos presdios superlotados e de precrias condies.
Apenas para exemplificar algumas violaes a preceitos constitucionais e legais, constata-se que as ms condies dos presdios da maioria das grandes cidades do pas, de acordo com Celso Delmanto (11), configuram absoluto contraste com as disposies expressas nos arts. 1, III, e 5, III, da Constituio Federal de 1988, nos arts. 7, caput, e 10, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Polticos de Nova Iorque (PIDCP), e no art. 5, itens 1 e 3, da Conveno Americana sobre Direitos Humanos (CADH), todas referentes proibio de tratamento cruel, degradante e desumano. Alm disso, corriqueira a ofensa garantia da separao dos presos provisrios dos condenados definitivos, prevista nos arts. 5, item 4, da CADH; 10, item 2, a, do PIDCP; e 300, do Cdigo de Processo Penal (CPP).
2.1 PRINCIPAIS PROBLEMAS CONSTATADOS NA EXECUO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NAS PENITENCIRIAS BRASILEIRAS
Dentre as literaturas especializadas no assunto, so constatadas as seguintes deficincias e problemas mais marcantes do sistema penitencirio brasileiro (12):
I) superlotao carcerria; II) elevado ndice de reincidncia; III) condies de vida e de higiene precrias; IV) negao de acesso assistncia jurdica e de atendimento mdico, dentrio e psicolgico aos reclusos; V) ambiente propcio violncia sexual e fsica, sendo esta ocorrida tanto entre os prprios detentos quanto entre estes e o pessoal carcerrio; VI) ociosidade ou inatividade forada; VII) grande consumo de drogas; VIII) efeitos sociolgicos e psicolgicos negativos produzidos pela priso.
De incio, aparece o crnico problema da superlotao carcerria, presena inegvel na maioria dos estabelecimentos prisionais do pas. Para muitos, a superlotao to grave que reconhecida como uma forma de tortura.
Nesse sentido, Loc Wacquant analisa de perto a situao catica que a superlotao ocasiona:
113
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
[...] Nos distritos policiais, os detentos, freqentemente inocentes, so empilhados, meses e at anos a fio em completa ilegalidade, at oito em celas concebidas para uma nica pessoa, como na Casa de Deteno de So Paulo, onde so reconhecidos pelo aspecto raqutico e tez amarelada, o que lhes vale o apelido de amarelos (13).
Dessa maneira, inegvel que o alto nmero de condenados, s vezes maior que o dobro da capacidade do presdio, se traduz como o pior problema existente no sistema penitencirio brasileiro, o qual acarreta ainda outros problemas intimamente ligados a essa superlotao, tais como a falta de higiene, a alimentao precria e a violncia fsica e sexual.
Todos esses problemas, alm da frgil estrutura fsica dos espaos carcerrios e da disseminao das drogas e dos aparelhos celulares, so realidades facilmente perceptveis nos presdios das grandes cidades brasileiras, sem mencionar a catica situao das Delegacias de Polcia.
A difuso da tuberculose e do vrus da Sndrome da Imunodeficincia Humana Adquirida (AIDS) tambm constante nas penitencirias, no havendo srios trabalhos de controle ou preveno de tais doenas entre os presos.
As condies de vida e de higiene costumam ser extremamente precrias, com alimentao e fornecimento de gua para o consumo de pssima qualidade, falta de espao, ar e de luz, alm de sujeiras e imundices nas celas.
O cio ou a inatividade forada entre os condenados tambm problemtica grave e corriqueira na execuo da pena privativa de liberdade nas penitencirias brasileiras, fato considerado ainda mais grave ao se visualizar a legislao executiva penal e ratificar que o trabalho deveria ser proporcionado ao preso como meio educador e produtivo e de condio de dignidade humana. Por outro lado, quando se constata que existe trabalho, este ento desenvolvido sob condies deficientes, ou apenas posto disposio a pouqussimos indivduos.
Outro crnico problema a presena de atos violentos no interior dos estabelecimentos penitencirios, inclusive sob a forma de torturas e assassinatos, seja como meio de se impor a fora estatal, seja como forma punitiva em desrespeito ao cdigo do recluso. Insta consignar
114
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
que a violncia no ocorre somente entre os prprios condenados, mas tambm entre estes e o pessoal carcerrio.
Alis, mais preocupante ainda a violncia sexual manifestada no interior das prises, isto porque muito se ignora em tratar a atividade sexual como condio elementar e benfica sade do ser humano, no existindo ateno e cuidado maior para com a mesma. Ocorre que, antes de se pensar em qualquer propsito ressocializador do condenado, deve-se, indubitavelmente, atentar para a represso do instinto sexual nas penitencirias, pois esta deforma e desnatura esse instinto considerado fundamental do homem (14).
No que diz respeito ao nmero alto de reincidentes que passam por uma pena privativa de liberdade, isso s faz reforar ainda mais a compreenso de que a priso se reveste como fator crimingeno. De fato, no demais lembrar que a cadeia fabrica delinqentes, e grande parte da sociedade, quando os presos retornam finalmente vida livre, repudia-os e repele-os (15).
Acerca dos problemas psicolgicos existentes nas penitencirias, vale dizer que a prisionalizao, segundo Bitencourt (16), o efeito mais importante que o crcere produz no recluso. Trata-se de uma espcie de aculturao, de normas ou formas de vida que o interno se adapta, pois no tem alternativa. Normalmente, so formas de vida diametralmente opostas ao sistema de valores arraigado na sociedade externa, as quais tendem a dificultar extremamente o alcance do objetivo ressocializador.
Ainda sobre o fator crimingeno da priso, cabe analisar o que muitos estudiosos do assunto chamam de cdigo do recluso, que se trata da elaborao de regras bsicas feitas pela prpria sociedade carcerria, constituindo crenas estereotipadas que aprofundam mais o antagonismo com a sociedade livre (17). Com isso, o condenado acaba aperfeioando cada vez mais sua carreira criminosa por meio do profundo contato e das relaes com os outros internos, o que proporciona efeitos negativos para a tentativa de reinsero social dos mesmos (18).
Convm ressaltar que a sade mental daqueles que participam do ambiente carcerrio que no os reclusos, tais como agentes penitencirios, mdicos, psiclogos, assistentes sociais e pessoal do setor administrativo tambm to perturbada e comprometida como a dos presos.
115
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
Isto ocorre porque o crcere, inegavelmente, uma comunidade de frustraes, que se estende a todos aqueles que dele participam, direta ou indiretamente (19).
H tambm a questo indiscutvel de que a populao carcerria formada predominantemente por indivduos advindos das camadas sociais mais baixas, chegando a priso a ser qualificada como um verdadeiro campo de concentrao para pobres (20).
Essa triste realidade de encarcerar pessoas dos setores sociais menos favorecidos e de quociente intelectual mais baixo retrata fielmente um outro objetivo pretendido pela sociedade, de uma forma geral, atravs da pena privativa de liberdade, que a chamada justia seletiva, a qual segrega da comunidade esses indivduos no adaptados competio que ela prpria impe (21).
Alm disso, a pena de priso serviria para o propsito de retirar do meio social pessoas tidas como extremamente perigosas, que no pertencem ao padro de vida do cidado de bem e, assim, so qualificadas como bandidos e indigentes, seja por cometer delito de furto por um pote de manteiga, seja por dormir em praas ou utilizar entorpecentes para sustentar o vcio das drogas.
Sendo assim, j se pode verificar o tamanho caos que assola o sistema prisional e, principalmente, a fiel e correta execuo da pena privativa de liberdade nas penitencirias das grandes cidades brasileiras, necessitando, urgentemente, de alternativas e solues para a presente problemtica. Nesse sentido, faz-se importante aqui colacionar julgado do Egrgio Superior Tribunal de Justia (STJ), no qual se determinou a soltura dos presos de determinado presdio ante as ilegalidades presentes no mesmo:
RHC EXECUO PENAL SISTEMA PENITENCIRIO. O sistema penitencirio, no campo da experincia, certo, no traduz, com fidelidade a expresso normativa. No s no Brasil. Tambm em outros pases. A lei encerra dois propsitos: a) programtico; b) pragmtico. O primeiro encerra princpios que buscam realizao. O segundo disciplina as relaes jurdicas no mbito ftico. A LEP programou o estilo de execuo. O pas, entretanto, no conseguiu esse desideratum. H descompasso entre o dever-ser e o ser. As razes do desencontro (acontece tambm com outras leis) afastam a ilegalidade de modo a determinar a soltura dos internos do presdio (STJ RHC n 2.913/PR Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro julgado em 16.11.1993 rgo Julgador: Sexta Turma) (22).
116
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
3 POSSVEIS ALTERNATIVAS E SOLUES
Por todos esses problemas presentes nas penitencirias brasileiras, logo se compreende que a busca de solues para erradicar, ou pelo menos reduzir o caos instalado, vem se tornando a grande misso do Estado e daqueles interessados no assunto.
Durante o Simpsio Internacional sobre Penas Alternativas e Sistema Penitencirio, realizado em So Paulo, no ano de 1997, foi proclamada a Carta de So Paulo, cujo contedo recomenda: que o Direito Penal deve intervir em conformidade com o princpio da mnima interveno penal; que a pena privativa de liberdade deve ser aplicada apenas aos crimes de maior gravidade; que seja adotada medidas alternativas priso, vez que tendncia moderna e mais justa, contribuindo reinsero social do condenado na comunidade e paz social (23).
Outro exemplo de proposta de diretrizes, mas agora para orientar a execuo penal, foi o projeto lanado pela Assemblia Legislativa do Esprito Santo, em 2006, intitulado Pacto pela Paz. As concluses desse projeto foram publicadas em um livro, o qual apresenta estas diretrizes como as principais: otimizar a utilizao de recursos pblicos; estimular a capacidade empreendedora dos reclusos; fixar prazos para a retirada completa de presos das delegacias; e definir o nmero mximo de condenados sob a vigilncia de cada agente penitencirio (24).
Os Pactos Internacionais, bem como a LEP, so igualmente maravilhosos em seus dispositivos. Contudo, no passam de presunes legais, pois no so cumpridos como efetivamente se pretendia.
Assim, no se pode pretender acabar com todos os problemas surgidos no sistema prisional brasileiro com apenas declaraes de comportamentos e condutas que devem seguir os agentes envolvidos neste contexto. preciso que se tome conscincia da importncia da resoluo racional e efetiva da questo referente aos presos, posto que se refere tambm prpria sociedade (25).
117
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
Ou seja, a busca por solues somente pode lograr xito quando o Estado considerando todos os Poderes e os entes polticos da Federao acordar para a questo e a sociedade se envolver nesse ideal. Tolerar ou minimizar a questo, deleg-la ou reserv-la aos tcnicos, ou, ainda, sustentar o retorno ao retribucionismo puro e absoluto no resolvero de forma alguma a problemtica.
H que se ressaltar outro importante assunto que diz respeito ao constante propsito de reformas de presdios, de construo de novas penitencirias e de criao de mais vagas para os infratores da lei. Entretanto, essa atitude, sem a racionalizao dos custos e da arquitetura penitenciria, tampouco da tomada de conscincia pela sociedade e da concretizao por parte do Governo das disposies expressas na Constituio Federal, nos tratados internacionais e na LEP, de nada adiantar para a soluo da crise em foco.
Maia Neto analisa que o fundamental no a construo de mais presdios, mas sim a de usar a priso ou a pena privativa de liberdade com mais racionalidade, ou seja, como ultima ratio das medidas repressivas estatais (26).
Nessa linha, muitos autores sustentam que hoje o direito penal deve se balizar sobretudo pelo princpio da mnima interveno e pelo seu carter subsidirio, os quais decorrem do superprincpio da dignidade humana.
Compreende-se que a interveno mnima cuida de determinar aos seus destinatrios certos comportamentos imprescindveis para a justa aplicao do direito: de um lado, ao legislador cabe se abster de incriminar qualquer conduta, isto , de retirar o carter de ilcito penal do fato (descriminalizao); de outro lado, ao intrprete das normas penais incumbe a funo de analisar se determinada situao pode ser resolvida com a atuao de outros ramos da cincia jurdica, como, por exemplo, na esfera cvel ou na administrativa (diversificao), e a pena, assim, ser evitada o mximo possvel, apenas incidindo quando evidentemente se mostrar como nico e ltimo recurso para a proteo do bem jurdico (despenalizao) (27).
118
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
Com o enfoque no pensamento da interveno mnima, Ral Cervini elabora pautas operativas de como deveriam ser as interpretaes e aplicaes do direito penal, sendo estas as mais importantes para a anlise em destaque:
I) O juiz deve prescindir da pena ou imp-la abaixo do limite legal quando ela viola o direito vida ou dignidade do indivduo ou se mostra manifestamente excessiva; II) Devem descriminalizar-se aquelas condutas previstas nos textos penais que aparecem opostas a claros mandatos constitucionais; III) Deve adequar-se por via obrigatria a normativa penal aos textos internacionais incorporados por ratificao ao direito interno; IV) Deve retirar-se dos textos penais todas as expresses do chamado direito penal do autor, nas quais a responsabilidade origina-se nas caractersticas pessoais do imputado; V) Deve-se excluir do sistema penal a chamada criminalidade de bagatela; VI) Urge descriminalizar as condutas que j no so consideradas indesejveis; VII) Devem ser excludas dos cdigos penais as condutas para as quais bastam como meios de controle outros procedimentos menos enrgicos do que as reaes penais (28).
Joo Batista Herkenhoff tambm destaca a importncia da reduo drstica do aprisionamento como forma eficaz de diminuio da violncia da priso (29), uma vez constatada a influncia negativa desta sobre o recluso.
Ferrajoli, por sua vez, defende que haja o limite mximo o qual humanamente tolervel da pena privativa de liberdade de 10 anos (30), representando, dessa forma, um objetivo de todo modo aceitvel no que tange reforma penal e superao da priso como resposta principal para os crimes. Todavia, diz tambm que o carter privativo da pena no pode ser alterado, posto que condio de sua legalidade, determinao e certeza (31).
fato notrio que muitas prises no so boas e teis para a finalidade ressocializadora, embora haja algumas piores que outras. No entanto, tendo em vista que a abolio da instituio prisional uma utopia e longe de se apresentar efetivamente como melhor soluo para a problemtica, deve-se atentar realmente para a adoo de uma sria poltica de reduo drstica da aplicao da pena de priso (32).
E nesse ponto aparece como importantes alternativas para a crise a aplicao das medidas no-privativas de liberdade, tais como as penas restritivas de direitos (tambm denominadas de penas alternativas) dispostas no art. 43 do Cdigo Penal brasileiro (CP), com a redao dada pela Lei n 9.714/1998 (33).
119
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
As vantagens decorrentes da aplicao das penas alternativas, bem como suas desvantagens, foram analisadas detalhadamente por Damsio de Jesus. Claro est que seus pontos positivos superam aqueles negativos, os quais ainda so sustentados por uma pequena parte da doutrina. Sobre as vantagens, cabe relevar que as penas alternativas:
I)
evitam a aplicao da pena privativa de liberdade nas infraes
penais de menor potencial ofensivo; II) III) diminuem o custo do sistema repressivo; permitem ao juiz adequar a reprimenda penal gravidade
objetiva do fato e s condies pessoais do preso; IV) no afastam o condenado do convvio com sua famlia ou comunidade, tampouco de suas responsabilidades; V) afastam o preso do contato com outros delinqentes;
VI) reduzem o nmero de reincidncia (34).
Nesse sentido, compreende-se que a aplicao das penas alternativas representa um grande avano para diminuir o ndice de autores de infraes submetidos pena privativa de liberdade, e, por via de conseqncia, aos efeitos nefastos que a priso acarreta ao sujeito.
De acordo com Pierangeli e Zaffaroni, o ideal seria que os cdigos utilizassem de uma enorme variedade de penas alternativas ou cumulativas, possibilitando ao juiz criminal eleger a soluo mais adequada realidade de possibilidades (35). Por isso, entende-se que muito importante a positivao de um rol vasto de penas alternativas priso, para que assim se traduza no caso concreto o verdadeiro sentido da justia.
Damsio de Jesus, analisando as legislaes estrangeiras, vislumbra um amplo leque de penas alternativas cominadas nos mais variados ordenamentos jurdicos, sendo estas as que mais se sobressaem: tratamento de choque (probation de choque; sharp short schock), que so penas privativas de liberdade de curta durao (por exemplo, de 5, 10 ou 20 dias de priso); pedido de desculpas vtima (por exemplo, em um discurso pblico de pelo menos um minuto); exlio rural (boot camp), que se trata de isolamento em rea rural; manter distncia da vtima (espao determinado pelo juiz); proibio temporria de uso de carto de crdito;
120
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
compromisso de manter tranqilidade e boa conduta; aoite em pblico ou em lugar fechado; e penas humilhantes, como, por exemplo, levar o ladro cartaz em via pblica que demonstra a confisso do crime (36).
Sendo assim, caso se constate efetivamente que a concretizao das disposies contidas na LEP implica um gasto enorme e invivel, ento indiscutvel viabilizar recursos para reduzir o nmero de encarcerados (37). E, seguindo esse pensamento, que j se pode buscar na aplicao das penas alternativas a soluo para a problemtica, porm que sejam aplicadas de forma condizente com os direitos fundamentais do indivduo e com vistas reprovao e preveno do crime, bem como, num maior sentido, ressocializao do autor.
As penas alternativas tambm seriam eficazes naqueles casos em que no haveria necessidade, pelo prprio modo de vida do autor do crime, em segreg-lo da sociedade e almejar sua reinsero social. Isto porque, um banqueiro, por exemplo, que detm uma boa condio de vida, no necessitaria da privao de liberdade para que a pena produzisse seus efeitos, mas sim o melhor seria compeli-lo a ressarcir o dano causado, alm de aplicar-lhe uma multa em seu patamar mximo (art. 60, caput e 1, do CP). Alm disso, poder-se-ia imaginar que o melhor seria aplicar-lhe uma pena de prestao pecuniria em favor de entidade pblica filantrpica (art. 45, 1, do CP), ou, ainda, uma pena de perda de bens e valores, na qual o destino dos mesmos ser em favor do Fundo Penitencirio Nacional (art. 45, 3, do CP).
Todavia, a sociedade ainda acredita que essas alternativas priso se tratam verdadeiramente de um estmulo impunidade. E nessa questo que deve se enfocar os debates sobre a eficcia das penas alternativas, mostrando opinio pblica que tais alternativas consistem num modelo substitutivo de punio, concentrada principalmente na reinsero social do apenado mediante sua no excluso da comunidade, do seio familiar e das responsabilidades que detm.
Alm das penas restritivas de direitos, existem outros substitutivos penais, tais como a suspenso condicional da pena (sursis), prevista nos arts. 77 e seguintes do Cdigo Penal; o livramento condicional, que dispe os arts. 83 e seguintes do CP; a pena de multa, expressa nos arts. 49 e seguintes do CP; e a suspenso condicional do processo, que est prevista no
121
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
art. 89 da Lei n 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cveis e Criminais). De fato, todos esses substitutivos penais tambm apresentam grandes vantagens em relao pena de priso, devendo ser igualmente considerados pelos juzes criminais brasileiros.
J sobre a abolio do direito penal e de suas instituies, apesar de ser um pensamento utpico, para os abolicionistas, a batalha pela eliminao da pena privativa de liberdade no se trata de uma utopia. A insatisfao que a cultura jurdica vem manifestando sobre esse tipo de pena, a qual vai se tornando cada dia mais obsoleta por todas as caractersticas negativas j expostas, um demonstrativo claro da luta pelo fim do sistema penal como resposta para os delitos.
Contribuindo para o fortalecimento da presena do princpio da interveno mnima cada vez mais marcante no direito penal, Eugenio Ral Zaffaroni entende que o direito penal mnimo j se apresenta como passagem ou trnsito para o abolicionismo (38).
O abolicionismo, portanto, se trata de uma grande corrente de propostas poltico-criminais, no sentido de negar a legitimidade do atual sistema penal e de qualquer outro tipo de sistema penal formal e abstrato que possa advir como soluo das avenas. Por isso mesmo, tal movimento postula a abolio radical dos sistemas penais e a soluo dos conflitos por instncias ou mecanismos informais (39).
De qualquer forma, pretender a abolio imediata e radical do direito penal como um todo uma tarefa atualmente longe de ser alcanada. Entretanto, o pensamento no sentido de adotar o critrio de eliminao da pena privativa de liberdade at seis meses de condenao (40) e a utilizao cada vez em menor escala da priso, de acordo com as metas traadas pelas Regras de Tquio, j so claras visualizaes de tendncias dos adeptos da abolio do direito penal. Percebe-se, assim, que, no fundo, os abolicionistas no querem uma abolio imediata do direito penal, mas sim que sejam realizadas certas medidas de conteno, tal como a aplicao da pena de priso somente em ultima ratio (41).
Observao interessante tambm a tecer a respeito de alguma parte doutrinria, embora minoritria, defender a aplicao de penas cruis e desumanas, bem como da pena capital.
122
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
Araujo Junior, em sua obra, faz citao de autor que clama pela exigncia da pena de morte como resposta aos delitos, revelando-se como um remdio social urgente (42).
Os ideais iluministas de afirmao da pena como necessria e mnima dentre as possveis, inspirando diplomas legais naquela poca positivados, um pensamento profundamente revolucionrio e moderno. E, nessa mesma linha, devem seguir as atuais cartas constitucionais, no devendo mais prosperar as penas de morte e cruis sob hiptese alguma.
Alis, se fosse com a severidade das penas que se erradicaria a criminalidade, ento bastaria estabelecer a pena de morte, tal como prope Augusto Barreto, que os delitos desapareciam com a s ameaa de sua aplicao (43).
No que tange atividade do magistrado no caso concreto, isto , quando do momento de aplicar a pena ao acusado, deve-se ter sempre em mente os propsitos que a pena possui no sistema penal brasileiro. Ou seja, a pena deve ser suficiente e necessria reprovao e preveno do crime (art. 59, CP), e nesse sentido o juiz deve se pautar, sem se olvidar, em nenhum momento, dos importantes princpios adotados, explcita ou implicitamente, pelo legislador ptrio, tais como o da humanidade das penas e o da dignidade da pessoa humana.
Caminhando nessa linha, a jurisprudncia brasileira tem at aceitado que o magistrado possa realizar a dosimetria abaixo da pena mnima legal, consoante principalmente o que rege o princpio da humanidade das penas (44).
Alm disso, percebe-se igualmente o fundamental papel que o princpio da insignificncia que est intimamente ligado interveno mnima e ao carter subsidirio do direito penal tem desempenhado nos diferentes casos apresentados aos intrpretes do direito. De fato, muitas vezes so incriminadas pessoas por condutas que so incapazes de atingir o bem jurdico protegido pela norma penal, o que, indubitavelmente, no pode prosperar, eis que a insignificncia da leso jurdica deve ser considerada atpica. A esse respeito, cabe frisar o disposto no informativo de n 354 do STF, na parte relativa deciso em HC n 84412 MC/SP:
123
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
O princpio da insignificncia [...] apoiou-se, em seu processo de formulao terica, no reconhecimento de que o carter subsidirio do sistema penal reclama e impe, em funo dos prprios objetivos por ele visados, a interveno mnima do Poder Pblico em matria penal. Isso significa, pois, que o sistema jurdico h de considerar a relevantssima circunstncia de que a privao da liberdade e a restrio de direitos do indivduo somente se justificaro quando estritamente necessrias prpria proteo das pessoas, da sociedade e de outros bens jurdicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade (45).
No se pode esquecer de considerar a questo da terceirizao dos presdios como possvel alternativa para a crise do sistema penitencirio, cujos argumentos contrrios e favorveis foram analisados por Edmundo Oliveira e Carlos Eduardo Lemos, tendo este ltimo concludo que a terceirizao se trata de uma boa maneira de aperfeioar o sistema penitencirio brasileiro, mormente em razo da dificuldade do Estado em implantar todos os dispositivos da LEP (46).
4 CONSIDERAES FINAIS
Por todas as possveis alternativas e solues apresentadas, relevante reiterar que nada ser realmente um meio eficaz de conseguir mudanas positivas na crise do sistema prisional sem que haja a participao ativa da sociedade nesse propsito, assim como disciplina o item 24 da Exposio de Motivos da LEP.
Todo esforo concentrado visando erradicao ou atenuao da crise, bem como das causas intrnsecas ao cometimento dos delitos, passando pelos campos social, poltico e econmico, ser profundamente vlido.
O ideal de tornar a execuo penal mais humana, em condies propcias de reaproximar o condenado futura vida livre na sociedade, o sentimento moderno que deve pautar a poltica criminal brasileira. Alm disso, a finalidade ressocializadora deve ser ressuscitada como meta a ser atingida na execuo da pena.
NOTAS
124
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
1. Nesse sentido: BITENCOURT, C. R. 2004, p. 168-170. 2. Nesse sentido, conferir principalmente: BEMFICA, F. V. 1995, p. 289; FERRAJOLI, L. 2002, p. 331; LEAL, C. B. 2001, p. 22-23; RAMALHO, J. R. 2002, p. 137; SILVA, E. L. e. 1991, p. 33-34. 3. Ver: S, G. R. de. 1996, p. 108. 4. Casos que ocorreram, respectivamente, em fevereiro de 2007 e outubro de 2002. 5. GOMES, L. F. 2005, p. 2. 6. Nesse sentido: ARAUJO JUNIOR, J. M. de. 1991, p. 71. 7. Vide notcia publicada no jornal A Gazeta, de 16 de setembro de 2008, p. 11. 8. RAMALHO, J. R. 2002, p. 132 e 139-141. 9. LEMOS, C. E. R. 2007, p. 42. 10. MESQUITA NETO, P. de; SALLA, F. 2007, p. 341 e 346. 11. DELMANTO, C. et al. 2002, p. 76. 12. Vrios autores identificam os problemas predominantes no sistema prisional, destacandose: BITENCOURT, C. R. 2004, p. 156-157; DELMANTO, C. et al. Op. cit., p. 76; FERRAJOLI, L. 2002, p. 330-331; HERKENHOFF, J. B. 1995, p. 37-38; LEAL, C. B. 2001, p. 58; LEMOS, C. E. R. 2007, p. 32-33; S, G. R. de. 1996, p. 173-174; WACQUANT, L. 2001, p. 11. 13. WACQUANT, L. Op. cit., p. 11. 14. Nesse sentido: BITENCOURT, C. R. 2004, p. 202. 15. Conferir: SILVA, E. L. e. 1991, p. 40. 16. BITENCOURT, C. R. Op. cit., p. 185-187. 17. BITENCOURT, C. R. Idem, p. 183. 18. Nesse sentido: CERVINI, R. 1995, p. 41. 19. Nesse sentido: BARATTA, A. 1991, p. 261. 20. Assim como definiu Loc Wacquant em As prises da misria, 2001, p. 11. 21. Conferir nesse sentido: PIERANGELI, J. H.; ZAFFARONI, E. R. 2004, p. 748. 22. DELMANTO, C. et al. 2002, p. 76. 23. KUEHNE, M. 2003, p. 51-52. 24. LEMOS, C. E. R. 2007, p. 74-75.
125
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
25. J salientava Roxin que a dupla polaridade entre indivduo e sociedade constitui o ponto de tenso de qualquer problemtica social, e o que a comunidade faz pelo infrator tambm o mais proveitoso para ela (ROXIN, C. 1993, p. 45). 26. MAIA NETO, C. F. 1998, p. 238. 27. Nesse sentido: CAPEZ, F. 2005, p. 21-22; SILVA, E. L. e. 1991, p. 41. 28. CERVINI, R. 1995, p. 114-123. 29. HERKENHOFF, J. B. 1995, p. 36. 30. Penso que a durao mxima da pena privativa de liberdade, qualquer que seja o delito cometido, poderia muito bem reduzir-se, a curto prazo, a dez anos e, a mdio prazo, a um tempo ainda menor; e que uma norma constitucional deveria sancionar um limite mximo, digamos, de dez anos (FERRAJOLI, L. 2002, p. 332). Na mesma linha, Eduardo Correia analisa que a pena alm dos 10 anos perde a sua eficcia ressocializadora, abandonando-se o objetivo da pena (ALBERGARIA, J. 1992, p. 36). 31. FERRAJOLI, L. 2002, p. 337. 32. Ver: BARATTA, A. 1991, p. 254. 33. No se pode olvidar tambm de demais diplomas legais que prevem e disciplinam as penas alternativas, principalmente as chamadas Regras de Tquio. 34. Nesse sentido: JESUS, D. E. de. 2000, p. 30-31. 35. PIERANGELI, J. H.; ZAFFARONI, E. R. 2004, p. 749. 36. JESUS, D. E. de. 1998, p. 151-153. 37. PIERANGELI, J. H.; ZAFFARONI, E. R. 2004, p. 758. 38. Nesse sentido: ZAFFARONI, E. R. 1991, p. 105-106. 39. ZAFFARONI, E. R. Idem, p. 89. 40. Conferir: OLIVEIRA, E. 1996, p. 291. 41. Nesse sentido: SILVA, E. L. e. 1991, p. 38. 42. Assim escreve Augusto Dutra Barreto: Temos que agir imediatamente e acionar armas mais fortes. A maioria dos brasileiros, s vezes comovida, outras vezes voltada pelo sangue dos inocentes, derramado a todo instante, exige a pena de morte (ARAUJO JUNIOR, J. M. 1991, p. 73). 43. Nesse sentido: LEAL,C. B. 2001, p. 22-23. 44. Ver: LEMOS, C. E. R. 2007, p. 32.
126
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
em:
45.
Disponvel
<http://www.stf.gov.br/arquivo/informativo/documento/informativo354.htm>. Acesso em: 06 out. 2008. 46. Nesse sentido: LEMOS, C. E. R. 2007, p. 92-95.
REFERNCIAS
ALBERGARIA, Jason. Das penas e da execuo penal. Belo Horizonte: Del Rey, 1992.
ARAUJO JUNIOR, Joo Marcello. Os grandes movimentos da poltica criminal de nosso tempo aspectos. In: _____ (org.). Sistema penal para o terceiro milnio (atos do Colquio Marc Ancel). 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 65-79.
BARATTA, Alessandro. Resocializacin o control social por um concepto crtico de reintegracin social del condenado. In: ARAUJO JUNIOR, Joo Marcello (org.). Sistema penal para o terceiro milnio (atos do Colquio Marc Ancel). 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 251-265.
BEMFICA, Francisco Vani. Da lei penal, da pena e sua aplicao, da execuo da pena. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Falncia da pena de priso: causas e alternativas. 3. ed. So Paulo: Saraiva, 2004.
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal parte geral. 8. ed. rev. e atual. de acordo com as Leis n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 10.763/2003, 10.826/2003 e 10.886/2004. So Paulo: Saraiva, 2005.
CERVINI, Ral. Os processos de descriminalizao. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
127
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
DELMANTO, Celso et al. Cdigo penal comentado. 6. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razo: teoria do garantismo penal. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
GOFFMAN, Erving. Manicmios, prises e conventos. 7. ed. So Paulo: Perspectiva, 2001.
GOMES, Luiz Flvio. Penas e medidas alternativas priso: doutrina e jurisprudncia. 2. ed. rev., atual. e ampl. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
______. Direito penal do inimigo (ou inimigo do direito penal). Revista Jurdica Eletrnica UNICOC. Ribeiro Preto, ano 2, n 2, 2005. Disponvel em:
<http://www.revistajuridicaunicoc.com.br/midia/arquivos/ArquivoID_47.pdf>. Acesso em: 27 set. 2008.
HERKENHOFF, Joo Batista. Crime: tratamento sem priso. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995.
JESUS, Damsio Evangelista de. Penas alternativas: anotaes Lei n 9.714, de 25 de novembro de 1998. 2. ed. So Paulo: Saraiva, 2000.
______. Novssimas questes criminais. So Paulo: Saraiva, 1998.
KUEHNE, Maurcio. Lei de execuo penal anotada. Vol. 1. 3. ed., 3. tir. Curitiba: Juru, 2003.
LEAL, Csar Barros. Priso: crepsculo de uma nova era. 2. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.
LEMOS, Carlos Eduardo Ribeiro. A dignidade humana e as prises capixabas. Vitria: Univila, 2007.
128
Revista Eletrnica Acadmica de Direito
Law E-journal
PANPTICA
MAIA NETO, Cndido Furtado. Direitos humanos do preso: Lei de Execuo Penal, Lei n 7.210/84. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
MESQUITA NETO, Paulo de; SALLA, Fernando. Uma anlise da crise de segurana pblica de maio de 2006. In: Revista Brasileira de Cincias Criminais. Ano 15, n 68, setembrooutubro de 2007. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 309-351.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Execuo penal: comentrios Lei n 7.210, de 11-7-1984. 8. ed. rev. e atual. So Paulo: Atlas, 1997.
OLIVEIRA, Edmundo. Poltica criminal e alternativas priso. Rio de Janeiro: Forense, 1996.
PIERANGELI, Jos Henrique; ZAFFARONI; Eugenio Ral. Manual de direito penal brasileiro. 5. ed. ver. e atual. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
RAMALHO, Jos Ricardo. O mundo do crime: a ordem pelo avesso. 3. ed. So Paulo, IBCCRIM, 2002.
ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. 2. ed. Lisboa: Vega, 1993.
S, Geraldo Ribeiro de. A priso dos excludos: origens e reflexes sobre a pena privativa de liberdade. Rio de Janeiro: Diadorim Editora, 1996.
SILVA, Evandro Lins e. De Beccaria a Filippo Gramatica. In: ARAUJO JUNIOR, Joo Marcello (org.). Sistema penal para o terceiro milnio (atos do Colquio Marc Ancel). 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 17-43.
WACQUANT, Loc. As prises da misria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
ZAFFARONI, Eugnio Ral. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 1991.
129
Você também pode gostar
- Resumo Sobre Concurso de Pessoas - Direito Penal II - FNDDocumento8 páginasResumo Sobre Concurso de Pessoas - Direito Penal II - FNDkaborgesAinda não há avaliações
- Nocoes de CriminalisticaDocumento62 páginasNocoes de CriminalisticaFelipe Rodrigues100% (2)
- Resposta À Acusação - Principio InsignificânciaDocumento4 páginasResposta À Acusação - Principio InsignificânciaPense DireitoAinda não há avaliações
- Uso Seletivo Da ForçaDocumento118 páginasUso Seletivo Da ForçaDom K. Borges60% (5)
- Criminologia - DeLTADocumento46 páginasCriminologia - DeLTAMatheus Magalhães'100% (1)
- Resenha Gestão em Segurança Pública - A Estrutura Do Sistema Brasileiro de PoliciamentoDocumento5 páginasResenha Gestão em Segurança Pública - A Estrutura Do Sistema Brasileiro de PoliciamentoFulano SantosAinda não há avaliações
- Exercício 05 - Crimes Hediondos II-ADocumento4 páginasExercício 05 - Crimes Hediondos II-ADavid LopesAinda não há avaliações
- Live de Sexta Feira PenalcafejackDocumento6 páginasLive de Sexta Feira Penalcafejackluanabernardo053Ainda não há avaliações
- ORDEM ILEGAL MILITAR - Teoria Das Baionetas Cegas X Teoria Das Baionetas InteligentesDocumento19 páginasORDEM ILEGAL MILITAR - Teoria Das Baionetas Cegas X Teoria Das Baionetas InteligentesENOEL6Ainda não há avaliações
- 030 Espelho Das Questoes Dissertativas Aula ExtraDocumento6 páginas030 Espelho Das Questoes Dissertativas Aula ExtraDougue FanyAinda não há avaliações
- Anuario 2022 InfograficoDocumento2 páginasAnuario 2022 InfograficoAlex MonteiroAinda não há avaliações
- Questões Maria Da PenhaDocumento2 páginasQuestões Maria Da PenhaAlda KoglinAinda não há avaliações
- Abuso Sexual de Crianças E Adolescentes Suas Consequencias Psicológicas E TratamentoDocumento49 páginasAbuso Sexual de Crianças E Adolescentes Suas Consequencias Psicológicas E TratamentoAyra Assessoria ContabilAinda não há avaliações
- Eb Ciber PDigital2018Documento170 páginasEb Ciber PDigital2018Soraia LourencoAinda não há avaliações
- Dia 01Documento20 páginasDia 01Luisa Caroline CarvalhoAinda não há avaliações
- 15 Peça Resposta À AcusaçãoDocumento18 páginas15 Peça Resposta À AcusaçãoMESTRE CONTRUTORAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil No Direito de Família - Ruy RosadoDocumento17 páginasResponsabilidade Civil No Direito de Família - Ruy RosadoHELMOBRITOAinda não há avaliações
- Das ProvasDocumento6 páginasDas ProvasRoberson GranjasAinda não há avaliações
- Boletim Unificado 51329569Documento3 páginasBoletim Unificado 51329569Augusto InácioAinda não há avaliações
- Habeas Corpus Perante TRF - Fraude em VestibularDocumento31 páginasHabeas Corpus Perante TRF - Fraude em VestibularBruno Artero VilelaAinda não há avaliações
- Esquema de Estudo - Policia Penal DF (Antigo Agepen) : Prof. Ravan Leão ADSUMUS TRANSMISSÃO 061 985098848Documento10 páginasEsquema de Estudo - Policia Penal DF (Antigo Agepen) : Prof. Ravan Leão ADSUMUS TRANSMISSÃO 061 985098848Marcos Roberto Leite LiraAinda não há avaliações
- 299 A Adocao Ilegal Ou Adocao A Brasileira de Criancas e AdolescentesDocumento19 páginas299 A Adocao Ilegal Ou Adocao A Brasileira de Criancas e AdolescentesAlice Moraes Alice Moraes100% (1)
- Agravo em Execução - Contra Indeferimento de Progressão de RegimeDocumento4 páginasAgravo em Execução - Contra Indeferimento de Progressão de RegimeGilfredo MacarioAinda não há avaliações
- Cronograma - Alvo 03Documento2 páginasCronograma - Alvo 03Nayara LimaAinda não há avaliações
- TEORIA DO CRIME - AULA 2 Sujeitos e Objetos Do CrimeDocumento12 páginasTEORIA DO CRIME - AULA 2 Sujeitos e Objetos Do CrimeJOAO PAULO DE OLIVEIRA FERNANDESAinda não há avaliações
- Pa (Santarem - Atacado NADIR) 02 A 08 Nov 2021 A3 2PGS DIGITALDocumento2 páginasPa (Santarem - Atacado NADIR) 02 A 08 Nov 2021 A3 2PGS DIGITALElton RenanAinda não há avaliações
- Consentimento E Acordo Direito Penal: Manuel Da Costa AndradeDocumento57 páginasConsentimento E Acordo Direito Penal: Manuel Da Costa AndradeSara AssisAinda não há avaliações
- 15 Relatório Final de Inquérito PolicialDocumento3 páginas15 Relatório Final de Inquérito PolicialprimotiktokprimotiktokAinda não há avaliações
- Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP: I Seção de Dados AdministrativosDocumento2 páginasPerfil Profissiográfico Previdenciário - PPP: I Seção de Dados Administrativosgusaless67% (3)
- Ultimo Tiro Pppi - Direito PenalDocumento21 páginasUltimo Tiro Pppi - Direito PenalJames SantosAinda não há avaliações