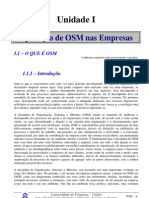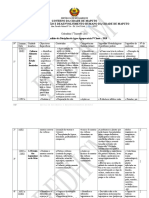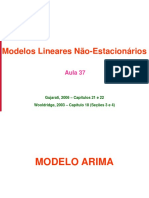Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Claude Lévi Strauss e As Anamorfoses Do Mito
Claude Lévi Strauss e As Anamorfoses Do Mito
Enviado por
Victor Hugo SantanaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Claude Lévi Strauss e As Anamorfoses Do Mito
Claude Lévi Strauss e As Anamorfoses Do Mito
Enviado por
Victor Hugo SantanaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DOSSI: CONSCINCIAS DO MUNDO CLAUDE LVI-STRAUSS
51
Claude Lvi-Strauss e as anamorfoses do mito1
MARIZA WERNECK
Resumo O artigo pretende demonstrar que, ao construir sua cincia, Claude Lvi-Strauss afasta-se das categorias utilizadas pelos estudos tradicionais do mito e cria singulares ferramentas epistemolgicas, sugeridas pela msica, pelas cincias naturais, e pelas artes plsticas. Essas ferramentas, que podemos denominar operadores estticos, iluminam, de forma exemplar, o processo de dissoluo que sofre a matria mtica ao transformar-se no tempo e no espao. Ao estabelecer essa nova forma de pensar o mito, que reconcilia a experincia sensvel com a inteligvel, Lvi-Strauss prope a superao da permanente dicotomia entre saber arcaico e moderno, entre pensamento mgico e cientfico, entre magia e cincia.
1. Este artigo faz parte, com algumas modificaes, da tese de doutorado: Mito e experincia: operadores estticos de Claude Lvi-Strauss, defendida na PUC-SP em novembro de 2002.
Palavras-chave: mito; pensamento mtico; transformaes; anamorfoses; mitolgicas. Abstract The article intends to demonstrate that, when building her science, Claude LviStrauss abandons the categories used by the traditional studies of the myth and creates singular epistemological tools, suggested by the music, by the natural science and by the plastic arts. These tools, which we can denominate aesthetic operators, light up, in exemplary way, the dissolution process that suffers the mythical matter when transforming in the time and in the space. When establishing that new form of thinking, the myth, that reconciles the sensitive experience with the intelligible, Lvi-Strauss proposes to overcome the permanent dichotomy between knowing archaic and modern, between magical and scientific thought, between magic and science.
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
52
MARGEM No 16 DEZEMBRO DE 2002
Key-words: myth; mythical thought; transformations; anamorphous; myth logics.
Aceitamos, pois, a qualificao de esteta, por acreditarmos que a ltima finalidade das cincias humanas no constituir o homem, mas dissolv-lo.
Essa declarao de Claude LviStrauss, inserida em uma famosa polmica que travou com Jean-Paul Sartre, pe em cena a controvertida concepo estruturalista do desaparecimento do sujeito e reafirma, mais uma vez, a vocao profundamente anticartesiana de seu pensamento.2 To retrica na aparncia, essa frase vai ecoar de maneira profunda em sua obra e estender-se sobre todos os campos para os quais dirigiu sua curiosidade intelectual. Pode-se at mesmo dizer, sem medo de errar, que o que define a cincia de Lvi-Strauss como um todo essa imagem de dissoluo, que impregna todos os seus objetos de anlise. Se a estrutura permanente, tudo o mais se desvanece e se transforma: homens, mitos, tempos, cidades, sistemas de parentescos. Para examinar essa questo mais detidamente, a anlise do mito que realizou nos quatro volumes das Mitolgicas, assim como em A via das mscaras, A oleira ciumenta e Histria de Lince, ofe2. Ver a respeito: LVI-STRAUSS, Claude. (1979), Histria e dialtica. In: O pensamento selvagem. Traduo de Maria Celeste da Costa e Souza e Almir de Oliveira Aguiar. So Paulo, Ed. Nacional, pp. 280-306.
rece um interesse particular, na medida em que inverte a perspectiva construda pela cincia do mito ou seja, a de pens-lo com as categorias do logos e pe-se a pensar como ele. Com efeito, a cincia tradicional do mito costuma iniciar seus relatos a partir da narrao de um princpio organizador, identificado no incio dos tempos, ou seja, no prprio momento da ecloso do universo: ultrapassado o caos primordial, anterior a toda criao, inaugura-se o cosmos. Esse princpio organizador pode ser assimilado a um sopro, a uma palavra, a um demiurgo. Harmonioso por excelncia, o cosmos, por tratar-se de obra divina, santificado em sua prpria origem, e a partir da como assegura Mircea Eliade tudo o que perfeito, pleno, harmonioso, ou seja, tudo o que semelhante ao cosmos, passa a pertencer tambm ordem do sagrado. Identificada com a criao do mundo, a cosmogonia passa a constituir-se num modelo exemplar ou arqutipo de todo tipo de criao.3 O aparecimento de um animal, de uma planta, de uma instituio ou de qualquer situao nova, sempre se remetem, nos mitos, a esse modelo:
Os mitos de origem prolongam e completam o mito cosmognico: eles contam como o mundo foi modificado, enriquecido, ou empobrecido.4
3. ELIADE, Mircea. (1972), Mito e realidade. Traduo de Pola Civelli. So Paulo, Perspectiva, p. 25. 4. Ibid., p. 26.
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
DOSSI: CONSCINCIAS DO MUNDO CLAUDE LVI-STRAUSS
53
Aos mitos de origem que fazem parte do patrimnio simblico de todos os povos sucedem-se os que narram a aquisio das tcnicas, da comida, fabricao de artefatos, at desembocarem nos mitos escatolgicos, que narram o final dos tempos. instaurao da ordem seguemse necessariamente perodos de desordem, que lhe so inerentes. Depois desses, em eterno retorno, anuncia-se o advento de uma nova era. Se os mitos encenam a alternncia desses dois estados em suas narrativas, esses mesmos princpios podem ser identificados em outros registros, que remontam aos primrdios da histria humana. Segundo Edgar Morin, a presena do desordenamento, ou hbris, pode ser detectada a partir da descoberta do homo sapiens: o reinado do sapiens corresponde a uma macia introduo da desordem no mundo.5 Fundada sob os auspcios da ordem, a sociedade humana gera, fundamentalmente, erro e desordem. Isso porque o ser que a constitui, esse sapiens-demens, dotado de som e fria, , na bela descrio de Morin,
um ser de afetividade imensa e instvel, que sorri, ri, chora, um ser ansioso e angustiado, um ser gozador, embriagado, exttico, violento, furioso, amante, um ser invadido pelo imaginrio, um ser que conhece a morte e no pode
5. MORIN, Edgar.(1979), O enigma do homem: para uma nova antropologia. Traduo de Fernando de Castro Ferro. Rio de Janeiro, Zahar Editores, p. 115.
acreditar nela, um ser que segrega o mito e a magia, um ser possudo pelos espritos e pelos deuses, um ser que se alimenta de iluses e de quimeras, um ser subjetivo cujas relaes com o mundo objetivo so sempre incertas, um ser submetido ao erro, ao devaneio, um ser hbrico, que produz a desordem.6
Embora se pudesse buscar, indefinidamente, na histria do pensamento, relatos que opusessem ou combinassem ordem e desordem, o que interessa aqui ressaltar a exigncia fundamental de ordem que est na base de todo pensamento, seja ele mtico ou racional, proposio largamente enfatizada por Lvi-Strauss em A cincia do concreto. Mas, se essa exigncia de ordem fundante, seu outro plo, a desordem, tambm est presente na prpria transcrio e organizao dos relatos mticos, fazendo com que se identifique neles, a partir dessa perspectiva, dois gneros literrios distintos. No primeiro deles, guiadas pelo mesmo princpio ordenador presente nas cosmogonias, as narrativas mticas configuram-se como um corpus homogneo, encadeado de forma ordenada e coerente, cuja maior expresso pode ser encontrada na obra de Mircea Eliade. Tudo se passa como se os mitos se apresentassem aos seus coletores devidamente organizados, expressando uma totalidade indivisa. No h evidncias de qualquer elemento desor6. Ibid., p. 116.
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
54
MARGEM No 16 DEZEMBRO DE 2002
denado ou fragmentrio, nem nos mitos, nem em sua forma de exposio. Embora esse tipo de narrativa seja o mais freqente, encontram-se ainda conjuntos de mitos narrados sob a forma de fragmentos, que mais se assemelham a retalhos, em que no predominam nem a lgica, nem a coerncia narrativa. Ilustrando cada um desses modelos com recenses de mitos de origem canadense, Lvi-Strauss denomina, para efeito metodolgico, o primeiro corpus (o unitrio) de clssico, e o segundo (o fragmentrio) de barroco, e identifica, nessas duas formas de narrativa, uma questo particularmente relevante para o mitlogo.7 Com efeito, indaga-se ele, seria oportuno considerar o conjunto desestruturado como uma forma arcaica do mito, que tenha sido posteriormente organizada por sbios e filsofos nativos daquela sociedade ou, ao contrrio, essa forma fragmentada j seria o resultado de um longo processo de deteriorao e desorganizao sofrido pela matria mtica, originalmente coerente e ordenada? Da mesma forma, as formas fragmentrias da epopia teriam sido seu ponto de partida ou sua expresso degradada? Lvi-Strauss indaga-se ainda se esse problema no seria o mes7. LVI-STRAUSS, Claude. (1984), Ordre et desordre dans la tradition orale. In: Paroles donnes. Paris, Plon, p. 150 e ss.; ed. bras., p. 149 e ss. Ver tambm: idem. (1981), Quando o mito se torna histria. In: Mito e significado. Traduo de Antnio Marques Bessa. Lisboa, Edies 70, pp. 55-64.
mo com que se defrontaram os organizadores da vulgata bblica, que trabalharam sobre um material extremamente heterogneo e fragmentado. O que o interessa, evidentemente, no determinar a anterioridade ou posteridade de determinada variante de mito sobre outra, pois j aprendera com Marcel Mauss a no buscar jamais a verso original de um mito, posto que ela no existe.8 Longe de ser original, esse problema recolocado cada vez que se trata de estabelecer as bases metodolgicas de apreenso de um texto pertencente originalmente tradio oral. A maior interveno de Lvi-Strauss nesse terreno foi, certamente, a polmica que travou com Vladimir Propp a respeito da composio do conto maravilhoso. Ao abord-lo, inscreve-se numa ampla linhagem de estudiosos que inclui, entre outros, folcloristas, lingistas, helenistas e medievalistas.9 Para citar apenas um exemplo, colhido na fonte inexaurvel da mitologia grega: Jean-Pierre Vernant identifica a mesma questo nos estudos sobre a obra de Hesodo. Como se sabe, foram Homero e Hesodo que estabeleceram o repertrio cannico das narrativas mticas, o que equivale a dizer que, ainda que
8. Ver a respeito: MAUSS, Marcel. (1992), Manuel dethnographie. Paris, Payot, p. 252. Ver tambm: LVI-STRAUSS, Claude. (1958), La structure des mythes In: Anthropologie structurale. Paris, Plon, p. 240; ed. bras., p. 250. 9. Ver a respeito: DETIENNE, Marcel (org.). (1994), Transcrire les mythologies: tradition, criture, historicit. Paris, Albin Michel.
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
DOSSI: CONSCINCIAS DO MUNDO CLAUDE LVI-STRAUSS
55
seus relatos prolonguem a tradio oral, eles j nos chegaram sob forma literria. So discernveis, em suas obras, a distino de estilos, a utilizao de determinados recursos formais e intenes estticas diferenciadas em cada um dos autores.10 No que diz respeito a Hesodo, e mais especificamente Teogonia, predominou, por muito tempo, uma leitura de seus textos que ressaltava o carter compsito da obra, as incoerncias e aderncias inseridas em diferentes pocas, s vezes incompatveis entre si. Estudos posteriores revelaram, no entanto, a existncia de uma arquitetura interna do texto que em nada fica a dever a um sistema filosfico perfeitamente construdo. Essa perspectiva transforma Hesodo no primeiro pensador do logos, pois prope, segundo Vernant, uma viso geral e ordenada do universo divino e humano.11 Embora celebre a coerncia e a sutileza do sistema filosfico de Hesodo, Vernant acredita que nem por isso sua obra deixa de estar em perfeita sintonia com a linguagem e a forma de pensar do mito.12 Nessa ltima afirmao encontrase, ao meu ver, uma questo quase intransponvel porque contraditria dos estudos sobre mitos: para adentrar plenamente o universo mtico
10. VERNANT, Jean-Pierre. (1992), Razes do mito In: Mito e sociedade na Grcia antiga. Traduo de Myriam Campello. Rio de Janeiro, Jos Olympio. 11. Ibid., pp. 182-183. 12. Ibid., p. 184.
preciso, em primeiro lugar, que se saia dele. Tentando superar esse impasse, Lvi-Strauss, cujo interesse pela mitologia grega foi apenas pontual, vai criar um mtodo em tudo oposto s abordagens cannicas que o antecederam. Seu ponto de partida, tantas vezes anunciado, a certeza de que, na civilizao mecnica no h mais lugar para o tempo mtico seno no prprio homem, e que todo mito uma busca do tempo perdido.13 Pensador selvagem em um mundo desencantado, faz com que se realize, em si mesmo, a grande aventura mtica: durante duas dcadas, deixa-se penetrar pelos mitos, embriaga-se deles, permitindo que pensem entre si, sua revelia. Diz ele:
Durante vinte anos, acordando ao nascer do dia, embriagado de mitos, realmente vivi em um outro mundo. Os mitos impregnavam-me. preciso absorver muito mais deles do que se utiliza!14
E ainda:
preciso incubar o mito durante alguns dias, semanas, s vezes meses, at que, de repente, a centelha brote e que, em determinado detalhe inexplicvel de um mito, se reconhea, modificado, determinado detalhe de um ou-
13. LVI-STRAUSS, Claude. (1973), Lefficacit symbolique, In: Anthropologie structurale deux. Paris, Plon, pp. 225-226; ed. bras., p. 236. 14. Idem. (1988), De prs et de loin. Paris, Odile Jacob, p. 185; ed. bras., p. 170.
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
56
MARGEM No 16 DEZEMBRO DE 2002
tro mito, e que se possa, por esse ngulo, reduzi-lo unidade. Tomado por si s, cada detalhe no obrigado a significar algo, porque no seu relacionamento diferencial que reside sua inteligibilidade.15
minha. Minha terra domina a antiga, que sugada pela minha. Ento a gente vai estar sobre uma nova terra. Agora o planeta est feito; est slido; podese andar nele.16
Para deixar-se impregnar pela matria mtica sem contamin-la, deixarse atravessar por ela, transformando seu corpo e sua mente em simples receptculo, preciso colocar em prtica o exerccio da rverie, aprendida com Rousseau, e que consiste, fundamentalmente, na dupla experincia da fuso csmica e da dissoluo de si. Estado prximo do xtase mstico e do gozo esttico, essa experincia tambm conhecida pelos loucos, por aqueles que, sofrendo de uma profunda alterao de conscincia, so levados a abolir sua histria pessoal a fazer o exorcismo de si e a repetir de maneira delirante o ato cosmognico, ou seja, a reestruturao do mundo. Criando s vezes seres imaginrios, e se recriando por meio deles, o doente se converte no prprio criador do universo. Como demonstra Claude Kappler, na transcrio do relato de um doente, essa reformulao do cosmos , sem sombra de dvida, de natureza mtica:
Posso fazer a terra inteira passar em mim, o tempo todo, porque no h fim. Limpo a matria fazendo-a passar por dentro do meu corpo. Essa matria tem forma porque eu lhe dei uma forma. Pergunto-me se toda a matria no a
15. Ibid., p. 186; ed. bras., p. 171.
Sem temer a aproximao com a loucura, inerente a tal experincia, LviStrauss v nela a via de acesso mais direta e talvez a nica possvel terra do mito. Fundindo-se a ele, pese a pensar como ele. Ao permitir que os mitos o atravessem, tenta capt-los em seu movimento, no importando a forma sob a qual eles se apresentam: estilhaados, fragmentados ou verses mais acabadas, que jamais sero definitivas: o universo mtico est sempre em permanente mutao. A sua estrutura bsica permanece, mas o contedo da clula j no o mesmo, e pode variar. Do mesmo modo, quando um elemento se transforma, os outros se adaptam mudana sofrida pelo primeiro e, por sua vez, tambm se modificam.17 Vale lembrar aqui, mais uma vez, a metfora do caleidoscpio, da qual Lvi-Strauss se serve para dar maior visibilidade sua concepo de pensamento selvagem: basta um movimento sutil para que a roscea formada pelos pequenos cacos de vidro colorido se desfaa e d origem a uma nova configurao. Essa metfora feliz sugere a
16. Cf. KAPPLER, Claude. (1994), Monstros, demnios e encantamentos do fim da Idade Mdia. Traduo de Ivone Castilho Benedetti. So Paulo, Martins Fontes, p. 408. 17. LVI-STRAUSS, Claude; Mito e significado, op. cit., p. 60.
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
DOSSI: CONSCINCIAS DO MUNDO CLAUDE LVI-STRAUSS
57
mesma idia presente em uma frase de Franz Boas, utilizada como epgrafe em A estrutura dos mitos:
Dir-se-ia que os universos mitolgicos so destinados a ser pulverizados mal acabam de se formar, para que novos universos nasam de seus fragmentos.18
da de uma transformao cujo estudo no compete s cincias sociais, mas biologia e psicologia, efetuou-se uma passagem de um estgio em que nada tinha, a um outro em que tudo tinha sentido.19
Optando definitivamente por apreender o mito em sua cintilncia efmera, fragmentria e cambiante, o que tambm fica evidente na forma de transcrev-lo em sua anlise, nem por isso Lvi-Strauss deixa de construir uma obra de pretenso cosmognica. A cosmogonia levistraussiana no se inicia com a tradicional separao da luz e das trevas, mas com um fenmeno de outra ordem: a emergncia da linguagem, expresso mais alta de manifestao do esprito humano, que permitiu ao universo ganhar significado como um todo. O que, de qualquer forma, no deixa de reproduzir um princpio inaugural por excelncia: no incio era o Verbo. No texto que serve de introduo obra de Marcel Mauss, define com preciso os pressupostos desse momento fundante:
Quaisquer que tenham sido o momento e as circunstncias de seu aparecimento na escala da vida animal, a linguagem s pode ter nascido de uma vez. As coisas no puderam passar a significar progressivamente. Em segui18. Idem, La structure des mythes, op. cit., p. 227; ed. bras., p. 237.
No entanto, do fato de o universo ter-se tornado, de um s golpe, significativo, no se depreende que o homem tenha alcanado uma imediata inteligibilidade dele: o universo significou muito antes de que se comeasse a saber o que ele significava. Em seu esforo para compreender o mundo, a humanidade dispe de um excesso de significantes em relao aos significados aos quais pode aplic-los. Da decorre que todo processo de conhecimento, seja de natureza mgica ou cientfica, consiste em tentar reparar essa inadequao:
O que se chama de o progresso do esprito humano e, de qualquer maneira, o progresso do conhecimento cientfico, s pode e s poder sempre consistir em retificar fendas, proceder a reagrupamentos, definir pertinncias e descobrir recurso novos, no seio de uma totalidade fechada e complementar de si mesma.20
Embora tenha recorrido linguagem utilizada pela cincia contempornea, mais particularmente lingstica para elaborar a narrao de seu
19. Idem. (1974), Introduo obra de Marcel Mauss. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. Traduo de Mauro de Almeida. So Paulo, EPU/Edusp, vol. II, pp. 32-33. 20. Ibid., p. 33
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
58
MARGEM No 16 DEZEMBRO DE 2002
Gnesis, a cosmoviso levistraussiana aproxima-se da antiga linguagem da doutrina das correspondncias. O processo de conhecimento s se realiza plenamente quando se decifram as assinaturas escondidas na natureza por um deus criador de enigmas. Nesse momento epifnico, prximo de um milagre, significante e significado se renem e revelam um mundo pleno de sentido. Para ordenar seu mundo mtico, Lvi-Strauss vai buscar, no fundo de sua infncia, um personagem mgico que, no por acaso, confunde-se com a imagem paterna. O pensamento selvagem, diz ele, semelhante a um bricoleur, demiurgo de um mundo onde tudo so cacos e runas, exigindo que sejam reordenadas e classificadas. No se trata de um deus que cria o mundo a partir do nada. Ele apenas o organiza, trabalhando sobre uma matria preexistente. Diferentemente do demiurgo grego, que cria o mundo sensvel a partir da Idia, o demiurgo levistraussiano opera no sentido exatamente contrrio: reintegra, no mundo das idias em que se encastelaram as cincias humanas, a experincia sensvel. O mito, vivido como experincia ntima, no tem necessariamente sentido, mas tem som, cheiro, cor, sabor. E pele. Prosseguindo sua tarefa, o bricoleur ordena o mundo sensvel, elabora inventrios o mais completos possvel, interroga-os, e extrai desse exerccio um conhecimento desinteressado. Classifica plantas e bichos, obedecendo ao mesmo princpio ordenador e classifi-
cador que est na base de toda criao de mundo. A ordem do universo obedece mesma lgica do pensamento. Por isso no deixa escapar nenhum ser ou objeto e assegura-lhe um lugar prprio dentro do sistema da criao, dispondo-o em classes, espcies e gneros. A cada coisa encontrada dirige um encantamento especial e, ao entrelaar inventrios cientficos, artsticos ou mgicos, o bricoleur extrai de tudo isso uma experincia esttica surpreendente, qual levado pelo acaso de combinaes inusitadas. Sensvel forma fragmentria do mito, juntando cacos e runas de sua matria essencial, o bricoleur LviStrauss inicia sua narrativa a partir de um ponto qualquer, um mito de referncia, ao qual d o nome de o desaninhador de pssaros.21 Ponto de partida, mas tambm ponto de chegada, esse mito serve-lhe de fio condutor e, por meio de ampliaes progressivas de seu campo de ao, que denomina contaminaes semnticas, percorre o universo mtico como um todo. Identificado nas Mitolgicas como M1, foi inicialmente localizado por Lvi-Strauss em um canto bororo conhecido por xogobeu, pertencente ao cl paiowe. Conta a histria de um incesto cometido por um jovem ndio com sua me. Ao descobrir a transgresso, o pai decide vingar-se e obriga o filho a realizar trs misses impossveis no ni21. Ver: ibid. (1964), Le cru et le cuit. Paris, Plon, pp. 43-45; ed. bras., pp. 41-43.
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
DOSSI: CONSCINCIAS DO MUNDO CLAUDE LVI-STRAUSS
59
nho das almas. Com a ajuda de uma av feiticeira, que coloca a servio de seu protegido os poderes do colibri, do juriti e do gafanhoto, o jovem consegue realizar com sucesso as exigncias paternas. Frustrado em sua vingana, o pai convida-o, ento, a acompanh-lo na captura de filhotes de arara cujos ninhos se encontram nas encostas dos rochedos. Munido de um basto mgico presente da av , o desaninhador de pssaros consegue livrar-se de todos os perigos, metamorfoseando-se sucessivamente em lagartixa, em quatro tipos diferenciados de pssaros e em borboleta. Depois de muitas aventuras, regressa so e salvo sua aldeia, onde recebido pelo pai com o canto de saudao dos viajantes que retornam, como se nada tivesse acontecido. Disposto a no conceder o perdo nem ao pai, nem aos companheiros que o maltrataram, o heri leva a av para um pas longnquo e belo, e volta para realizar sua vingana. Em uma caada, fazendo-se passar por um veado, utiliza-se de falsos chifres e investe contra o pai, perfurando-o e jogando-o em um lago, onde devorado por peixes canibais. Somente os pulmes da vtima so poupados, e afloram tona dgua, sob a forma de plantas aquticas. Mata ainda todas as esposas do pai, inclusive a prpria me, e, por fim, envia para sua aldeia o vento, o frio e a chuva. A histria no termina aqui. Ao longo dos quatro volumes das Mitolgi-
cas, Lvi-Strauss acompanha o desdobramento do tema e suas mltiplas variaes. O mito se alarga, distende-se, deforma-se, concentra-se, exaure-se. Por ele possvel depreender, entre outras coisas, a toponmia da aldeia bororo, a origem da chuva, do frio, do vento e das plantas aquticas. E ainda a ligao, simblica ou real, entre a imposio do uso do estojo peniano e a regulamentao das relaes entre os sexos. A partir desse mito referencial, mas no fundador, que surgem todos os outros. Ao introduzi-lo, Lvi-Strauss denomina-o ria do desaninhador de mitos. Pea musical composta para uma nica voz, essa ria vai, progressivamente, ampliando-se e modificando-se. Cumprindo a funo, na cena mtica, de um leitmotif, ressurge, em eterno retorno, a cada vez que sua presena invocada, e se refaz, por mais que sua matria mtica tenha sofrido sucessivas transformaes. Essas possibilidades de explorao do mito, em Lvi-Strauss, que tomam por vezes, configurao musical, podem tambm ser identificadas tanto na histria da pintura, quanto na obra botnica de Goethe ou na do zologo escocs DArcy Thompson sob o nome de anamorfoses. Tratam-se de distores de perspectiva que, embora tenham sua origem na Renascena, com Drer e Holbeim, foram reapropriadas pelos surrealistas, por Jacques Lacan na psicanlise e por Jean Cocteau, entre outros artistas contemporneos. Segundo Jurgis Baltrusaitis, historiador da arte que dedicou um livro
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
60
MARGEM No 16 DEZEMBRO DE 2002
ao tema, o jogo de perspectiva conhecido pelo nome de anamorfose consiste em deformar a imagem, at o seu desaparecimento, mas de maneira tal que ela se redireciona, quando observada de um ponto de vista determinado. No se trata de uma deformao pura e simples, mas de uma aplicao particular e rigorosa das leis da perspectiva.22 Para Baltrusaitis, essa forma de conhecimento deriva de um mecanismo do esprito tanto racional quanto potico. Se nasce de uma iluso das formas, nem por isso deixa de ser uma das faces da realidade da histria humana, e as cincias exatas seriam incompletas se no a levasse em conta. Ao mesmo tempo, afirma Baltrusaitis, a experincia das anamorfoses atinge dimenses cosmognicas, na medida em que evoca uma fantasmagoria universal e dramtica. So aberraes nos dois sentidos do termo: sugerem um extravio, uma desordem da razo, e, ao mesmo tempo, um fenmeno tico, que tem por efeito fazer ver os corpos celestes em um lugar e em uma direo onde eles no se encontram verdadeiramente. Elas correspondem ao mundo das aparncias, e possuem inegvel faculdade de transfigurao. Sem jamais usar o termo anamorfose que, em grego, significa transformao , Lvi-Strauss apropria-se de seus princpios e aplica-os aos mi-
tos, ao pesquisar seus sistemas de variaes. Como explica em Como morrem os mitos, estes podem sofrer deformaes at perder a nitidez, mas conservam, de alguma forma, sua substncia mtica, j que as deformaes sofridas no so aleatrias, mas causadas pela aplicao particular de suas leis prprias:
Estas transformaes, que se operam de uma variante outra de um mesmo mito, de um mito a outro mito, de uma sociedade a uma outra sociedade com referncia aos mesmos mitos, ou a mitos diferentes, afetam ora a armadura, ora o cdigo, ora a mensagem do mito, mas sem que este deixe de existir como tal; elas respeitam assim uma espcie de princpio de conservao da matria mtica, em funo da qual qualquer mito sempre poder sair de um outro mito.23
Tudo se passa como se o mito tivesse sido submetido ao reflexo de um espelho deformante. Para ilustrar essa idia, Lvi-Strauss chega a construir uma cmara de espelhos, uma espcie de aparelho ptico, atravs do qual observa o mito:
As coisas se passam como em ptica. Uma imagem percebida exatamente atravs de uma abertura adequada. Mas, se esta se estreita, a imagem torna-se confusa e de difcil percepo. Quando a abertura se reduz a um pon-
22. BALTRUSAITIS, Jurgis. (1984), Anamorphoses les perspectives dpraves. Flammarion, Paris.
23. LVI-STRAUSS, Claude, Comme meurent les mythes, Anthropologie structurae deux, op. cit., p. 301; ed. bras., p. 261.
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
DOSSI: CONSCINCIAS DO MUNDO CLAUDE LVI-STRAUSS
61
to, entretanto, isto , quando a comunicao tende a desaparecer, a imagem se inverte e retoma sua nitidez.24
A experincia, prossegue LviStrauss, utilizada em escolas para demonstrar que os raios luminosos no se propagam de qualquer forma, mas conforme os limites de um campo estruturado. Assim,
se esta experincia [a da anlise de um mito] puder contribuir demonstrao de que o campo do pensamento mtico tambm fortemente estruturado, ela ter alcanado seu objetivo.25
Se Lvi-Strauss no utiliza o termo anamorfose propriamente dito preferindo, em vez dele, falar em sistema de transformaes, ilustra-o de forma particularmente clara. Em Lhomme nu reproduz, como ilustrao de seu mtodo, uma srie de anamorfoses de peixes, retiradas do livro de DArcy Thompson, Forme et croissance. Reafirma-o, ainda, por meio de uma das edies francesas de De perto e de longe, cuja capa exibe a anamorfose cilndrica Amrica, de E. Beck, quadro que se encontra no Museu de Artes Decorativas de Paris. Essa perspectiva anamorftica importante de ser detectada em seu pensamento porque, plasticamente, coloca o mito em movimento, at sua quase dissoluo, idia que, anteriormente, Lvi-Strauss j havia buscado
24. Idem; La geste d Asdiwal, Anthropologie structurae deux, op. cit., p. 223; ed. bras., p. 195. 25. Ibid.; ed. bras., p. 196.
na msica wagneriana, sob a forma do cromatismo, e na fuso csmica, de Jean-Jacques Rousseau. Ainda que se utilize de operadores diversos, o autor das Mitolgicas persegue sempre o mesmo princpio que, segundo ele, rege a estrutura do esprito humano. Mais do que buscar exemplos ao longo da tetralogia, que poderiam localizar, de forma precisa, o uso do procedimento, pode-se sugerir que as Mitolgicas constituem a imensa anamorfose de um mito nico, projetado por Lvi-Strauss em todo o continente americano; em cada variante do mito sua imagem se amplia, esgara-se, exaurese, inverte-se, transforma-se. A aplicao metodolgica desse recurso demonstra, mais uma vez, a curiosa aptido de Lvi-Strauss de pensar por imagens, o que o torna herdeiro de uma longa tradio, presente no s na teoria da narrativa, como na histria do pensamento como um todo. Uma das mais antigas referncias francesas encontra-se no tratado do jesuta Pierre Le Moyne, de 1640, intitulado Peintures morales, o les passions sont represntes par tableaux, par caractres, et par questions nouvelles et curieuses. Essa obra, mais de oitocentas pginas dispostas em trs volumes, vai reorientar de forma significativa os princpios epistemolgicos at ento vigentes, na medida em que, ao introduzir na reflexo a dimenso pictural, reduz a nfase na linguagem e ressalta seus aspectos figurais.26
26. Ver: REISS, Timothy J. (1993), De la littrature franaise. Paris, Bordas.
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
62
MARGEM No 16 DEZEMBRO DE 2002
Jean-Franois Lyotard denomina esse tipo de escritura texto-figural, ou seja, um texto que se d a ver, que construdo, antes de mais nada, para ser visvel. Tomando o partido do imagtico, Lyotard demonstra que todo discurso habitado em seu subsolo por uma forma, uma imagem, que age sobre a superfcie do texto e acrescenta sua significao e racionalidade caractersticas prprias da expresso e do afeto.27 A proximidade com a figura que um texto imag estabelece pode ser obtida no s pela fora plstica de uma palavra, mas tambm pela fora rtmica da sintaxe e da prpria matriz da narrativa.28 Mas o rebus, forma alegrica de adivinhao composta de uma seqncia de desenhos e letras e que literalmente significa com coisas , que melhor ilustra, segundo Lyotard, a articulao da figura com o discurso, pois ele opera a partir de uma subverso dos espaos prprios da imagem e da linguagem. Dito de outro modo, o rebus significaria uma interveno plstica no espao lingstico.29 A tradio do rebus est ligada ao hierglifo egpcio, que opera analogicamente, por meio de imagens de coisas.30 De grande efeito ldico, essa escri27. LYOTARD, Jean-Franois. (1985), Discours, figure. Paris, ditions Klincksieck, p. 15. 28. Ibid. p. 249. 29. Ibid. pp. 295-296. 30. Ver a respeito: HANSEN, Joo Adolfo. (1987), Alegoria, construo e interpretao da metfora. So Paulo, Atual Editora, p. 102.
ta enigmtica esteve em grande voga na Frana, no final do sculo XIX e incio do XX o almanaque Hachette chegou a publicar a verso de um folhetim, Rouletabille, escrito inteiramente sob a forma de rebus. Para Lyotard, esse fascnio do grande pblico por um tipo de linguagem que encerra um contedo cifrado da mesma ordem do que guiou Mallarm, Freud e Czanne em suas pesquisas de vanguarda.31 A esses nomes se poderia acrescentar, certamente, o de Lvi-Strauss, que sempre demonstrou interesse por todo discurso que rene, ao mesmo tempo e no mesmo lugar, uma imagem e um enigma. No por acaso, na rica iconografia de seu pensamento, o rebus, igualmente identificado com o mito, tambm ocupa espao privilegiado. Para ele,
(...) a curiosidade em relao aos mitos nasce de um sentimento muito profundo cuja natureza somos, atualmente, incapazes de penetrar. O que um objeto belo? Em que consiste a emoo esttica? Quem sabe isso que, em ltima instncia, por meio dos mitos, confusamente, buscamos compreender.32
Pensar os mitos como objetos, como coisas e, como tal, internaliz-los. Nisso reside, em suma, a experincia plstica de Lvi-Strauss. Sua escrita imagtica, seu texto figural, que se projeta,
31. LYOTARD, Jean-Franois. op. cit., p. 296. 32. BELLOUR, Raymond. (1976), Entrevista a Claude Lvi-Strauss. In: Elogio de la Antropologia. Traduo paro o espanhol de Carlos Rafael Giordano. Buenos Aires, Ediciones Calden, p. 107.
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
DOSSI: CONSCINCIAS DO MUNDO CLAUDE LVI-STRAUSS
63
seja em quadros narrados em Tristes trpicos retratos e paisagens ou nas colagens e anamorfoses das Mitolgicas, lembra, em alguma medida, a escrita alegrica do barroco. No em sua forma, certamente, mas em seu esprito, no sentido que lhe atribudo por Walter Benjamin: a alegoria pensada como uma violao de fronteiras, uma intromisso das artes plsticas na esfera de representao das artes da palavra.33
Recebido em 8/10/2002 Aprovado em 30/10/2002
33. BENJAMIN,Walter. (1984), Origem do drama barroco alemo. Traduo de Sergio Paulo Rouanet. So Paulo, Brasiliense, p. 199.
Mariza Werneck, professora do Departamento de Antropologia da PUC-SP. E-mail: mmfw@uol.com.br
MARGEM, SO PAULO, No 16, P. 51-63, DEZ. 2002
Você também pode gostar
- Resoluções de Exercícios - Teoria Elementar Dos Números - Edgard Alencar - Capítulo 1Documento86 páginasResoluções de Exercícios - Teoria Elementar Dos Números - Edgard Alencar - Capítulo 1Deígerson Costa100% (3)
- Enciclopedia Da Conscienciologia - 9a Edicao - Volume 21Documento890 páginasEnciclopedia Da Conscienciologia - 9a Edicao - Volume 21Adalberto PereiraAinda não há avaliações
- Papel Do Gerente de Projetos 1 1Documento19 páginasPapel Do Gerente de Projetos 1 1Erik CastroAinda não há avaliações
- ECA - SlideDocumento23 páginasECA - SlideprittysmarianoAinda não há avaliações
- Modelo de POP de Transporte BiologicoDocumento9 páginasModelo de POP de Transporte BiologicoSandra FigueiredoAinda não há avaliações
- Resenha O ContratoDocumento8 páginasResenha O ContratoClarice ZaidanAinda não há avaliações
- As Influências de Rousseau e Napoleão em Simón BolívarDocumento12 páginasAs Influências de Rousseau e Napoleão em Simón BolívarLiliaSilvaMacedoAinda não há avaliações
- MEST ProvaMetCient2017-ProvaADocumento8 páginasMEST ProvaMetCient2017-ProvaAMary PaixãoAinda não há avaliações
- Modelo de Projeto de TCC UFERSADocumento10 páginasModelo de Projeto de TCC UFERSADaniel FrançaAinda não há avaliações
- DM JulianaPinheiro 2016 MEC-dimensionamento de Nave IndustrialDocumento201 páginasDM JulianaPinheiro 2016 MEC-dimensionamento de Nave IndustrialTomás de AlmeidaAinda não há avaliações
- Trabalho Com Os AnjosDocumento7 páginasTrabalho Com Os AnjosSérgio Correia100% (1)
- De Consumidor A CidadãoDocumento2 páginasDe Consumidor A Cidadãoastiages1Ainda não há avaliações
- Conheça A Teoria Bizarra Que Revela A "Verdade" Sobre As Meninas Super Poderosas - AssustadorDocumento4 páginasConheça A Teoria Bizarra Que Revela A "Verdade" Sobre As Meninas Super Poderosas - AssustadorElizeu Nunes Jr.Ainda não há avaliações
- Apost OSM Capitulo I UniforDocumento27 páginasApost OSM Capitulo I UniforkkiccoAinda não há avaliações
- ApresentaçãoDocumento30 páginasApresentaçãoBERNARDO CORTYAinda não há avaliações
- Dosificações 9 Classe 2018 Agropec.Documento5 páginasDosificações 9 Classe 2018 Agropec.rafael chechu100% (1)
- Manual Siadap 2017 2018Documento39 páginasManual Siadap 2017 2018Sandra SousaAinda não há avaliações
- Contagion Chronicles - PTDocumento130 páginasContagion Chronicles - PTEduardo GomesAinda não há avaliações
- Aula 37 - ST IV - Modelos Lineares Não-EstacionáriosDocumento78 páginasAula 37 - ST IV - Modelos Lineares Não-EstacionáriosDaniel SoaresAinda não há avaliações
- Calculo DiferencialDocumento10 páginasCalculo DiferencialRalph AfonsoAinda não há avaliações
- Luto e Serviço SocialDocumento11 páginasLuto e Serviço SocialFlávia DanielleAinda não há avaliações
- Morus Humano Druida LV 1Documento4 páginasMorus Humano Druida LV 1mainstreetfive130822Ainda não há avaliações
- Avaliação de HumanidadesDocumento1 páginaAvaliação de HumanidadesMarcio GuerraAinda não há avaliações
- Crónica 9 - Clara Carlota&Silvia CháDocumento1 páginaCrónica 9 - Clara Carlota&Silvia CháEva FranciscoAinda não há avaliações
- 6 Ra 24Documento451 páginas6 Ra 24Leandro BatistaAinda não há avaliações
- O Efeito Dunning-Kruger - Inferioridade e Superioridade FictíciasDocumento6 páginasO Efeito Dunning-Kruger - Inferioridade e Superioridade FictíciasJox100% (1)
- História Antiga - Passei Direto27a36Documento11 páginasHistória Antiga - Passei Direto27a36gilmar silvaAinda não há avaliações
- Guia Técnico Das Instalações Elétricas para A Alimentação de Veículos ElétricosDocumento60 páginasGuia Técnico Das Instalações Elétricas para A Alimentação de Veículos ElétricosnpfhAinda não há avaliações
- Fernando Pessoa Heterónimos - Ficha InformativaDocumento6 páginasFernando Pessoa Heterónimos - Ficha InformativaAdelaide da CruzAinda não há avaliações
- Física Matemática - Rudi GaelzerDocumento324 páginasFísica Matemática - Rudi GaelzerMarcioAinda não há avaliações