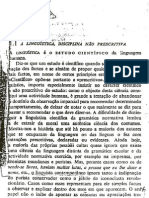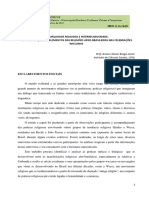Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Arqueologia Final
Arqueologia Final
Enviado por
fagan92Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Arqueologia Final
Arqueologia Final
Enviado por
fagan92Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Universidade Federal de Minas Gerais
Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas
Segunda atividade avaliativa Arqueologia Brasileira
Aluno: Francisco Savoi de Arajo Professor: Andrei Isnardis Curso: Antropologia Perodo: 2 Data: 06/12/2011
Prous e Rodet apontam em seu trabalho como objetivos principais exemplificar diversas modalidades de sepultamentos entre o perodo de ocupao do homem na Amrica do Sul h 12 milnios, na transio do Pleistoceno para o Holoceno, at as vsperas da colonizao europeia. A regio trabalhada foi a dos stios arqueolgicos de Minas Gerais e dos estados vizinhos, at o litoral meridional. Os autores trabalharam em uma linha cronolgica, partindo da ocupao mais antiga na regio de Lagoa Santa at o momento do surgimento dos modernos ceramistas Tupis-guaranis. Por outro lado, Escrcio e Gaspar abordam apenas um tema especfico - o estudo de gnero nas sociedades sambaquieiras - a partir da anlise dos acompanhamentos funerrios. As autoras trabalharam ento com um stio restrito e sob uma cronologia temporal bem delimitada e demarcada, que no caso dos sambaquis estudados, pertencem faixa litornea do Rio de Janeiro no perodo de sete mil anos atrs at o incio da era crist, quando grupos ceramistas, provenientes da Amaznia e do Brasil Central, invadiram e ocuparam o territrio dos pescadores/coletores. Ambos os temas, em sua abordagem, foram influenciados por discusses tericas especficas para cada um. Prous e Rodet partem da cosmologia indgena como fator determinante em seus sepultamentos, podendo influenciar e interferir direta ou indiretamente nestes. Para isso, foi necessria a associao entre os grupos indgenas atuais com os registros arqueolgicos encontrados, de forma a equiparar suas cosmologias com estes. O costume de enterrar os mortos junto aos seus pertences, por exemplo, deve ser interpretado com cuidado. Os autores observam que adornos de penas, sendo um objeto de extrema valia para as populaes indgenas atuais, poderia ser tal qual para as antigas. Sua deteriorao atravs do tempo, todavia, seria to rpida que no poderia ser encontrada pelos arquelogos atuais. Segundo os autores, as estruturas funerrias encontradas pelos arquelogos so, antes de uma informao biolgica de grupos do passado, fontes de informaes sobre suas crenas e rituais, tais como o consumo dos restos corporais do defunto para um enterro posterior e o acompanhamento do corpo com objetos, armas e instrumentos, que podem ser tanto objetos associados pessoa quando viva quanto facilitadores de sua passagem para o alm. E justamente a partir da anlise desses acompanhamentos que Escrcio e Gaspar realizam sua pesquisa. Pesquisando as sociedades de sambaquis no estado do Rio de Janeiro, as autoras procuraram associar os objetos que acompanharam os mortos
ao gnero ou hierarquia que ocupavam na sociedade. Para abordar o tema, discutiu-se a colocao dos gneros como papis sociais, em oposio raa, que estaria situada em um plano biolgico. As autoras apoiaram-se ento na desconstruo do modelo dual, na linha do estruturalismo de Claude Lvi-Strauss, realizada por Vanessa Lea. Lvi-Strauss teorizou sobre a dualidade homem/mulher, associando o primeiro cultura e a segunda natureza. Contudo, a partir de outros pontos de vista tericos, Lea analisou os Kayap entendendo o gnero como construo social - o qual era atribudo por Lvi-Strauss como uma construo biolgica, ao inferir a causalidade j citada - percebendo elementos de participao feminina nas esferas pblicas, rituais e jurais da sociedade, que Lvi-Strauss atribua somente aos homens. Outro elemento que Escrcio e Gaspar se pautam em sua pesquisa sobre a desconstruo da ideia de igualdade social em populaes de caadores/coletores. As autoras afirmam que a simplicidade da cultura de subsistncia, como, por exemplo, a tecnologia empregada na construo de artefatos, no corresponde necessariamente simplicidade organizacional e simblica. Esta ideia se faz de extrema importncia neste trabalho, j que uma vez que as sociedades sambaquieiras so consideradas simples, nos termos de cultura material, suas disparidades hierrquicas e de gnero podem agora ser analisadas. Aps fazerem as inferncias tericas acerca dos temas que sero abordados, os autores adentram no objeto propriamente dito, contudo cada um sua maneira. Prous e Rodet se utilizam de uma anlise densa e longa dos vrios stios em questo, e a partir desta anlise sugerem consideraes tericas importantes para cada stio, e posteriormente, em uma anlise macro histrica dos fatos, sugerem consideraes mais gerais, como a evoluo geral dos rituais funerrios ao longo da pr-histria do pas. Foram explorados nesta pesquisa os cemitrios antigos de Lagoa Santa e da Serra do Cip, em Minas Gerais; os rituais funerrios no Holoceno Mdio, perodo compreendido entre 8000 e 4500 anos atrs, sendo explorado objetivamente o cemitrio pr-histrico de Buritizeiro, s margens do Rio So Francisco; os sambaquis do litoral; os stios do cnion do rio Peruau, focando-se na Lapa do Boquete e na Lapa do Malhador, num perodo situado h trs milnios antes da chegada dos Portugueses no Brasil, quando do surgimento da agricultura; e por fim os moradores das aldeias do cerrado e da mata atlntica, como os Tupis-guaranis pr-histricos. Quando se tratando dos dois ltimos stios citados, os autores procuraram fazer analogias das populaes
destes stios com as sociedades indgenas atuais, talvez em funo de estes no estarem muito distantes cronologicamente daqueles. Outro motivo que poderia justificar esta analogia seria tambm o fato de as populaes destes stios j terem iniciado a manuteno e fabricao de cermicas, semelhantes s confeccionadas atualmente. Pode-se observar a o encontro da etnografia com a arqueologia, utilizando-se de dados etnogrficos para encontrar respostas para vestgios encontrados. Escrcio e Gaspar abordam, por sua vez, como j foi mencionado, uma rea mais restrita e um tempo cronolgico especfico. Diferentemente da abordagem dos autores anteriores, que formularam suas teorias a partir das anlises dos objetos, estas fizeram o processo invertido. Partindo de um princpio terico as diferenas atribudas a cada gnero perante as sociedades dos sambaquis procuraram, na anlise dos stios, corroborar sua teoria. Foram analisados ento vrios aspectos encontrados nos sepultamentos sambaquieiros. So eles: os acompanhamentos funerrios; os corantes ausentes ou presentes nos enterramentos; pontas sseas encontradas junto aos corpos, relacionadas s atividades de caa ou pesca; seixos pintados; adornos; e finalmente os cenrios dos enterramentos. Todas essas caractersticas serviram de anlise para a pesquisa das autoras, fazendo uma comparao da presena ou ausncia de cada uma a cada um dos sexos (ou gneros) dos sepultados. Observou-se ento que no h uma grande variabilidade social entre as populaes sambaquieiras, uma vez que no foram encontradas distines marcantes entre os acompanhamentos funerrios. Adornos, seixos pintados, pontas sseas foram encontrados distribudos de maneira mais ou menos igualitria e regular entre os gneros masculino e feminino, com apenas uma preferncia irrisria de alguns elementos, em stios especficos, para cada um dos gneros, sem que esta preferncia indicasse uma distino social. J Prous e Rodet, em sua anlise dos sambaquis meridionais, tambm sugeriram no haver uma diferena marcante entre os gneros nestas sociedades. Os autores, assim como Escrcio e Gaspar, tambm chegaram concluso de que as populaes sambaquieiras eram igualitrias. Todavia, diferentemente destas, que analisaram os acompanhamentos funerrios mais voltados aos adornos, seixos pintados e pontas sseas, Prous e Rodet analisaram outros tipos de acompanhamentos para chegarem ao resultado, ou proposta final. Os autores estudaram detalhadamente os zolitos que acompanhavam os sepultamentos, e aps uma longa descrio dos casos, inferiram que, antes de marcarem uma distino de sexo ou idade, os zolitos que acompanham os
sepultamentos estariam associados sim a indivduos excepcionais, como chefes ou xams prestigiosos, mas sem que, segundo os autores, isso implicasse em uma hierarquizao entre os segmentos da sociedade.
Referncias Bibliogrficas PROUS, Andr & RODET, Jacqueline. Os vivos e os mortos no Brasil tropical e subtropical pr-histrico (10.000/5.000 BP). In: MORALES, Walter & MOI, Flvia (orgs.). Cenrios Regionais em Arqueologia Brasileira. So Paulo: Anablume. 2009. p. 11-44. ESCRCIO, Eliana & GASPAR, Maria Dulce. Um olhar sobre gnero: estudo de caso os sambaquieiros do RJ. Revista de Arqueologia, v. 23, n1. So Paulo: SAB. 2010. p. 72-89.
Você também pode gostar
- Resenha de ChiquinhoDocumento3 páginasResenha de ChiquinhoAlberto Cuambe78% (18)
- Exú ElebóDocumento118 páginasExú ElebóBaba Tadeu Ojú Óba100% (6)
- Aperfeicoados Na Unidade Marcos MoraisDocumento15 páginasAperfeicoados Na Unidade Marcos Moraiswanderfr100% (1)
- Hamr - Mapeamento Da Alma Pela Visão NórdicaDocumento8 páginasHamr - Mapeamento Da Alma Pela Visão NórdicaAugusto MacfergusAinda não há avaliações
- Martinet. Elementos Da Linguística GeralDocumento9 páginasMartinet. Elementos Da Linguística GeralRodrigo100% (3)
- A FELICIDADE NO DE CONSOLATIONE Philosophiae de BoécioDocumento150 páginasA FELICIDADE NO DE CONSOLATIONE Philosophiae de BoécioDaniel Moura100% (1)
- Nomes - CeltasDocumento1 páginaNomes - CeltasBruno Sena100% (1)
- Fé e ObrasDocumento106 páginasFé e ObrasFilipe PintoAinda não há avaliações
- PETERS - Estruturalismo Pós Estruturalismo e Filosofia Da Diferença Parte 1Documento20 páginasPETERS - Estruturalismo Pós Estruturalismo e Filosofia Da Diferença Parte 1Rodrigo Amaro100% (1)
- Can Ticos B 2005 FinalDocumento28 páginasCan Ticos B 2005 FinalLuis EspadanaAinda não há avaliações
- SLIDES - TEXTO 1 - RIBEIRO, Alessandra Stremel Pesce. O Que É Antropologia.Documento14 páginasSLIDES - TEXTO 1 - RIBEIRO, Alessandra Stremel Pesce. O Que É Antropologia.Richard WillianAinda não há avaliações
- Artigo - NATALIE DAVIS PDFDocumento12 páginasArtigo - NATALIE DAVIS PDFSaruba BaienAinda não há avaliações
- Quem É o Ser HumanoDocumento30 páginasQuem É o Ser HumanoAdriana Henriques S. BorgesAinda não há avaliações
- Gnomo Mago Nivel 1Documento3 páginasGnomo Mago Nivel 1enilsonjr100Ainda não há avaliações
- Jorge Luis Borges - O Céu e o Inferno Segundo Emanuel SwedenborgDocumento16 páginasJorge Luis Borges - O Céu e o Inferno Segundo Emanuel SwedenborgJorge Santos100% (1)
- Imaginário e Filosofia Da ImagemDocumento4 páginasImaginário e Filosofia Da ImagemAgamenonAinda não há avaliações
- Almeida, M. W. B. Lewis MorganDocumento24 páginasAlmeida, M. W. B. Lewis MorganVlad SchülerAinda não há avaliações
- PajelançaDocumento4 páginasPajelançaMauricio Alfredo JoãoAinda não há avaliações
- Educação Superior Indígena: Desafios e Perspectivas A Partir Das Experiências Dos Acadêmicos Indígenas Da UcdbDocumento15 páginasEducação Superior Indígena: Desafios e Perspectivas A Partir Das Experiências Dos Acadêmicos Indígenas Da UcdbLuiz Henrique Eloy AmadoAinda não há avaliações
- A Visao Do Outro Nos Escritos de Luis Frois PDFDocumento15 páginasA Visao Do Outro Nos Escritos de Luis Frois PDFalkor3Ainda não há avaliações
- Filosofia Africana para Descolonizar Olhares - Perspectivas para o Ensino Das Relações Étnico-Raciais - Machado - #Tear - Revista de Educação, Ciência e TecnologiaDocumento20 páginasFilosofia Africana para Descolonizar Olhares - Perspectivas para o Ensino Das Relações Étnico-Raciais - Machado - #Tear - Revista de Educação, Ciência e TecnologiaAdilbenia MachadoAinda não há avaliações
- 86Documento219 páginas86diegoeitererAinda não há avaliações
- 1097 Miolo Finalissimo Ultimo Frances 4 DEZDocumento80 páginas1097 Miolo Finalissimo Ultimo Frances 4 DEZMarcelino Torquato100% (1)
- Pautas - 6ºano - 3ºPDocumento11 páginasPautas - 6ºano - 3ºPAgrupSamCorreiaAinda não há avaliações
- Carecas Do BrasilDocumento11 páginasCarecas Do BrasilCarlos GenovaAinda não há avaliações
- 08-Eu Sou A Ressurreicao e A Vida 2Documento2 páginas08-Eu Sou A Ressurreicao e A Vida 2Fellipe Dos AnjosAinda não há avaliações
- Texto IntegralDocumento124 páginasTexto IntegralIsabela Nogueira100% (1)
- Pierre Bourdieu e Seu Esboço de Auto-AnáliseDocumento22 páginasPierre Bourdieu e Seu Esboço de Auto-AnáliseprimoleviAinda não há avaliações
- Sociologia 2º AnoDocumento37 páginasSociologia 2º AnoPaulo Marcos Ferreira AndradeAinda não há avaliações
- Amaro Xavier Braga Junior - A Pluraridade Religiosa e Interreligiosidade (Texto)Documento11 páginasAmaro Xavier Braga Junior - A Pluraridade Religiosa e Interreligiosidade (Texto)rodrigojcostaAinda não há avaliações