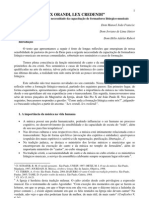Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Julvan Moreira de Oliveira PDF
Enviado por
Viviane A. Suzy PistacheTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Julvan Moreira de Oliveira PDF
Enviado por
Viviane A. Suzy PistacheDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Faculdade de Educao
JULVAN MOREIRA DE OLIVEIRA
AFRICANIDADES E EDUCAO:
Ancestralidade, Identidade e Oralidade
no Pensamento de Kabengele Munanga
So Paulo
2009
II
JULVAN MOREIRA DE OLIVEIRA
AFRICANIDADES E EDUCAO:
Ancestralidade, Identidade e Oralidade
no Pensamento de Kabengele Munanga
Tese de Doutorado apresentada rea de Cultura,
Organizao e Educao da Faculdade de Educao da
Universidade de So Paulo, como requisito parcial obteno
do ttulo de doutor em Educao, sob a orientao da Profa.
Dra. Maria Ceclia Sanchez Teixeira.
So Paulo
2009
III
Autorizo a reproduo e divulgao total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrnico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.
Catalogao na Publicao
Servio de Biblioteca e Documentao
Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo
37.01 Oliveira, Julvan Moreira de
O 48a Africanidades e educao: ancestralidade, identidade e oralidade
no pensamento de Kabengele Munanga / Julvan Moreira de
Oliveira; orientao Maria Ceclia Sanchez Teixeira. So Paulo:
s.n., 2009.
298 p.
Tese (Doutorado) - - Faculdade de Educao da
Universidade de So Paulo.
1. Antropologia Filosfica (Educao) 2. Filosofia da Educao
3. Identidade tnica I. Teixeira, Maria Ceclia Sanchez, orient.
IV
FOLHA DE APROVAO
Julvan Moreira de Oliveira
Africanidades e Educao: Ancestralidade,
Identidade e Oralidade no Pensamento de
Kabengele Munanga
Tese de Doutorado apresentada rea de Cultura,
Organizao e Educao da Faculdade de
Educao da Universidade de So Paulo, como
requisito parcial obteno do ttulo de doutor
em Educao, sob a orientao da Profa. Dra.
Maria Ceclia Sanchez Teixeira
Aprovado em:________________________
BANCA EXAMINADORA
Profa. Dra. Maria Ceclia Sanchez Teixeira (orientadora).
Universidade de So Paulo (FE-USP) Assinatura:___________________
Profa. Dra. Maria do Rosrio Silveira Porto.
Universidade de So Paulo (FE-USP) Assinatura:___________________
Profa. Dra. Nilma Lino Gomes.
Universidade Federal de Minas Gerais (FE-UFMG) Assinatura:___________________
Profa. Dra. Petronilha Beatriz Gonalves e Silva.
Universidade Federal de So Carlos (UFSCAR) Assinatura:___________________
Profa. Dra. Eliana Braga Aloia Athie.
Assinatura:___________________
SUPLENTES
Prof. Dr. Joo de Deus Vieira Barros.
Universidade Federal do Maranho (UFMA) Assinatura:___________________
Prof. Dr. Henrique Cunha Jr.
Universidade Federal do Cear (UFC) Assinatura:___________________
V
Dedicatria
A
Nilva Regina de Souza
VI
AGRADECIMENTOS
Este trabalho s pode ser realizado com a colaborao, em diversos graus, de um
bom nmero de pessoas a quem desejo expressar meu agradecimento mais sincero.
Sem nenhuma dvida, a quem eu mais devo esta tese minha orientadora, Profa.
Dra. Maria Ceclia Sanchez Teixeira. Em sua amplitude de critrio intelectual, sempre
encontrei o alento necessrio para prosseguir com minhas prprias intuies e faz-lo com a
confiana de que seus profundos conhecimentos assegurariam, finalmente, o rigor no
desenvolvimento deste trabalho.
Devo tambm agradecer, em memria, por sua solicitude e generosidade, Profa.
Dra. Helenir Suano, que me guiou nos primeiros passos no campo da investigao,
primeiramente no mestrado, em seguida na primeira parte de meu doutorado, e que muitas
vezes abriu a porta de sua casa e, com toda sua generosidade, dedicou-me horas preciosas
de conversao.
Agradeo tambm ao Prof. Dr. Kabengele Munanga, pelo privilgio de ter sido seu
aluno, alm de monitor durante um semestre, por seu olhar profundo realidade brasileira,
tornando-se um guia, no s para mim, mas tambm para todos os negros brasileiros.
No quero deixar de expressar, nesta pgina, meu reconhecimento s Profas. Dras.
Nilma Lino Gomes e Maria do Rosrio Silveira Porto, que transmitiram com entusiasmo suas
observaes e crticas a este trabalho no exame de qualificao, proporcionando-me
experincias de leitura determinantes.
Gostaria de reunir ainda, neste agradecimento todos os professores com quem,
desde o incio deste trabalho, cursei disciplinas cujas leituras e estudos foram fundamentais
para o amadurecimento de minhas idias: Prof. Dr. Jos Carlos de Paula Carvalho, Profa.
Dra. Angelina Batista (Unesp-Botucatu), Prof. Dr. Marcos Ferreira Santos, Profa. Dra. Roseli
Fischmann, Prof. Dr. Pierre Kita Masandi (Univ. Catlica de Louvain-Blgica) e Prof. Dr.
Csar Augusto Minto.
Muito obrigado tambm a todos os meus familiares e amigos que, de diversos
modos, transmitiram-me, ao longo destes anos, sua confiana e seu apoio. Amigos de
trabalho, amigos do Movimento Negro, amigos dos seminrios do CICE (Centro de Estudos
do Imaginrio, Culturanlise de Grupos e Educao da FE-USP). Familiares que me
acolheram em momentos de ansiedade e descanso: minha me, Maria Aparecida Moreira
de Oliveira, e meus irmos Gilmar e Lina, em quem, nas horas mais difceis, eu encontrava
a pacincia, a generosidade e a compreenso necessrias para prosseguir.
VII
A frica o bero da humanidade, isto , o
continente onde surgiram os primeiros ancestrais das
mulheres e dos homens que habitam nosso planeta.
(...) Consequentemente, deve-se, a partir do bero
africano da humanidade, apontar as civilizaes mais
antigas que surgiram desse bero, como a egpcia, a
cuxita, a axumita e a etope crist, e mostrar que essas
civilizaes eram obras do ser negro, com o objetivo
de corrigir as injustias histricas que rechaaram-no
do circuito da histria internacional da humanidade
(Kabengele MUNANGA, Origens Africanas do Brasil
Contemporneo, 2009, p. 9).
VIII
RESUMO
OLIVEIRA, Julvan Moreira de. Africanidades e Educao: Ancestralidade,
Identidade e Oralidade no Pensamento de Kabengele Munanga, 2009. 299f.
Tese de Doutorado Faculdade de Educao, Universidade de So Paulo,
So Paulo, 2009.
O objetivo deste trabalho foi analisar a contribuio do pensamento de Kabengele
Munanga para o iderio pedaggico brasileiro, tendo como base epistemolgica a
arquetipologia do imaginrio de Gilbert Durand e sua heurstica mitodolgica, a qual
engloba a mitocrtica e a mitanlise. A pesquisa indicou que o mitema, fio condutor
presente em toda obra de Munanga, o ser, ou seja, a questo da identidade e o
processo de interao dialgica entre o eu e o outro, compreendido como uma
relao de responsabilidade, de compromisso interacional e de complementaridade.
Essa identidade marcada pela cor da pele, pela cultura e/ou pela produo cultural do
negro, por sua contribuio histrica na sociedade brasileira e na construo da
economia do pas, bem como pela recuperao de sua histria africana, de sua viso do
mundo, de sua religio. Somente na relao dialogal da palavra, da oralidade, pode-se
reconhecer o eu da pessoa humana como ser existente em sua dimenso interpessoal,
j que, ao expressar-se por meio da palavra, a pessoa sai de si, no para perder-se no
tu, mas para se re-encontrar, plenificado na mesma palavra. Esta abertura constitui a
direo e a orientao no processo de realizao da pessoa. Por meio do conhecimento
de sua ancestralidade, o a pessoa humana v-se frente ao problema das representaes.
Ao decifrar o mundo, o ser humano coloca-se diante de enigmas que so smbolos do
mistrio. Nessa medida, toda a obra de Munanga est atravessada por um genial
imperativo: a recuperao da situao do homem primordial. Dessa perspectiva, a
educao centra-se na necessidade de o homem retornar periodicamente ao arqutipo,
aos estados puros, aos princpios, tendo como mediadores os smbolos, as imagens, as
narrativas de sua ancestralidade. Por conseguinte, a educao vista como mediadora
do universo, no apenas na dimenso intelectual, mas tambm e objetivamente, na
relao de responsabilidade recproca, capaz de salvaguardar, no apenas as
individualidades enquanto sustentculos da relao, mas tambm a realizao da prpria
realidade vital como relao. A obra de Munanga abre um caminho muito interessante e
pertinente, sobretudo pelo seu carter complementrio, hermesiano, ou seja, de
mediao entre o plano explicativo e o compreensivo, processo este que se expressa no
desenvolvimento de sua obra, o que permite entender a contribuio das africanidades
para a cultura brasileira, tal como vem sendo abordada por vrios pesquisadores,
africanidades estas que tm em Munanga um de seus principais porta-vozes, com
inmeras contribuies relevantes para a educao brasileira.
Palavras-chave: africanidade, ancestralidade, identidade, oralidade, idias pedaggicas.
IX
ABSTRACT
OLIVEIRA, Julvan Moreira de. Africanities and Education: Ancestrality, Identity and
Orality on Kabengele Munangas Thought 2009. 299f. Doctorates Thesis Faculdade de
Educao, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2009.
This thesis analyzes the contribution of Kabengele Munanga to pedagogical ideas produced in
Brazil, having, as epistemologic basis, the archetypology of Gilbert Durands imaginary and
his mythodologic heuristic, myth-critic and myth-analysis. My research shows that the
mytheme - a guiding principle which is present in all of Munangas work - is a notion of
being, in which self identity emerges from a dialogic interaction between the self and the
other and is informed by an emphasis on responsibility, interactional commitment, and
complementarity. Such identity formation is marked by skin color and the cultural production
of black people. It is also marked by the historical and economic contribution of black people
to Brazilian society. Likewise, identity is marked also by the restoration of African history,
cosmology, and religion. In fact, only within the dialogical relation of word and orality, can
one recognize the self of a human being as aware that her existence is measured by
interpersonal interaction. Indeed, when expressing through the word, a human being comes
out of her/himself not to become another self (he/she), but to find her/himself in fullness
through the effecti of sama word. Such an opening represents the direction and orientation of
the process of realization of a being. Through the acquisition of knowledge about oness
ancestrality, a person sees her or himself facing the problem of representations. When
deciphering the world, one places her or himself through enigmas, which are symbols of
mystery. Munangas work is informed by a commitment to the resurgence of a primordial
ancestral being. According to this perspective, education focuses on the necessity of
periodically returning, to the archetype, to a purer state of existence, and to principles
mediated by the symbols, the images, and the narratives of her/his ancestrality. Therefore,
education is seen as the mediator of this world, not only in an intellectual sense, but also in a
social and subjective sense in which interaction among individuals and their environment are
central. Munangas work opens important and strategic venues, particularly with respect to it
emphasis on the Hermesian complementary character of mediation between the level of
rationality and the level of understanding. That process expresses itself in the foundations of
Munangas scholarship, and therefore allows for an understanding of the role of African
cosmology to Brazilian culture. According to approaches proposed by several researchers,
those Africanities have in Munanga one of their main spokesperson, who has brought
countless relevant contributions to Brazilian education.
Key-words: africanity, ancestrality, identity, orality, pedagogical thoughts.
X
SUMRIO
INTRODUO: .................................................................................................................... 01.
I - DAS HERMENUTICAS REDUTORAS HERMENUTICA SIMBLICA ............ 40.
Um Olhar Sobre as Hermenuticas Redutoras ........................................................................ 44.
A Hermenutica Simblica ......................................................................................................56.
Da Mitocrtica e Mitanlise .................................................................................................... 72.
II - TRAJETO DE ESTUDOS SOBRE O NEGRO NO BRASIL ........................................ 90.
A Excluso do Negro na Construo da Nacionalidade Brasileira ....................................... 94.
A Incluso do Negro na Cultura Nacional ............................................................................. 98.
A Questo Racial Subordinada Questo Econmico-Social ..............................................103.
Subverso Epistemolgica nos Estudos sobre o Negro ....................................................... 118.
De Preto a Afrodescendente na Educao ........................................................................... 135.
Presena do Negro no Sistema Educacional Brasileiro.............................................136.
Sobre a Pluralidade Cultural na Educao ............................................................... 142.
A Educao no Interior de Comunidades da Cultura Banto .................................... 145.
Estudos Sobre o Negro em Comunidades da Cultura Nag .................................... 149.
Novas Abordagens Sobre o Negro na Educao ..................................................... 152.
III - EM BUSCA DA IDENTIDADE PERDIDA ............................................................... 156.
A Identidade como Autocompreenso .................................................................................. 161.
A Recuperao da Corporalidade para a Teorizao da Identidade Pessoal ........................ 170.
A Estrutura Interna da Identidade Pessoal Unidade e Pluralidade .................................... 180.
A Apreenso Dialgica Unidade-Pluralidade atravs da Metfora Sistmica ...................... 187.
IV - RE-SIGNIFICANDO A PRPRIA VIDA NA ANCESTRALIDADE ....................... 199.
A Ancestralidade como Infinito ............................................................................................ 209.
A Ancestralidade e o Presente .............................................................................................. 214.
A Ancestralidade num Passado Imemorial ........................................................................... 217.
A Ancestralidade como Abertura a Deus .............................................................................. 221.
V - FRAGMENTOS DA MEMRIA NA ORALIDADE: do indizvel ao dizvel ............ 222.
Critica aos Reducionismos .................................................................................................... 231.
A Pessoa como Abertura ....................................................................................................... 235.
A Subjetividade na Constituio da Pessoa .......................................................................... 243.
A Objetividade na Realizao Pessoal .................................................................................. 246.
A Oralidade Subjacente ........................................................................................................ 248.
VI DILOGOS SOBRE AFRICANIDADES E EDUCAO ....................................... 253.
Repensando a Realidade ....................................................................................................... 257.
Um Sistema Integral do Homem e da Educao .................................................................. 264.
Pessoa-Indivduo e Pessoa-Objeto ........................................................................................ 270.
CONSIDERAES FINAIS ............................................................................................... 275.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ................................................................................ 284.
Kabengele Munanga ............................................................................................................ 285.
Bibliografia .......................................................................................................................... 288.
XI
REMINISCNCIAS
(...) Aqui me tenho outra vez com a pena na mo. Em
verdade, d certo gosto deitar ao papel coisas que
querem sair da cabea, por via da memria ou da
reflexo (Machado de Assis, Memorial de Aires).
Nasci em 11 de agosto de 1962, em Alm Paraba
a
, pequena cidade do sudeste
mineiro, regio conhecida como zona da mata
b
. A casa de meus pais fica num bairro
perifrico e tem, nos fundos do quintal, o crrego Limoeiro, afluente do Rio Paraba do Sul,
que d nome cidade. A dcada de 1960 foi marcada internacionalmente com a
independncia de diversos pases do continente africano. Para se ter uma idia, somente em
1960, foram Camares, Togo, Senegal, Madagascar, Somlia, Congo, Chade, Chipre,
Mauritnia e Gabo; em 1961, foram Serra Leoa e Tanznia; em 1962, foi Samoa; em 1963,
foi Qunia. Especificamente no ano de 1962, Portugal retirou-se, no dia 15 de janeiro, da
Assemblia da ONU, a mesma que no dia 31 de janeiro reprovou a interveno armada desse
pas contra Angola. Nesse mesmo ano, o Presidente de Cuba, Fidel Castro, foi excomungado,
pelo Vaticano. Em 28 de agosto de 1961, aconteceu em Washington, nos EUA, uma Marcha
contra a Discriminao, organizada pelo pastor Martin Luther King, reunindo mais de 200
mil pessoas. Em 1964, foi criada a Lei dos Direitos Civis dos negros naquele pas. No dia 21
de fevereiro do ano seguinte, foi assassinado, em Nova York, o lder negro Malcolm X.
No Brasil, o ano de 1962 foi marcado pelas eleies para Senador, Deputado Federal,
Deputado Estadual, Governador, Prefeito e Vereador. Dois anos antes, a capital brasileira fora
transferida da cidade do Rio de Janeiro para Braslia, poca em que aconteceu a eleio
presidencial de Jnio Quadros, que veio a renunciar em 1961. O Brasil tornou-se
parlamentarista com a emenda constitucional n 4, de 02 de setembro de 1961, sendo
empossados o Vice-Presidente Joo Goulart como Presidente e o deputado federal Tancredo
Neves como Primeiro-Ministro.
Com a renncia de Tancredo Neves, em 26 de junho de 1962, ocorreram variados
acontecimentos polticos. Foi um ano turbulento, marcado por manifestaes de camponeses e
a
So Jos DAlm Paraba obteve a emancipao poltica e administrativa pela lei estadual, MG, n 2.678 de
30/11/1880. Em 22/01/1882, foi instalada a Cmara Municipal. Em 28/09/1883, a lei estadual, MG de n 3.100
elevou a Vila de So Jos D'Alm Paraba categoria de cidade e a lei estadual MG de n 843, de 07/09/1923,
estabeleceu a atual denominao de Alm Paraba.
b
http://www.arquivohistorico-mg.com.br/newindex1.html.
XII
greves operrias, alm das estudantis, como pela paralisao, organizada pela UNE, de 40
universidades. Esses acontecimentos prosseguiram at abril de 1964, quando o AI-1 (Ato
Institucional n 1) permitiu cassaes polticas, depondo o Presidente Joo Goulart, e
conduzindo ao poder o Marechal Castelo Branco.
No Brasil, foi lanado, em 1962, o filme O Pagador de Promessas, de Anselmo
Duarte, narrativa sobre Z do Burro e sua mulher Rosa, que vivem numa pequena propriedade
a 42 quilmetros de Salvador. Um dia, o burro de estimao de Z atingido por um raio e ele
acaba indo a um terreiro de candombl para obter a cura do animal. L faz uma promessa a
Santa Brbara (Ians) para salvar o burro. Com o restabelecimento do bicho, Z pe-se a
cumprir a promessa. Primeiro doa metade de seu stio, para depois comear uma caminhada
rumo a Salvador, carregando nas costas uma imensa cruz de madeira. Em 1964, foi a vez do
filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha.
Entre os anos de 1965 e 1967, aconteceram os Festivais de Msica Popular Brasileira
e o Festival Internacional da Cano, surgindo compositores e cantores que marcaram minha
juventude, tais como Edu Lobo, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Z Kti, Wilson Simonal,
Billy Blanco, Elis Regina, Elisete Cardoso, Chico Buarque de Hollanda, Geraldo Vandr,
Caetano Veloso, Jair Rodrigues, Chico Buarque, Nara Leo, Paulinho da Viola, Gilberto Gil,
Nana Caymmi, Nelson Motta, Milton Nascimento, entre outros.
Foi elaborada, em 1961, como mais uma tentativa de aperfeioamento do ensino, a Lei
de Diretrizes e Bases da Educao Nacional, sob o nmero 4.024/61. Essa lei determinava que
a educao direito de todos e ser dada no lar e na escola (Art.2); entretanto, em
pargrafo nico, admitia a insuficincia de escolas e a possibilidade de encerramento de
matrcula, em caso de falta de vagas.
Alheio a todos esses acontecimentos durante minha infncia e adolescncia, cresci ao
som de uma pequena cachoeira das guas do Limoeiro, nos fundos da casa paterna e materna,
som que, noite, no silncio, muitas vezes confundido com o da chuva.
Meu pai nasceu em 12 de setembro de 1906
c
, no municpio de Santo Antnio do
Aventureiro, que est a 30 km de minha cidade natal. rfo aos seis anos de idade, trabalhou
junto com seus irmos e irms nas lavouras da regio. Meus avs paternos (Leopoldo Gomes
de Oliveira e Maria Luiza de Jesus) viveram ainda no perodo escravista brasileiro.
c
Meu pai nasceu 14 anos aps a Abolio da Escravatura, tendo meus avs paternos vivido sob esse regime.
XIII
Meu pai trabalhou e morou em diversas cidades da regio
d
da zona da mata mineira,
fixando-se, com duas irms, em Alm Paraba. Dois de seus irmos foram para outra cidade
e
.
Em Alm Paraba, meu pai conseguiu trabalho numa fbrica de tecidos, obtendo sua carteira
de trabalho e sendo registrado como servente em 18 de julho de 1945. Aps conseguir esse
emprego fixo e registrado, ele retirou os outros documentos pessoais. No Certificado de
Reservista, de 11 de agosto de 1951, ele aparece registrado com a profisso de trabalhador
braal. O Ttulo Eleitoral de 26 de abril de 1958.
Minha me nasceu em 15 de janeiro de 1933, no municpio de Palma, zona da mata
mineira. Aos 2 anos de idade, ficou rf de me, tendo meu av, Manoel Moreira, mudado,
com os filhos, para Volta Grande, a 24 km de Alm Paraba. Os irmos foram adotados e
criados por famlias diferentes: um seguiu para o Rio de Janeiro e outra para Cataguases.
Minha me trabalhou desde a infncia como empregada domstica (no registrada) em Alm
Paraba, morando na casa dos patres. Na juventude, foi trabalhar com sua irm mais velha,
cozinheira em Restaurante na cidade de Alm Paraba. Quanto a meu av materno, lembro
dele muito vagamente pois, quando faleceu, eu era bem novinho. Minhas recordaes dele era
trabalhando em sua carpintaria, que ficava prxima de minha casa.
Por ocasio do casamento de meus pais, em 1961, a casa foi construda e, no quintal
dos fundos, meu pai passou a criar alguns porcos e galinhas, alm de plantar feijo e milho.
Minha me colaborava com a renda familiar lavando e passando roupas para diversas
famlias. Eu no gostava desse perodo de minha infncia pois, alm de ter que entregar as
trouxas de roupas nas casas, tambm no suportava o cheiro dos porcos, quando tinha que
auxiliar meu pai a aliment-los e a segur-los quando eram castrados e mortos. No entanto,
sempre que se matava um porco, era uma ocasio em que se reuniam parentes maternos e
paternos em minha casa. As tias auxiliavam minha me e praticamente metade das carnes
eram distribudas por meu pai para os parentes e amigos prximos.
Fui alfabetizado dos cinco aos seis anos por uma jovem negra, Helena, que lecionava
para as crianas na sala de sua casa. No incio de 1969, fui matriculado na Escola Estadual
Edelberto Figueiras, a dois quarteires de minha casa, onde fiquei at a formatura de 4
srie, no final de 1972. Meus primeiros anos de estudo foram marcados pela garantia da
gratuidade apenas do ensino primrio, mas no sua obrigatoriedade, garantida pela Lei de
d
Carangola, Espera Feliz e Caiana (zona da mata mineira, divisa com Esprito Santo).
e
Foram trabalhar e morar em Trs Rios, RJ.
XIV
Diretrizes e Bases da Educao Nacional de n. 4.924, de 20 de dezembro de 1961. A LDBEN
4.924/61 organizava a estrutura de ensino nos nveis primrio, com 4 anos de durao;
ensino mdio, subdividido em dois ciclos (ginasial de 4 anos e colegial de 3 anos); e ensino
superior.
Essa poca foi igualmente marcada pelas Campanhas Nacionais de Alfabetizao, que
mobilizaram, em todo Brasil, vrias pessoas animadas pela possibilidade do aprendizado
tardio da leitura, da escrita, do clculo e demais conhecimentos escolares bsicos. Lembro que
tia Luza, irm caula de meu pai, ia todas as noites estudar, no sei precisar se pelo mtodo
de alfabetizao de adultos, do projeto iniciado por Paulo Freire, se pelo Movimento de
Educao de Base, ou se pelo Movimento Brasileiro de Alfabetizao.
Aps a 4 srie, no havia opes para os alunos pobres continuarem os estudos, pois
em toda cidade havia apenas uma escola estadual com 5 at 8 srie, e no se conseguia
matricular todos os alunos que terminavam a 4 srie nas diversas escolas pblicas da cidade,
pois a continuidade estava ligada a exames de admisso, que significavam um verdadeiro
obstculo progresso escolar.
Durante todo esse perodo, da 1 srie do 1 grau at a 3 srie do 2 grau, no me
lembro de me terem transmitido qualquer coisa acerca dos acontecimentos mundiais e
nacionais do perodo. Pior ainda: na prpria cidade de Alm Paraba, aconteceram greves
operrias durante o regime militar e a emissora de rdio da cidade foi fechada. Eu tomava
conhecimento disso apenas ouvindo algumas poucas conversas entre meu pai e minha me.
Anos mais tarde, li referncias a esses acontecimentos em minha cidade, no livro Brasil
Nunca Mais
f
.
Meu pai conseguiu para mim, na indstria em que trabalhava, uma bolsa de estudos,
assim como fez com meus irmos em seguida, e matriculou-me na escola particular
Professor Srgio Ferreira, colgio ligado a CNEC
g
. Ali cursei da 5 at a 8 srie nos anos
1973 a 1976, finalizando o 1 grau, como tambm o 2 grau, entre 1977 a 1979. Minha
formao nessa segunda fase educacional foi marcada pela lei n 5.692, de 11 de agosto de
1971, que realizou uma importante reforma do ensino primrio e secundrio. Os antigos
f
Em 1964, foi constitudo um processo para apurar mobilizaes subversivas (...) que teriam sido realizadas
em repdio ao golpe militar, em Alm Paraba, MG. ARNS, Paulo Evaristo & WRIGTH, Jaime. (1985). Brasil:
Nunca Mais, Petrpolis: Vozes, p.129.
g
CNEC (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade).
XV
ensinos primrio e ginasial foram associados, compondo os 8 anos de escolarizao do 1
Grau. Embora os exames de admisso fossem suspensos por essa lei, lembro que no havia
escolas pblicas em minha cidade, o que impediu muitos de meus colegas de infncia de
continuarem seus estudos.
Na LDBN 5692/71, a poltica educacional estava submetida poltica de
desenvolvimento econmico, levando formao para o trabalho; ou seja, o 2 Grau tinha a
tarefa de preparar trabalhadores para o mercado de trabalho organizado. Assim meu 2 Grau
foi um curso tcnico em Auxiliar de Laboratrio e Anlises Qumicas. Aliada a esse aspecto,
estava a disposio de conter o acesso ao ensino superior. Acreditavam o governo, seus
tcnicos e consultores que se os alunos recebessem, na escola, uma formao que os
capacitasse ao exerccio da uma profisso, no desenvolveriam ou abandonariam as
pretenses de progresso dos estudos, ou seja, a busca pelo ensino superior. Essa poltica de
profissionalizao compulsria no 2 Grau foi extinta com a lei 7.044, de 18 de outubro de
1982.
No perodo da 5 srie at a 8 srie, eu estudava pela manh e, tarde, ia trabalhar
com meu pai, que j havia se aposentado, numa serralheria, inicialmente na funo de pintar
com zarco as peas produzidas. Aos poucos, fui aprendendo a profisso e j trabalhava como
serralheiro aos 12 anos. Alm desse trabalho, eu trazia, s segundas-feiras, e entregava, s
sextas-feiras, as trouxas de roupas que minha me lavava para fora, para auxiliar no
oramento.
Aos 14 anos, nos anos 1978 e 1979, alm do 2 Grau, que eu fazia noite, cursei
tambm Tornearia Mecnica no Centro de Aprendizagem Industrial de Alm Paraba /
SENAI, pois meu pai queria que eu e meu irmo tivssemos uma profisso. Dois anos aps eu
ter entrado nesse curso, meu irmo juntou-se a mim. O objetivo do SENAI (Servio Nacional
de Indstria), implantado no Brasil em 1942, durante o Estado Novo, era de criar uma
modalidade de ensino destinada formao do menor aprendiz no prprio ambiente de
trabalho pois, na tica dos industriais, educar consistia em qualificar rapidamente os
trabalhadores para as atividades demandadas pela indstria. O Centro de Aprendizagem
Industrial de Alm Paraba / SENAI era ligado Oficina da Rede Ferroviria Federal que
existia em minha cidade, privatizada no final dos anos 90. Obtive o registro em Carteira de
Trabalho assim que entrei para o SENAI, alm de fazer um ano de estgio na Oficina da
RFFSA, em 1980.
XVI
A Estrada de Ferro Leopoldina foi criada pelo decreto n 4.975, de 05 de junho de
1872, sendo finalizada em 1965. Foi a primeira estrada de ferro de Minas Gerais, nascida de
iniciativa de fazendeiros de caf e comerciantes da regio que, na poca, transportavam os
produtos em tropas de mulas. Da regio, os produtos eram levados para os portos do Rio de
Janeiro e de So Paulo. A expanso da cidade levou muitos trabalhadores de diversas cidades
para Alm Paraba em busca de trabalho, como havia sido o caso de meu pai e minha me.
Atualmente a antiga RFFSA, pertencendo a Ferrovia Centro Atlntica (RFA), s mantm o
transporte de minrio de bauxita.
Na adolescncia, eu participava de um grupo de jovens da igreja catlica. Essa ligao
com o catolicismo deu-se por influncia do lado materno. Minha me, assim como suas irms,
participavam ativamente da Igreja de Nossa Senhora da Consolao, atualmente parquia do
bairro. Minhas duas tias paternas tambm participavam. A nica lembrana religiosa que
tenho de meu pai de que ele acendia velas para as almas todas as segundas-feiras, em
determinado local no quintal de nossa casa. Essa participao no movimento de juventude
catlica aos poucos despertou minha vocao ao sacerdcio. Estudava em Alm Paraba e, em
alguns finais de semana, ia para o seminrio Sagrado Corao de Jesus, dos missionrios do
Sagrado Corao, em Juiz de Fora. L o contato com os seminaristas levou-me a conhecer
livros novos, que eu no tivera a oportunidade de ler em Alm Paraba. Para mim era uma
mudana radical pois, nas escolas em Alm Paraba, no tive contato com autores que
tratavam dos acontecimentos da poca. As minhas visitas ao seminrio, com objetivo de ir
conhecendo e me integrando aos poucos, possibilitaram-me adquirir novos conhecimentos.
Iniciei minha formao para a vida religiosa no seminrio Padre Jlio Chevalier, dos
missionrios do Sagrado Corao (MSC), em Niteri, no ano de 1982. Estudava Filosofia no
Mosteiro de So Bento, na cidade do Rio de Janeiro. Foi exatamente nesse ano que comecei a
ter contato com entidades do movimento negro. O curso superior deu-se com minha entrada
no seminrio dos MSC, em 1982. Iniciei o curso de Filosofia na Faculdade de So Bento do
Rio de Janeiro, pertencente ao Mosteiro de So Bento. No perodo em que l estudei, o curso
de Filosofia era ligado Escola Teolgica da Congregao Beneditina do Brasil.
Teoricamente o curso tinha como referenciais autores tomistas como Jacques Maritain,
Garrigou-Lagrange, Maurice Blondel, Etienne Gilson etc.
A Filosofia Tomista essencialmente a metafsica a servio da Teologia. Marcada
pela forte influncia do pensamento grego aristotlico, patrstico e especialmente latino
XVII
agostiniano, rabe e judeu e dos seus predecessores escolsticos, sua filosofia rica e
inovadora, fruto de uma contemplao e reflexo intensas que revolucionaram o vocabulrio
filosfico medieval e dispuseram a mente humana a argumentar retamente, numa ponte que
liga as coisas da terra com as do cu. Foi essa a base de minha formao filosfica. Quatro
so as fontes para a antropologia tomista: a Sagrada Escritura, Aristteles, Santo Agostinho e
Santo Alberto Magno.
A Metafsica, denominada Filosofia Primeira, tem por objetivos as verdades divinas,
devendo ser a ltima parte da filosofia. A razo relaciona-se com a ordem das coisas de quatro
modos, de cuja relao surgem as partes da Filosofia: a ordem que a razo no faz, mas a
considera, como a das coisas naturais, cujo estudo prprio o da Filosofia da Natureza
(Cosmologia, Matemtica, Psicologia, Antropologia); a ordem que a razo faz em seu prprio
ato, ordenando seus conceitos, cujo estudo compete Lgica e Gnosiologia; a ordem que a
razo faz ao considerar as operaes da vontade, cujo estudo compete Moral ou tica (e
tambm Poltica); e a ordem que a razo faz ao considerar as realidades exteriores, das quais
causa, cuja competncia das Artes Mecnicas (Esttica). Para a filosofia tomista, Deus a
Verdade ltima das verdades, assim toda a filosofia verte-se para a considerao dela e a ela
se ordena.
Quando eu iniciava os estudos, os seminaristas da ordem dos Missionrios do Sagrado
Corao estavam descontentes com a linha do curso. Assim conseguiram com os superiores
implantar, no ano de 1982, um Curso de Extenso de Filosofia, dado uma vez por semana
pela Sociedade de Estudos e Atividades Filosficos (SEAF). Eu, alheio ainda s discusses
tericas, tambm fiz dois cursos com meus colegas: Iniciao ao Pensamento Filosfico, no
primeiro semestre de 1982, e Iniciao Filosfica II, no segundo semestre do mesmo ano. A
Sociedade de Estudos e Atividades Filosficos - SEAF - foi criada em 1976, com o objetivo
de resgatar uma Filosofia crtica sobre os problemas sociais daquele perodo e lutar pela volta
dessa disciplina ao ensino mdio. Alm do curso de Filosofia, eu participava das atividades
pastorais nos fins de semana. Trabalhei no primeiro semestre de 1982 na Praa Seca,
Jacarepagu, e no segundo semestre, em Alcntara, cidade de So Gonalo, R.J.
O ano de 1982 foi agitadssimo para um jovem que chegava do interior mineiro para
estudar numa cidade grande. Foi ano de eleies e eu votava pela primeira vez. O contato com
militantes do movimento negro influenciou-me na escolha dos candidatos e lembro-me de ter
XVIII
votado em duas militantes: Llia Gonzalez
h
para a Cmara Federal e Jurema Batista
i
para a
Cmara de Vereadores.
No ano seguinte, devido a divergncias com a linha do curso de Filosofia, os
seminaristas MSC passaram a estudar no curso da Diocese de Duque de Caxias, R.J.. Eu e
mais dois colegas fomos transferidos para Juiz de Fora, onde morvamos na parquia de
Santa Luzia, e terminamos o curso de Filosofia no Seminrio Santo Antnio da Arquidiocese
de Juiz de Fora, onde tambm tive contatos com entidades do movimento negro, alm dos
trabalhos pastorais. A continuidade do curso de Filosofia deu-se no Seminrio Santo Antnio,
da Arquidiocese de Juiz de Fora, em 1983. A linha do novo curso possua a mesma orientao
do curso anterior. Prova disso que alguns de meus antigos professores atualmente so bispos
em importantes dioceses brasileiras
j
.
Em 1984, fui para a cidade de Itapetininga, S.P., fazer o noviciado. Foi um perodo
mais de oraes, sem atividades pastorais. Uma experincia importantssima, reforada pelo
contato com colegas de diversas regies do pas. Nesse ano, conheci os Agentes de Pastoral
Negros (APN) atravs do mestre de novios padre Jozef Gustaaf Hendrik Geeurickx (padre
Zeca do MSC), da qual fiz parte por vrios anos, chegando a ocupar a coordenao nacional
alguns anos depois.
Em 02 de fevereiro de 1985, fiz os votos religiosos temporariamente (por trs anos),
k
na congregao dos Missionrios do Sagrado Corao. Ainda em 1985, iniciei os estudos de
Teologia na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assuno, da Arquidiocese de So
Paulo. Nesse mesmo ano, eu morava no seminrio maior dos MSC, no bairro de Vila
Formosa, em So Paulo.
Em 1986, fui morar com outros colegas na comunidade religiosa Sagrada Famlia, no
bairro de Jardim Iva, em Sapopemba, regio Belm da Arquidiocese de So Paulo, que tinha
h
Llia de Almeida Gonzalez, antroploga brasileira, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 1935.
Filha de um ferrovirio negro e de me indgena, penltima de dezoito irmos, com a morte do pai em 1942, seu
irmo Jaime de Almeida, jogador de futebol do Flamengo, transferiu a famlia para o Rio de Janeiro. Ela
dedicou-se a pesquisas sobre a temtica de gnero e etnia. Foi eleita Chefe do Departamento de Sociologia da
PUC do Rio de Janeiro, em maio de 1994; em 11 de julho do mesmo ano, faleceu.
i
Jurema Batista nasceu em 1947, no morro do Andara, onde foi uma das organizadoras da Associao de
Moradores e Amigos do Morro do Andara, em 1981. Professora de Literatura, j exerceu trs mandatos como
vereadora e atualmente deputada estadual.
j
Entre meus professores, estavam D. Walmor Oliveira de Azevedo, atualmente arcebispo de Belo Horizonte; D.
Eduardo Benes de Sales Rodrigues, atualmente arcebispo de Sorocaba; e o bispo emrito de Juiz de Fora, D.
Eurico dos Santos Veloso.
k
Os votos de Castidade, Pobreza e Obedincia marcam a entrada na vida religiosa.
XIX
como bispo auxiliar responsvel Dom Luciano de Almeida
l
. A influncia da Teologia da
Libertao fazia com que os religiosos deixassem os seminrios para viver em comunidades,
as CEB (Comunidades Eclesiais de Base).
Iniciei o curso de Teologia em 1985, na Pontifcia Faculdade de Teologia Nossa
Senhora da Assuno, depois do noviciado e aps ter feito os votos religiosos. O perodo em
que estudei Teologia foi marcado pelo conflito entre a Teologia da Libertao, referncia
terica da Faculdade de Teologia da Arquidiocese de So Paulo, que tinha frente D. Paulo
Evaristo Arns, e as novas orientaes vindas do Vaticano. O ano em que iniciei meus estudos
teolgicos, 1985, coincidiu com o processo a Leonardo Boff junto Sagrada Congregao
para a Doutrina da F, presidida pelo ento cardeal Joseph Ratzinger
m
.
Esses anos tambm foram marcados por conflitos entre o Vaticano e a Arquidiocese
de So Paulo, com o objetivo de retirar a influncia de D. Paulo Evaristo. A arquidiocese de
So Paulo foi dividida e, em 15 de maro de 1989, foram criadas as dioceses de So Miguel
Paulista, no extremo leste capital, assim como as dioceses de Santo Amaro e de Campo
Limpo, na zona sul.
A Teologia da Libertao, que tem suas razes em 1968, ano da Conferncia de
Medelln, proveniente do envolvimento cristo com os movimentos sociais no continente
latino-americano, apontava para o combate de uma classe social por outra, condenando a
dominao. Os bispos reunidos em Medelln estabeleceram com vigor que os cristos
precisavam se empenhar na luta contra as estruturas injustas da sociedade latino-americana e
que este empenho era fundamental e bsico para toda ao pastoral.
Em 1979, na cidade de Puebla, Mxico, a Conferncia do Episcopado Latino-
Americano definiu, em seu documento, a opo preferencial pelos pobres. Esse documento
incentivou o engajamento de religiosos na luta pelas massas pobres, com a criao das
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), marcando assim as atividades pastorais como CIMI
(Conselho Indigenista Missionrio), APN (Agentes de Pastoral Negros), CPT (Comisso
Pastoral da Terra), PO (Pastoral Operria) etc.
l
D. Luciano Pedro Mendes de Almeida foi bispo auxiliar da Arquidiocese de So Paulo, Regio Belm, entre
1976 e 1988. Foi Secretrio-Geral da CNBB entre 1979 e 1987.
m
Em 1985, Boff foi condenado a um ano de silncio obsequioso, perdendo sua ctedra e suas funes
editoriais no interior da Igreja Catlica. Em 1986, recuperou algumas funes, mas sempre sob severa vigilncia.
Em 1992, ante nova ameaa de punio, desligou-se da Ordem Franciscana e do sacerdcio.
XX
A metafsica, pedra angular da teologia clssica, foi fortemente criticada a partir da
modernidade. Descobriu-se, aps sculos de especulao, a histria como caracterstica
essencial do homem e a cultura como mbito de toda construo histrica. Com isso, o
pensamento ocidental abandonou aquele transcendentalismo metafsico, tornando-se mais
imanentista. Isso influenciou fortemente a teologia. O encontro do homem com Deus passou a
ser pensado como realidade histrica: Deus se manifesta ao homem situando-se histrica e
culturalmente, ou seja, o encontro de Deus com o homem ocorre na histria em suas diversas
pocas, e difere-se na pluralidade cultural que se d no seio da humanidade. Obviamente isso
gerou uma certa relativizao do discurso sobre Deus; porm, valorizou a historicidade como
caracterstica essencial do ser humano, alm de valorizar a multiplicidade de formas de Deus
apresentar-se ao homem, superando, assim, o anacronismo clssico metafsico, que norteava o
pensamento teolgico no entendimento da relao homem-Deus.
A chamada Teologia da Libertao, referencia terica do curso que fiz, est inserida
nessa fase do pensamento ocidental: da valorizao da histria, da cultura e da diversidade de
formas de manifestao do encontro do homem com Deus. Ela uma teologia propriamente
crist; por isso, utiliza a Bblia como pressuposto necessrio de seus discursos. Essa forma de
discurso acerca de Deus foi submetida crtica com o advento da modernidade e do
pensamento contemporneo.
Desta forma, compete Teologia da Libertao a tarefa de discursar sobre Deus a
partir da tica de um processo excludente e a partir da realidade concreta dos excludos. O
telogo da libertao, portanto, deve ter esse duplo olhar: olhar para Deus e olhar para o
excludo. Olhar para Deus a fonte de toda libertao possvel e o olhar para o excludo
identifica onde h necessidade de libertao. Olhando para Deus ou Cristo, a Teologia da
Libertao diferencia-se de todo movimento libertador laico, j que a libertao apresentada
pela teologia enxerga nos processos histricos a possibilidade de presentificao da nova
ordem escatolgica anunciada por Cristo, ou seja, o Reino de Deus ordem de justia e da
superao de toda opresso possvel, na sociedade e no cosmos. Ao pretender olhar para o
excludo e para o sistema gerador de opresso, como pressuposto de todo fazer teolgico, a
Teologia da Libertao diferencia-se radicalmente das teologias clssicas, pois supera o
anacronismo destas, circunscrevendo a experincia de Deus no mbito do engajamento do fiel
na luta contra todo o sofrimento humano historicamente situado.
XXI
O cu almejado pela humanidade no pensado como realidade post mortem. Esse cu
que fora pensado pela teologia clssica como realidade distante que se manifestaria no porvir,
encarna-se no agora, atravs da prxis do povo em prol da dignidade humana: cada
conquista popular, no que tange a uma relao mais justa entre os homens, presentifica o cu
no seio da humanidade. A Teologia da Libertao surge para mostrar que Deus Pai Nosso;
portanto os homens e as mulheres devem se relacionar como irmos e irms, sem haver
excluso, sem haver opresso ou sem qualquer tipo de violao da dignidade humana. Lutar
pela libertao valorizar a paternidade universal de Deus, que se manifesta nas relaes
justas e fraternas entre todos os seres humanos.
Em 02 de fevereiro de 1988 renovei os votos religiosos, agora fazendo-os
perpetuamente. Nesse mesmo ano, em 04 de abril, fui ordenado dicono. Aps a ordenao,
fui transferido da Comunidade Sagrada Famlia, para morar no bairro de Ponte Pequena,
parquia Sagrado Corao de Jesus em Sufrgio das Almas. Mas divergncias com as novas
orientaes e a falta de espao para desenvolver as atividades pastorais, mais ligadas
Teologia da Libertao, levaram-me a deixar a vida religiosa em 1990
n
. Sa sem nada, nem
um bilhete de metr no bolso. H feridas que deixam cicatrizes difceis de serem apagadas.
Inicialmente s me restavam os amigos que trabalhavam com os catadores de papelo pelo
centro de So Paulo.
Foi um perodo muito difcil. Alguns amigos, sabendo de minha situao, vieram ao
meu encontro. A eles sempre serei grato: padre Toninho (Antonio Aparecido da Silva
o
), que
me ofereceu o primeiro trabalho na secretaria nacional dos APN; e Malungo (Sebastio Carlos
da Silva
p
), que me convidou para morar com ele. Os cursos de Filosofia e Teologia da igreja
no eram reconhecidos pelo Ministrio da Educao. Assim iniciei os estudos de Filosofia na
Universidade So Francisco, ou melhor, revalidei meu curso
q
durante os anos de 1990 e 1991.
O curso de ps-graduao (lato-sensu) em Cincias Sociais da Fundao Escola de
Sociologia e Poltica de So Paulo foi importante para a minha formao, pois estava
n
Protocolo n 46/90/D, da Sagrada Congregao do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos (Vaticano) e
Protocolo n 193/90, dos Missionrios do Sagrado Corao.
o
Padre. Toninho, mestre em Teologia Moral, foi meu professor no curso de Teologia. Era coordenador nacional
dos APN, assessor da CNBB e do CRB (Conferncia dos Religiosos do Brasil); alm de proco da igreja de
Nossa Senhora da Aquiropita, no bairro de Bela Vista, So Paulo. Atualmente coordenador do grupo Atabaque:
Cultura Negra e Teologia.
p
Carlos Malungo, compositor e msico, natural de Uberaba, M.G..
q
De acordo com o Decreto-Lei n 1051/69, revalidei o curso aproveitando estudos cursados no Seminrio
Arquidiocesano Santo Antnio e no Mosteiro de So Bento, fazendo as disciplinas pedaggicas.
XXII
estruturado em trs eixos: Antropologia, Sociologia e Poltica. Na Antropologia, foram
contempladas as principais correntes terico-metodolgicas, como Evolucionismo,
centralizando em Henry Sumner Maine, Herbert Spencer, Edward Tylor, Lewis Morgan e
James Frazer; Difusionismo, estudando o pensamento de Elliott Smith e William James Perry;
Funcionalismo, especificamente Bronislaw Malinowski, Radcliffe Brown e Evans-Pritchard;
Culturalismo, centralizando em Franz Boas, Margaret Mead e Ruth Benedict; e o
Estruturalismo, estudando especificamente Claude Lvi-Strauss.
Na Sociologia, os estudos tiveram como objetivo rever os principais autores da
sociologia clssica, tais como Durkheim, Weber e Marx. Na Poltica, os estudos dedicaram-se
a temas da rea, tais como poder, democracia, liberdade, participao e Estado nos autores
Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel, Toqueville, Stuart Mill,
Karl Marx e Norberto Bobbio.
Eu estudava pela manh, trabalhava com os APN tarde e, no ano de 1991, durante a
madrugada, tambm num programa da Prefeitura de So Paulo da poca, com Entidades
Sociais que atendiam moradores de rua. Fiquei um tempo no AMA (Associao Metodista de
Assistncia Social) que possui uma casa no viaduto Pedroso, centro de So Paulo, atendendo
moradores de rua. Com isso, eu pagava meus estudos.
Em 1992, iniciei minha atividade como professor, lecionando Filosofia e Filosofia da
Educao na Escola Estadual Governador Paulo Sarasate, na Cohab Prestes Maia,
Guaianases. Nesse mesmo ano, mudei-me para uma penso em Itaquera, ficando mais
prximo do trabalho. Foi nesse ano tambm que tive meus primeiros contatos com a Teoria
do Imaginrio de Gilbert Durand. Eu namorava Nilva Regina de Souza, que foi
importantssima em minha vida. Natural de Sacramento, M.G.
r
, de famlia tradicionalmente
kardecista, ela mudou-se, na infncia, com os pais, para So Paulo. Professora de Cincias e
Biologia, na poca fazia uma disciplina com o prof. dr. Jos Carlos de Paula Carvalho, na FE-
USP. Nilva me pedia para ler os textos da disciplina com ela.
Em 1994, me transferi para a Escola Estadual Comendador Mario Reys, em Itaquera,
na regio leste da cidade de So Paulo. Nesse mesmo ano, iniciei uma ps-graduao lato-
sensu, em Cincias Sociais (Antropologia, Sociologia e Poltica) na Fundao Escola de
r
Sacramento uma das cidades, juntamente com Uberaba no Tringulo Mineiro, importante para os kardecistas.
Em Sacramento foi fundado por Eurpedes Barsanulfo em 31 de janeiro de 1907 o primeiro colgio esprita do
Brasil, Colgio Allan Kardec.
XXIII
Sociologia e Poltica de So Paulo, a qual foi concluda em 1995. Em seguida, prestei o
exame de seleo para o mestrado na Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo,
iniciando-o em 1996.
Ao final desse curso lato-sensu, eu me achava em condies de entrar para o mestrado,
especificamente na rea em que j estava trabalhando, a Educao. Fui, contudo, orientado
por colegas professores que trabalhavam ou estudavam comigo, para no prestar a seleo
para o mestrado, pois estes diziam que na USP s entrava quem j tinha algum conhecido para
indic-lo. Apesar disso, apresentei um projeto para o processo seletivo de 1996, na a rea de
Cultura, Organizao e Educao da Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo,
reconhecendo que poderia pesquisar especificamente sobre o tema que me interessava.
A aprovao na primeira fase, prova de conhecimento especfico, deixou-me ansioso,
pois eram apenas 4 vagas, e eu era um desconhecido na FE-USP. Da fase de entrevistas,
porm, faziam parte da banca as Profas. Dras. Helenir Suano e Maria do Rosrio Silveira
Porto, que me deixaram bem tranquilo durante o dilogo que tiveram comigo sobre meu
projeto. Eu no havia indicado, na ficha de inscrio, ningum para dar-me orientao e, ao
sair o resultado final, com minha aprovao, constatei que a Profa. Dra. Helenir Suano
dispusera-se a ser minha orientadora.
Essa foi uma poca bastante enriquecedora para mim, primeiro pela orientao que
tive, em seguida pelos seminrios mensais de que participava, do Centro de Estudos do
Imaginrio, Culturanlise de Grupos e Educao (CICE), alm das disciplinas que cursei
naqueles anos, tais como Identidade, Identidades: Organizao, Escola, Educao, da Profa.
Dra. Roseli Fischmann, que oferecia subsdios para a reflexo sobre o processo de construo
de autonomia e identidade no interior de organizaes educativas, suas relaes com outras
organizaes, bem como com a transformao da sociedade; Cultura, Organizao e
Educao, que tinha como docentes responsveis as Profas. Dras. Maria Ceclia Sanchez
Teixeira, Maria do Rosrio Silveira Porto, Helenir Suano e Rosa Maria Melloni, apresentando
e analisando, de uma perspectiva transdisciplinar, as principais abordagens tericas que
fundamentam os estudos sobre cultura e organizaes educativas; Antropologia
Hermenutica, Educao Ftica e Estria de Vida, com prof. dr. Jos Carlos de Paula
Carvalho, que abordava no campo da hermenutica e da antropologia hermenutica, sobretudo
a mitocrtica, de acordo com a abordagem da Escola de Grenoble, com suas matrizes no
Crculo de Eranos, constelado em torno de Carl Gustav Jung, aplicando ainda esse referencial
XXIV
aos estudos das estrias de vida, no Programa de Ps-graduao da Faculdade de Educao;
e Teorias Sobre o Racismo e Discursos Antiracistas, do prof. dr. Kabengele Munanga, que
discutia teoricamente o racismo na sociedade contempornea, abordando o uso dos conceitos
de raa e racismo, fazendo uma leitura crtica das diversas interpretaes nos campos da
Biologia, Sociologia, Antropologia, Psicologia, abordando tambm os discursos antirracistas
de ao afirmativa e as polticas pblicas de combate discriminao, no Programa de Ps-
graduao em Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da
Universidade de So Paulo, que foram muito importantes para a minha pesquisa.
Os seminrios do CICE, que eram ento realizados mensalmente, sempre utilizando-se
de um texto base, fizeram-me aprofundar as leituras de autores como Edgar Morin e Gilbert
Durand, e as orientaes feitas com muito rigor terico por parte da Profa. Dra. Helenir
Suano, deram-me uma base slida onde estruturar minha dissertao, que estudava as
matrizes imaginrias e arquetipais da cor negra como o mal no pensamento educacional do
ocidente, trabalho esse que defendi no dia 11 de maio de 2000. No mesmo ano, no segundo
semestre, apresentei um projeto de pesquisa no processo de seleo para o doutorado, o qual
visava estudar as experincias educativas no interior de comunidades tradicionais afro-
brasileiras. A banca desse processo seletivo foi composta pelos Profs. Drs. Moacir Gadotti,
Afrnio Mendes Catani e Maria do Rosrio Silveira Porto. A banca, assim como havia
acontecido no mestrado, deixou-me vontade para conversar com tranquilidade sobre o
projeto, embora j surgissem divergncias quanto ao referencial terico de que eu me
utilizaria.
Sob orientao da Profa. Dra. Helenir Suano, iniciei a pesquisa de campo, com
entrevistas aplicadas em duas lideranas de comunidades religiosas: Baba Falagbe
Esutunmibi, (Jos Tadeu de Paula Ribas), babalawo e psiclogo com mestrado em Psicologia
do Desenvolvimento na USP, que foi presidente da FITACO (Federao Internacional das
Tradies Africanas e Culto aos Orixs); e Iya Suru, iyalorix do Il Ax Iya Mi Agba.
Simultaneamente cursei as disciplinas Cultura, Imaginrio e Educao: abordagens
tericas e linhas de pesquisa, tendo como responsveis as Profas. Dras. Helenir Suano, Maria
Ceclia Sanchez Teixeira e Maria do Rosrio Silveira Porto, que apresentaram e analisaram as
principais abordagens tericas no campo do Imaginrio e da Cultura das Organizaes
Educativas, destacando sua dimenso simblica; Antropologia do Imaginrio, Culturanlise
de Grupos, AT-9 e Pedagogia da Leitura, com o Profs. Drs. Jos Carlos de Paula Carvalho e
XXV
Angelina Batista (da UNESP de Botucatu) que, partindo da estrutura de pressupostos e do
engendramento histrico-estrutural de uma antropologia do imaginrio de teor
arquetipolgico, visaram fundamentalmente a exposio da heurstica denominada AT-9,
aplicada ao estudo e pesquisa de campo com grupos culturais e organizaes educativas;
Mythologia Comparada: ensaios para uma antropologia da educao, do Prof. Dr. Marcos
Ferreira Santos, que refletiu sobre os conhecimentos da mythologia comparada e recursos de
hermenutica mitanaltica, para a investigao da relao pedaggica em suas dimenses
latente e patente, possibilitando uma abordagem antropofilosfica; e Histria da Educao na
frica, com o Prof. Dr. Pierre Kita Masandi (natural da Repblica Democrtica do Congo e
professor da Universidade Catlica de Louvain, Blgica), que apresentou a especificidade da
histria da educao na frica, mostrando que a introduo da educao de tipo escolar fora
tributria do contexto colonial, esclarecendo as bases doutrinrias e ideolgicas, assim como
as principais influncias que modelaram os diferentes sistemas de ensino conhecidos na
frica.
Nesses anos ainda, fui monitor no Programa de Aperfeioamento de Ensino da
Universidade de So Paulo, do prof. dr. Csar Augusto Minto, na disciplina Poltica e
Organizao da Educao Bsica no Brasil, o qual, no primeiro semestre de 2002,
apresentava os valores e objetivos da educao, sua insero no sistema escolar pblico, a
organizao da educao bsica no Brasil, a legislao do ensino no Brasil, o planejamento e
a situao atual da educao, as questes do financiamento da educao, da gesto dos
sistemas de ensino e da unidade escolar, atravs da gesto e projeto pedaggico; e do Prof. Dr.
Kabengele Munanga, na disciplina Antropologia da Sociedade Multi-racial Brasileira: o
segmento negro, no primeiro semestre de 2003, que analisou os conceitos bsicos de raa,
etnia, cultura, civilizao, etnocentrismo, preconceito, racismo, alm de realizar as leituras do
racismo na biologia, na sociologia, na antropologia e na psicologia, apresentando as diferentes
formas de racismo no mundo: Jim Crow, apartheid, diferencialismo cultural e racismo
brasileira, finalizando com abordagens sobre as lutas antirracistas e anlises da globalizao e
identidades.
Infelizmente, por motivos pessoais, tive de me desligar do Programa de Ps-
Graduao em Educao da Universidade de So Paulo em 27 de junho de 2005, aps ter sido
j aprovado na Qualificao, no ano anterior. No ano seguinte, porm, retornei ao Doutorado,
agora com a orientao da Profa. Dra. Maria Ceclia Sanchez Teixeira, e com o projeto do
doutorado reformulado, com o mesmo tema, mas de outro enfoque: realizar uma mitocritica e
XXVI
mitanlise do pensamento de Kabengele Munanga, visando compreender a contribuio deste
para as idias pedaggicas brasileiras.
Nesta nova fase, cursei as disciplinas Seminrios de Pesquisa, Organizao e
Educao com os Profs. Drs. Maria Ceclia Sanchez Teixeira, Maria do Rosrio Silveira
Porto e Afrnio Mendes Catani, a qual discutia as principais abordagens tericas e de pesquisa
relativas ao campo da cultura, privilegiando as organizaes educativas como locus de
anlise; e Mithohermenuticas da Arte: ancestralidade & criao, com o prof. dr. Marcos
Ferreira Santos, que situou as mudanas paradigmticas nas pesquisas artstico-cientficas,
apropriando-se das contribuies fenomenolgicas de Bachelard, realizando o dilogo entre
Arte e Cincia sobre o processo identitrio atravs da noo de ancestralidade, mediado em
situaes educativas.
Nos anos de 1998 e 1999, trabalhei como professor do Departamento de Cincias
Sociais e Letras da Universidade de Taubat (UNITAU), nos cursos de Comunicao,
Jornalismo e Propaganda e Marketing. Trabalhei tambm como professor de Filosofia e
Lgica Formal na Faculdade de Tecnologia da Zona Leste - Centro Estadual de Educao
Tecnolgica Paula Souza, por contrato de trabalho entre fevereiro de 2003 e fevereiro de
2005; e entre agosto de 2005 e agosto de 2007. Desde fevereiro de 2000, trabalho no Centro
Universitrio talo Brasileiro (UNITALO), lecionando na rea de Educao, especificamente
nos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Filosofia.
Meus estudos e pesquisas mostraram-me que em todas as culturas, as pessoas possuem
um conjunto de princpios nos quais as suas experincias so ordenadas. Oxal o pensamento,
as idias, a forma de pensar de origem africana presente na maioria da populao brasileira,
que influencia a forma de interpretar, de se organizar e tornar a vida possvel dos
afrodescendentes, seja no universo fsico como no espiritual, possam deixar de ficarem
excludas e serem valorizadas e incorporadas em nossa cultura brasileira. Mais do que a
simples incluso do negro na sociedade e especificamente no ensino formal bsico e superior,
meu sonho de que a cultura, a religiosidade, a filosofia de origem afro sejam incorporadas.
1
INTRODUO
Procuro sempre lembrar que existem duas maneiras
principais de abordar as realidades africanas. Uma
delas, que pode ser chamada de perifrica, vai de fora
para dentro e chega ao que chamo de frica-Objeto,
que no se explica adequadamente. A outra, que
prope uma viso interna, vai de dentro para fora dos
fenmenos e revela a frica-Sujeito, a frica da
identidade profunda, originria, mal conhecida,
portadora de propostas fundadas em valores
absolutamente diferenciais (Fbio Rubens da Rocha
Leite, in Amadou Hampt B. Amkoullel, o menino
fula. 2003, p. 10).
2
Meu interesse em compreender as africanidades no universo pedaggico e educacional
brasileiro foi despertado durante o mestrado. Minha compreenso sobre as africanidades est
fundamentada em duas definies que se complementam. A primeira a do antroplogo
Kabengele Munanga, e a outra da pedagoga Petronilha Beatriz Gonalves e Silva. Para
Munanga (1984a, p. 5):
Africanidade no uma concepo intelectual afastada da
realidade. Ela um conjunto dos traos culturais comuns s
centenas de sociedades da frica subsaariana. (...) O contedo
da africanidade o resultado desse duplo movimento de
adaptao e de difuso. (...) Em toda a frica Negra, a
infncia sempre acompanhada dos ritos de iniciao: a
criana tem sempre um contato prolongado com a me e tem
uma dependncia de linhagem muito grande, o que
fundamental. Sua referncia identitria no a nacionalidade,
no a classe social, mas, sim, seu grupo de parentesco.
A presena dos africanos de diversas etnias no Brasil, trazidos durante o processo de
escravizao, e em seguida, de seus descendentes, exerceu um papel importantssimo na
forma de ser do brasileiro. O modo de produo, assim como os saberes culturais, seja na
tecnologia, na arte, na agricultura etc, marcam a histria do Brasil, o que nos possibilita
tambm definir as africanidades segundo Silva (2001, p. 151), como:
... as razes da cultura brasileira que tm origem africana.
Dizendo de outra forma, estamos, de um lado, nos referindo
aos modos de ser, de viver, de organizar suas lutas, prprios
dos negros brasileiros, e de outro lado, s marcas da cultura
africana que, independentemente da origem tnica de cada
brasileiro, fazem parte do seu dia-a-dia.
No mestrado, minha preocupao esteve intimamente ligada aos estudos religiosos. Eu
buscava levantar imagens do mal nas mitologias, procurando mostrar que elas so
representadas e/ou simbolizadas pela cor negra, contribuindo assim para reforar o
etnocentrismo do branco. Meu objetivo era mostrar como as imagens da cor negra como
estando ligada ao mal, desgraa etc., surgida das tradies judaico-crists, so manifestadas
nos processos educativos. Para isso, finalizei analisando o imaginrio pedaggico ocidental
(Julvan Moreira de OLIVEIRA, 2000).
Utilizei as noes do imaginrio entendido como ... o conjunto de imagens e relaes
de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens (...) o grande denominador
3
fundamental aonde se vm encontrar todas as criaes do pensamento humano (Gilbert
DURAND, 1997, p. 18) e de etnocentrismo que identifica a causa deste na dimenso da
Sombra (Jos Carlos de PAULA CARVALHO, 1994, p. 182). Segundo Paula Carvalho
(ibidem, p. 181):
... o etnocentrismo consiste em privilegiar um universo de
representaes propondo-o como modelo e reduzindo
insignificncia os demais universos e culturas diferentes.
(...) Em profundidade, est-se projetando fora, como Outro e
como Sombra, o que incompatvel e perigoso reconhecer
que pertena ao universo da cultura padro escolhida.
Paula Carvalho (ibidem, p. 181) partiu da distino feita por Lvi-Strauss
19
, da
existncia de dois tipos de sociedade: a antropofgica e a antropomica. Enquanto a primeira
assimila os indivduos considerados por ela como temveis, neutralizando-os, a segunda
expulsa de si esses indivduos, ou os coloca em locais especiais. Esses dois modelos de
sociedade encaixam-se no modelo quadripartite de etnocentrismo, estudado por Pierre-Andr
Taguieff (1988). Munanga (2006, p. 47), por sua vez, dir que esses modelos encaixam-se na
idia de humanidade presente nas sociedades modernas. Teramos primeiramente uma
afirmao essencialista ou universalista da humanidade. Em seguida:
... veio se sobrepor uma nova convico: existe, certo, uma
identidade humana, mas essa identidade sempre
diversificada, segundo os modos de existncia ou de
representao, as maneiras de pensar, de julgar, de sentir,
prprias s comunidades culturais, de lngua, de sexo, s quais
pertencem os indivduos e que so irredutveis s outras
comunidades (ibidem, p. 48).
Na viso de Taguieff (op. cit., p. 409), os debates representam, em vrias ocasies, um
dilogo de surdos, tendo, de um lado, os valores individuais-universalistas e, de outro lado, os
valores tradicionais-comunitaristas. H, dessa forma, quatro tipos de racismo, dois deles
ligados ao universalismo e dois ligados ao relativismo. No primeiro caso, teramos o racismo
universalista-espiritualista, que tem por base a concepo evolucionista do progresso da
civilizao, alcanada pelas raas mais evoludas, enquanto os menos evoludos, os menos
esclarecidos, so assimilados. um tipo de racismo intelectualista e educacional. Paula
Carvalho (op. cit., p. 182) define-o como antropofagia dialgica: racizao amena de
19
Lvi-Strauss, em Tristes Trpicos (1996), utiliza dois conceitos para explicar como as sociedades lidam com a
alteridade: Antropofagia (fagia, do grego engolir), a ao de assimilar o outro e transform-lo em parte;
Antropoemia (emien, do grego vomitar) a ao de jogar para fora, expulsar, exilar o outro.
4
englobar o Outro no e pelo discurso persuasivo, forma predominante, em educao, do homo
academicus e de muitas pedagogias dialgicas; fundamental, em forma estereotipada, na
mdia poltica.
Ainda no primeiro caso, h o racismo bio-evolucionista, que pretende legitimar a
colonizao e dominao das raas superiores sobre as raas inferiores, inaptas ao progresso.
Segundo Paula Carvalho (ibidem, p. 182) a antropofagia digestiva: racizao repressiva da
assimilao dos outros a si mesmo, todas as formas de aculturao.
No segundo caso, surge o racismo comunitarista-espiritualista, calcado na crena de
que cada raa encarna um tipo espiritual e cultural diferente da outra, sendo portanto
necessrio preserv-las. Aqui sente-se a necessidade em preservar, a qualquer custo, as
identidades, o que implica a negao de qualquer mistura, aqui compreendida como um
processo destruidor. Paula Carvalho (ibidem, p. 182) compreende-o como antropoemia
genocida: racizao terrorista da destruio dos outros, como no caso das perseguies aos
judeus, armnios, ciganos, feiticeiras, linchamentos etc.
Por fim, ainda no segundo caso, o racismo materialista-zoolgico acredita num
poligenismo e num polilogismo. Aqui no h passagem de uma para a outra, pois as barreiras
so julgadas totalmente intransponveis. Os cruzamentos interraciais so vistos como
transgresses s leis da natureza. Paula Carvalho (ibidem, p. 182) denominar tal processo
como antropoemia da tolerncia: racizao especifica do desenvolvimento em separado:
em aparncia, respeita-se tanto o outro, tolerando-o, o que na realidade, acaba-se por isol-lo,
no se dando aos trabalhos dos enfrentamentos de diferenas, tpico de todas as ideologias do
relativismo e ecumenismo.
Desse estudo, conclui-se que, se o ocidente est fundado sobre uma lgica
maniquesta, binria, possibilitando a excluso do diferente, motivo de minha preocupao no
mestrado, acredito que outras culturas, no caso especfico, as diversas culturas africanas,
possuem outra lgica, e a esta que o trabalho atual toma como referncia. O filsofo gans
Kwame Anthony Appiah (1997, p. 184) d-nos uma pista:
Lembro-me de haver discutido, certa vez, diferenas de estilo
cultural entre Gana e os Estados Unidos com um conterrneo
gans e um norte-americano. O estudante norte-americano
perguntou o que nos havia parecido ser a diferena cultural
mais importante entre Gana e os Estados Unidos, ao
chegarmos a este ltimo pas pela primeira vez. Vocs so
5
muito agressivos, disse meu amigo gans; em Gana, no
consideraramos isso muito boas maneiras. Obviamente, o
que ele havia notado no fora a agressividade, mas
simplesmente um estilo de conversao diferente. Em Gana,
mas no nos Estados Unidos, indelicado discordar, discutir
ou refutar. E essa abordagem conciliatria da conversa faz
parte da mesma gama de atitudes que leva s conciliaes
tericas.
Segundo Durand (1997), a lgica da refutao pertence ao regime diurno de imagens,
que envolve a anttese, ou seja, que se caracteriza pelas dicotomias e as divises em opostos
(luz-trevas, vida-morte, noite-dia, claro-escuro, limpo-sujo, santo-profano), marcado por
smbolos de diviso, de separao, do antagonismo entre o Bem e o Mal, por smbolos de
superioridade. Por outro lado, a lgica conciliatria pertence ao regime noturno de imagens, o
qual constitudo por duas estruturas, a mstica e a sinttica. A estrutura mstica
caracterizada pela busca incessante da harmonia, da serenidade, da felicidade, evitando as
tenses polmicas, enquanto a estrutura sinttica marcada pela repetio dos ritmos
temporais e o domnio cclico do devir. Acredito que, a partir dessa lgica conciliatria,
representao diacrnica que liga as contradies pelo fator tempo (ibidem, p. 443) ser
possvel se pensar numa educao inclusiva, no etnocntrica.
Atualmente, surgem propostas educacionais que acenam para uma ruptura com a
universalizao, em defesa da heterogeneidade presente na sociedade brasileira, reconhecendo
a:
... possibilidade de construo de um espao pblico que
expresse o reconhecimento da pluralidade tnica, racial e
sexual, tratando a todos por igual, mas no igualmente (...) as
particularidades possam ser respeitadas, negociadas e
representadas nas diferentes instituies da vida social (Valter
Roberto SILVRIO, 1999, p. 55).
Com a introduo do principio presente no inciso III do art. 206 da Constituio
Federal de 1988, que destaca o pluralismo de idias e de concepes pedaggicas, assim
como dos Parmetros Curriculares Nacionais (PCNs), editados pelo Ministrio de Educao
(MEC), indicando a Pluralidade Cultural como um Tema Transversal na elaborao dos
currculos, diversas escolas e educadores elegem contedos e procedimentos em qualquer
uma das reas de conhecimento, tendo em mente o respeito e a valorizao das diferenas.
6
Essas experincias na educao, no entanto, so realizadas dentro de referenciais tericos e
metodolgicos esquizomorfos
20
, tidos como universais. Assim:
... a incluso das mulheres, dos negros, (...) s acontece na
medida em que estes grupos cedem homogeneizao e
abrem mo de suas diferenas e, portanto, de seus interesses,
na esfera pblica (Cli Regina Jardim PINTO, 1999, p. 60).
Emergem experincias educacionais no interior das complexas estruturas de matrizes
africanas no Brasil, mas com a utilizao de instrumentos de anlises e metodologias
clssicas, empobrecendo assim a complexidade do universo sciocultural afrobrasileiro.
Como afirma Petronilha Beatriz Gonalves e Silva, ... em se tratando de estudos que se
propem a conhecer e valorizar feies tnico-histrico-culturais, e por isso mesmo
socialmente situadas, que no h um nico estilo de apreender e de significar o mundo. (...)
implica, pois, mudana conceitual (2001, pp. 154-155).
Silva (ibidem), ao compreender a necessidade de mudana nos conceitos, aproxima-se
de Paula Carvalho (1990, pp. 21-22), o qual, por sua vez, prope uma re-paradigmatizao, j
que compreender a cultura afrobrasileira significa faz-lo a partir de um outro paradigma, de
uma outra lgica, a da incluso. A razo clssica regida pela lgica da excluso, da reduo,
da disjuno, da simplificao, com base na racionalidade tcnica que tem por base a:
... reduo probabilista eliminando o possvel, o imaginrio, o
utpico e a transgresso; previsibilidade reduzindo o risco, a
lea e a desordem; em suma, negao da diferena unida
poltica cognitiva da dominao; donde, instrumentalizao da
razo e universo tecnoburocrata do saber (ibidem, p. 22).
As novas orientaes ganharam fora com a Resoluo n 1, de 17 de junho de 2004,
do Conselho Nacional de Educao, fundamentado no Parecer do mesmo Conselho, de 10 de
maro de 2004, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educao das
Relaes tnico-Raciais e para o Ensino de Histria e Cultura Afro-brasileira e Africana
21
.
Compreendo que essas novas orientaes legais poderiam ser melhor operacionalizadas, se
20
Segundo Durand (1997, 179-180), o Regime Diurno (...) essencialmente polmico. A figura que o exprime
a anttese. (...) a verticalidade definitiva e masculina contradizendo e dominando a negra e temporal
feminilidade; a elevao a anttese da queda, enquanto a luz solar era a anttese da gua triste e da tenebrosa
cegueira dos laos do devir. (...) Ao Regime Diurno da imagem, corresponde um regime de expresso e de
raciocnio filosficos a que se poderia chamar racionalismo espiritualista.
21
CNE/CP Resoluo 1/2004. Dirio Oficial da Unio, Braslia, 22 de junho de 2004, Seo 1, p. 11.
7
fossem compreendidas no interior do paradigma holonmico
22
, o qual possui uma razo
aberta e transdisciplinar. Segundo Paula Carvalho (ibidem, p. 25):
Nossa opo por um paradigma holonmico cujos traos de
base, de modo complexificado, passariam a ser: uma
ontologia, um pluralismo coerente; uma epistemologia
holorhtica e interativa; uma gnoseologia da
conflitorialidade (o antagonismo contraditorial) e uma
lgica polivalente do tertium datum; uma metodologia
fenomenolgico-compreensiva e estrutural-figurativa; uma
dinmica da complexidade neg-entrpica e das
turbulncias; uma concepo de linguagem como funo
simblica.
A compreenso das experincias educativas e do pensamento, presente no interior de
comunidades tradicionais afro-brasileiras fundamental, e no s para os negros, mas para a
sociedade multicultural brasileira. Os temas que trabalham com cultura, nas mais diversas
concepes do termo, so refns dos paradigmas reducionistas, seja do racionalismo, do
empirismo ou do positivismo, situando-se assim entre uma viso excludente, ou do micro ou
do macro-estrutural. Esses tipos de abordagens privilegiam ora uma, ora outra dimenso do
real, e desse modo tm dicotomizado, de forma radical, o estudo dos grupos sociais, trazendo,
pelo reducionismo inerente a uma ou outra postura, enorme prejuzo para o conhecimento das
inmeras dimenses da experincia social, principalmente no que diz respeito s questes da
cultura afrobrasileira.
De acordo com Sanchez Teixeira (1990, p. 34), as funes atribudas escola
decorrem das concepes de educao que, por sua vez, decorrem das concepes de homem
e de sociedade que vigem em determinado momento histrico. Com isso, compreendo que a
cultura dos educadores brasileiros marcada por lgicas reducionistas e excludentes, as
mesmas que dominam h sculos o pensamento ocidental.
Ao analisar o homem nos momentos histricos do ocidente, percebo a situao
mundial como resultado do surgimento, do triunfo e da crise da chamada sociedade burguesa.
Aqui, segundo Durand (2004, pp. 14-15):
22
O paradigma holonmico sustenta um princpio unificador do saber, do conhecimento em torno do ser
humano, valorizando seu cotidiano, o vivido, o pessoal, a singularidade, o entorno, o acaso e outras categorias
como: deciso, projeto, rudo, ambigidade, finitude, escolha, sntese, vnculo e totalidade. O paradigma
holonmico pretende restaurar a totalidade do sujeito, valorizando iniciativa e criatividade, o micro, a
complementaridade, a convergncia e a complexidade.
8
O positivismo e as filosofias da Histria, s quais nossas
pedagogias permanecem tributrias (...), sero frutos do
casamento entre o factual dos empiristas e o rigor iconoclasta
do racionalismo clssico. As duas filosofias que
desvalorizaro por completo o imaginrio, o pensamento
simblico e o raciocnio pela semelhana, isto , a metfora,
so o cientificismo (doutrina que s reconhece a verdade
comprovada por mtodos cientficos) e o historicismo
(doutrina que s reconhece as causas reais expressas de forma
concreta por um evento histrico). (...) Embora, por um lado,
tenha sido a lenta eroso do papel do imaginrio na filosofia e
epistemologia do Ocidente que possibilitou o impulso deste
poder material sobre as outras civilizaes atribuiu uma
caracterstica marcante ao adulto branco e civilizado, do
resto das culturas do mundo tachadas de pr-lgicas,
primitivas ou arcaicas.
O mito do Leviat, que j servira a Hobbes para desenvolver sua Teoria do Estado
Absoluto e denunciar a maneira como, nesse Estado, todos os elementos da existncia,
poltica e econmica, cultural e religiosa independentes, so tragados pelos interesses do
primeiro, aplica-se tambm aos processos resultantes da revoluo burguesa contra o
absolutismo medieval. Isso porque os revolucionrios no previram que o Leviat seria capaz
de assumir outra face no menos formidvel, embora disfarada por detrs da mscara do
liberalismo: o abarcador mecanismo da economia capitalista, a segunda natureza criada pelo
homem, mas que sujeita as massas dos homens s suas demandas e oscilaes incalculveis.
Essa face demonaca tem sido desvelada desde a Primeira Guerra Mundial e esse
mesmo desvelamento conduziu a reaes radicais por parte de sociedades que vislumbraram a
mesma horrvel segunda face do Leviat. Contudo, a batalha contra as conseqncias
destrutivas do mecanismo capitalista tem conduzido organizao totalitria da vida nacional,
e o Leviat aparece novamente com uma terceira face, combinando caractersticas da
primeira e da segunda. A situao mundial no configurada pela terceira face do Leviat
isoladamente, apesar de sofrer suas consequncias mas, ao invs disso, ela determinada pela
luta entre o Leviat em sua segunda fase, o Leviat em sua terceira fase e o esforo de
indivduos e grupos para descobrir um modo pelo qual ambos possam ser trazidos sujeio.
Foi evidente a luta entre naes socialistas e capitalistas, no contexto imediato do ps-guerra.
Entretanto, apesar da variao quanto intensidade, essa estrutura bsica da situao mundial
no se restringiu s esferas poltica, social e econmica apenas, mas passou a determinar
qualquer aspecto da existncia da humanidade. Por isso possvel aplicar esta analogia
tambm na descrio da situao intelectual, que o assunto que nos interessa aqui.
9
Durante o perodo do surgimento da sociedade burguesa, houve a proeminncia da
razo burguesa revolucionria sobre o absolutismo medieval. Nesse perodo, a razo era
concebida como um princpio universal de verdade e justia, sendo que a libertao da razo,
em qualquer pessoa, levaria realizao de uma humanidade universal e a um sistema de
harmonia entre indivduos e sociedades. Essa crena na razo como princpio que estabelece
uma perfeita identificao dos interesses individuais e sociais orientou a ao revolucionria
burguesa e proporcionou os fundamentos sobre os quais todos os aspectos da vida deveriam
ser submetidos. Entretanto, a ingenuidade dessa convico, bem como as trgicas
consequncias que resultaram dela foram sentidas j na segunda fase do desenvolvimento da
sociedade burguesa, no perodo da vitria ou triunfo da burguesia. Como afirma Castor
Bartolom Ruiz (2004, p. 39):
... s queremos mostrar algumas das principais concepes
filosficas que, estando de uma ou outra forma imbudas de
uma lgica e ontologia da determinao, nos possibilitam ter
uma viso do alcance histrico que teve e ainda tem a
ontologia da determinao e as conseqncias que ela
acarretou para a compreenso da realidade antropolgica e
scio-histrica.
Ao cessar o mpeto revolucionrio, o princpio da razo como verdade e justia
tambm sofreu profundas transformaes. Isso porque a nova classe dominante poderia e, de
fato, comprometeu-se com as reminiscncias do feudalismo e do absolutismo e, com isso,
sacrificou a razo como princpio de verdade e justia, empregando-a principalmente como
uma ferramenta no servio de uma sociedade tcnica. Assim, a razo tcnica tornou-se o
instrumento de um novo sistema de produo e comrcio. Para Sanchez Teixeira (op.cit, p.
62):
Portanto, o que fundamenta os ideiais do produtivismo e do
progresso que permeiam, segundo Maffesoli, ideologias
econmicas aparentemente diferentes, a racionalidade
tcnica. Este fato explica como formas de organizao social
totalmente semelhantes so encontradas em pases com
orientaes ideolgicas diferentes. Para este autor, o ideal do
produtivismo e do progresso encontrado em Marx, que se
manteve fiel tradio racionalista, vendo no trabalho (cincia
e tcnica) a mediao do desejo, considerando-o como o
elemento estruturante da sociedade ocidental produtivista e
enfatizando o seu aspecto salvador. Nesse sentido, no
socialismo, a integrao social determinada pela
planificao, eficcia e produtividade. Para Maffesoli, existe
10
em germe no marxismo o positivismo da tecnocracia do
capitalismo avanado e do capitalismo de Estado.
A razo tcnica providencia meios para fins, mas no oferece orientao na
determinao dos fins. Razo, no primeiro perodo, tinha sido relacionada com os fins que
transcendiam a dimenso da existncia. Razo tcnica tornou-se relacionada com os meios
para estabilizar a dimenso da existncia. Razo revolucionria tinha sido conservadora no
tocante aos meios, mas utpica no tocante aos fins. Razo tcnica conservadora com
respeito aos fins e revolucionria com respeito aos meios. Ela pode ser usada por qualquer
propsito ditado pela vontade, inclusive por aqueles que negam a razo no sentido de verdade
e justia.
Percebe-se, portanto, que, no perodo do triunfo da burguesia sobre o absolutismo e o
feudalismo, as transformaes ocorridas na concepo da razo desencadearam um crescente
esvaziamento da profundidade da existncia, transformando o prprio ser humano numa
unidade de fora de trabalho, isto , numa coisa desprovida de qualquer significado
transcendente.
Em relao ao mbito intelectual, essa transio para a razo tcnica representou, no
sculo XIX, a sujeio de todos os aspectos do pensamento e da vida ao enorme mecanismo
de uma civilizao industrializada, cujo esprito era intensamente ctico, positivista e
conservador em todos os aspectos. Assim, o pensamento filosfico foi substitudo pelas
cincias naturais, que forneceram o modelo para todo conhecimento, como tambm para a
vida prtica e para a religio. A cincia tornou-se positivista: a realidade deveria
simplesmente ser aceita como ela ; nenhum criticismo racional dela seria permitido. O assim
chamado fato e sua adorao substituram o sentido e sua interpretao.
A reao a essa instrumentalizao da razo pela lgica capitalista causou uma
profunda sensao de vazio existencial nos indivduos, fato que os conduziu a uma busca
desesperada por um mnimo de segurana e, com isso, possibilitou o surgimento e
estabelecimento de organizaes totalitrias da vida, como, por exemplo, o nazismo e o
comunismo sovitico. Ambos movimentos procuram elevar a razo tcnica ao status de razo
planejada e, dessa forma, apesar de manterem alguns elementos revolucionrios, sacrificam a
liberdade dos indivduos.
11
Como um esforo para superar tanto o mecanicismo capitalista como o totalitarismo e
absolutismo no mbito intelectual, surgiu o existencialismo. Entretanto, a verdade
existencial proclamada pela filosofia existencialista ambgua pois, de um lado, ela
representa um protesto contra o mecanismo de produo para o qual a razo como um
princpio de verdade e justia tem sido entregue, mas, por outro, atravs da verdade
existencial, o mecanismo, a segunda natureza, grandemente fortalecido, pois a verdade
existencial tambm entrega a razo e usa apenas a racionalidade tcnica em seus propsitos
no-racionais. Para Sanchez Teixeira (ibidem, pp. 80-81):
neste sentido que, para Maffesoli, o poder no muda de
natureza, independentemente das doutrinas que o justifiquem
e o legitimem e dos homens que o exeram, se as suas
invariantes estruturais no forem questionadas. (...) tanto os
enfoques liberais como os progressistas, embora apresentem
modulaes diferentes, no questionam as invariantes do
poder. A principal diferena entre eles reside nas bases de
justificao e de legitimao do poder, isto , em nome de que
ideais se busca e se exerce esse poder. Em ambos os enfoques,
a escola considerada como mecanismo de controle social,
pois, se no caso dos enfoques liberais, ela pode contribuir para
a preservao da hegemonia da classe dominante, no caso dos
progressistas pode contribuir para instaurar e preservar uma
nova hegemonia, uma nova dominao, exercida por uma
nova classe social que assumiria o poder.
Tendo em vista a situao mundial e seus reflexos no mbito intelectual, torna-se
urgente a elaborao de uma resposta a esta situao em que a verdade existencial e a verdade
ltima estejam unidas. Se tomarmos Durand como referncia, o conhecimento construdo a
partir de encontros entre sujeito e objeto, ou seja, num trajeto entre a subjetividade e a
objetividade. Em todos os nveis do conhecimento, as dimenses de individualizao e
participao esto presentes nos tais encontros cognitivos como polaridades do ser e da
realidade. Tanto a individualizao, que no permite a dissoluo do ser naquilo que
universal, como a participao, que possibilita o conhecimento por semelhana e estranheza,
so categorias ontolgicas que se refletem tanto na estrutura racional do ser humano quanto
na estrutura racional da realidade.
De certa forma, todo ato cognitivo depende da capacidade de distanciamento, mas a
tendncia do conhecimento controlador, como expresso da razo tcnica de monopolizar a
totalidade da funo cognitiva e de negar que todo outro acesso seja conhecimento e possa
atingir a verdade, mostra sua desintegrao existencial. Pode-se concluir, portanto, que o
12
conhecimento controlador a distoro da razo cognitiva na dimenso da existncia, que
privilegia o mtodo e a verificao em detrimento do sentido ltimo das coisas e a sua
interpretao. Procedendo desta forma, o conhecimento controlador nega a possibilidade de
uma significao ltima da existncia e, portanto, interfere na dimenso da profundidade da
vida que a dimenso simblica. Segundo Csar Bartolom Ruiz (2004, p. 179):
O simblico sutura a fratura do sujeito e o mundo. Imbrica-os
num modo de relacionamento em que os contrrios no se
excluem de modo absoluto, mas se co-implicam de forma
necessria. (...) No simblico, os contrrios se implicam por
necessidade. Amor-dio, belo-feio, frio-quente, homem-
mulher, pai-me, guerra-paz, etc. na lgica da identidade so
conceitos que se excluem por definio. No entanto, para o
simbolismo, a existncia de cada um possvel medida que
se co-implica no outro. Eles coexistem de modo co-implicado.
Simbolicamente no possvel pensar s na existncia de um
dos elementos, pois no momento em que ele se constitui, seu
contrrio emerge co-implicado nele.
O conhecimento controlador no admite outra dimenso da existncia, a no ser
aquela que pode ser acessada por seus mtodos e continuamente comprovada pela verificao.
Desta forma, procura esgotar a realidade no conceito de coisa que pode ser controlada por
um sujeito. Por outro lado, a razo cultural deve ser entendida como sendo a estrutura da
mente que a capacita a abarcar e transformar a realidade, mas que no se limita tcnica,
pelo contrrio, efetiva nas funes cognitiva, esttica, prtica e tcnica da mente humana.
Esse conceito de razo inclui outras dimenses da existncia que diferem ou transcendem o
simples raciocinar e, dessa forma, possibilita ao ser a pergunta pela revelao, isto , pelo
sentido ltimo da existncia, expresso na preocupao ltima.
Quando compreendida a partir da razo cultural, a natureza (inclusive o ser humano)
deixa de ser meramente um objeto a ser analisado e verificado distanciadamente e passa a ser
concebida como realidade autotranscendente. Assim, o conflito entre dois plos torna-se
impossvel, pois suas afirmaes pertencem a dimenses distintas da existncia, cabendo
razo tcnica a dimenso da transitoriedade e superficialidade da realidade, e razo cultural
a pergunta pela revelao do sentido ltimo, permanente e incondicionado desta realidade. De
acordo com Sanchez Teixeira (op.cit., p. 87):
Com efeito, trata-se de uma outra maneira de se conceber a
prtica social. Nesse sentido, J. C. de Paula Carvalho concebe
a prtica social a prxis como um conjunto de prticas
simblicas que constituem o imaginrio social. Para este autor
13
... o imaginrio, quer nas suas manifestaes biticas (como
corporeidade e como ritualizaes), quer nas suas
manifestaes noolgicas (como imaginrio e iderio), quer
como universo das imagens simblicas, modula, como
imagens/idias-fora, a ao social vetorializando-a. Em
outras palavras, o imaginrio constitudo por prticas
simblicas que, por serem simblicas, so necessariamente
organizacionais e educativas, na medida em que criam
vnculos de solidariedade e de contato.
A razo cultural submete a epistemologia ontologia, indicando, desta forma, que o
problema do conhecimento deve ser inserido no contexto mais amplo, universal, do problema
do ser. Desta afirmao, depreende-se que o conhecimento no um ato praticado
unilateralmente por um sujeito que domina o objeto, como se a realidade pudesse ser
simplesmente dominada pela racionalidade cientfica. Ao invs disso, todo conhecimento
possibilitado a partir da abertura de cada ser ao outro e da correspondncia da estrutura
racional da existncia humana com a estrutura racional da realidade.
importante observar que a razo cultural no negligencia a validade do
conhecimento tcnico, orientado metodologicamente e verificado sistematicamente. Ao invs
disso, ela valoriza o conhecimento tcnico como continuidade do processo natural que
perpassa toda a natureza. O tcnico continua o processo que perpassa toda a natureza, isto , a
criao de formas nas quais a profundidade do ser vem existncia. Desta forma, o que estava
escondido no tero das possibilidades criativas torna-se realidade atravs dos resultados do
conhecimento tcnico. No se trata, portanto, de desprezar a tcnica, mas de discernir a
dimenso da realidade que ela acessa.
Alm disso, tambm importante perceber a impossibilidade de se atingir um mtodo
investigativo absolutamente isento da participao do investigador, e isto se aplica a qualquer
rea do conhecimento humano. Evidente que uma separao do sujeito e do objeto do
conhecimento necessria. No entanto, importante destacar a participao ou o
envolvimento entre sujeito e objeto nos encontros cognitivos. preciso entender que os
homens fazem as perguntas e que as coisas respondem s perguntas que os homens tm feito.
Todas as respostas dadas pelas coisas aos homens so respostas que tm um lado dos prprios
homens nelas, ou seja, o jeito humano de se propor a questo.
Com isso, devemos destacar a necessidade de re-invertarmos mtodos epistemolgicos
cada vez mais abrangentes, sem que, com isso, pretendam-se absolutos, nos quais as diversas
14
dimenses da existncia humana, rejeitadas e menosprezadas por um cientificismo
racionalista mutilado e mutilador, possam expressar a sua voz e enriquecer nossa experincia
cotidiana. Enfim, que sejam suficientemente capazes de expressar o anseio por um novo ser
no qual esprito e natureza esto reconciliados. Para Sanchez Teixeira (ibidem, pp. 90-91):
Nestes termos, J. C. de Paula Carvalho prope uma concepo
ampliada de educao que no considere apenas a
escolarizao. Para este autor, a educao uma prtica
simblica basal que realiza uma funo ftica, isto , realiza a
sutura entre as demais prticas, dotando-as de carter
educativo. Em outras palavras, a educao pensada enquanto
prtica simblica tem por funo realizar a mediao de todas
as prticas simblicas. (...) Nesse sentido, as tradicionais
funes da escola teriam de ser repensadas, pois esta deixa de
ser considerada apenas como mecanismo de controle social a
servio de uma classe hegemnica. Uma educao que
recupera a sua dimenso imaginria, simblica, deixa de ter
funes meramente reprodutoras, na medida em que torna
possvel a criatividade e a inventividade.
Resumindo, os educadores brasileiros so marcados por duas matrizes bsicas e
antagnicas. Essas duas correntes, a liberal e a progressista, possuem a mesma raiz, com
lgica reducionista e excludente.
Por outro lado, a forma de pensar tradicional afrobrasileira marcada pela presena
dos mitos das culturas sudanesas (Nei LOPES, 2005, pp. 70-190): nag (ketu e ijex) e jje
(ashanti e gan), e culturas bantos (ibidem, pp. 40-68): (angola e congo)
23
. Estes, transmitidos
atravs da literatura oral, esto no centro das atividades de formao dos membros de diversos
grupos culturais como lundu, jongo, capoeira, congada ou moambique, maracatu, samba,
mineiro-pau, afox, coco, maxixe, boi-bumb etc. Isso sem falar na educao presente no
interior das comunidades remanescentes de quilombos (MOURA, 2006; PINTO, 2006;
RATTS, 2006; FERREIRA, 2006, NUNES, 2006) espalhados por todo o pas, onde os contos,
23
Sudaneses: grupo cultural que habitava a regio entre o deserto do Saara e o Atlntico, regio conhecida
como Golfo de Guin, a frica intertropical, atualmente correspondendo os pases Tchad, Niger, Sudo, Nigria,
Benin (Daom), Togo, Gana (Costa do Ouro), Costa do Marfim, Libria, Serra Leoa, Guin Bissau e Senegal.
Os sudaneses dividiam-se em iorubas e haus: Iorubs: habitantes da regio da Nigria, Benin e Togo.
Conhecidos no Brasil como Nags. A capital poltica dos iorubas era Oy, e a capital religiosa era If; Hauss:
habitavam o norte da Nigria, Nger, a frica do Norte, Oeste e Equatorial. Conhecidos no Brasil como Mals.
Eram muulmanos, sendo conhecidos como guineano-sudaneses islamizados ou negro-maometanos.
Bantos: grupo lingustico/cultural que habitava aproximadamente 2/3 da frica sub-saariana. A maioria que
chegou ao Brasil veio da regio onde se encontra atualmente Angola, Congo e Moambique. Os bantos falavam
as lnguas Kimbundo, Kikongo, sem contar 300 dialetos.
15
as lendas, os mitos, os provrbios, as mximas, os aforismos, os cantos e os jogos so
instrumentos didticos para auxiliar a cincia educativa.
A base de toda essa sabedoria ancestral est na crena de uma fora vital que reside
em toda natureza: os quatro elementos (terra, gua, fogo e ar) so sentidos material e
existencialmente, provocando o indivduo a estabelecer uma relao elementar com a matria
dinmica em movimento. Cada temperamento humano tem seu destino no elemento. A pessoa
inserida nessa lgica das foras onricas que ora privilegia um elemento, ora outro. Em cada
configurao, os elementos so combinados, sendo compreendidos como esquemas de
virtualidades e possibilidades. Os quatro elementos so arqutipos, imagens onricas e
primitivas, uma concentrao em si mesmos da experincia primitiva ancestral, experincia
originria da busca de si mesmo. Afirma Bachelard (1989, p. 4).
No reino da imaginao, uma lei dos quatro elementos, que
classifica as diversas imaginaes materiais conforme elas se
associem ao fogo, ao ar, gua ou terra. E, se verdade,
como acreditamos, que toda potica deve receber
componentes por fracos que sejam de essncia material,
ainda essa classificao pelos elementos materiais
fundamentais que deve aliar mais fortemente as almas
poticas. (...) e no toa que as filosofias primitivas faziam
com freqncia, nesse caminho, uma opo decisiva.
Associavam a seus princpios formais um dos quatro
elementos fundamentais, que se tornavam assim marcas de
temperamento filosficos.
Os elementos no determinam casualmente o pensamento das pessoas, mas provocam-
nas a darem suas contribuies pessoais, tornando presentes na conscincia os sonhos
ancestrais da humanidade. So as pessoas que, atravs dos elementos, mostram seus
pensamentos.
Face ao j exposto acima, sobre a cultura e a educao afrobrasileira, e tendo em vista
o que preconiza a legislao sobre a incluso e o multiculturalismo, faz-se necessria
utilizao de um outro referencial terico-metodolgico, fundamentado na concepo de uma
outra razo, aberta e complexa, uma nova racionalidade, imprescindvel para abarcar a
complexidade da realidade, que nos permita abordar em profundidades a cultura afro-
brasileira e as diversas problemticas em torno da educao nacional, no contexto das
enormes transformaes culturais do mundo contemporneo.
16
Neste contexto de construo de novos paradigmas educacionais, Candau (2002, p. 62)
diz que os negros latinoamericanos, principalmente no Brasil, configuram-se como parte de
outro grupo tnico que tem reivindicado a necessidade de uma educao mais inculturada na
realidade, nas razes e nas especificidades da sua cultura.
O projeto de doutorado que apresentamos ao Programa de Ps-graduao da
Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo em 2001, intitulado Para uma
Pedagogia Afro-brasileira, visava exatamente isto: compreender as experincias educativas
presentes no interior das comunidades de tradio afro-brasileira. A pesquisa centrou-se em
observaes e entrevistas com um babalorix
24
e uma iyalorix
25
da cidade de So Paulo,
tendo como referencial terico do universo afrobrasileiro, Pierre Fatumbi Verger. O objetivo
era levantar categorias, princpios e tcnicas presentes no processo de ensino-aprendizagem
no interior dessas comunidades de tradio afrobrasileira.
Pude constatar que a literatura oral est no centro da atividade educativa afrobrasileira:
os contos, as lendas, os mitos, os provrbios, as mximas, os aforismos, os cantos e os jogos
so instrumentos didticos para auxiliar a cincia educativa. As cenas da vida diria
constituem tambm um quadro permanente de diversas aprendizagens fundamentais, tanto no
plano individual como no plano social. uma educao que se integra vida do grupo. A
aprendizagem se faz em funo das necessidades da comunidade e dos problemas que se
colocam. A escola a vida, e a vida a escola. Outro componente permanente da ao
educativa a sano. Qualquer ato acompanhado de uma sano positiva ou negativa, quer
seja natural ou sobrenatural. O indivduo respeita o conjunto da legislao (leis, regras,
precedncias, exortaes, tabus e proibies). Os ritos de iniciao so momentos que
cristalizam o processo educativo em redor de temas fortes, que mobilizam as energias dos
atores e a sociedade. A educao configura-se tambm na absoro e transmisso dos valores
civilizatrios, concebidos pelos ancestrais. O desenvolvimento do sistema educativo
endgeno, a educao da criana compete ao grupo e est sujeita ao educativa de todos,
disciplina coletiva. Quanto ao espao e tempo, a educao d-se por toda parte e no tem um
lugar especialmente destinado para esse efeito. A educao tradicional confunde-se com a
vida concreta do grupo, estando ligada a todos os momentos desta vida. No h nem horrios,
nem feriados, mas uma impregnao constante. Assim, o indivduo formado por toda a parte,
tambm formado em todos os momentos. Os elementos de artes plsticas afro combinam-se
24
Babalorix: sacerdote da religio afrobrasileira, especificamente da tradio nag e/ou ketu.
25
Iyalorix: sacerdotisa da religio afrobrasileira, especificamente da tradio nag e/ou ketu.
17
com representaes dramticas e danas especficas, bem como pedaos adequados da
literatura oral. A pertinncia desta combinao participa na coerncia e no carter
multidimensional das aprendizagens.
Por motivos particulares, que levaram-me a desligar do programa de ps-graduao da
FE-USP, esse trabalho no foi concludo, e eu o retomei, mas de uma outra perspectiva. Parto
agora do pressuposto da insero da dimenso das africanidades como articuladora na rea
educacional, com a necessidade de reformular os currculos escolares, conscientizar os
agentes do processo educacional, pois a educao tem uma importncia fundamental na
construo da identidade e da cidadania, no apenas dos afrodescendentes, mas de todos os
brasileiros, a qual vem sendo investida nos ltimos anos.
As pesquisas e estudos sobre o negro e a educao brasileira, embora em nmero
reduzido, j podem ser organizadas, classificadas e estudadas. Nos ltimos anos, cresceu o
nmero de pesquisas de mestrado e doutorado sobre o tema, alm dos ncleos de pesquisas
em diversas universidades. Cristiane Maria Ribeiro (2005) levantou 105 teses e dissertaes
defendidas nos programas de ps-graduao no Brasil, dos anos 70 a 2004, analisando 101
delas. Segundo a autora, dos autores destes trabalhos, 9 fizeram o mestrado e o doutorado,
correspondendo a um total de 92 pesquisadores (ibidem, p.157).
O crescimento das pesquisas nesse campo evidente, como apontado por Ribeiro e tal
como observado por ela at o ano de 2004. Segundo ela, ... pudemos identificar ainda que
1,98% foram produzidas nos anos 70, situao que se modifica nos anos 80 que produziu 4,95
das pesquisas, 53,44% foram realizadas nos anos 90 e 37,62% foram produzidas a partir de
2000 (ibidem, p. 208).
Esse crescimento pode ser observado tambm na ANPED (Associao Nacional de
Ps-Graduao e Pesquisa em Educao), onde foi criado inicialmente o GE Relaes
Raciais / tnicas e Educao, em 2001, na 24 Reunio Anual, para se transformar depois no
GT 21 Educao e Relaes tnico-Raciais. Esse grupo de trabalho iniciou-se em 2002,
na 25 Reunio Anual, com a apresentao de 2 psteres e 8 trabalhos; na 26 Reunio Anual
ao GT 21 foram apresentados 2 psteres e 9 trabalhos; na 27 Reunio Anual foram 6 psteres
e 9 trabalhos; em 2005, na 28 Reunio Anual, o GT 21 contou com 9 psteres e 24 trabalhos;
em 2006, na 29 Reunio Anual foram 11 trabalhos e 3 psteres apresentados; em 2007, foram
apresentados 5 psteres e 6 trabalhos; na 31 Reunio Anual, em 2008, foram 6 psteres e 11
18
trabalhos, e no ano de 2009, na 32 Reunio Anual, foram apresentados 9 trabalhos
26
. A
ANPED, juntamente com a ONG Ao Educativa
27
, organiza o Concurso Negro e
Educao, com financiamento da Fundao Ford
28
. Em 1999 foram contemplados 04
projetos; em 2001 15 projetos; em 2003 20 projetos; e em 2005 20 projetos.
A Fundao Ford tambm possui um Programa Internacional de Bolsas de Ps-
Graduao no Brasil, coordenado pela Fundao Carlos Chagas. J foram realizados sete
selees, sendo selecionados 42 pesquisadores em 2002, 42 em 2003, 46 em 2004, 40
respectivamente nos anos de 2005, 2006 e 2007, e 45 pesquisadores em 2008.
29
Em acordo realizado entre as Secretarias de Educao Superior e de Educao
Continuada, Alfabetizao e Diversidade do Ministrio da Educao (MEC) e os Ncleos de
Estudos Afrobrasileiros (Neabs), estes desenvolvero Programas de Aes Afirmativas para a
Populao Negra, com aes de formao de professores e profissionais da educao e
incentivos produo de material didtico-pedaggico. So conhecidos 36 Ncleos de
Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros, sendo 17 em Universidades Federais, 14 em
Universidades Estaduais, e 04 em Universidades Particulares (CEERT, 2005, pp. 68-72).
A Associao Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) j realizou cinco
congressos nacionais, o primeiro em Recife, PE, no ano de 2000; o segundo em So Carlos,
SP, em 2002; o terceiro na cidade de So Lus, MA, em 2004; o quarto em Salvador, BA, no
ano de 2006; finalizando com o quinto em Goinia, GO, em 2008. Tais congressos tambm
mostraram um nmero crescente de pesquisas voltadas para a questo tnico-racial na rea da
educao, realizadas tanto por negros como por brancos
30
.
Apesar desse crescimento nas pesquisas sobre o negro e a educao no Brasil, observo
que as referncias tericas que as embasam so as do pensamento ocidental, e no do
africano, como aponta Ribeiro, que analisou pesquisas no perodo de 34 anos, afirmando que
vale destacar que Hasenbalg apareceu nas bibliografias de 59% dos trabalhos, Florestan
Fernandes em 52% (RIBEIRO, op. cit., p. 208).
26
Conforme dados em www.anped.org.br - link: Grupos de trabalho e/ou Reunies.
27
Dados referentes a Ao Educativa podem ser encontrados em www.acaoeducativa.org.br
28
Ford Foundation, www.fordfound.org.
29
http://www.programabolsa.org.br/perfil.html.
30
cf.: http://www.abpn.org.br.
19
O pensamento de Hasenbalg (1979) teve impacto e repercusso entre os militantes do
movimento negro, ao defender que as razes da marginalizao social do negro so
encontradas nas prticas subjacentes ao perodo posterior abolio. Para ele, a democracia
racial brasileira um instrumento ideolgico que visa o controle social pela legitimao da
estrutura vigente de desigualdades raciais, impedindo que a situao se transforme em questo
pblica e sujeita a intervenes estatais. Para ele, a discriminao racial no Brasil resultado
direto das desigualdades entre brancos e negros nas esferas da educao, da economia, no
acesso ao trabalho, reconstrudas na atualidade pelo capitalismo. A tese central defendida por
Hasenbalg de que a explorao de classe e a opresso racial articulam-se como mecanismos
de explorao do povo negro, retirando deste os bens materiais e simblicos. Os negros foram
explorados economicamente e essa explorao foi praticada por classes dominantes brancas.
Esse autor afirma ainda que no houve aes coletivas da populao negra, ao contrrio,
houve uma subordinao dos negros, devido cooptao de parte da populao de cor, em
razo da mobilidade ascendente e das armas ideolgicas, como o branqueamento e o mito da
democracia racial.
Florestan Fernandes (1978), por sua vez, j defendeu que o negro foi desconsiderado
econmica, social e culturalmente, excludo do jogo poltico das oligarquias que dominavam a
repblica velha, jogo esse que foi aprofundado durante o Estado Novo, pois cabia s camadas
inferiores do povo, sendo a raa negra sua maioria, contentar-se com a funo submissa de
colaborar para a harmonia e a manuteno da ordem social, condies para o progresso e o
desenvolvimento econmico brasileiro. H, nesse sentido, duas tendncias, segundo
Fernandes (ibidem, pp. 156-157): primeiro, uma que associa proletarizao. As parcelas da
populao de cor que lograram classificar-se socialmente, em sua quase totalidade, cabem
nessa categoria. Segundo, outra que se vincula ascenso (...). Existem casos espordicos de
indivduos de cor e de famlias negras de fato pertencentes aos estratos superiores do
sistema.
A presena dos dois autores acima em mais da metade das pesquisas sobre o negro no
Brasil, evidencia o perfil dessas pesquisas, presas razo tcnica, a mesma que chegou ao:
... esgotamento da viso de mundo da modernidade e do
paradigma da racionalidade e traz consigo uma grave crise da
educao, que v questionados seus objetivos, valores e
finalidades. Criada para realizar o projeto da modernidade, a
escola comea a ser solapada em suas bases pelas crticas ao
seu excesso de racionalidade e cientificidade, ao seu excesso
20
de formalismo e ao reducionismo com que trata o
conhecimento. Aparentemente no h sadas. No h mais
certezas absolutas e modelos seguros a nos guiarem
(ARAUJO; WUNENBURGER, 2006, p. 7).
Ou seja, o pensamento pedaggico brasileiro tem suas razes na filosofia ocidental.
So pensadores como Scrates, Plato e Aristteles na antiguidade; Agostinho de Hipona e
Toms de Aquino, no perodo medieval; na idade moderna, racionalistas como Descartes,
Spinoza e Leibniz, empiristas como Hume, Locke e Bacon, iluministas como Rousseau,
Montesquieu e Diderot, alm de Kant, que fundamentam a educao ocidental. No fim da
idade moderna, autores como Hegel e Marx, e na idade contempornea, correntes como a
Fenomenologia (Husserl, Merleau-Ponty), o Existencialismo (Sartre, Jaspers, Marcel, Buber,
Kierkegaard), sem falar de tantos outros como Heidegger, Wittgenstein, Foucault, Habermas e
Lyotard que embasam as diversas correntes de pensamento estudadas em nosso Pas.
Nessa perspectiva, outros valores civilizatrios, como os africanos, so excludos da
Pedagogia, assim como da Filosofia, da Psicologia, da Fsica, da Biologia etc. As culturas
africanas so consideradas apenas como do campo da Etnografia e, em alguns casos, da
Sociologia. H um desconhecimento sobre a forma de pensar, sobre a viso de mundo, sobre a
educao fundada na cultura religioso-filosfica africana. Exatamente por isso, no desejo
cair no que Ruiz (op. cit., p. 21) define como:
... reducionismo inerente a qualquer modo de classificao.
Escolsticos, humanistas, racionalistas, empiristas, modernos,
cristos, comunistas ou ps-modernos, qualquer forma de
classificao implica uma reduo do singular ao universal.
Classificar para discriminar, discriminar para normatizar,
normatizar para controlar, controlar para dominar, dominar
classificando... Este o crculo vicioso e asfixiante que produz
qualquer classificao.
Os pensadores africanos e afrosdescendentes como Amadou Hampt B, Kwame
Anthony Appiah, Wande Abimbola, Lopold Sedar Senghor, Paulin Hountondji, Kwasi
Wiredu, Aim Csaire, William Edward Burghardt DuBois, Marcien Towa, Ben Oguah,
Barry Hallen, Ivan Karp, Boubou Hama, Oumar Ba, Joseph Ki-Zerbo, Jan Vansina, Cheik
Anta Diop, Adu Boahen, Kabengele Munanga, Petronilha Beatriz Gonalves e Silva, Alberto
Guerreiro Ramos, Muniz Sodr, Deoscredes Maximiliano dos Santos (Mestre Didi),
Emanoel Arajo, Abdias do Nascimento, Luiz Alberto Oliveira Gonalves, Nei Lopes, Maria
de Lourdes Siqueira, Valter Roberto Silvrio, Henrique Cunha Jnior, Luiz Silva (Cuti),
21
Oliveira Ferreira da Silveira, Helena Theodoro Lopes, entre tantos outros, podero trazer
importantes contribuies para o campo da educao, contribuindo para os estudos de
questes como: diversidade sciocultural, formao dos educadores, incluso dos negros no
ensino formal, desse modo rompendo com as concepes depreciativas sobre as culturas
africanas no Brasil e colaborando para que os afrobrasileiros possam ter dignidade e orgulho
de suas diferenas. Podero tambm se constituir em um fator de complementaridade neste
processo de nos fazermos humanos, pois concordo com Ftizon (2002, p. 230) quando afirma
que:
Formalmente, entendo que a educao o processo e o
mecanismo da construo da humanidade do indivduo, ou da
pessoa (como preferirem). Enquanto processo, a educao
pertena do indivduo (ou da pessoa) isto , o processo
pelo qual, a partir de seu prprio equipamento pessoal
(biofisiolgico/psicolgico), cada indivduo se autoconstri
como homem. Enquanto mecanismo, a educao pertena do
grupo o recurso (ou o instrumento) que o grupo humano
e s ele possui, para promover a autoconstruo de seus
membros em humanidade (ou como homens).
No entanto, por influncia de um postulado do evolucionismo que explicou as
sociedades humanas em trs fases de progresso (selvageria, submisso e liberdade), defendeu-
se a impossibilidade da educao e do conhecimento no interior dos povos africanos:
Klemm (...) diferencia raas ativas e passivas, distino
necessria para explicar que as passivas passariam da
selvageria para a barbrie, s atingindo o estgio de liberdade,
se submetidas s raas ativas. No preciso avanar muito
para reconhecer a a presena de elementos do arianismo. (...)
o evolucionismo sacrifica a histria. A tendncia, pelo menos
entre os paralelistas mais rigorosos, a de afirmar que cada
sociedade contm potencialmente, em si prpria, toda a
histria humana, em maior ou menor medida, conforme seu
grau evolutivo. Isso resulta, frequentemente, na diviso dessa
histria em duas partes: a civilizada, que compreende as
sociedades conhecidas, complexas, com seus contatos, trocas,
transmisses e organizaes, e a primitiva, admitida como
manifestaes independentes, cujos delineamentos histricos
tornam-se irrelevantes, j que passaro pelos estgios
evolutivos, de todo modo. Chega-se ao extremo, em certos
momentos, de qualific-las como sociedades sem histria,
sem considerao aos fatos que nelas se desenrolaram (Rosa
Maria MELLONI, 1998, pp. 73-81).
22
Os povos africanos, como os demais povos, sempre asseguraram a educao s suas
geraes, antes mesmo do contato que tiveram com os povos ocidentais, diferentemente como
alguns pensam, influenciados pelo evolucionismo, sendo aqui a educao compreendida como
o processo de socializao, de transmisso do sistema de valores, de ensino das habilidades,
de construo da humanidade.
As pesquisas sobre as culturas afrobrasileiras
31
, quando feitas a partir do pensamento
ocidental, forjado no cartesianismo ou no empirismo, com o suporte do modelo de cincia
positivista, acarretam vises equivocadas de conceitos e teorias, transformadas em verdades
que vo se reverberando. So diversas as bibliografias que apresentam os afrobrasileiros como
meros objetos. Ao contrrio, meu pensamento procurar compreender:
... certas expresses e caractersticas da africanidade, como
a organizao social baseada no parentesco; a relao dos
vivos com os ancestrais, que cumprem o papel de
intermedirios com o ser supremo; a tradio oral e a
existncia de indivduos especializados na transmisso de
contos, provrbios, cantigas, mitos e outras modalidades orais
de conhecimento; a existncia de ritos de passagem que
mudam o status do indivduo no seio do grupo todos estes
constituem a frica acionada para constituir a identidade
dos negros (...), na medida em que tem correspondncias com
a estrutura do candombl, que tambm um sistema ritual
baseado no parentesco, no culto de ancestrais divinizados e no
conhecimento transmitido oralmente. Isso refora, mais uma
vez, a identidade estabelecida entre frica e a cultura religiosa
afro-brasileira (Maria Paula Fernandes ADINOLFI, 2004, p.
104).
Desta forma, procuro compreender as matrizes mticas e paradigmticas do
pensamento que vem se constituindo nos ltimos anos, porque entendo que h uma homologia
entre os paradigmas cientficos e o imaginrio sociocultural de uma poca. Parto do
pressuposto de que tais matrizes contribuem para a construo da identidade pessoal e tnica.
Segundo Monique Augras (1995, p. 15), necessrio compreender os valores e a viso de
mundo do outro, e como estes compreendem a si prprios, pois:
... cultura e sociedade no so quadros externos dentro dos
quais a pessoa vai se desenvolver, so aspectos constitutivos
da prpria personalidade. O ser humano concreto produto,
alm de produtor, de todo o aparato scio-cultural, tanto nos
aspectos simblicos como estritamente tcnicos.
31
No segundo captulo, discorrerei sobre as diversas teorias sobre o negro e as culturas afro.
23
Paula Carvalho (1990, p. 20) entende que a forma de se pensar a realidade, ou seja, a
gnosiologia, assim como a prpria natureza da realidade, ontologia, esto envolvidas pela
questo paradigmtica. O paradigma aparece como estrutura absoluta de pressuposies,
identificando-se essa definio com a de Edgar Morin, que utiliza o termo paradigma no s
para o saber cientfico, mas para todo conhecimento, todo pensamento, todo sistema
noolgico. De acordo com Morin (1998, p. 268):
...um paradigma contm, para todos os discursos que se
realizam sob o seu domnio, os conceitos fundamentais ou as
categorias mestras de inteligibilidade, ao mesmo tempo que o
tipo de relaes lgicas de atrao/repulso (conjuno,
disjuno, implicao ou outras) entre esses conceitos e
categorias. Assim, os indivduos conhecem, pensam e agem
conforme os paradigmas neles inscritos culturalmente. Os
sistemas de idias so radicalmente organizados em virtude
dos paradigmas. Essa definio de paradigma caracteriza-se
ao mesmo tempo por ser semntica, lgica e ideo-lgica.
Semanticamente, o paradigma determina a inteligibilidade e
d sentido. Logicamente, determina as operaes lgicas
centrais. Ideo-logicamente, o princpio primeiro de
associao, eliminao, seleo, que determina as condies
de organizao das idias. em virtude desse triplo sentido
generativo e organizacional que o paradigma orienta, governa,
controla a organizao que o paradigma orienta, governa,
controla a organizao dos raciocnios individuais e dos
sistemas de idias que lhe obedecem.
Nessa perspectiva, parto do pressuposto de que a educao ocidental tem como base
uma razo prtica, tcnica, calcada na ... negao da diferena unida poltica cognitiva da
dominao; donde, instrumentalizao da razo e universo tecnoburocrata do saber (Paula
Carvalho, 1990, 22), enquanto que o pensamento africano tem por base outro paradigma, o da
razo cultural
32
, apoiado em uma razo aberta, trans e meta-disciplinar, ou seja, trata-se
de um paradigma holonmico, o qual faz com que tenhamos:
... a necessidade de acolher o pluralismo coerente dos mapas
de realidade, que so as culturas, ademais de elabor-los como
mentalidades, sensibilidades, paisagens mentais,
ensinando-nos e sobretudo a educadores, agentes culturais e
gestores uma pedagogia da escuta que, pela abordagem
32
A razo cultural ou simblica toma como qualidade distintiva do homem no o fato de que ele deve viver
num mundo material, circunstncia que compartilha com todos os organismos, mas o fato de faz-lo de acordo
com um esquema de significado criado por si prprio, qualidade pela qual a humanidade nica. Por
conseguinte, toma-se por qualidade decisiva da cultura enquanto definidora, para todo modo de vida, das
propriedades que o caracterizam no o fato de essa cultura poder conformar-se a presses materiais, mas o
fato de faz-lo de acordo com um esquema simblico definido, que nunca o nico possvel. Por isso, a
cultura que constitui a realidade (Marsal Sahlins apud Sanchez Teixeira, 1990, p. 83).
24
fenomenolgico-compreensiva, teria a elaborar a questo da
alteridade (ibidem, p. 26).
Nesse universo paradigmtico, educar uma arte. Dentro dos processos educativos, a
oralidade que tem sido usada desde os tempos imemoriais. Entre os diversos povos
africanos que vieram escravizados ao Brasil e seus descendentes, o processo cultural
transmitido, em sua maior parte, pela oralidade, a qual corresponde natureza da memria de
arquivos vivos de geraes sucessivas, pois ... na frica, cada ancio que morre uma
biblioteca que se queima (Amadou Hampt B, 2004, pp. 8-9). Assim, cada gerao
transmite a mesma fora vital em forma de relatos, mitos, cantos, danas, poesias, ritmos e
emoes. Se os povos africanos sempre asseguraram a educao s suas geraes por meio
dessas experincias como se toda comunidade afrobrasileira, no podendo voltar frica, as
recriasse livre e alegremente no Brasil, desse modo continuando histria de seus ancestrais.
A cultura afrobrasileira, portanto, no algo isolado da vida. A identidade cultural das
pessoas dessa comunidade est intimamente ligada ao mistrio, cincia, arte e alegria de
viver:
No apenas a dana exttica das filhas-de-santo que vai
refletir o mundo dos mitos, nas noites musicais da Bahia. Na
sua vida, nas suas estruturas psquicas, o homem todo
simboliza o divino. J vimos que, do nascimento morte, sua
existncia est presa numa trama de acontecimentos que so
as palavras dos orixs se revelando por intermdio de If ou
de Exu, de tal modo que possvel traar a biografia de cada
um pelas linhas paralelas dos odus (BASTIDE, 2001, p. 218).
Cada conto, cada relato de um mito transmitido oralmente uma forma de
representao social, de conhecimento social, um modo de pensar e interpretar a realidade
cotidiana, uma atividade mental dinmica e alegre utilizada pelas pessoas, que se herda dos
antepassados. Acredita-se que os caminhos das pessoas esto mapeados no ori
33
, caminhos
esses que esto fundamentados em valores e princpios como instrumentos ordenadores do
social, que equilibram e harmonizam as relaes humanas. Essa prtica oral de recontar
lendas e mitos, os feitos mticos e histricos dos orixs e heris negros, faz aparecer enredos
dramticos, que ganham importncia na formao do pensamento coletivo da comunidade.
33
Ori: cabea ou destino pessoal.
25
A recontagem dos mitos e dos contos, assim como as atividades de canto, de dana, de
msica, de arte, do artesanato e da cozinha afrobrasileira podem ser motivaes essenciais
para a aprendizagem de crianas, especialmente das afrobrasileiras pois, como diz Durand
(1997, p. 402):
Longe de estar s ordens do tempo, a memria permite um
redobramento dos instantes e um desdobramento do presente;
ela d uma espessura inusitada ao montono e fatal
escoamento do devir, e assegura nas flutuaes do destino a
sobrevivncia e a perenidade de uma substncia. O que faz
com que o pesar esteja sempre imbudo de alguma doura e
desemboque cedo ou tarde no remorso. Porque a memria,
permitindo voltar ao passado, autoriza em parte a reparao
dos ultrajes do tempo. A memria pertence de fato ao domnio
do fantstico, dado que organiza esteticamente a recordao.
nisso que consiste a aura esttica que nimba a infncia; a
infncia sempre e universalmente recordao da infncia, o
arqutipo do ser eufmico, ignorante da morte, porque cada
um de ns foi criana antes de ser homem.
As formas utilizadas pelos afrodescendentes para explicar e para expressar o que
pensam, o que sentem em relao ao sobrenatural, so diversas: provrbios, lendas, mitos,
narraes, fatos histricos, acontecimentos da prpria vida, uma vez que a religiosidade
tradicional africana no dissociada dos contextos da existncia. O mundo natural ou fsico e
o mundo sobrenatural coexistem, interagem, se interrelacionam. A natureza, com os seus
elementos e fenmenos, constitui a essncia das religies tradicionais africanas e
afrobrasileiras, natureza essa criada por um nico Ser, completo em si mesmo, e que deu vida
a tudo.
So vrios os povos africanos que foram escravizados e trazidos ao Brasil (RAMOS,
1961, pp. 226-253). Eis porque esse mesmo Ser criador de toda a natureza (mineral, vegetal e
animal) possui nomes variados, segundo a lngua falada pelas respectivas etnias. A esse
respeito, diz-nos Campbell (1992, 31) que um deus pode estar simultaneamente em dois ou
mais lugares como uma melodia ou sob a forma de uma mscara tradicional. E onde quer
que ele surja, o impacto de sua presena o mesmo: ele no reduzido pela multiplicao.
Por exemplo, para os bantos, a denominao na lngua quimbundo Zambi, Zambiapungo;
para os nags (ketu), que falam yorub, Olorum ou Olodum; para os jje (fon), de lngua
ew, Mawu.
26
Toda natureza possui vida e o ser humano faz parte dessa natureza criada. H um
poder vital, uma energia, uma fora fundamental para a existncia do ser humano, que se
encontra nos elementos minerais, vegetais, animais e no prprio ser humano. O
interrelacionamento com o mundo sobrenatural se d atravs dessas foras naturais. Para os
bantos, essa fora Inkissi, para os nags (ketu), a energia Orix, e para os jje, Vodum.
Segundo Frobenius (apud Bastide, 1971, p. 86):
... a idia fundamental do sistema religioso ioruba a
concepo segundo a qual todo homem descende de uma
divindade. (...) Cada deus tem descendncia e, face a esta, tem
o poder de nela se perpetuar atravs de filhos. Mas, numa
segunda perspectiva (...) cada deus tem uma funo
determinada que lhe prpria.
Esse pensamento tambm reforado por Prandi (2001, p. 24), quando este afirma
que:
Os iorubas acreditam que homens e mulheres descendem dos
orixs, no tendo, pois, uma origem nica e comum, como no
cristianismo. Cada um herda do orix de que provm suas
marcas e caractersticas, propenses e desejos, tudo como est
relatado nos mitos. (...) Os orixs alegram-se e sofrem,
vencem e perdem, conquistam e so conquistados, amam e
odeiam. Os humanos so apenas cpias esmaecidas dos orixs
dos quais descendem.
O sagrado permeia de tal modo todos os setores da vida africana que se torna
impossvel realizar uma distino formal entre ele e o secular, assim como entre o espiritual e
o material nas atividades cotidianas. Uma mesma fora, poder ou energia permeia tudo. Essa
fora no exclusivamente fsica ou corporal, mas fora do ser total, sendo que sua expresso
inclui os progressos de ordem material e o prestgio social. Felicidade possuir muita fora e
infelicidade estar privado dela. Toda doena, flagelo, fracasso e adversidade so expresses
da ausncia de fora. Para Bastide (op.cit., p. 11):
A presena de foras religiosas no sempre uma presena de
medo, mas tambm de fora, de paz ou de alegria. E dizendo
isso, no aludimos unicamente ao cristianismo atual, mas
tambm s formas primitivas da religio.
Entre os nags, o espao profano coexiste com o espao sagrado. Nas caractersticas
do espao fsico, muito pouca coisa se altera ao passarmos da condio profana sagrada. As
27
alteraes de conscincia so determinadas, principalmente, pelo movimento no tempo,
ocorrendo algo como existir simultaneamente nos dois tempos e nos dois espaos, pois no se
perde a conscincia de estar aqui e agora com o grupo de pessoas fsicas e com um conjunto
de objetos, ao mesmo tempo em que se est no tempo e espao primordiais, com as
divindades e os ancestrais.
Nessa perspectiva, compreendo as contribuies das matrizes africanas nas
experincias educativas presentes no Brasil, reconhecendo a importncia destas e sua
contribuio fundamental neste momento em que as Leis 11.645, de 10 de maro de 2008, e
10.639, de 09 de janeiro de 2003, que alteraram a lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
incluindo a obrigatoriedade da temtica Africana, Afrobrasileira e Indgena:
Nos cursos de formao de professores e de outros
profissionais da educao (...) de prticas pedaggicas, de
materiais e de textos didticos, na perspectiva da reeducao
das relaes tnico-raciais e do ensino e aprendizagem da
Histria e cultura dos Afro-brasileiros e dos Africanos. (...)
Estudo da filosofia tradicional africana e de contribuies de
filsofos africanos e afro-descendentes da atualidade
(BRASIL, 2004, p. 22).
As expresses do pensamento africano no Brasil podem ser encontradas no interior das
diversas comunidades de tradio africana. Estas so basicamente de trs grupos culturais,
divididos em naes. As comunidades de tradio nag; de tradio banto, e as de tradio
jje (Vagner Gonalves da SILVA, 2005, pp. 65-68).
As formas como tais comunidades afrobrasileiras sobreviveram no Brasil sofreram
transformaes e adaptaes. Primeiro pelo novo territrio; segundo pelo contato que essas
etnias africanas mantiveram entre si, com os povos indgenas brasileiros e com os europeus
presentes no Brasil.
Certamente que, desde o primeiro africano que chegou ao
Brasil como escravo o elemento negro foi fundamental na
construo da nossa nacionalidade. E apesar de toda a
represso conseguiu preservar, adaptar ou reconstruir seus
padres culturais, suas relaes familiares e de cooperao,
deixando marcas profundas no modo de ser brasileiro. (...)
Pas onde convivem vrias culturas, no Brasil, os africanos
deixaram fortes traos de sua identidade na religio, na
histria, nas tradies, no modo de ver o mundo e de agir
perante ele, nas formas de arte, nas tcnicas de trabalho,
fabricao e utilizao de objetos, no modo de falar, na
medicina popular e em muitos outros aspectos. Esses traos,
28
recriados pelos afro-brasileiros de uma forma inconsciente ou
no, so o que melhor define a identidade nacional (Nei
LOPES, 2006, pp. 221-222).
a partir dessas contribuies que procuro compreender as caractersticas de um
pensamento educacional afrobrasileiro, reconhecendo que a herana dos referenciais africanos
(re)significada pelos partcipes da comunidade afrobrasileira e se constitui como um dos
modos de interpretao da realidade. Desse modo, e com a emergncia de pesquisas e estudos
que destacam a cultura afrobrasileira e a populao negra na educao, chego ao objetivo
deste trabalho: compreender os fundamentos mticos e paradigmticos das africanidades,
presentes no iderio educacional brasileiro, atravs do estudo mitanaltico do pensamento de
Kabengele Munanga.
Kabengele Munanga, conhecido carinhosamente como Kabe, nasceu em Bakwa
Kalonji, na Repblica Democrtica do Congo (ex Zaire) em 19 de novembro de 1942. As
escolas no Congo eram ento todas monoplio das religies crists (catlicas e protestantes).
Ele estudou em colgio interno catlico e diz que rezei bastante, at que tinha calos nos
joelhos no tempo do colgio (MUNANGA, 2008a). Kabe viveu at os oito anos de idade em
sua aldeia natal, indo em seguida morar com seu irmo mais velho na cidade, para poder
estudar. Esse irmo era gerente da loja de um comerciante judeu.
Com a independncia do Congo
34
, Kabengele Munanga transferiu-se para a capital
Kinshasa, onde cursou o ensino secundrio. Em suas prprias palavras (2008a):
At oito anos mais ou menos vivi na aldeia, depois fui morar na cidade
com meu irmo para poder estudar. Ele era gerente de uma loja de um
comerciante judeu. Cada vez que ele era transferido para uma cidade, eu o
acompanhava, porque ele era praticamente o meu pai. Quando o Zaire
recebeu a independncia, fui para a capital Kinshasa, onde terminei
finalmente a escola secundria. A minha primeira universidade era uma
universidade privada, filial da Universidade de Louvaine, uma Universidade
Catlica da Blgica. Eu fui para uma segunda Universidade, a Universidade
34
A independncia do Congo Belga deu-se no dia 30 de junho de 1960. Em 1971, o nome do pas foi alterado
para Zaire e, em 1997, tornou-se a Repblica Democrtica do Congo.
29
Oficial do Congo e escolhi a Antropologia. Fui o primeiro antroplogo
formado naquela Universidade.
Escolhi Antropologia porque era uma disciplina nova, estava sendo
implantada e eu me interessei pela cultura, pelo estudo da cultura. Tinha
professor visitante que vinha de toda a parte, dos Estados Unidos, da Frana,
da prpria Blgica. s vezes, tinha professor que vinha me procurar na
residncia universitria para chamar para a aula. Fui um aluno muito
mimado, terminei a antropologia em 1969 e meu primeiro emprego foi como
professor na Universidade, na categoria que eles chamam de Assistente, o que
corresponderia aqui na Universidade de So Paulo a auxiliar de ensino.
Kabengele Munanga foi o primeiro antroplogo de seu pas, saindo pela primeira vez
para fazer mestrado na Blgica. Chegou ao Brasil a convite de um colega, terminou seu
doutorado e retornou ao Congo. Em 1980, veio novamente ao Brasil, para assumir a cadeira
de Antropologia na Universidade do Rio Grande do Norte. Depois de um ano, mudou-se
definitivamente para So Paulo, tomando como sua casa a Universidade de So Paulo. Tem
cinco filhos, dois belgas, dois conguianos e um brasileiro. Ouamos a voz que tece sua estria
de vida (2008a):
O nome do meu pai Ilunga Kalama. O nascimento dele eu no sei,
porque quando meu pai faleceu, eu era criana de 6 meses. Naquela poca, em
plena colonizao, no havia cartrio, ento no tem registro.
Minha me Mwanza Wa Biaya, nascida na cidade Bakua Mulumba,
no antigo Zaire, no conheo a data dela de nascimento, mas meu irmo disse
que ela teria falecido com uma idade estimada de 100 anos.
Convivi com ela at quando eu j era professor da Universidade
Nacional do Zaire. Retirei ela l da aldeia, para conviver comigo na
Universidade, comprei uma casinha. Depois tive que deix-la para emigrar
para o Brasil, so as circunstncias da vida. Eu no a vi mais, me separei
30
dela. A ltima vez que a vi foi em 1980, quando fui buscar meus filhos, nos
ltimos 10 anos da vida dela ns no nos vimos.
Minha me, como uma mulher que nasceu no campo e cresceu no
campo, era uma pessoa analfabeta. Tanto ela como meu pai eram analfabetos,
em plena colonizao, na poca que eles nasceram no havia escola. Todo
mundo diz que ela era uma pessoa muito generosa, muito social, tudo que
tinha dividia com os vizinhos. Se ela ia para a feira comprar alguma coisa, na
rua j estava distribuindo para os outros. Era muito amada pelas pessoas que
a conheciam, tinha um corao profundamente humano.
As casas no campo so casas simples. So casas, dentro do estilo
africano, que lembram um pouquinho os mocambos do nordeste, parte da
parede batida de terra e o teto coberto de palha. So casas simples, mas muito
higinicas e adaptadas vida do campo. No eram casas de tijolos e pedra,
essas em que vivemos hoje.
Tinha uma brincadeira que se diz aqui esconde-esconde, ns fazamos
muito nas aldeias. As brincadeiras eram nos fins de tarde, quando a lua
cheia, porque de dia hora de trabalho. noite, com a lua cheia, ns
brincvamos de tudo quanto era tipo de brinquedo. Contvamos muitos contos,
noite ficvamos a contar estrias, e elas at que davam muito medo. Fazia
parte da cultura. Tambm tinha corridas e jogo de futebol, mas no era com
essa bola daqui. Fazamos bolas com resto de panos misturados.
Eu vi o mar j com quase 29 anos, quando fui fazer o doutorado na
Blgica. Nasci no interior, da minha cidade at o litoral so quase 3 mil
quilmetros. O mar me impressionou muito. A segunda impresso foi o dia que
caiu a neve. Acordei de manh e vi pela janela aquela coisa. No queria nem
descer. A um casal italiano que conheci na Blgica veio me buscar. Eu estava
com medo. Eles insistiram: Desce, no tem problema. Eu no queria pisar
na neve.
Algumas prticas da cidade me surpreenderam. Uma das coisas foi
num velrio: todo mundo se cumprimentou e foram embora para as casas
deles. Na minha cultura, a morte um momento de solidariedade. Depois do
31
enterro, voc vai para a casa onde est o luto, fica um pouquinho com a
pessoa que perdeu o membro da famlia. noite todo mundo se rene na casa
dessa pessoa para ela no ficar sozinha. Todo mundo traz seu prato de comida
e bebida. Isso pode durar duas semanas, at um ms. Todas as noites, l o
lugar de encontro. Os homens dormem fora, nas cadeiras e as mulheres
dormem dentro da casa, junto das esteiras, no cho. Quando eu vi as pessoas
se cumprimentarem e irem embora para as casas, aquilo me chocou, achei que
era falta de solidariedade.
O individualismo na Europa chocante para quem chega. Eu vivia
num prdio onde eu mal conhecia meus vizinhos, pouco se falavam, s no
elevador falava-se sobre o tempo, se estava frio ou calor. chocante. Me
lembro de um dia que tnhamos uma festa, havia um pouquinho de barulho. O
vizinho no foi nem bater para avisar que estvamos fazendo muito barulho,
foi chamar a policia.
Nas nossas universidades ainda no tinha curso de ps-graduao.
Fui para a Blgica para fazer o doutorado. A Blgica era nossa antiga
metrpole, fomos colonizados por eles. Havia bolsas de estudos para fazer
ps-graduao l.
Vivi na Blgica de 1969 a 1971. S trs anos. Meus dois primeiros
filhos nasceram l. O ltimo, Mulumba, j nasceu aqui no Brasil. Quando
voltei para o Zaire ainda no tinha defendido minha tese de doutorado, fui
para fazer pesquisa de campo. Por alguns problemas polticos fui bloqueado e
no pude mais voltar para a Blgica. Foi assim que eu descobri o Brasil, por
um contato com um professor da Universidade de So Paulo, professor
Fernando Mouro, que hoje o diretor do Centro de Estudos Africanos.
Estava l fazendo conferencia, como convidado, e era possvel terminar o
doutorado na Universidade de So Paulo. Cheguei em outubro de 1977 e
terminei a pesquisa em dois anos e meio. Meu estudo foi sobre um grupo
tnico do sul do Zaire. uma pesquisa sobre aspectos econmicos, polticos e
sociais daquele grupo.
32
Me adaptar lngua foi a coisa mais pesada, porque eu falava francs
como lngua oficial. Eu dizia: eu no falou portugus com sotaque francs.
A nica coisa. No primeiro ms, eu comia aqui no CRUSP (Conjunto
Residencial da Universidade So Paulo), porque era mais fcil, era pegar a
bandeja e passar, mas nos fins de semanas era um problema, porque eu falava
coisa que ningum entendia. Muitas vezes eu s gesticulava, mostrava o po, e
o presunto e falava sanduche, em francs tambm sanduche. Tomar uma
cerveja, falava Bier em francs, beer em ingls, ningum entende. Nessas
lanchonetes ningum entende. At que mostrava algum que estava tomando
cerveja. Foi assim que consegui sobreviver. A abriu um curso de lngua, na
prpria USP, na Coordenadoria de atividades culturais, para alunos
estrangeiros. Depois de quatro meses comecei a me expressar. Mas antes
disso, eu comecei meus cursos de ps-graduao, na segunda semana j
estava na sala de aula, comecei a ler sem parar. A partir do francs, voc pode
ler muita coisa em portugus.
Os filhos no vieram junto para o Brasil. Quando, em 1976, eu
cheguei a meu pas, estavam vivendo numa ditadura poltica. Alguns de meus
familiares estavam com problemas polticos, alguns estavam at presos por
uma oposio do regime de Ditadura ou exilados no exterior, ento eu vi que
no havia mais condies para um trabalho na rea de cincias sociais, em
que voc faz uma crtica sociedade. Em fevereiro de 1978, estava
praticamente saindo como desertor. Tive que inventar um seminrio fora, para
eles poderem me liberar. Quando cheguei aqui, como eu tinha um diploma
brasileiro, meu primeiro emprego foi como professor na Universidade do Rio
Grande do Norte, em Natal, no curso de mestrado em Antropologia. Depois de
um ano, em dezembro de 1980, eu voltei para buscar os quatro filhos. O meu
filho mais velho chegou aqui com 10 anos de idade.
As crianas tm muita facilidade para se adaptar. Eu me lembro do
primeiro dia que ns chegamos e eles j estavam jogando bola na rua com
outras crianas. Eles falando em francs e as outras crianas falando em
portugus. Me admirei como eles se comunicaram, com a bola. S tive um filho
que tive um pouquinho de dificuldade, o meu caula do meu primeiro
casamento, o Mbiya, que no podia se comunicar na escola, na pr-escola,
33
porque ele chegou com quatro anos. Ficou praticamente louco, dava pontap
pra todo mundo, para os professores, berrava. Era uma crise de loucura,
porque ele no sabia se comunicar com ningum. Cometi o erro de mandar as
crianas logo na segunda semana para a escola, achando que isso ia ser bom
eles se acostumarem a lidar com os outros. Foi uma experincia terrvel, mas
s com ele. Com os outros, tinha preconceito na escola. Aqueles preconceitos
raciais que ns conhecemos, essas coisas. Nas primeiras semanas, meu filho
mais velho chegou em casa e perguntou Papai, o que macaco? Macaco
como em francs, macac. Ele disse: Aquele menino me chamou de macaco.
No dia seguinte, brigou.
H negros no nordeste, mas quando voc chega s escolas pblicas de
boa qualidade, o que se tem so alunos brancos, no tem negro. Eles eram a
minoria. Eles tm muitos negros, mas isso no quer dizer que no nordeste no
sejam racistas, no quer dizer que os baianos no sejam racistas. Foi a
primeira dificuldade. E mudamos de escola, para uma particular. Ficamos em
Natal s um ano, depois nos mudamos para So Paulo.
Depois de um ano em Natal eles j falavam a lngua, chegaram a So
Paulo j dominando o idioma, estudaram aqui. Como estudaram em escola
particular, s vezes convivendo com o preconceito, s vezes convivendo com a
amizade.
O preconceito aqui no tem nada com a cultura, mesmo os negros
brasileiros so discriminados, tm preconceito. Eles falam a mesma lngua,
tm a mesma cultura. Na cultura eu sou at muito respeitado, quando abro a
boca falando francs: Ele no daqui, diferente dos negros daqui, vamos
trat-lo bem.
Tem imigrante voluntrio, que quer mudar a vida, quer viver num
outro continente, num outro pas. Tem imigrante que por motivos polticos ou
sociais teve que abandonar suas terras em busca de sobrevivncia. So dois
tipos de imigrantes, mas cada um tem uma dificuldade, dependendo da histria
de vida dele, da formao, alguns tm dificuldades de integrao, outros tm
menos. Qualquer lugar do mundo onde voc vai, voc tem que fazer um
34
esforo para se integrar e para ser integrado. Um pas tem tambm seus
preconceitos internos - como o problema de preconceito racial que existe no
Brasil - preconceitos regionais como se tem em relao aos nordestinos e a
primeira coisa que voc tem que fazer, mesmo mantendo contato e vnculo com
sua cultura-me, com sua histria que voc no pode perder - porque so
razes de seus filhos que voc no pode perder - tem que fazer um esforo de
integrao, de adaptao nova sociedade na qual voc foi recebido.
Eu me assumi como intelectual engajado, porque essa sociedade me
recebeu, me integrou. Tento manter minhas razes, no posso perd-las. Hoje
tenho novas razes, tanto que tenho um filho brasileiro. Faz parte da minha
vida, da minha histria. Todo imigrante tem que fazer um duplo esforo, por
um lado para no esquecer suas razes, suas histrias. Seus netos e bisnetos
vo querer saber onde est a outra parte da histria da famlia. Tem gente que
no tem nem documento, nem foto, nem nada. Os filhos, os netos e bisnetos que
quiserem saber alguma coisa, no encontraro nada. s vezes, os
descendentes no sabem de mais nada, isso muito triste.
preciso amor por sua terra e pela terra que te recebeu, mesmo que
essa terra tenha seus problemas. No meu caso, cheguei aqui com uma bolsa de
estudos do governo brasileiro. Essa bolsa de estudos veio do povo brasileiro.
O povo brasileiro, na realidade, pagou parte de meus estudos, isso uma coisa
que de alguma forma eu tenho que devolver. Todos esses anos trabalhando na
Universidade de So Paulo, formando pessoas. J formei 15 doutores e 5
mestres. Nem por isso perdi o contato do que acontece do outro lado,
acompanho o que acontece no Zaire. Se um dia tiver oportunidade, mesmo
vivendo aqui, ser til para o desenvolvimento daquele pas. Tenho parentes,
tenho sobrinhos, sobrinhos, netos, irmos, tios, tias, um pedao da minha vida
que no posso esquecer.
Para meus filhos eu conto a histria da famlia, conto a minha
prpria vida, de onde vim. Cada membro da famlia, onde esto, o que eles
esto fazendo, o que eles estudaram, como era a vida. Conto sempre todos os
lados, que na famlia tem pessoas pobres, outras que conseguiram alguma
coisa na vida, tem intelectuais. Tem que relembrar a memria da famlia,
35
esperando a possibilidade de fazer algumas viagens com eles, pra eles
conhecerem essa parte da famlia.
O meu filho mais velho chegou aqui com 10 anos, agora est com 32.
O mais jovem chegou com 4 anos e est com 26 anos. Eles conhecem mais o
Brasil. Falam portugus sem sotaque, um bom portugus. Riem de mim porque
eu falo com sotaque. So jovens de classe mdia intelectual que vivem numa
cidade como So Paulo. No so casados. Estou esperando netos, no sei
quando vai nascer um, no vejo a hora!
(...).
As prximas geraes no podem abrir mo de viver, no abrir mo
de sonhar. O mundo melhor, no sei se ele existe, esse mundo concreto que
estamos vivendo e que estamos lutando e cada um deixando para as geraes
mais jovens a conscincia de mudana. Transmitir essa conscincia para
outras geraes. E assim continuar a vida.
O pensamento de Kabengele Munanga marca os debates sobre raa, racismo,
etnocentrismo, identidade negra etc, dos militantes do movimento negro, alm de
contribuir com os estudos dos pesquisadores sobre a questo tnico-racial no Brasil, por estas
e outras razes, como ter dado o nome ao prmio entregue anualmente s personalidades que
se dedicam ao intercmbio entre frica e Brasil, oferecido pelo Frum frica
35
, alm de sua
importncia para a educao, manifestada concretamente ao ter uma obra sobre o Negro no
Brasil escrita juntamente com Nilma Lino Gomes, constando da bibliografia de um concurso
pblico para professores da cidade de So Paulo
36
.
Este trabalho ter como aporte terico a antropologia do imaginrio de Gilbert
Durand, alm de sua mitodologia, especificamente a mitanlise. Se o discurso sempre
35
O Frum frica uma entidade social, cultural e recreativa que rene africanos e brasileiros interessados em
promover a difuso e informaes e conhecimentos sobre a frica no Brasil. As informaes sobre o Frum
frica podem ser obtidas no site www.forumafrica.com.br
36
O concurso pblico de ingresso de professores no municpio de So Paulo, publicado do Dirio Oficial do
Municpio de So Paulo em 05/06/2007, teve duas obras que se referiam questo do negro. A primeira, de
Petronilha Beatriz Gonalves e Silva e Luiz Alberto Oliveira Gonalves, e a segunda, de Kanegele Munanga e
Nilma Lino Gomes: Para entender o Negro no Brasil: histrias, realidades, problemas e caminhos. So Paulo:
Ao Educativa, 2004.
36
produto do contexto econmico-scio-histrico-cultural, por um lado, e do biopsquico, por
outro, a abordagem terica de Durand nos permite a abordagem transdisciplinar por ns
ensejada, pois pretendemos, mais do que levar a cabo um estudo biogrfico do autor, tambm
compreender seu iderio e imaginrio, de modo que possam contribuir e dialogar com as
variadas pesquisas sobre educao no Brasil.
preciso considerar tambm que, em todas as pocas ou sociedades, existem mitos
subjacentes que orientam e modelam a vida humana. O trabalho do filsofo desvelar os
grandes mitos diretivos, isto , aqueles responsveis pela dinmica social ou pelas produes
individuais representativas do imaginrio cultural. Eis como, tomando como base a teoria
durandiana, farei uma leitura dos discursos de Kabengele Munanga. Compreendemos que
todo mito pessoal um mito coletivo, pois vivido num iderio ou por um iderio, ampliado
rumo s preocupaes scio-histrico-culturais, no que concordamos com Sanchez Teixeira
(2000, p. 350), quando esta afirma que:
(...) a mitocrtica tende a extrapolar o texto ou o documento
estudado, procurando detectar, atravs das metforas
obsessivas, o mito pessoal, que tambm coletivo. Por este
motivo, a mitocrtica encaminha-se para preocupaes scio-
histrico-culturais e pede uma mitanlise
37
.
A fundamentao terica da mitocrtica e da mitanlise est na filosofia da linguagem
(Arajo, 1997, pp. 16-17), e diz Severino (1997, p. 111) que:
... ao se fazer uma filosofia da linguagem, estamos fazendo
igualmente uma antropologia, esclarecendo o sentido do
existir humano em suas vrias dimenses, inclusive naquela
do conhecimento.
Sendo o fundamento da educao este pensar o pensamento da educao, o pensar o
discurso sobre os discursos educacionais, compreende-se a importncia de se refletir sobre o
discurso de Munanga. A compreenso de um texto exige, para ser completa, uma referncia
aos grandes mitos. Isto porque o texto, mais que uma simples viso de mundo, um universo
no qual esto ordenados e articulados valores de procedncia numinosa, o que equivale dizer
que todo contato com uma obra uma hierofania, porque, para este autor, toda obra , em
maior ou menor medida, a recriao mtica de uma epifania. Esta a principal razo e
37
De acordo com Durand (1982), a mitanlise tem por objetivo identificar os grandes mitos que influenciam
momentos histricos, tipos de grupos e de relaes sociais.
37
justificativa para uma mitocrtica, que Durand (1988, p. 93) apresenta como uma sntese
construtiva de diferentes crticas.
Da que no se pode mais ficar satisfeito com uma
hermenutica restritiva a uma s dimenso. Em outras
palavras, as hermenuticas redutoras e tambm as
instauradoras que examinamos at agora pecam todas pela
restrio do campo explicativo. Elas s assumem seu valor
unidas umas s outras, quando a psicanlise se esclarece
atravs da sociologia estrutural e esta ltima se refere a uma
filosofia do tipo cassireriano, junguiano ou bachelardiano. O
corolrio do pluralismo dinmico e da constncia bipolar do
imaginrio , como revela Paul Ricoeur num artigo decisivo, a
coerncia das hermenuticas.
Essa teoria foi elaborada a partir da convergncia de trabalhos como os de Cassirer,
Eliade, Jung, Corbin, Dumzil, Lvi-Strauss, entre outros (idem, 1993, p. 35). Uma
hermenutica simblica, uma mitocrtica e mesmo uma mitanlise so apresentadas como
resultados de uma confrontao do universo mtico que forma o gosto ou a compreenso do
leitor, com o que emerge da leitura do texto (ibidem, 342). Desta forma, a anlise proposta
no pretende "revelar" o sagrado, mas sim o mito que, oculto, permite ao leitor reconhecer a
numinosidade do texto.
A realidade simblica e esta abordagem terica prope uma superao do dualismo
ocidental que separa o corpo da alma e a conscincia racional dos fenmenos subjetivos,
desvalorizando estes ltimos. A funo simblica tambm apresentada como a que integra a
totalidade da psique, j que, como Durand sustenta, no existe ruptura entre o racional e o
imaginrio, pois o racionalismo apenas uma estrutura polarizante particular, entre outras
tantas, do campo das imagens (TURCHI, 2003, pp. 293-294).
O mito entendido como um sistema dinmico que, na forma de uma narrativa,
ordena esquemas, arqutipos e smbolos. Mas a forma desse alinhamento diacrnico no est
separada do seu fundo semntico e, portanto, os elementos constitutivos da narrativa no
possuem um valor apenas posicional, mas uma densidade semntica, razo pela qual o mito
nunca pode ser traduzido pois, por ser formado por smbolos, contm seu prprio sentido. Por
esta razo, Durand (1993) prope, alm da anlise diacrnica e sincrnica, um terceiro nvel
de anlise a que chama de arquetpico ou simblico, fazendo, dessa forma, com que o mitema
substitua os fonemas e morfemas.
38
Esse mesmo autor entende que a estruturao da narrativa, o meio socio-histrico e o
aparelho biopsquico so inseparveis (idem, 1997, p. 41). A leitura a reconstruo ou
composio, por parte do leitor, de um relato simblico, que no outra coisa que um mito.
Como o mito o veculo do smbolo e este um acordo entre a subjetividade do indivduo e a
objetividade do meio, o texto que sobrevive ao tempo aquele que, por sua estruturao
(relativa aos esquemas) e semanticidade (relativa aos arqutipos e smbolos), possibilita esse
constante acordo, que a vivncia.
precisamente nessa vivncia que habita o conhecimento simblico. Uma vivncia
que anula a distncia espao-temporal entre o texto e o leitor. O mito do autor (mito pessoal)
no suficiente para romper os limites temporais e culturais, podendo permitir que um texto
nascido em um contexto particular possa ser compreendido por um leitor separado
cronologicamente no tempo e espao. Isso ocorre somente se este mito pessoal estiver
"ancorado" em um mito primordial. O ponto importante para esta reflexo que a vivncia e
o mito so a nica via de acesso possvel para a compreenso do contedo numinoso do texto
ou da obra, logo, do sagrado.
A mitocrtica no uma interpretao da obra, mas da dinmica simblica que, em sua
estruturao na obra, permite que o intrprete, ao tomar contato com ela, vivencie significados
transcendentais. A mitocrtica no , pois, uma anlise formal, embora sirva-se do
formalismo; uma anlise estrutural, sem ser estruturalista. Prope-se a analisar as estruturas
mticas. Ressalto, contudo, que o texto que deve conter, em sua forma, a fora para gerar sua
mitificao pela coletividade e no apenas ver-se mitificado pela ao de um discurso que
atua no seio das estruturas de poder.
Compreendendo tambm que o discurso mtico inseparvel do discurso ideolgico,
utilizarei a mitanlise pois, como defende Sanchez Teixeira (2000, p. 35):
A mitanlise consiste, segundo G. Durand (1982), em
examinar ou determinar, num segmento de durao social, os
grande esquemas mticos a partir dos ndices mitmicos que
podem passar por mitemas. Seu intento procurar identificar
os grandes mitos que influenciam momentos histricos, tipos
de grupos e relaes sociais.
Pois bem: finalizo esta etapa reiterando que com base nesse referencial terico /
metodolgico que pretendo contribuir para a compreenso dos fundamentos mticos e
39
paradigmticos das Idias Educacionais Afrobrasileiras, a partir da mitanlise do discurso
de Kabengele Munanga, evidenciando a pertinncia e adequao desse referencial terico
para o estudo da cultura e da educao afrobrasileira.
40
DAS HERMENUTICAS REDUTORAS HERMENUTICA SIMBLICA.
A hermenutica a busca do sentido. (...) o trabalho
hermenutico re-vela as significaes latentes e o
devir dos smbolos. (...) e nossa tese vai no sentido de
considerar as estrias de vida como matria
imaginria e matria imaginal, isto , portadoras,
enquanto relatos que so, da dinmica da funo
simblica. (...) Mas a busca do mito pessoal no relato,
recortando um fragmento de mito coletivo que a
mitanlise procura identificar -, um trabalho
mitodolgico, pois a mitodologia co-implica uma
antropologia profunda [que ] uma leitura real do
comportamento humano por detrs de todos os
avatares e acidentes das localizaes geogrficas,
culturais e histricas (Jos Carlos de Paula Carvalho.
Imaginrio e Mitodologia: hermenutica dos smbolos
e estrias da vida. 1998, pp. 72-74).
41
DAS HERMENUTICAS REDUTORAS HERMENUTICA SIMBLICA:
As Cincias Humanas esto sendo submetidas a uma reviso profunda nas ltimas
dcadas e, apesar do pouco tempo decorrido, algumas concluses j se apresentam,
semelhantemente revoluo que se experimentou nas cincias da natureza e na filosofia, nos
sculos XV e XVI. A comparao pode parecer inicialmente desrespeitosa, tanto por ser uma
hiprbole em si como por minha incapacidade para prever o futuro, mas o certo que,
observando exclusivamente as posies que alguns tericos tm apresentado, no seria
atrevido prever uma mudana radical em nossa maneira de abordar o conceito de Cincias
Humanas. Como sugere Durand (2004, p. 34), felizmente e apesar de tudo, nos ltimos 25
anos uma minoria de pesquisadores, que cresce a cada dia, interessou-se pelo estudo deste
fenmeno fundamental da sociedade e pela revoluo cultural que implica.
Podemos nos perguntar que cincia pode existir se, como j questionaram alguns
antroplogos em meados do sculo passado, o anthropos no se altera desde sua apario
sobre a terra? Para Durand (2008, pp. 14-15):
Em outras palavras, o progresso da anthropology defende a
recorrncia e a referncia a uma tradio da antropologia
filosfica. Os importantes trabalhos de Leroi-Gourhan e os de
Jean Servier mostram, efetivamente, tanto neste ltimo, que o
evolucionismo, e principalmente os historicismos, so mitos
produzidos pelo homem e no produzindo o homem, quanto
no caso do paleontlogo, que a evoluo um fenmeno
muito lento, exigindo uma durao ainda mais longa que a
longa durao histrica, como a chama o historiador
Fernand Braudel, um tempo em escala geolgica onde a
espcie humana desde Cro-Magnon, ou seja, apenas antes de
ontem permaneceu esttica. (...) Lvi-Strauss, ao contrrio
de toda escola evolucionista, declara que os homens sempre
pensaram da mesma forma, ou, ento, a psicanlise, a
etnologia psicolgica, a psicologia das profundezas que
convergem para nos mostrar que os mesmos desejos, as
mesmas estruturas afetivas, as mesmas imagens se propagam
tanto no espao como no tempo, de um extremo a outro da
humanidade.
Que valores podemos dar aos argumentos que nasceram com o progressismo histrico
hipostasiado do empirismo do sculo XIX e da revoluo cientfica e tecnolgica do sculo
XX, os quais no tm conseguido retirar os ps de dentro de suas contradies? Que sentido
podemos dar a esse progressismo que nos faz crer na promessa de uma evoluo contnua, de
uma raa a outra, quando o que se observa que a evoluo um fenmeno lentssimo, quase
42
imperceptvel, que se move em parmetros muito mais inacabveis que a mera durao
histrica das civilizaes?
Se tomarmos por base a filosofia, observaremos que o problema implcito em uma das
maiores dificuldades do pensamento ocidental a relao entre o mundo dos sentidos e o
mundo das idias. Para Plato, esse problema s poderia ser resolvido atravs do mtodo
dialtico, no qual se apia a distino ontolgica explicada por ele em vrios de seus dilogos.
O discpulo de Scrates aconselha que devemos separar duas classes de coisas: a que vemos e
as que no vemos, ou seja, as invisveis, isto , tudo aquilo que no est sujeito a variao e
mudana (Fedro, 79a). Com a dialtica, a razo, por um lado, distingue as percepes e toda
evidncia que os sentidos nos do; por outro, reagrupa a pluralidade em uma s forma (eidos),
que a essncia real por detrs das coisas (A Repblica, 532b). Se h algo evidente para a
epistemologia platnica, no a simetria do crculo que nos oferecem os sentidos, mas a idia
de uma permanncia das formas, cuja apresentao s possvel atravs do discurso (logos).
Se a dialtica platnica ocupa um discurso que evoca o agitado contexto social da
gora ateniense, o racionalismo do sculo XVII apresenta uma razo que funciona no
indivduo, em seu solipcismo. Para o racionalismo, a evidncia sensorial poderia ter uma
utilidade relativa, mas nunca poderia ser constitutiva da verdade. Descartes (2005, p. 2)
afirma, em suas Meditaes Metafsicas, que:
Suponho, portanto, que todas as coisas que vejo so falsas;
persuado-me de que nada jamais existiu de tudo quanto minha
memria repleta de mentiras me representa; penso no possuir
nenhum sentido; creio que o corpo, a figura, a extenso, o
movimento e o lugar so apenas fices de meu esprito. O
que poder, pois, ser considerado verdadeiro? Talvez
nenhuma outra coisa a no ser que nada h no mundo de certo
(Segunda Meditao).
No transcurso das controvrsias epistemolgicas dos sculos XVII e XVIII, os
empiristas defenderam que nossas representaes, conceitos e crenas derivam da informao
captada pelos sentidos. Na antiguidade, entretanto, Aristteles (2002, 1) j havia divergido de
Plato, argumentando na abertura da Metafsica (I) que por natureza, todos os homens
desejam o conhecimento. Uma indicao disso o valor que damos aos sentidos. Este
mesmo argumento aristotlico aparece em Uma investigao sobre o entendimento humano,
de Hume (2007, p. 15), em que este afirma que:
43
(...) se acontece de um homem, devido a um defeito orgnico,
no ser suscetvel a nenhuma espcie de sensao, sempre
notaremos que ele tampouco suscetvel idia
correspondente. Um homem cego no pode ter noo alguma
das cores; um surdo, dos sons. Restaure os sentido de que os
dois so deficientes; abrindo essa nova entrada para suas
sensaes, voc abre tambm uma entrada para as idias; e
eles no encontraro dificuldade em conceber aqueles objetos.
J os racionalistas sustentaram que a mente humana vinha dotada de um estoque de
conceitos inatos e princpios com os quais gerava e construa as representaes do mundo.
Quando Kant (2001) afirmou que no humanamente possvel conhecer nada sem a
interveno dos sentidos, est ao lado de Hume e dos empiristas; mas ele tambm observa que
as impresses que recebemos atravs dos sentidos no podem produzir conhecimento,
assinalando que a mente humana possui uma faculdade cognitiva superior, que tem por base
conceitos a priori e, nesse sentido, concorda com Descartes e os racionalistas. Ao afirmar que
todo conhecimento inicia-se na experincia, o mundo do sensvel adquire, em Kant, um status
epistemolgico, mas est unido a um apriorismo conceitual racionalista. Isso deu origem a
uma teoria do conhecimento cuja evidncia e a atividade sensorial servem como arranque para
a atividade cognitiva, que as filtra.
Kant sustentou, contra o racionalismo de sua poca, que as estruturas lgicas do juzo
no eram suficientes para expressar contedos sobre o mundo
38
. Em sua teoria do
conhecimento, a atividade sensorial est presente em toda atividade cognitiva, mas s entra
em jogo para desvelar a ao do conceito em sua ao de ordenao da experincia humana
39
.
A separao entre o reino da lgica pura e o das sensaes , sem dvida, de natureza
dualstica, reducionista. Cassirer, um neokantiano, procurou suprimir a dualidade entre os
sentidos e o pensamento e, para fundamentar sua teoria, parte de uma reelaborao da
Analtica Transcendental de Kant. Em Cassirer, os sinais so operadores, ou seja, so
abreviaes fixas e convencionais para algo conhecido, enquanto que os smbolos so
designadores, estando num campo intermedirio entre o esprito e a matria. Essa funo
mediadora dos smbolos nos faz transcender a posio de sujeito e objeto, a livre
espontaneidade da mente e a passividade dos sentidos, colocando-nos de uma forma recproca
e com uma correlao entre as coisas do mundo e o esprito.
38
Juzo Analtico a priori (o predicado est contido no sujeito) e Juzo Sinttico a posteriori (o predicado no
est contido no sujeito).
39
Juzo Sinttico a priori.
44
UM OLHAR SOBRE AS HERMENUTICAS REDUTORAS:
Os termos reduo e reducionismo so extremamente ambguos. Autores
diferentes usam significados e definies diferentes e, por isso, geram-se polmicas
extremamente contraproducentes. Por exemplo, os filsofos entendem por reduo a
substituio de uma teoria por outra, mais nova e mais abrangente, enquanto os cientistas
compreendem a mesma palavra, mas exatamente no sentido oposto. Reduo a
transformao de um enunciado em outro equipolente mais simples ou mais preciso, ou
capaz de revelar a verdade ou a falsidade do enunciado de origem (ABBAGNANO, op. cit.,
p. 983). Por outras palavras, os filsofos reduzem o mais simples ao mais complexo, enquanto
que os cientistas reduzem o mais complexo ao mais simples, compreendido como mais
fundamental.
Em qualquer dos casos, temos de distinguir reduo de reducionismo. Existem
muitos tipos de reducionismos e o perigo de os confundir grande:
Fala-se de Reducionismo com referncia a concepes
consideradas unilaterais e parciais, ou que se acredite no
respeitarem a complexidade ou articulao de um fenmeno
ou de uma teoria. (...) o positivismo, quando visto como
cientificismo, e o neopositivismo, por seu fisicalismo, mas
tambm o idealismo e o materialismo (como em geral toda
forma de monismo), porquanto reduzem toda a realidade a um
s aspecto ou todo o conhecimento a uma s abordagem. (...)
alm da filosofia, o Reducionismo tambm encontrvel
tambm nas cincias, como por exemplo com o
economicismo, o psicologismo, o sociologismo, o biologismo,
que constituem o absolutizao, respectivamente, dos aspectos
econmicos, psicolgicos, sociolgicos, biolgicos (ibidem, p.
984).
O reducionismo como tendncia do pensamento pode ser definido sinteticamente,
como o todo pode ser explicado nada mais que com a soma de suas partes constituintes. Tal
postulado nos permite deduzir que se podem explicar as propriedades e leis dos sistemas mais
complexos pelas leis e propriedades dos sistemas mais simples.
Por outro lado, o anti-reducionismo postula a irredutibilidade do todo soma de suas
partes. Dito de outra forma, as propriedades e leis de um sistema complexo no podem ser
explicadas por propriedades e leis de sistemas mais simples.
45
Na histria do pensamento ocidental, identificamos uma primeira etapa, na
antiguidade, em que no havia diferenciao entre as cincias, ou esta diferenciao se
encontrava em estado embrionrio. Uma segunda etapa do desenvolvimento do pensamento
ocidental caracteriza-se pelo processo de diferenciao das cincias, manifesto claramente no
Renascimento. Essa diferenciao tem como causas as necessidades crescentes da tcnica e da
produo. As cincias, nessa poca, caracterizavam-se pelo predomnio do mtodo analtico
de investigao dos objetos.
A terceira etapa, que se prolonga at os dias atuais, marcada pela diferenciao das
cincias. A fsica foi uma das primeiras a se diferenciar, utilizando mtodos matemticos,
obtendo assim um alto nvel de possibilidades de comprovaes lgicas e empricas. Seu
desenvolvimento foi baseado, em grande parte, na aplicao do mtodo hipottico dedutivo e
experimental. O reducionismo coincidiu com o fisicalismo,
(...) denominao do Crculo de Viena, que via na linguagem
o campo de indagao da filosofia, para acentuar o carter
fsico da linguagem. Esse termo foi aceito por Carnap, para
indicar o primado da linguagem fsica e sua capacidade de
valer como linguagem universal. (...) Nos debates filosficos
atuais sobre a mente, Fisicalismo um termo usado para
designar qualquer forma de materialismo (ibidem, p. 539).
Essa tendncia reducionista responde a um princpio de simplicidade na cincia, que
consiste na indicao de no introduzir, na explicao terica, novas entidades, sejam
conceitos, substncia etc. Esse enfoque expressa tambm a tendncia monista
40
de
compreenso do mundo, ao tratar de explic-lo baseando-se numa unidade elemental que
subjaz quela cincia cujo objeto de estudo est construdo por essas unidades. Trata-se ento
da fisicalizao de toda cincia, a reduo do objeto de estudo de outras a seus mtodos.
O fisicalismo a concepo de carter monofundamental da cincia, que afirma que
somente a fsica possui o carter fundamental global. Como conhecemos, na histria das
cincias naturais, atribuiu-se realmente o estatuto de cincias fundamentais trs disciplinas: a
fsica, a qumica e a biologia.
40
Monismo: Wolff chamava de monistas os filsofos que admitem um nico gnero de substncia,
compreendendo nessa categoria tanto os materialistas quanto os idealistas. Porm, conquanto algumas vezes
tenha sido usado para designar estes ltimos ou pelo menos algum aspecto de sua doutrina, esse termo foi
constantemente monopolizado pelos materialistas; quando usado sem adjetivo, designa o materialismo
(ABBAGNANO, op. cit., p. 794).
46
O que se observa, atualmente, que o reducionismo em si mesmo no capaz de
explicar fenmenos complexos, especialmente aqueles em que esto implicados aspectos
sociais e culturais, os quaisnecessitam ser caracterizados por leis prprias, tais como a auto-
conscincia, a atividade criadora e a tica.
A meu ver, as teorias reducionistas do materialismo e do idealismo possuem claras
limitaes. Contra essas teorias, alguns pensadores tentaram sistematizar enfoques globais,
complexos ou sistmicos. Cassirer (1977), ao realizar uma crtica teoria da abstrao
aristotlica que havia sido reabilitada pelo empirismo, ataca dois flancos. Por um lado, faz ver
que a percepo no capaz de levar-nos a nveis superiores de generalizaes, e que o
montono princpio de abstrao aristotlica s pode separar os dados perceptivos ou
sensoriais sob o estrato da coexistncia, sem levar em conta que os dados perceptivos e os
conceitos pertencem a duas esferas distintas. Por outro lado, o fato do empirismo acreditar
poder deduzir o conceito a partir dos dados d-se simplesmente porque estes j so
pressupostos, no se dando conta de que o conceito no deduzido, mas suposto.
Para Cassirer, a teoria clssica da abstrao fracassa ao supor, como categorias dadas,
os conceitos de igual e diferente. Toda igualdade, como toda diferena, supe uma
maneira de apreenso da conscincia. Apoiando-se na fenomenologia de Husserl para criticar
a abstrao empirista, Cassirer descarta o poder criativo que se confere ateno; esta s
desune ou combina os componentes j dados na percepo. Para passar da pluralidade da
experincia sensvel singularidade do conceito, se requer uma nova funo, que realiza a
sntese da multiplicidade do que se nos apresenta pela impresso sensvel: a abstrao.
A abstrao repousa num esquema de generalizao. Sua relao se descobre no
processo, quando manifesta o vnculo que sintetiza os objetos dados no campo sensorial. A
abstrao no trata de buscar, como sugere o empirismo, a substncia ltima do objeto uma
vez que todos os acidentes so eliminados, mas de produzir a relao que leva sntese. A
abstrao opera como uma sntese relacional que recolhe o objeto sensorial e o eleva a sua
espcie conceitual. No trabalha sobre objetos alados, mas sobre os que so incorporados a
um sistema mais geral de relaes. A abstrao no se limita a recolher e ordenar os objetos
sensveis, mas tambm desempenha um papel interpretativo.
47
Na teoria de Cassirer, o smbolo cumpre a funo de mediar a sntese, enquanto o
conceito aproveita-se das conexes que subjazem na sntese e nas leis de seu significado.
Sobre esta teoria, Rosa Maria Melloni (op. cit., pp. 32-33) nos diz que:
Obedecendo aos princpios de sua concepo, o autor
parte do plano original e engenhoso de Uexkll para a
compreenso do mundo biolgico. Esse afirma que a
vida igual e perfeita em toda a parte, sendo, nos
pressupostos e leis bsicas, igual tanto no menor como
no maior dos crculos. Todo organismo, do mais simples
ao mais complexo, possui os modos de adaptao ao seu
meio e acha-se perfeitamente coordenado com o
ambiente. Est equipado com um sistema receptor e um
emissor de resposta, sem o que no poderia viver. Esses
sistemas esto interligados pelo processo por ele
denominado crculo funcional, cujos detalhes mais
extensivos desenvolve em sua obra. O homem um ser
antes de tudo biolgico e, como tal, compreendido por
esse crculo funcional. No caso humano, porm,
admite Cassirer que tal crculo no apenas mais amplo,
como tambm sofreu uma mudana qualitativa. Alm
daqueles evidenciados pelo citado biologista alemo, o
homem desenvolveu um novo modo de adaptar-se ao
meio, transcendendo a esfera biolgica o sistema
simblico que outros autores evolucionistas, como
Lewis, denominam instrumento da inteligncia; ou
construtivistas, como Piaget chamam de estrutura da
inteligncia.
A elaborao terica de Cassirer possui um primeiro estrato onde o conceito significa
a coisa sensvel. A relao entre o conceito e seu contedo consiste na expresso da
experincia sensvel. Os objetos de primeira ordem da percepo sensvel so substitudos
logo pelos de segunda ordem, gerados pelo ato que opera a sntese dos elementos dispersos.
O conceito de quadriltero, por exemplo, designa uma imagem concreta, em que as relaes
entre suas diagonais ou ngulos so dadas por tal conceito ainda em seu aspecto sensorial. Na
sistematizao de maior complexidade, a noo de quadriltero aparece governada, j no por
sua sensibilidade, mas por uma dimenso relacional: a diagonal de um quadriltero equiltero
divide-se em dois tringulos congruentes.
No a dimenso perceptiva, mas a relacional, a que assegura que a diagonal
bissetriz dos ngulos do quadriltero. J no prevalece o quadriltero como cone, mas como
48
uma esfera de relaes que se expressam atravs de um sistema convencional de signos cujos
objetos pertencem a uma estrutura ideal.
Cassirer (op. cit., p. 360) argumenta que a estrutura ideal no concebida a priori,
mas vista como um ponto de convergncia que se realiza em uma srie contnua de atos
lgicos movidos pela abstrao. As impresses elementares no se podem derivar do tipo de
realidade que as une, pois desde o incio a multiplicidade aparece como conceitualmente
articulada. A questo no saber como passamos dos elementos ao conjunto, mas como
passamos do conjunto aos elementos. Os elementos no existem jamais fora de uma forma
de relao, de maneira que toda tentativa de fazer derivar a relao dos elementos e os modos
possveis de relao est condenada a girar em crculo (ibidem, p. 379).
A chave que resolve o enigma do conhecimento encontra-se na dialtica que une o
objeto que funda a relao e na relao que d sentido ao objeto fundador. Um no pode
existir sem o outro (ibidem, p. 384).
Cassirer aqui aproxima-se de Kant (2001), quando este diz que devemos distinguir
entre o objeto em si mesmo (transcendental) e o que dado pelos sentidos, j que o objeto
transcendental est alm dos limites da razo humana. Suponhamos que tomamos algo to
emprico como uma gota de gua. Essa intuio emprica pura aparncia, pois nada que
pertena a alguma coisa real em si pode ser encontrado. Independentemente da profundidade
da investigao do objeto, s nos deparamos com as aparncias. No somente a gota de gua
um mero fenmeno, mas tambm sua forma redonda e at o espao em que cai, ou seja,
mera modificao ou fundamento de nossa intuio sensvel; o objeto transcendental, no
entanto, permanece desconhecido para ns.
Em consonncia com a ontologia kantiana, Cassirer (2006) afirmar que o que
conhecemos est sujeito aos limites da razo humana. O conhecimento no pode reproduzir a
natureza exata das coisas como so na realidade; esta deve circunscrever sua essncia em
conceitos. E os conceitos so formulaes e criaes do pensamento, em vez de dar as
verdadeiras formas dos objetos, nos mostra as formas do pensamento. O que chamamos
realidade o que as formas de sensibilidade nos do, no sentido kantiano do termo. A
grande diferena de Kant em relao aos pensadores racionalistas, de um lado, e os
empiristas, de outro, justamente sobre a fonte originria do conhecimento humano.
49
O dogmatismo racionalista e o ceticismo empirista falavam de coisas, de perspectivas
contrrias. Enquanto o primeiro tem a certeza sobre as coisas, o ltimo faz delas o resultado
da crena baseada no hbito. Kant supera as duas alternativas, pois ao invs de procurar
conhecer as coisas, diz que preciso examinar antes o prprio conhecimento e suas
possibilidades. O conhecimento inicia-se com a experincia, mas nem por isso origina-se nela.
Isso porque a experincia pressupe o sujeito como condio de sua possibilidade, sem o que
o termo experincia nem teria sentido. A pessoa, ento, deve apresentar capacidades ou
faculdades que possibilitem a experincia e o prprio conhecimento.
A primeira dessas faculdades a sensibilidade. A forma da sensibilidade o que
permite a percepo das coisas. O espao e o tempo so formas a priori da sensibilidade.
Nada pode ser percebido se no possuir propriedades espaciais; por isso, o espao no
percebido, mas o que permite haver percepo; ou seja, percebemos os lugares, as posies,
as situaes, mas no percebemos o prprio espao. Da mesma maneira o tempo. Temos
experincia do passado, do presente e do futuro, porm no do prprio tempo, ainda que ele
seja a condio necessria para a possibilidade de percepo das coisas. Com isso, Kant
defende a existncia de estruturas universais e necessrias, que possibilitam ao homem
conhecer.
Cassirer retoma o conceito kantiano de estrutura, estudando a relao entre o
sensvel e o intelectual. O esquema kantiano como uma espcie de tentculo do conceito que
desce do reino do a priori ao mundano e efmero. Metade conceitual, metade sensorial, o
esquema kantiano desdobra seu tentculo no mundo, palpa o objeto concreto, o reconhece e o
prende no conceito correspondente. Cassirer concebe ainda as invariantes do esquema
manifestando-se atravs de uma relao que sintetiza o comum dos objetos dados em sua
pluralidade durante o curso da experincia sensvel, e alcana seu ponto mais alto de
significao nas expresses simblicas das relaes matemticas.
Nessa teoria, a racionalidade cientfica considerada como uma ponta do pensamento
humano, e o smbolo ocupa uma posio central. Cassirer (2004) dir que no h idias puras,
mas um suporte de sensaes, j que o ideal s existe na medida em que se representa de
alguma maneira sensorial e materialmente toma corpo nesta representao. Assim esse autor
construiu uma resposta ao problema da relao entre o conceitual e o sensorial. Sua tese
permite afirmar que o objeto do conhecimento no est nem dentro nem fora, nem deste ou
daquele lado, pois nossa relao com ele no ntica nem real, mas simblica.
50
Assim, resolve-se o problema do reducionismo, ou seja, do dualismo entre operaes
mentais e objetos percebidos. A teoria de Cassirer, exemplo do prolongamento da teoria
kantiana do conhecimento, nos mostra que a natureza das diversas significaes conceituais
no poderem ser vistas como expresses da energia do pensamento que constri um sistema
de smbolos em completa liberdade, numa pura e espontnea atividade, mas que a lgica das
significaes se d de maneira dialtica, entre as formas da atividade que realizam os
indivduos concretos e a dimenso histrico-cultural da prtica social.
Encontramos outra contribuio terica contra os reducionismos em Bachelard. Para
ele, o processo de conhecimento humano, at a poca contempornea, foi com rupturas a cada
momento histrico. Em cada perodo os homens manifestaram aspectos polarizantes no
conhecimento cientfico (BACHELARD, 2000). Os aspectos subjetivos ou objetivos
expressam formas de apreender as leis do mundo exterior ou como estas leis se adaptam ao
pensamento, inclusive muitas vezes os objetos do conhecimento tem apresentados grandes
problemas reais, ideais etc. Os processos de conhecimento estavam limitados, muitas vezes,
pelo olhar do sujeito, pelos instrumentos utilizados, pela escassa ou inexistente sistematizao
terica, levando a acumulao de conhecimento a um desenvolvimento muito mais
quantitativo que qualitativo. O que se observa o realismo de um lado, como expresso do
material, do emprico ou experimental, e o racionalismo de outro lado, como expresso da
compreenso do sujeito, do esprito da razo, da imaginao, gerando-se, pois, os mtodos
indutivo e dedutivo, respectivamente.
Bachalard (ibidem) diz que o novo esprito cientfico deve ser dinmico, tendo
sempre a forma de um projeto no qual os dogmas, os esquemas tericos e metodolgicos do
passado sejam rechaados. Evidentemente que conceber um desenvolvimento harmnico,
estvel e progressivo do conhecimento uma premissa falsa, j que, no transcorrer da histria
das cincias e em seu desenvolvimento de um estado a outro, contem-se muitos erros pelo
objeto, pelo sujeito, pela relao sujeito-objeto, pelo mtodo etc.
A vigilncia epistemolgica que Bachelard prope nos faz recordar a teoria
anarquista do mtodo de Feyerabend
41
(2007). Para Bachelard, em todos os momentos
existem erros; o erro histrico e faz com que no existam verdades absolutas, mas relativas
41
Feyerabend postula o pluralismo metodolgico e o fim das divises existentes entre os diversos campos do
saber, sugerindo contra-regras para neutralizar a tendncia a preservar tudo o que antigo e familiar (condio
de coerncia), criando a dogmatizao. Os paradigmas somente so ultrapassados, e a cincia s faz avanos,
quando os mtodos acadmicos tradicionalmente aceitos so deixados de lado.
51
ao momento e ao desenvolvimento cientfico e econmico-social. Para superar o erro, o
homem deve mirar o conhecimento como um projeto. O novo esprito cientfico deve levar-
nos mais alm das aparncias fenomenolgicas, com uma atitude aberta e crtica diante do
conhecido e do desconhecido, sempre em guarda, munidos de uma nova dvida que
expresse nossa vigilncia epistemolgica, a qual nos permite superar o erro que nos deforma a
objetividade de nosso conhecimento.
Outro autor que auxiliar o rompimento com uma hermenutica reducionista
Gadamer. Para ele (idem, 2003), hermenutica o dilogo com um interlocutor morto, um
texto, ou seja, a operao que se relaciona com um texto de forma consciente. Entende-se
por texto todo produto humano. A hermenutica diferencia-se da interpretao porque esta se
baseia num dilogo com uma realidade viva.
H vrias formas de se fazer hermenutica, de acordo com o acento que se queira dar;
um exemplo de hermenutica filosfica pondo o acento na histria. Gadamer (2002) coloca
o ponto de partida na linguagem, compreendendo-a como a expresso da relao do homem-
mundo. Gadamer (ibidem) considera trs aspectos para colocar o foco na linguagem. O
primeiro, para decifrar o logos. O logos possui trs aspectos que se dinamizam e se
complementam: a palavra, como possibilidade de dilogo e forma de nomear o que algo , ou
seja, de comunicar o sentido; o discurso, que abre esse sentido ao contato com os outros e que
abre o espao interpretao; a linguagem, que permite a construo de sentido e da cultura, a
expresso da relao homem-mundo. O segundo, decifrar a linguagem para sua compreenso
em seus trs elementos: considerar o pr-lingustico como aquele aspecto presente no
intelecto e que no foi nomeado, o extra-lingustico e o metalingustico.
Por fim, decifrar a linguagem em seus trs passos: primeiro, como experincia do
mundo, experincia que radical e determinada; segundo, como centro e estrutura
especulativa, centro porque a relao com o mundo implica liberdade do homem frente ao
mundo, sendo signo de liberdade e vnculo entre o finito e o infinito; terceiro, como aspecto
universal da hermenutica, como o esprito absoluto de Hegel, compreendendo esprito como
o que h de vida e verdade de cada um e de cada povo, e absoluto, entendido como livre.
Portanto, para Gadamer, a linguagem o ponto central, por ser universal e porque, na
conversao, a linguagem tem seu verdadeiro ser, no s dilogo, como tambm encontro
finito de duas hermenuticas infinitas; conversao, ter o mesmo centro frente ao mundo.
52
Temos ainda Morin (1998), que tambm apresenta uma crtica aos reducionismos. Ele
entender que o conhecimento est na cultura e a cultura est no conhecimento. Como se
compreende ento esta relao? Para Morin, a cultura organizadora mediante a linguagem,
dos saberes apreendidos da experincia e memria histrica, das crenas msticas. A cultura
abre e fecha as potencialidades bioantropolgicas do conhecimento. Abre, por ser um saber
acumulado, linguagem, paradigmas, lgica e mtodos. Fecha pelas normas, regras, proibies,
tabus, etnocentrismos e autossacralizao.
A sociedade o tronco comum entre o conhecimento e a cultura. atravs da cultura
que a sociedade est no interior do conhecimento humano. O conhecimento memria
hereditria, experincia do mundo, e o conhecimento individual memria biolgica e
memria cultural.
Esse processo complexo bioantropolgico e scio-cultural, de relao entre o
indivduo e cultura, pode ocorrer de duas maneiras: hologramtica e recursiva. Por
hologramtica, entende-se que a cultura est nos indivduos e estes na cultura. Por recursiva,
que os indivduos no podem formar e desenvolver seu conhecimento sem estarem no seio de
uma cultura. As interaes cognitivas dos indivduos regeneram a cultura, que regeneram
essas interaes.
Neste sentido, pode-se falar de produto-produtor. O conhecimento seria o produto de
interaes bio-antropo-socio-culturais e a cultura co-produtora da realidade percebida e
concebida. A cultura gera conhecimentos que regeneram a cultura. O conhecimento est
unido estrutura da cultura, a organizao social, prxis histrica. O conhecimento no s
est condicionado, determinado e produzido, mas igualmente condicionante, determinante
e produtor. Os homens de uma cultura, por seu modo de conhecimento, produzem a cultura
que produz seu modo de conhecimento. Assim, para Morin (ibidem), cultura e conhecimento
no so termos contrrios, j que a cultura inclui o conhecimento e o conhecimento inclui a
cultura.
Por fim, temos Durand (2000, pp. 37-52) demonstrando que a postura cientfica de
negar o mundo imagtico reducionista, posto que no contempla o ser humano de forma
integral, no realiza a sutura entre a razo e a sensibilidade.
O cientificismo foi predominante na sociedade ocidental, rotulando os mitos de
mentiras, ficando a razo dissociada da sua verdadeira fonte, o mito. Na busca pelo
53
racional, o sentimento foi abafado e o ser humano ficou dividido. As consequncias desse
reducionismo esto manifestas nas diversas crises contemporneas, individuais e sociais.
Contra este reducionismo, Durand elaborar sua teoria (Wunenburger, 2007, pp. 19-20):
Na esteira da antropologia de E. Cassirer e da potica de G.
Bachelard, ele [Gilbert Durand] pe no cerne do psiquismo
uma atividade de fantstica transcendental. O imaginrio,
essencialmente identificado com o mito, constitui o primeiro
substrato da vida mental, cuja produo conceitual no passa
de um estreitamento. Embora se distinga de G. Bachelard,
contestando particularmente o antagonismo do imaginrio e da
racionalidade, G. Durand retoma as orientaes deste ao
mostrar como as imagens se enxertam num trajeto
antropolgico, que comea no plano neurobiolgico para
estender-se ao plano cultural.
Durand (op. cit., pp. 53-71) desenvolver assim sua hermenutica, por ele denominada
instauradora, compreendendo que a principal funo da imaginao simblica a de
restabelecer o equilbrio vital, o psicossocial e o antropolgico. Nessa esteira, ele demonstrou
que a conscincia tem duas maneiras de representar o mundo: uma direta, ou seja, quando a
prpria coisa est presente na mente, como percepo ou sensao. A outra indireta, ou
seja, quando, por uma ou outra razo, a coisa no pode apresentar-se concretamente nossa
sensibilidade, como acontece com as recordaes da infncia ou s representaes de outra
vida alm da morte. Em todos esses casos de representao indireta, o objeto ausente chega a
ns por meio de uma imagem (idem, 2000, p. 7).
A banalizao e, porque no diz-lo, o desprezo a tudo que vem da imaginao
produziu uma grande confuso entre o significado dos termos relativos a esse imaginrio.
Para Durand, no s h confuso, mas desvalorizao da imagem, confuso essa que
produto da iconoclastia no pensamento ocidental. Assim, imagem, signo, alegoria,
smbolo, emblema, parbola, mito, figura, utopia so termos utilizados como
correlatos por diversos autores (ibidem, p. 7).
Em diversas opinies a respeito do tema, surge a critica desdenhosa de que aqueles
que trabalhamos sobre o imaginrio, trabalhamos com contedos do que no pertencem
esfera do racional nem do cientfico, entre outros. Algumas dessas opinies tm como
origem a inquisio que reina no pensamento, originada na luta entre as diversas correntes
e/ou escolas; outras, na defesa da razo que se quer conservar como o nico meio vlido
para o pensamento, e que protegida com um ardor quase religioso pelas instituies e
54
indivduos. Muitas vezes, as opinies que desvalorizam a imagem e o imaginrio so
motivadas simplesmente pela ignorncia de no querer saber exatamente do que se tratam.
A palavra imaginrio desperta certo volume invisvel, uma presena que nos rodeia,
mas que no podemos tocar. Rodeia-nos como a Natureza, a qual, contudo, deixa-se ver e
tocar, ao contrrio do imaginrio, que um verdadeiro mistrio e, como todo mistrio, s
vezes deixa apreender-se, outras vezes, esconde-se num lugar de sombras. Durand (2004, p.
117) o define como uma re-presentao incontornvel, a faculdade da simbolizao de onde
todos os medos, todas as esperanas e seus frutos culturais jorram continuamente desde os
cerca de um milho e meio de anos que o homo erectus ficou em p na face da terra. Esse
imaginrio est preenchido de smbolos, e aqui onde necessitamos saber algo mais sobre
este termo. Quando o significado no de nenhuma maneira representvel, o signo, a figura
ou metfora conduzem o sentido do figurado ao significado, sendo, porm, esse significado
por natureza inacessvel, uma epifania ou apario do indizvel, do inatingvel; uma
representao que faz aparecer um sentido secreto e, a partir de ento, o smbolo surge, por
todas as suas funes, como abertura para uma epifania do Esprito e do valor, para uma
hierofania (idem, 2000, p. 107).
O significante, a poro visvel do smbolo, possui trs dimenses concretas: a
csmica, porque manifesta sua figurao no mundo visvel que nos rodeia; a onrica, que est
presente nas recordaes e nos gestos que surgem em nossos sonhos; a potica, que ilumina a
linguagem daquilo que mais profundo, ou seja, que explora os contedos do inconsciente. A
poro invisvel possui, pois, todo um mundo de representaes indiretas, fazendo com que os
dois termos do smbolo, significante e significado, sejam infinitamente abertos e
completamente flexveis. A poro visvel repete-se e, por redundncia, integra, em sua
figura, as qualidades mais contraditrias. Por meio desse poder que tem de repetir-se, o
smbolo expressa indefinidamente sua inadequao, ao passo que esse repetir-se permite seu
aperfeioamento gradual, por meio das acumulaes. O conjunto de todos os smbolos sobre
um tema permite que estes vo se aclarando uns aos outros, somando-se assim numa potncia
simblica suplementar (ibidem, p. 13).
Essa mesma redundncia aperfeioante opera em trs terrenos: (1) quando esta
gestual, constituindo os smbolos rituais; (2) quando lingstica, partindo do mito e seus
derivados; (3) quando de uma imagem, seja uma pintura ou uma escultura, o que se
denomina smbolo iconogrfico. Esses trs terrenos referem a um mesmo contedo invisvel,
55
a um mais alm, um valor que estabelece o sentido, contrariamente ao que sucedeu com o
pensamento ocidental, o qual reduziu a imaginao e a imagem a simples veculos de
falsidades (ibidem, 14-15). Para encarar, ento, uma nova cincia e uma nova sabedoria que
integre a natureza descartada do smbolo, ter-se- de se levar em conta a simbologia e, para
isso, devemos analisar certas premissas que possibilitem uma troca no conhecimento.
Agora trata-se de encarar uma maneira de pensar diferente e de mencionar certas bases
epistemolgicas que impliquem uma mudana na lgica do pensamento. O problema das
Cincias Humanas que preconizam um conhecimento do Homem como algo objetivvel,
matematizavel, consequncia do determinismo da cincia moderna, tem colocado cientistas e
humanistas em oposio (Wunenburger, 2007, p. 13-15), os primeiros, defendendo os
postulados da cincia e os segundos, fechando-se num solipcismo do Eu. Para subverter essa
necessidade de olhar o objeto dentro de certas categorias intelectuais predeterminadas pelo
sujeito ou de definir a realidade com normas estticas, o caminho seria, talvez, sair da
dualidade, dos reducionismos, caminhando em direo a um conhecimento da totalidade do
objeto, graas participao da totalidade do sujeito, no s de sua razo.
H trs linhas decisivas e fortes que marcaram o pensamento ocidental e cientfico: (1)
o pensamento racional, que rompeu a aliana com o sagrado, com a crena em Deus,
refugiando-se num agnosticismo; (2) com a negao da transcendncia, sobreveio uma
diviso do cosmos, que no mais um objeto de conhecimento, mas de manipulao, de
dominao, sendo assim reduzido s conexes das coisas e tendo se anulado as redes de
correspondncias ou de similitudes simblicas; (3) essa reduo do mundo concreto a
categorias mentais abstratas supe tambm uma oposio dualista entre um objeto e um
sujeito sem relao um com o outro.
A partir da Modernidade, estabeleceu-se o mtodo de uma maneira imperialista no
Ocidente, tendo como princpio o corte, a separao de identidade e no-identidade, o uno e o
mltiplo, o bem do mal, o verdadeiro do falso etc. A histria sofreu as consequncias, com
seu furores e seus silncios; progresso, otimismo, perfeio e beneficncia tm ritmado as
histrias oficiais, estabelecendo uma nova inquisio contra outros tipos de pensamento e,
desse modo, calando outras vertentes possveis.
No entanto, Durand considera que o progresso das cincias do Homem deve dar-se
luz do conhecimento mais antigo, beber nas fontes da Tradio, levando em conta que nestas
56
tambm encontramos mtodos lgicos de apreenso das coisas, mtodos que, inclusive, as
cincias denominadas positivas tm retomado, ainda que ignorando a origem.
O pensamento de Durand vai do Homo rationalis ao Homo symbolicus, pondo em
questo todos os parmetros de representao de ns mesmos, do mundo e do universo. A
viagem que esse autor prope imensa e com muitos movimentos: desde o infinitamente
pequeno ao infinitamente grande, passando por um reconhecimento do corpo. Isso significa
manejar de outra forma a matria prima que so as imagens que nos envolvem e, para isso,
devemos revalorizar a fantasia, a fabulao, o sonho, devolvendo o poder criativo ao Homo
rationalis e, ao mesmo tempo, realizando com prudncia epistemolgica a intimidade da
experincia.
O mtodo de Durand envolve uma etapa esttica e outra, dinmica: a primeira diz
respeito sua arquetipologia, a mesma que nos permite ordenar esse imaginrio em estruturas
e esquemas. As estruturas do imaginrio de Durand apresentam-se como um dilogo entre
opostos, pressupondo a no-excluso, a aceitao de um terceiro elemento que possibilita a
interao entre os outros. Essa a diferena fundamental desse mtodo em relao lgica
identitria e excludente que impera no Ocidente e, sobretudo, na Modernidade. A segunda
etapa, dinmica, envolve as noes de trajeto antropolgico e de bacia semntica, que nos
permitem elaborar uma anlise muito mais extensa, incorporando o constante movimento para
ver, assim mesmo, o caminho recorrido pelos mitos. Levar em conta esse mtodo incorporar
a noo de tempo cclico, suavizando assim a angstia do final, abrindo-se para uma
investigao em conjunto com outras disciplinas, encontrando pontos de acordo, analogias e
metforas que nos deixem ascender a uma viso integral do homem. reincorporar a
Tradio e reconhecer um lugar de privilgio ao transcendente, devolvendo alma a parte que
lhe devida.
A HERMENUTICA SIMBLICA:
Longe de pretender contestar todas essas questes e prolongar excessivamente algo
que, sem dvida, escaparia de meu campo e de minha atribuio, passarei a esboar a idia
que guia este captulo. As Humanidades no tm de estar margem da cincia, como vozes
silenciadas e sincopadas ante o isolamento metodolgico, mas devem responder,
demonstrando que ainda continuam vivas. At agora, a universidade era o nico espao onde
57
a pesquisa tinha importncia, de um lado pela liberdade da ctedra acadmica, de outro pela
identidade propriamente, que esta tinha em relao pesquisa. Atualmente, o nvel das
pesquisas e publicaes especializadas tem forte influncia de discusses ocorridas em
movimentos culturais e populares que reivindicam seus direitos, como o caso do movimento
negro.
O que me proponho a explicar no uma evidncia, nem sequer algo estabelecido pela
natureza do ensino superior, mdio ou fundamental, mas um desafio que est surgindo
atualmente, independentemente das estratgias que so realizadas.
Enquanto as imagens dos papis positivamente valorizados
tendem a se institucionalizarem num conjunto muito coerente
e com cdigos prprios, os papis marginalizados
permanecem num Underground mais disperso com um
fluxo pouco coerente. Contudo, estas imagens de papis
marginalizados so os fermentos, bastante anrquicos, das
mudanas sociais (DURAND, 2004, p. 94).
Acredito que no possvel ao homem moderno persistir assumindo o comportamento
iconoclasta que nega uma continuidade histrica dos smbolos que utilizamos para
representar-nos e ao mundo, j que eles possuem um sentido, um significado que diz respeito
a esse homem, tanto quanto ao homem tradicional. Essa postura iconoclasta pressupe uma
ruptura, um novo estado da conscincia completamente independente do Sagrado e da
mstica, indo ao encontro das teorias que no asseguram uma sobrevivncia do rito religioso
na sociedade contempornea, o que implica uma perda de significado a qual mutila a natureza
do ser humano. No entanto, pode-se observar e preservar a continuidade dos ritos e das
imagens sem cair no obscurantismo e nos tabus dos soteriolgicos. No se pode aniquilar aos
smbolos e as imagens sem os recursos prprios dos cones, assim como no existe sentido
para o homem no mundo sem os cones e os ritos que ainda hoje sobrevivem em nossa
sociedade, e que vo desde os atos puramente religiosos, como a repetio, por exemplo, da
festa do ano novo e das celebraes que acompanham o matrimnio ou o nascimento de um
filho.
Assim, podemos partir de dois pressupostos. O primeiro que o mito e o sagrado
sobrevivem ainda hoje em diversas manifestaes; o segundo que a sobrevivncia do mito,
do sagrado e, portanto, do imaginrio tal como formulado por Durand, pressupe
necessariamente uma reutilizao dos mesmos materiais, atualizados ou no, que permitam
58
uma continuidade desses mesmos smbolos que nos conectam aos arqutipos determinantes
de nossa condio. O imaginrio, com suas inumerveis caractersticas, inerente a todo
fenmeno cultural, em nossos dias como no passado. Ento por que no lhe conceder a
mesma importncia, por exemplo, na educao? A pouca relevncia dada nos estudos
simblicos atuais tem uma justificativa muito simples, a qual, em minha compreenso, parte
de pressupostos equivocados: a negao dos contedos subjetivos, da obscuridade da
subjetividade como pertencente e inerente categoria de cientfico.
Se lanarmos os olhos para o passado, no incio do sculo XX, encontraremos em
Freud as primeiras tentativas de fazer da subjetividade um objeto de estudo. O mrito da
Psicanlise, afirma Durand (2000, p. 42) apesar desta linearidade causalista e da
escamoteao do smbolo a favor do sistema, foi ter devolvido o direito de cidadania aos
valores psquicos, s imagens, expulsos pelo racionalismo aplicado das cincias da natureza.
Foi com o desenvolvimento da psicanlise que surgiram as teorias mais decisivas neste
campo. Jung, com sua Psicologia Analtica e uma nfase na recorrncia aos mitos e smbolos,
deu um lugar de valor ainda mais significativo ao smbolo e ao imaginrio (ibidem, p. 56):
... ao retomar a definio clssica do smbolo redescobre
explicitamente que esta ltima , em primeiro lugar,
multvoco (ou mesmo equvoco) e, por conseguinte, que o
smbolo no pode ser assimilado a um efeito que se reduziria a
uma causa nica. O smbolo remete para algo, mas no se
reduz a uma nica coisa. Por outras palavras, o contedo
imaginrio da pulso pode interpretar-se... quer
redutivamente, isto , semioticamente, como a prpria
representao da pulso, quer simbolicamente, como sentido
espiritual do instinto natural.
Em 1933, na cidade sua de Ascona, Jung, juntamente com Rudolf Otto e Olga
Frbe-Kapteyn, fundou o que ficou conhecido como Crculo de Eranos
42
, um grupo
interdisciplinar que centralizou suas investigaes no campo da interpretao cultural e
filosfica, procurando dar relevncia aos elementos mais subjetivos, mais transcendentes,
como o smbolo e o mito. Gilbert Durand, participante de Eranos, trouxe importante
contribuio para a anlise da realidade. Assim, utilizarei como base para o estudo do
pensamento de Kabengele Munanga, a teoria que Durand desenvolveu em torno do smbolo e
do mito.
42
Sobre o Crculo de Eranos, recomendamos a obra PAULA CARVALHO, Jos Carlos de. Imaginrio e
Mitodologia: hermenutica dos smbolos e estrias de vida. Londrina: ed.UEL, 1998.
59
A palavra smbolo remete ao termo grego sym-ballo, que se refere unio ou
reencontro de duas partes que, no princpio, estavam unidas. o oposto de dia-bllein,
diablico, que significa lanar coisas para longe, de forma desagregada e sem direo, jogar
fora de qualquer jeito. Dia-blico, como se v, o oposto do sim-blico, tudo o que
desconcerta, desune, separa e ope (Boff, 1998, p. 12). O termo smbolo j recorda uma
prtica que consistia no pacto entre duas pessoas, as quais, a fim de sagrar um compromisso
mtuo, quebravam um pequeno pedao de cermica ou uma moeda em dois pedaos, cada
uma das pessoas tornando-se a guardi de uma das partes. Caso eles se separassem por longo
tempo, ao reencontrar-se, poderiam existir dvidas a respeito da identidade de um ou de
ambos. Por meio do sym-ballo, ambos identificavam reunindo os dois fragmentos e
comprovando que estes pertenciam a mesma unidade originria.
No significado etimolgico do termo, vai, portanto, implcita uma das caractersticas
mais importantes que define e diferencia o smbolo: sua condio de mediador, de unificador
de dois opostos ou realidades. Para Durand (2000, p. 12):
O smbolo , pois, uma representao que faz aparecer um
sentido secreto, a epifania de um mistrio. A metade visvel
do smbolo, o significante, estar sempre carregado da
mxima concreo e, como Paul Ricoeur diz de uma maneira
excelente, qualquer smbolo autntico possui trs dimenses
concretas: simultaneamente csmico (isto , recolhe s
mos cheias a sua figurao no mundo bem visvel que nos
rodeia), onrica (isto , enraza-se nas recordaes, nos
gestos que emergem nos nossos sonhos e constituem, como
bem demonstrou Freud, a massa muito concreta da nossa
biografia mais ntima) e, finalmente, potica, isto , o
smbolo apela igualmente linguagem, e linguagem que
mais brota, logo, mais concreta. Mas tambm a outra metade
do smbolo, a parte de invisvel e de indizvel que faz dela um
mundo de representaes indirectas, de signos alegricos
sempre inadequados, constitui uma espcie lgica bem parte.
Em Durand, o homem percebe o mundo de duas maneiras radicalmente diferentes: por
um lado, ele possui uma percepo direta pelos sentidos e, por outro, um sistema de
conhecimento indireto, que faz representaes na conscincia de certos aspectos de uma
realidade ausente. H trs formas de conhecimento indireto. Em primeiro lugar, h o signo,
mas a maior parte dos signos so apenas subterfgios de economia, que remetem para um
significado que poderia estar presente ou ser verificado. Assim, um sinal previne
simplesmente sobre a presena do objeto que representa (ibidem, p. 8). No signo, o
significante vai intrinsecamente associado ao objeto significado, de tal forma que o primeiro
60
indica o segundo, arbitrariamente estabelecido com anterioridade por uma conveno social
que exige um conhecimento direto prvio. Em segundo lugar, quando o signo remete a
abstraes, realidades complexas, qualidades espirituais, ento a linguagem utiliza o recurso
da alegoria. Com a alegoria, o signo perde sua arbitrariedade, passando a figurar no
significante algum elemento concreto do significado. Nas palavras do prprio Durand
(ibidem, 9), a alegoria traduo concreta de uma idia difcil de compreender ou de
exprimir de uma maneira simples. Por ltimo, temos o smbolo considerado como a cruz da
alegoria, j que, se a alegoria parte de uma idia para ilustrar-se em uma figura, o smbolo se
converte na prpria figura. A imagem, no smbolo, passa a ser parte do sentido, o qual,
diferentemente do que ocorria com o signo, no chega a anular-se. O smbolo caracteriza-se
fundamentalmente pela dificuldade ou impossibilidade de se captar todo o significado por
meio do pensamento direto.
O smbolo atua, por conseguinte, como mediador entre o transcendente e o imanente,
isto , entre o consciente e o inconsciente e, segundo Durand (1993, pp. 17-18):
Tres caracteres delimitan la comprensin de su nocin.
Primero, el aspecto concreto (sensible, lleno de imgenes,
figurado, etc.) del significante; luego su carcter optimal: es el
mejor para evocar (dar a conocer, sugerir, epifanizar, etc.) el
significado; y, por fin, este ltimo es algo imposible de
percibir (ver, imaginar, comprender, etc.) directamente o do
outro modo.
O smbolo , nesse sentido, um mediador entre duas realidades polares e, como tal,
estabelece entre elas uma tenso dialtica que jamais desaparecer por completo, no se
esgotando sua interpretao. O smbolo da espada, por exemplo, pode muito bem significar a
justia, mas tambm o poder soberano ou um heri em particular
43
. Como afirma Garagalza
(2003, p. 91), o sentido, motivo ltimo da procura hermenutica, no dado diretamente,
nem na mera intuio senso-afectiva, nem na pura captao intelectual, mas acontece e
realiza-se indirectamente na interpretao..
Desta forma, manifesta-se o carter profundo do smbolo, o mesmo que, na viso de
Durand (2000, p. 33), confirmao de um sentido a uma liberdade pessoal, o que
equivale a dizer que a realidade expressa pelo smbolo no objetiva. Essa epifania de
significado uma evidncia da existncia de arqutipos que, de acordo com Jung e sua teoria,
43
Ogum, por exemplo, orix da proteo, representado pela espada de So Jorge.
61
so os fundamentos de nosso inconsciente coletivo. O arqutipo uma das matrizes do
imaginrio. Sobre o imaginrio, ordenam-se todas as obras e atitudes do homem (Durand,
1997, p. 41):
O imaginrio no mais que esse trajeto no qual a
representao do objeto se deixa assimilar e modelar pelos
imperativos pulsionais do sujeito, e no qual, reciprocamente,
como provou magistralmente Piaget, as representaes
subjetivas se explicam pelas acomodaes anteriores do
sujeito ao meio objetivo.
O smbolo expressa-se, pois, no que Durand (ibidem, p. 41) denomina trajeto
antropolgico, ou seja, a incessante troca que existe, ao nvel do imaginrio, entre as pulses
subjetivas e assimiladoras e as intimaes objetivas que emanam do meio csmico e social.
O homem encontra-se sempre entre duas foras extremas: suas tendncias instintivas e as
coeres sociais e/ou ambientais, entre as quais necessrio manter um equilbrio. Ser essa
funo de equilibrao que realiza o imaginrio, por meio do simblico. Assim, para Durand
(ibidem, p. 42):
A pulso individual tem sempre um leito social no qual
corre facilmente ou, pelo contrrio, contra os obstculos do
qual se rebela, de tal modo que o sistema projetivo da libido
no uma pura criao do indivduo, uma mitologia pessoal.
, de fato, nesse encontro que se formam esses complexos de
cultura, que vm render os complexos psicanalticos. Assim
o trajeto antropolgico pode indistintamente partir da cultura
ou do natural psicolgico, uma vez que o essencial da
representao e do smbolo est contido entre esses dois
marcos reversveis.
O trajeto antropolgico desenhado por Durand o prprio imaginrio. Trata-se,
portanto, de uma constatao definitiva de que no imaginrio assentam-se as bases de todo
conhecimento, incluindo o racional. No dizer de Garagalza (op.cit., p. 82), o ser humano
situa-se precisamente no mundo da cultura como mbito simblico, relacional, intermdio
entre o biolgico e o social, entre subjetividade e objetividade, entre o esprito e a matria,
que no mera cpia nem absoluta criao humana, mas antes articulao, configurao,
recriao, interpretao. Por esse motivo, Durand considera que qualquer interpretao do
62
mundo no deve limitar-se a observao do fenmeno, mas ao desvelamento do numem
44
que,
por sua vez, no permanece alheio subjetividade do sujeito, mas inerente a ele.
A imaginao, considerada como um fator geral de equilbrio onipresente na atividade
e na vida humana, tem a funo de mediadora entre esses dois plos opostos, o biopsquico e
sciocultural, os quais refletem-se na dualidade do smbolo. Durand assinala que o
pensamento simblico se manifestar em quatro setores fundamentalmente, os quais, por sua
vez, constituiro as quatro funes bsicas da imaginao.
O primeiro setor, o biolgico ou vital, manifesta-se no sentido da luta pela fora da
vida contra a certeza racional da inevitabilidade da morte. Essa funo eufemizadora. Nas
palavras de Durand (op. cit., p. 116), a eufemizao, constitutiva (...) da imaginao um
processo que todos os antroplogos notaram e cujo caso extremo a antfrase na qual uma
representao enfraquecida disfarando-se com o nome ou o atributo do contrrio. A
eufemizao da imaginao faz-se, por conseguinte, como uma gigantesca muralha que
resguarda o homem da temporalidade terrificante. Mais que uma mentira, mais que o pio
marxista, a eufemizao um caminho aberto para a esperana, uma afirmao da vida.
Como restabelecedora do equilbrio vital, a imaginao simblica comprometida
pela noo de morte. Vendo atravs de um vis biolgico, Bergson (apud Durand, ibidem, pp.
98-99) afirma que, devido conscincia da morte, a imaginao vem a se manifestar como
uma reao defensiva prpria impossibilidade de no morrer. essa reao que produz
imagens e idias que impedem a ao da representao deprimente ou que a impedem de se
atualizar. A fabulao , aqui, uma reao morte. Para Durand, a imaginao simblica
permite ao homem eufemizar a realidade, negando sempre a morte. O simples fato de pensar e
imaginar a morte como um repouso j a destri.
A segunda funo da imaginao dada por sua manifestao no plano psicossocial
do homem. Segundo Durand (2000, pp. 100-102), a psicanlise, atravs da concepo da
sublimao, j constatou o papel tampo que a imaginao desempenha entre o impulso e
sua represso, embora o reduza as aberraes imaginrias da neurose, vinculada aos fatos
biogrficos da primeira infncia. Nesse caso, fora da sublimao a imagem seria um
obstculo ao equilbrio e no uma ajuda eficaz. Durand prossegue afirmando que, com a
noo de arqutipo de Jung, o smbolo concebido como uma sntese de equilbrio atravs da
44
O termo Numem foi utilizado por Otto para designar o que emerge da idia do sagrado enquanto elemento no
apreendido por conceitos racionais (1992, 15).
63
qual a alma individual une psique da sociedade humana, oferecendo solues aos problemas
apresentados pela inteligncia da espcie. Em ambos, contudo, nos lembra Durand, o smbolo
no encarado como meio teraputico direto. Entretanto, alguns terapeutas utilizam-se do
imaginrio para os procedimentos de diagnstico e de cura, e o fazem retomando os
pressupostos e os mtodos tradicionais, como bem ponta Durand (2000, pp. 100-101):
O psicoterapeuta que tem de tratar psicopatas depressivos
injecta no seu psiquismo astnico imagens antagnicas,
imagens de asceno, de conquista vertical. E de imediato,
no s todo o regime istopo das estruturas ascensionais
invade o campo de conscincia luz, pureza, domnio, vo,
ligeireza, etc. como tambm a conscincia sofre uma
verdadeira revitalizao moral. A verticalidade indutora de
proezas aeronuticas ou montanhistas, mas tambm de
rectido moral.
Do mesmo modo, para reequilibrar os neuropatas que tm
tendncia a perder o contacto com o real, Desoille f-los-
sonhar, no com a ascenso, mas com a descida terra ou ao
mar concreto, levando-os, segundo a bela expresso de
Bachelard, a desaprender o medo.
A terceira funo da imaginao simblica situa-se no plano antropolgico que rege o
ser humano como espcie, no como conjunto de etnias. Esta funo equilibraria dois plos
que o Ocidente considerou antitticos: a dicotomia Civilizao e Barbrie, desdobrada em
Civilizados e Primitivos. A funo antropolgica da imaginao permitiria, por uma vez na
histria, nivelar ambos os focos de pensamento, sem excluso de nenhum tipo. Como diz
Durand (ibidem, p. 104):
A razo e a cincia s ligam os homens s coisas, mas o que
liga os homens entre si, ao humilde nvel das felicidades e das
penas quotidianas da espcie humana, a representao
afectiva, porque vivida, que o imprio da imagens constitui.
(...) O que a antropologia do imaginrio permite, e s ela
permite, reconhecer o mesmo esprito da espcie em prtica
tanto no pensamento primitivo como no pensamento
civilizado, tanto no pensamento normal como no pensamento
patolgico.
Com a funo antropolgica da imaginao, reconhecemos o mesmo discurso da
mente humana no pensamento selvagem e no civilizado, evitando, desta maneira, o racismo
tnico-cultural.
64
Por fim, a quarta funo da imaginao, aquela denominada teofnica, cujo nvel ou
setor corresponderia ao cosmos que o homem apreende e que pretende equilibrar o mundo
material, temporal, mediante um ser eterno, infinito. No dizer de Durand (ibidem, p. 106):
Tanto o regime diurno como o regime noturno da imaginao
organizam os smbolos em sries que reconduzem sempre
para uma infinita transcendncia, que se coloca como valor
supremo. Se o simbollogo
45
deve evitar com cuidado as
querelas das teologias no pode de modo algum esquivar a
universalidade da teofania.
A quarta funo da imaginao simblica reconduz a uma infinita transcendncia que
se coloca como valor supremo. A teofania tem valor universal. Destaca-se aqui uma vida que
no est relacionada com a negao da morte, mas com a busca intrnseca humana pelo
divino, com a necessidade de aceitar o divino, que concretizada na e pela imagem. O
imaginrio erige assim o domnio do supremo valor e equilibra o universo que passa, atravs
da imagem de um ser que no passa, sendo que o smbolo resulta numa teofania (ibidem, pp.
106-108).
Aps descrever as quatro funes bsicas da imaginao, Durand reuniu, com
impressionante coerncia de articulaes, diferentes estudos sobre mitos e smbolos presentes
em diferentes culturas do Ocidente e Oriente, realizados por antroplogos, etnlogos e
historiadores da religio, alm de tantas outras investigaes oriundas de reas como a
psicologia, psicanlise, lingustica, sociologia e reflexologia, propondo um acercamento ao
sentido simblico, a partir de uma compreenso do que chamou de Estruturas do Imaginrio,
reconstruindo assim o trajeto antropolgico.
Amparando-se primeiro em Desoille, que relaciona as imagens motrizes com os
modos de representao verbais e visuais e, em seguida, nos trabalhos de reflexologia da
Escola de Leningrado, que observam trs reflexos dominantes: a dominante postural e a
dominante de nutrio, que j esto presentes no recm-nascido; e a dominante copulativa,
que se manifesta no perodo do cio, Durand (1997, pp. 48-49) sistematizou e organizou as
imagens em torno de temas estruturais bsicos.
A primeira uma dominante de posio que coordena ou
inibe todos os outros reflexos quando, por exemplo, se pe o
45
Acredito que houve um erro grfico. No livro encontra-se o termo simbollogo, mas compreendo que o
correto seja simblogo.
65
corpo da criana na vertical. (...) a segunda dominante aparece
ainda mais nitidamente: dominante de nutrio que, nos recm
nascidos, se manifesta por reflexos de suco labial e de
orientao correspondente da cabea. Esses reflexos so
provocados ou por estmulos externos, ou pela fome. (...)
Quanto a uma terceira dominante natural, s foi, a bem dizer,
estudada no animal adulto e macho (...). Essa dominante
manifesta-se por uma concentrao das excitaes no reforo
do complexo braquial. Oufland supe que esta dominante
seria de origem interna, desencadeada por secrees
hormonais e s aparecendo em perodo do cio.
Da mesma forma que para Leroi-Gourhan, os objetos no so mais que complexos de
tendncias, sistemas de gestos e, para Durand (ibidem, p. 54), esse carter de polivalncia de
interpretao acentuar-se- ainda nas transposies imaginrias. Os objetos simblicos, ainda
mais que os utenslios, no so nunca puros, mas constituem tecidos onde vrias dominantes
podem imbricar-se. Ou seja, parte-se da idia de que existe uma estreita concomitncia entre
os gestos do corpo, os centros nervosos e as representaes simblicas, como explicita
Durand (ibidem, pp. 54-55):
assim que o primeiro gesto, a dominante postural, exige as
matrias luminosas, visuais e as tcnicas de separao, de
purificao, de que as armas, as flechas, os gldios so
smbolos freqentes. O segundo gesto, ligado descida
digestiva, implica as matrias da profundidade; a gua ou a
terra cavernosa suscita os utenslios continentes, as taas e os
cofres, e faz tender para os devaneios tcnicos da bebida ou do
alimento. Enfim, os gestos rtmicos, de que a sexualidade o
modelo natural acabado, projetam-se nos ritmos sazonais e no
seu cortejo astral, anexando todos os substitutos tcnicos do
ciclo: a roda e a roda de fiar, a vasilha, onde se bate a
manteiga e o isqueiro, e, por fim, sobredeterminam toda a
frico tecnolgica pela rtmica sexual.
Por trs da aparente convencionalidade e arbitrariedade social de semelhantes
correspondncias que pressupem que uma mesma atividade simblica tenha diferentes
sentidos, de acordo com a cada sociedade em particular, Durand observa certas constantes,
grandes cruzamentos de imagens comuns que constituem um universo, o qual tem por base
uma linguagem simblica geral diante dos particularismos culturais. Dessa forma, o trajeto
antropolgico supe, no plano da metodologia, um ponto intermedirio, de equilbrio, entre
uma concepo simblica subjetiva, psicoanaltica, e uma concepo simblica sciocultural,
estabelecendo-se assim uma dialtica entre os reflexos dominantes, comuns a toda natureza
66
humana e cultura, estando ambos interrelacionados por meio dos esquemas. Segundo
Durand (ibidem, p. 60):
(...) adotamos o termo genrico esquema (shme) que fomos
buscar em Sartre, Burloud e Revault dAllones, tendo estes
ltimos ido busc-lo, de resto, na terminologia kantiana. O
esquema uma generalizao dinmica e afetiva da imagem,
constitui a factividade e a no-substantividade geral do
imaginrio. O esquema aparenta-se ao que Piaget, na esteira
de Silberer, chama smbolo funcional e ao que Bachelard
chama smbolo motor. Faz a juno j no, como Kant
pretendia, entre a imagem e o conceito, mas sim entre os
gestos inconscientes da sensrio-motricidade, entre as
dominantes reflexas e as representaes. So estes esquemas
que formam o esqueleto dinmico, o esboo funcional da
imaginao.
Deste modo, observamos que a dominante postural corresponde ao esquema
ascencional e a dominante digestiva, aos esquemas da descida e do refgio na intimidade. Os
arqutipos, por sua vez, so os mediadores entre os esquemas e as imagens dispostas pela
percepo, constituindo-se assim numa variedade de imagens primordiais e unvocas que se
adequam perfeitamente ao esquema. Segundo Durand (ibidem, p. 60), os gestos
diferenciados em esquemas vo determinar, em contato com o ambiente natural e social, os
grandes arqutipos mais ou menos como Jung os definiu. Os arqutipos constituem as
substantificaes dos esquemas.
Servindo de ponto de unio entre o imaginrio e o racional, observamos, dessa forma,
que os arqutipos do alto, do cu, do heri ou da espada correspondem aos esquemas
diairticos, ao passo que os arqutipos do vazio, do oco, da noite, da caverna, do ventre e do
labirinto correspondem aos esquemas da descida e da queda.
Por ltimo, o smbolo teria um carter ambivalente e seu sentido dependeria do
contexto cultural que o interpreta, j que, segundo Durand (ibidem, p. 62):
Enquanto o arqutipo est no caminho da idia e da
substantificao, o smbolo est simplesmente no caminho do
substantivo, do nome, e mesmo algumas vezes do nome
prprio: para um grego, o simbolismo da Beleza o Dorforo
de Policleto. Deste comprometimento concreto, desta
reaproximao semiolgica, o smbolo herda uma extrema
fragilidade. Enquanto o esquema ascencional e o arqutipo do
cu permanecem imutveis, o simbolismo que os demarca
transforma-se de escada em flecha voadora, em avio
supersnico ou em campeo de salto. Pode-se mesmo dizer
67
que perdendo polivalncia, despojando-se, o smbolo tende a
tornar-se um simples signo, tende a emigrar do semantismo
para o semiologismo: o arqutipo da roda d o simbolismo da
cruz que, ele prprio, se transforma no simples sinal da cruz
utilizado na adio e na multiplicao, simples sigla ou
simples algoritmo perdido entre os signos arbitrrios dos
alfabetos.
Existe, portanto, um sistema duplo de estruturao dos smbolos que, longe de
contradizer-se, permite englobar as diferentes motivaes antropolgicas. O territrio do
smbolo est dividido em dois regimes: regime diurno e regime noturno. Nas palavras de
Durand (ibidem, p. 58):
O Regime Diurno tem a ver com a dominante postural, a
tecnologia das armas, a sociologia do soberano mago e
guerreiro, os rituais da elevao e da purificao; o Regime
Noturno subdivide-se nas dominantes digestiva e cclica, a
primeira subsumindo as tcnicas do continente e do hbitat, os
valores alimentares e digestivos, a sociologia matriarcal e
alimentadora, a segunda agrupando as tcnicas do ciclo, do
calendrio agrcola e da indstria txtil, os smbolos naturais
ou artificiais do retorno, os mitos e os dramas astrobiolgicos.
Os dois regimes so considerados por Durand como os dois aspectos do smbolo da
libido, englobando tanto o instinto de vida (eros) como o instinto de morte (thanatos). Para
ele ainda (ibidem, pp. 196-197), a libido aparece assim como o intermedirio entre a pulso
cega e vegetativa que submete o ser ao devir e o desejo de eternidade que quer suspender o
destino mortal A mente humana funcionar, assim, a partir de semelhante polarizao, na
qual, rapidamente, e longe de se estabilizar, como comprovao dos dois plos antitticos,
contrrios um ao outro, far-se- uma espcie de tertium datum
46
, que introduz certo fator de
heterogeneidade. Ao invs de separar para explicar, como na lgica formal, trata-se de
juntar para compreender. O esquema bipolar converte-se assim, com Durand, num esquema
tripartido, no qual se distinguem trs classes de estruturas.
O primeiro regime de imagens o diurno, consequncia da dominante postural, regida
pelos esquemas ascencional e diairtico, e constituda pelos arqutipos da luz e do heri.
Posto que, j no princpio, o reflexo dominante de erguer-se pressupe um anseio de separar-
se, isto , de se manter distante, todo esse regime pressupor um potencial de distino e de
46
Tertium datum: terceiro dado includo.
68
anlise, cujo smbolo mais determinante ser a espada, que desembocar no conhecimento
racional e cientfico.
O regime diurno caracteriza-se sobretudo por este anseio de definies e, nesse
sentido, instaurar um mecanismo de dicotomias e antteses que se afirmaro por completo.
Frente morte e diante da temporalidade, o regime diurno reage com uma atitude ascensional,
atemporal, celeste, forjando ao redor de todos os arqutipos as marcas de positivo, em
contraposio ao negativo, o qual ser reservado para a angustia, o telrico, o devir e o
destino. O negativo fica, pois, estruturado sob trs tipos de smbolos: os teriomrficos (da
animalidade, relativo aos monstros contra os quais o heri diurno ou solar deve combater); os
nictomrficos (das trevas e a escurido de qualquer recinto onde habita o inimigo); e os
catamrficos (do abismo, queda).
O heri, com espada apontada ao alto, dever matar o monstro, smbolo e imagem de
Cronos, o Tempo devorador. Na maioria das vezes, contudo, o heri aparece caracterizado
como algo atrativo aos sentidos, triunfante, sedutor, sorridente. Durand adverte aqui para o
processo de eufemizao que consiste em disfarar com as roupagens da carne e da tentao,
a face do Tempo. No entanto, ao contrrio do modo como atua no regime noturno, a
eufemizao herica no chegar ao extremo de cair na antfrase, mediante uma dupla
negao, mas permanecer fiel ao combate que cabe estabelecer entre o heri solar e o
monstro terrificante, e este, por sua vez e apesar de sua possvel aparncia de mulher formosa,
de grande me, de flor da imortalidade, exagerar hiperbolicamente todas as suas conotaes
malficas. Como aponta Durand (ibidem, p. 105), a mitologia feminiza monstros
teriomrficos, tais como a Esfinge e as Sereias. No intil lembrar que Ulisses se faz atar ao
mastro do seu navio para escapar simultaneamente ao lao mortal das Sereias.
Dessa forma, o heri do regime diurno simboliza a fuga do tempo, a vitria sobre a
morte, j que as figuraes acerca do tempo e da morte no so mais que exorcismos por meio
de imagens: imaginar um mal, desenh-lo, pint-lo, pens-lo supe sua dominao completa.
Por isso, o tempo, materializado no drago, na serpente, possibilita sua derrota.
O regime diurno encerra-se com trs tipos de smbolos-chave: os smbolos
ascensionais (a montanha sagrada, a ave, a flecha, o gigantismo, o rei, a coroa, os chifres, o
talism etc) com o predomnio do arqutipo do cetro, representativo do poder, da conquista e
reconquista, do Pai Universal, da viagem para alm do tempo; os smbolos espetaculares (o
69
azul celeste, a brancura, a luz, o sol, o olho, o verbo, as runas etc), arqutipos da luz,
representativos da viso do alto, do conhecimento, do desvelamento; e por ltimo, os
smbolos diairticos (as armas do heri, a couraa, a gua batismal, o instrumento da
circunciso, o fogo purificador, o ter etc), com predomnio do arqutipo da espada,
distinguidora, vitoriosa, mas tambm purificadora, rejuvenescedora etc. Segundo Durand
(ibidem, p. 125):
A verticalidade do cetro e a agressividade eficiente do gldio
so os smbolos culturais desta dupla operao pela qual a
psique mais primitiva anexa o poderio, a virilidade do
Destino, separa dele a feminilidade traidora, reeditando por
sua prpria conta a castrao de Cronos, castra por sua vez o
Destino, apropria-se magicamente da fora e abandona,
vencidos e ridculos, os despojos temporais e mortais.
O regime noturno de imagens, entretanto, aparece ilustrado pelo mito de caro. Esse
desejo de ascender do heri solar corre o risco de se frustrar no momento em que seu vo o
aproxima demasiadamente do sol. Para isso, o imaginrio adota formas reparadoras, se no
contrrias ao esquema puramente herico, sem alternativas, fruto de uma evoluo na
apreenso que o ser humano construir do mundo. De acordo com Durand (ibidem, p. 193):
A representao no pode, sob pena de alienao, permanecer
constantemente com as armas prontas em estado de vigilncia.
O prprio Plato sabe que necessrio descer-se de novo
caverna, tomar em considerao o ato da nossa condio
mortal e fazer, tanto quanto pudermos, bom uso do tempo.
Essa mesma recuperao e reconsiderao do tempo definir o regime noturno, no
qual imaginao j no busca antdotos contra a temporalidade, mas une-se a ela, tratando de
ver a matria (repudiada pelo heri puro e ascensional) como tranquilizadora da angstia. Em
certo sentido, por meio do regime noturno e suas imagens, regressamos ao lar, ao calor que
aquece no interior da moradia, como promessa de descanso. Aqui no se foge do tempo, mas
este organizado por meio de ciclos e calendrios, os quais preenchemos com mitos e lendas
que nos sirvam de consolo frente a morte. Nesse contexto, toda morte renascimento, e
semelhante cadeia se perpetua por sculos e sculos. Para Durand (ibidem, pp. 193-194):
Diante das faces do tempo, desenha-se, assim, uma outra
atitude imaginativa, consistindo em captar as foras vitais do
devir, em exorcizar os dolos mortferos de Cronos, em
transmut-los em talisms benficos e, por fim, em incorporar
na inelutvel mobilidade do tempo as seguras figuras de
70
constantes, de ciclos que no prprio seio do devir parecem
cumprir um desgnio eterno. O antdoto do tempo j no ser
procurado no sobre-humano da transcendncia e da pureza das
essncias, mas na segura e quente intimidade da substncia ou
nas constantes rtmicas que escondem fenmenos e acidentes.
O sentido primordial do regime noturno est justamente na eufemizao que,
anteriormente, denominamos antifrsica. Nela, a negao da temporalidade e materialidade
estabelecida pelo regime diurno prolonga-se, transformada na negao da negao, por meio
da subverso dos valores, dos smbolos que anteriormente eram negativos. As imagens da
morte, da carne, da noite escura so convertidos em funo de seu carter acolhedor, de seu
aspecto feminino, na expresso materna de que so possuidoras as grandes deusas-mes,
smbolos deste regime.
O regime noturno agrupar duas grandes famlias de smbolos: uma, composta pela
pura inverso, manifesta a partir de uma eufemizao antifrsica, de valor afetivo atribudo s
faces do tempo, denominada por Durand de estrutura mstica; a outra, centrada no
descobrimento das constantes do tempo, sintetizando o desejo de eternidade, denominada
como estrutura sinttica.
As estruturas msticas so consideradas por Durand como um reflexo do desejo de
unio, conjugado com a nsia da intimidade. O heri, neste caso, j no buscar seu tesouro
nas alturas, mas descer s profundezas da terra. Esta descida supe, no regime noturno, uma
queda lenta ao abismo, que agora se converteu na caverna, na imagem do ventre fecundante e
digestivo, da terra me.
Os smbolos dessa estrutura so os da inverso: o ventre do monstro, os pequenos
heris, os gnomos, a noite, a escurido; e os smbolos da intimidade: a tumba, a caverna, a
casa, a cabana, o centro, o templo, o bosque sagrado, a barca, o ovo, o vaso, o leite, o vinho, o
mel, o ouro. De todos estes, sobressai-se um, consequncia da eufemizao da queda no
abismo do regime diurno: a taa.
As estruturas sintticas, ou disseminatrias agrupam os smbolos que se caracterizam
por estarem encaixados com o tempo, para venc-lo. A polmica do regime diurno
substituda, assim, por uma co-implicao dos opostos, que desemboca na coincidentia
oppositorum. As estruturas sintticas se dividem, por sua vez, em duas grandes constelaes
de smbolos: por um lado, os smbolos cclicos (lua e suas fases, o ternrio, o quartenrio, o
71
andrgino, o filho, o messias, o psicopompo, a iniciao, os ritos, a orgia, a serpente, o
ouroboros etc); de outro, os smbolos do progresso ou do amadurecimento (a cruz, a rvore, o
fogo, o ritmo musical, o tambor etc).
O smbolo, concluindo, possui trs dimenses atravs dos quais o pesquisador
enfrentar os problemas que se apresentam. Em primeiro lugar, observamos uma dimenso
mecnica, composta pelo corpus symbolicum. Este corpus, formado pelas noes de esquema,
arqutipo e smbolo, configuram a realidade esttica do smbolo, no indo alm do signo. No
dizer de Durand (1993, p. 22):
Esta recada de la impregnacin simblica, esta espcie de
entropia que hace que la letra siempre recubra y oculte el
espritu, esboza uma cinemtica del smbolo: el simbolismo
solo funciona cuando hay distanciacin, pero sin corte, y
cuando hay plurivocidad, pero sin arbirariedad. Ello se debe a
que el smbolo tiene dos exigncias: debe aquilatar su
incapacidade de dar a ver el significado em si, pero debe
tambin animar a creer en su pertinncia total.
Desta forma, uma segunda dimenso h de ser a dimenso gentica, na qual a
importncia recai sobre a evoluo do aparato simblico. Para Durand, o Homo Sapiens se
diferencia de outras espcies animais por ser o nico que possui o pensamento indireto, isto ,
um conhecimento no imediato do mundo, em contraposio univocidade do instinto. Isto
requer a compreenso de que qualquer efeito sobre a conscincia de toda atividade humana
no sino el conjunto de las formas simblicas diversificadas. Dicho de outro modo, el
Universo simblico no es nada menos que el universo humano entero! (ibidem, p. 23).
Os smbolos, desse modo, ou seja, a partir da perspectiva gentica, aparecem em trs
nveis diferentes da conscincia: um nvel inferior, que seria o de Pavlov, no qual o smbolo
se mostra como um conjunto de sinais (ibidem, 24); um nvel intermedirio, da imaginacin
restringida, prpria da criana, em que o imaginrio aparece estereotipado e reprimido pelos
limites psicofsicos prprios da imaturidade, e no qual evolui esse distanciamento simblico a
partir dos processos de aprendizagem, os jogos ou a presena dos pais (ibidem, p. 25); e, por
fim, um nvel cultural, correspondendo plena maturidade do indivduo e sua imerso nos
emaranhados sociais que o rodeiam. Este ltimo nvel seria o mais elevado e complexo, o
qual, segundo Durand (ibidem, pp. 25-26), se d:
(...) desde la simple derivada simblica y mtica de las
literaturas y construcciones utpicas, hasta el compromiso em
72
el tejido mismo del intercambio cultural. Es con el arte, la
filosofia, la religin Hegel lo haba presentido muy bien -
con lo que la conciencia simblica alcanza su ms alto nvel
de funcionamento. La obra de arte, el sistema filosfico, el
sistema religioso y podemos aadir el sistema de las
instituciones sociales -, constituyen unos paradigmas de alta
frecuencia simblica. Es decir, que las figuras que acarrean y
que los constituyen pueden ser recogidas como diria
Ricoeur -, interpretadas, traducidas (e incluso a veces
traicionadas!) sin que se agote el sentido.
aqui, neste nvel, que se chega ao mito, exemplo da primeira emergncia da
conscincia, o incio da derivao cultural, (...) donde se invierten los procesos analticos que
permiten comprender la evolucin, el cambio, las recurrencias del aparato simblico, em una
palabra, que permiten entrever el desciframiento de um destino individual o colectivo del
hombre (ibidem, p. 28). O mito supe, portanto, o ltimo degrau no desenvolvimento
constitutivo do smbolo, ou seja, sua dinmica. Por isso o mito pode ser traduzido, isto , se
transforma no que Lvi-Strauss denominou metalinguagem.
DA MITOCRITICA A MITANLISE
Na opinio de Durand (ibidem, p. 28), todo mito es un condensado de diferencias, de
diferencias irreductibles por cualquier outro sistema de logos. El mito es el discurso ltimo en
el que se constituye la tensin antagonista, fundamental para cualquier discurso, es decir para
cualquier desarrollo del sentido. O mito procede, pois, de uma inteno de compreender
conscientemente o mundo. Nas palavras de Durand (op. cit., pp. 62-63), o mito :
(...) um sistema dinmico de smbolos, arqutipos e esquemas,
sistema dinmico que, sob o impulso de um esquema, tende a
compor-se em narrativa. O mito j um esboo de
racionalizao, dado que utiliza o fio do discurso, no qual os
smbolos se resolvem em palavras e os arqutipos em idias.
Uma vez instaurado o mito, sua misso se orientar em direo forte tenso de
antagonismos que est sob todo processo de constituio de sentido, contagiando por
antonomsia, deste modo, o desenvolvimento de qualquer discurso que suponha uma
determinada viso de mundo, desde a concepo religiosa at a teoria cientfica.
73
Semelhante tenso ou luta dos contrrios possui seu reflexo na polmica originria que
funda qualquer relato mtico. O combate dos deuses o enfrentamento entre eros e logos,
entre natureza e cultura, entre matriarcado e patriarcado, num tempo que, sem ser imaginrio,
se estabelece fora do tempo real, in illo tempore, podendo, por isso, ser interpretado
continuamente. De fato, a repetio do mito fundador se converter em rito, e se postar em
cena atravs de um discurso especfico que toma a forma de narrao e assim dar incio
literatura.
Antes, porm, de aprofundarmos essas antinomias do imaginrio, vamos caracterizar
brevemente o mito. Existem trs aspectos relevantes a serem considerados: por um lado, a
equivocidade de seus termos, que o converte num discurso semiolgicamente inadequado,
sendo sua lgica a do dilema; em segundo lugar, a redundncia de uma srie de cenas ao largo
da narrativa; por fim, seus termos fundadores, os primeiros e os ltimos em relao a qualquer
outro discurso.
Devemos acrescentar que os diversos aspectos que caracterizam o mito possibilitam
que este traga cena a dinamizao dos smbolos, esquemas e arqutipos que o compem,
adquirindo, no relato, o carter de um significante simblico pleno de sentido. Longe,
contudo, de aceitar a tese que assimila o mito a uma linguagem e seus componentes
simblicos a fonemas, Durand adverte que o mito, alm do diacronismo do fio narrativo,
possui um sentido simblico. Dessa forma, procedendo a uma reviso completa de anlise
estrutural do mito tal como desenvolvida por Lvi-Strauss, Durand propor um passo alm na
busca de chaves mticas, acrescentando ao conhecido mtodo um nvel analtico mais amplo,
transcendendo-o.
Durand observa, dessa maneira, uma unidade mnima de significado dentro do mito,
denominando-a mitema, a qual no esgotar seu significado na sequncia linear do relato, mas
ir muito mais alm, instaurando sequncias de sentido a partir dos smbolos no relacionais.
O mtodo de Lvi-Strauss consiste em desarticular o mito, observando a sucesso de
acontecimentos numa srie de frases curtas. Cada uma delas (que mantm o esquema sujeito-
predicado, isto , um esquema relacional) transcrita em fichas numeradas, segundo a ordem
de aparecimento no relato. Essa seria a ordem diacrnica, mas tambm se pode estabelecer
uma ordem sincrnica, em que vrias fichas separadas no relato so vinculadas entre si,
levando em conta o trao comum que as unifica e que, na maioria dos casos, so as
redundncias.
74
A atitude de Durand diante do mtodo de Lvi-Strauss de reconhecimento da anlise
sincrnica, mas de recusa da reduo formalista. Para isso, o primeiro conservar o nvel
diacrnico e sincrnico, acrescentando um nvel a mais: o arquetpico ou simblico, tendo por
base a convergncia dos smbolos e dos mitemas:
O mito aparece ento sempre como um esforo para adaptar o
diacronismo do discurso ao sincronismo dos encaixes
simblicos ou das oposies diairticas. Por isso, todo o mito
tem fatalmente como estrutura de base como infra-estrutura
a estrutura sinttica que tenta organizar o tempo do discurso
a intemporalidade dos smbolos. o que faz que ao lado da
forte linearidade do Logos ou do Epos o Mythos aparea
sempre como o domnio que escapa paradoxalmente
racionalidade do discurso. A absurdidade do mito, como a do
sonho, provm justamente da sobredeterminao dos seus
motivos explicativos. A razo do mito no s folheada
como tambm espessa. E a fora que agrupa os smbolos em
enxames escapa formalizao. O mito sendo sntese por
isso imperialista e concentra nele prprio o maior nmero
possvel de significaes. Por isso, intil querer explicar
um mito e convert-lo em pura linguagem semiolgica
(DURAND, 1997, p. 372).
Semelhante concepo pe em evidncia a atitude de Durand frente ao mito
transcendente, enfrentando a atitude moderna que o desvaloriza por consider-o um relato
fabuloso, fruto da incapacidade da mente primitiva de dar uma explicao racional e cientfica
para a realidade. O processo de racionalizao do mito, iniciado graas cultura, a passagem
do mythos ao logos, tem, por outra parte, muito a ver com a vitria do livro, do registro
escrito, sobre a tradio oral. Entretanto no podemos desconsiderar que a obra artstica, a
obra literria e a cientfica, devem suas origens e as suas razes de ser ao terreno que se
denomina como fabuloso.
A dicotomia razo/imaginao, no campo da crtica literria, transformou-se em outra
dicotomia: verdade/fico. Durand, tratando de reconciliar trs pontos de vista aparentemente
irreconciliveis como so o positivismo e o marxismo, o psicolgico e o estruturalista,
descobrir oculto sob qualquer texto de criao a histria da divindade, ou seja, um mito.
Arajo (1997, p. 92) explica desta maneira:
, portanto, pelo facto do mito unir as esferas do divino, do
mundo e do homem, que Durand, na sua definio de mito, da
qual ns partilhamos, confere um lugar muito importante
dimenso narrativa importncia, alis, que vai ao encontro
da antropologia contempornea, com nomes como os de
75
Mircea Eliade, G. Dumzil, Cl. Lvi-Strauss, Jean Servier,
entre outros. Assim, no de estranhar que considere o mito
como uma narrativa exemplar (Durand, 1979: 83) que
integra os elementos fundadores, portanto sagrados
(numinosos Otto, 1969), tais como as divindades e os
cenrios sobrenaturais (divinos, utpicos, surreais Eliade,
1988: 16-7; Durand, 1983b: 14 e 231). Realamos que a
narrativa mtica cabe dentro da categoria politesta, tal como
a encararam Hillman e Sironneau, que vem nela uma
metfora pluralista, multvoca. precisamente a caracterstica
da multivocidade que confere ao mito o seu aspecto
metalingstico e redundante, posto em evidncia por Lvi-
Strauss na sua Anthropologie Structurale.
A mitocrtica, como toda hermenutica, situa-se alm do prprio texto literrio,
abrindo-se para um sentido epifnico, j que procura demonstrar que todo texto guarda uma
relao oculta entre o texto e o contexto, sobretudo entre o texto e o leitor. Nas palavras do
prprio Durand (1993, pp. 342-343), la mitocrtica persigue, pues, el ser mismo de la obra
mediante la confrontacin del universo mtico que emerge de la lectura de una obra
determinada. Es en esta confluencia entre lo que se lee y el que lee donde se sita el centro de
gravedad de este mtodo.
Entretanto, alm dessa superao, supe-se tambm uma sntese construtiva entre trs
maneiras de realizar um estudo crtico. So elas: o positivismo de Taine e o marxismo de
Gramsci ou de Lukcs, que basan la explicacin em la raza, el entorno y el momento
(ibidem, p. 342); a critica psicolgica e psicoanaltica de Mehlman ou de Mauron, que reduce
la explicacin a la biografia ms o menos aparente del autor (ibidem, p. 342); o
estruturalismo de Jakobson ou de Greimas, que nasce como uma explicao do prprio texto,
em el juego ms o menos formal de lo escrito y de sus estructuras (ibidem, p. 342).
Durand, antes de dirigir um ataque a essas escolas, procurar transcend-las,
realizando uma assimilao dos pontos fundamentais, j que considera que o contexto scio-
histrico, a psicologia do criador e a estrutura narrativa no podem estar separados, sendo a
psicocrtica de Charles Mauron (1988) a que melhor adapta a seu interesse.
O mtodo psicocrtico consiste em analisar as obras de um determinado autor,
ressaltando os temas redundantes ou obsessivos que nelas aparecem, a fim de descobrir o que
Mauron chama de mito pessoal do autor, seu fantasma dominante. Ser esse mito que definir
posteriormente os temas, os quais, mediante a linguagem caracterizaro o produto literrio.
Dessa forma, a psicocrtica converte-se numa anlise do criador, j que sua produo
76
entendida como uma autoanlise, algo como uma exorcizao de todos seus demnios. O
texto , ento, para Mauron, um canal que permite ao escritor estabelecer um dilogo consigo
mesmo, para aproximar-se o melhor possvel da realidade.
No entanto, Durand (op. cit., p. 188) d um passo alm, compreendendo que o mito
pessoal no suficiente para entender em sua totalidade uma obra:
Hay que dar al mito un poder muy superior al que reparten los
caprichos del ego. Solo la mitologia, que concede el numen, la
omnipotencia divina o sagrada, a los resortes mticos, puede, a
fin de cuentas, plasmar el conjunto de las motivaciones de una
obra humana. El mito alcanza mucho ms all de la persona,
de sus comportamientos e ideologias. La mitocrtica, aunque
parezca volver ms all de las aventuras biogrficas y de las
estructuraciones existenciales a una postura culturalista,
adopta como postulado de base que uma imagen obsesiva,
un smbolo medio, para quedar integrado a una obra, y adems
para ser integrante, motor de integracin y de organizacin del
conjunto de la obra de un autor, debe anclarse en un fondo
antropolgico ms profundo que la aventura personal
registrada en los estratos del inconsciente biogrfico,.
O fundo primordial ser o que define, novamente, o mito que Durand persegue na obra
literria:
Este fondo primordial, para el individuo, es a la vez la
herencia cultural, la herencia de las palabras, de las ideas y de
las imgenes, que encuentra, lingstica y etnolgicamente,
depositada en su cuna, y tambin la herencia de aquella
supercultura (y decimos supercultura, ya que cualquier cultura
tiene necesariamente su origen en las estructuras limitadas
del comportamiento humano, de las actitudes fundamentales
de la especie zoolgica Homo sapiens), que constituye la
naturaleza de la especie humana con todas sus potencialidades
de especie zoolgica singular (ibidem, p. 188).
Podemos dizer, com isto, que aqui, nesta necessidade de se perguntar pela origem
que condiciona a imensa bagagem do homem, que surge o mito. Semelhante ao rapsodo, que
possudo pela divindade para falar sobre seus feitos, o escritor e a obra literria devem voltar
seus passos sua origem, in illo tempore, no tempo que foi condicionado sem ser agora.
Desta maneira, um poema, uma narrativa, uma pea de teatro supe a criao, j que no se
pode negar nunca de onde provm pois esse lugar o ser humano mesmo -, do mito que a
inaugura. Para Durand (ibidem, pp. 188-189), y aquel fondo primordial no es otra cosa que
un mito, es decir, un relato que, de modo oximornico, reconcilia, em un tempo original, las
77
anttesis y las contradicciones traumatizantes o simplemente molestas en el plano existencial.
Toda criao literria ser, desta forma, uma espcie de reminiscncia potica desse mito, isto
, toda escritura passar a ser leitura, superando, desse modo, as dificuldades desse infinito
metatextual. Durand utilizar o termo autoanlise (de Mauron) a toda obra que no
transcende alm do autor e de suas circunstncias, observando que na obra maestra que a
personalidade do criador deixa de existir, dissolve-se na nebulosidade de sua grandeza,
instaurando a antropoanlise, que o sintoma desse eterno retorno ao mtico. Em suas
palavras (ibidem, p. 189):
Entoces, si por su manera de proceder, la mitocrtica es una
nueva crtica, no se la puede tachar de nueva impostura, ya
que, en el caso de la obra maestra, el texto mismo de la obra
se convierte en lenguaje sagrado restaurador e instaurador de
la realidad primordial constitutiva del mito especfico.
Anteriormente a tudo isso, a mitocritica um mtodo de crtica literria, e, de tal
maneira, guarda um processo de trabalho muito sistematizado e rigoroso. Durand iniciar
assinalando que, na obra literria, existem unidades mnimas de significao, denominadas
mitemas, as quais so constitudas por uma sequncia de palavras ou frases com significao
prpria. Por este motivo, Durand (ibidem, p. 343) observar trs momentos na aproximao
obra literria:
1) En primer lugar, una relacin de los temas, es decir, de
los motivos redundantes, u obsesivos, que constituyen las
sincronicidades mticas de la obra.
2) En segundo lugar, se examinan, con el mismo espritu, las
situaciones y las combinatorias de situacin de los personajes
y decorados.
3) Finalmente, se utiliza un tipo de tratamiento a la
americana, como el que Lvi-Strauss aplica al mito de Edipo,
mediante la localizacin de las distintas lecciones del mito y
de las correlaciones entre una leccin de un mito con otros
mitos de una poca o de un espacio cultural bien determinado.
A consequncia mais imediata desta aproximao obra ser a explicao ltima que
pretende a mitocrtica, que tanto os mitemas como os mitos que se colocam em relao uns
com os outros aparecem em nmero limitado, desaparecendo, assim, a possibilidade de
qualquer criao literria ex nihilo
47
. Segundo Durand (ibidem, pp. 343-344):
47
Ex nihilo: do nada.
78
Nos damos cuenta, por ejemplo, de que el nmero limitado de
mitos posibles tal como los definen, por outro lado, las
mitologias de las grandes civilizaciones: griega, latina,
amerindia, egipcia, hind, africana, polinesia, sino-tibetana,
uralo-altaica, etc. exige reinversiones mticas constantes y
repetidas en el curso de la historia de una misma cultura, y
explica los distintos renacimientos o recurrencias, as como
los cambios por evolucin al limite, localizados por P.
Sorokin. Nos damos cuenta tambin de que los gneros
literarios y artsticos, los estilos, las modas, los idiotismos,
responden igualmente a esos fenmenos de intensificacin y
de resurgencia mitolgicas.
A leitura desse correlato simblico de mitemas instaura certo dinamismo verbal, em
detrimento da passividade substantiva, o qual nos leva a descobrir uma dupla forma de atuar
do mitema: de forma patente, por la repeticin de su o sus contenidos (situaciones,
personajes, emblemas, etc.) homlogos; de forma latente, por la repeticin de su esquema
intencional implicito em um fenmeno muy cercano a los desplazamientos estudiados por
Freud en el sueo (ibidem, 345). Por outro lado, e como todas as coisas deste mundo, o mito
tende a desgastar-se e, em alguns casos, a banalizar-se, perdendo sua caracterstica para um
texto puramente descritivo, como na sua transformao na mera alegoria ou pela censura
sciocultural de determinado momento histrico.
Desta forma, podemos concluir, com Durand (ibidem, p. 347), que a mitocrtica:
evidencia, en un autor, en la obra de una poca y de un
entorno determinados, los mitos directores y sus
transformaciones significativas. Permite mostrar como un
rasgo de carter personal del autor contribuye a la
transfomacin de la mitologa dominante, o, al contrario,
acentua uno o otro mito director dominante. Tiende a
extrapolar el texto o el documento estudiado, a abarcar, ms
all de la obra, la situacin biogrfica del autor, pero tambin
a alcanzar las preocupaciones socio o histrico-culturales.
Se o propsito possuir um conhecimento pleno do que supe a obra, delimitar seu
territrio, integr-la numa definio que seja capaz de devolver-lhe todas as qualidades que a
fizeram possvel, Durand estabelece uma estratgia que, ao longo da formulao de seu
pensamento, o acompanha: superar o dualismo, o reducionismo imperante em qualquer outro
mtodo epistemolgico. Durand observa ainda que o dualismo decompe o texto literrio de
acordo com o campo de ao dos fatores plenamente diferenciados: de um lado, os fatores
existenciais, psicolgicos, imagem de uma causalidade subjetiva; por outro lado, os fatores
79
scio-histricos, meramente econmicos e polticos, que so um fiel reflexo de uma
causalidade objetiva. No entanto, Durand vai alm, pois compreende que todo texto fruto,
tambm, dos momentos histricos sociais. Assim, ele forjou o conceito de mitanlise para
estudar o mito diretor presente no interior das sociedades. Se a funo da mitocrtica era
identificar os mitemas presentes no criador, a mitanlise estuda os mitos diretores dos
fenmenos scioculturais.
Alm disso, Durand (1998, pp. 91-118) estabelece uma evoluo nos mitemas.
Primeiro, temos a perenidade do mito. Ela compreende uma constelao de mitemas que se
organizam sobre um modelo ideal (idem, p. 100), sntese de todas aes mitmicas:
Perenidade (...) o que se mantm sempre mas que,
geralmente, na nossa tradio epistemolgica ocidental, se
encontra do lado do logos, da razo e no do lado do mythos.
(...) A psicanlise deslocou essa tnica, justamente, para o
lado da afectividade, do pathos, e mesmo do ethos e j no
para o lado do lgos, da reduo ao fio do discurso (ibidem, p.
96).
Sobre a derivao do mito, Durand utiliza as noes de ordem e desordem. H dois
dinamismos organizadores: um que gera estabilidade e outro que gera movimento, ou seja,
so duas tendncias (ibidem, p. 97):
Eu diria que o mito , em ltima anlise, um quadro, se no
formal, pelo menos esquemtico e que ele incessantemente
preenchido por elementos diferentes. a isto que chamo
derivao. (...) Tentar fixar o mito um pouco como quando,
na fsica quntica, se tenta fixar a partcula microfsica
perde-se o seu contedo dramtico.
Um exemplo do que Durand denomina derivao a cerimnia das guas de Oxal.
Diz o mito que Oxal sentia muitas saudades de seu filho Xang, e resolveu visit-lo. Para
saber se a longa viagem lhe seria propcia, foi consultar Orunmil. Este jogou seu jogo de
ikins e lhe disse que a viagem no se encontrava sob bons auspcios. E que, se ele desejasse
que tudo corresse bem, deveria se vestir inteiramente de branco e no sujar suas roupas at
chegar ao palcio, devendo tambm manter silncio absoluto at o momento em que
encontrasse seu filho. E assim fez Oxal. Exu, contudo, que adorava atormentar Oxal,
disfarou-se de mendigo e apareceu no caminho de Oxal (Prandi, 2001, p. 520):
80
Em sua caminhada, Oxaluf encontrou Exu trs vezes. Trs
vezes Exu solicitou ajuda ao velho rei para carregar seu fardo
pesadssimo de dend, cola e carvo, o qual Exu acabou, nas
trs vezes, derrubando em cima de Oxaluf. Trs vezes
Oxaluf ajudou Exu a carregar seus fardos sujos. E por trs
vezes fez Oxaluf sujar-se de azeite-de-dend, de carvo, e
outras substncias enodoantes. Trs vezes Oxaluf ajudou
Exu. Trs vezes suportou calado as armadilhas de Exu. Trs
vezes foi Oxaluf ao rio mais prximo lavar-se e trocar as
vestes. Finalmente chegou Oxal cidade de Oi. Na entrada
viu um cavalo perdido, que ele reconheceu como o cavalo que
havia presenteado a Xang. Tentou amansar o animal para
amarra-lo e devolve-lo ao amigo. Mas nesse momento
chegaram alguns soldados do rei procura do animal perdido.
Viram Oxaluf com o cavalo e pensaram tratar-se do ladro
do animal
Como no pode falar, Oxal nada diz e permanece jogado numa priso durante sete
anos. Neste meio tempo o reino de Xang entra em decadncia: suas terras no produzem
alimentos, os animais morrem, o povo fica doente... Desesperado, Xang chama um babala
que, ao jogar o ikin, lhe diz que todo o mal do reino advm do fato de haver injustia na terra
do senhor da justia.
Xang vai ento averiguar pessoalmente todos os presos de seu reino e descobre seu
pai na priso (ibidem, p. 521):
Xang ordenou que trouxessem gua do rio para lavar o rei,
gua limpa e fresca das fontes para banhar o velho orix. Que
lavassem seu corpo e o untassem com o limo-da-costa. Que
providenciassem os panos mais alvos para envolv-lo. O rei
de Oi mandou seus sditos vestirem-se de branco tambm. E
determinou que todos permanecessem em silncio. Pois era
preciso, respeitosamente, pedir perdo a Oxaluf.
A cerimnia do candombl chamada "guas de Oxal" rememora este episdio, com a
procisso representando a viagem de Oxal. Observamos nela a derivao no sincretismo,
pois a cerimnia se realiza em honra a Nosso Senhor do Bonfim, sempre na segunda quinta-
feira de janeiro, aps o dia dos Santos Reis. Os Santos Reis uma cerimnia do catolicismo
popular que relembra a viagem dos trs reis magos para visitar o menino Jesus: Tendo Jesus
nascido em Belm da Judia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a
Jerusalm, perguntando: Onde est o rei dos judeus recm-nascido? Com efeito, vimos a sua
81
estrela no cu surgir e viemos homenage-lo (Mateus, 2: 1-2
48
). A caminhada dos Santos
Reis, em minha cidade natal, assim como em muitos locais do interior brasileiro, se d entre a
noite de Natal e o dia 6 de janeiro, quando um grupo de pessoas sai visitando as casas, com
cantos e oraes, rememorando a viagem de Belchior, Baltazar e Gaspar.
Na festa do Senhor do Bonfim, uma procisso de baianas de acaraj, acompanhada
pelo povo, sai numa caminhada de oito quilmetros da Igreja de Nossa Senhora da Conceio
da Praia em direo Igreja do Bonfim, em Salvador. Tipicamente vestidas e levando potes
brancos com flores e gua, as baianas lavam o adro e as escadarias do templo, em meio a
cantorias e saudaes.
Oxal ficou preso na cidade de Oi, onde passou por muitos sofrimentos nos sete anos
em que esteve preso, at ser libertado por seu filho Xang. Estes sete anos de sofrimentos,
enquanto Oxal estava preso, lembram-me a histria de Jos, que foi vendido por seus irmos,
e encontrava-se cativo no Egito, quando sete anos de fome se abateram sobre esse reino, como
narra o texto bblico: ... e comearam a vir os sete anos de fome, como predissera Jos.
Havia fome em todas as terras, mas havia po em todas as regies do Egito. (... ) De toda a
terra se veio ao Egito para comprar mantimento com Jos, pois a fome se agravou por toda a
terra (Gnesis, 41: 53-57
49
).
Se de um lado temos o encontro de Xang com seu pai Oxal, aps sete anos de
sofrimentos na cidade de Oi, temos tambm o encontro de Jos com seu pai e seus irmos,
aps sete anos de fome sobre a terra. Temos a viagem de Oxal para encontrar seu filho
Xang, e temos a viagem dos irmos de Jos de Cana at o Egito, em busca de provises que
Jos, transformado em administrador dos celeiros do Fara, armazenara.
Em terceiro lugar, retornando a Durand (ibidem, p. 114), h tambm o dinamismo do
desgaste, tanto pela perenidade quanto pela derivao:
So estas as duas formas de desgaste do mito que acabo de
tentar descrever-vos: um desgaste por excesso de denotao e
ruptura com a conotao, e um desgaste por excesso de
conotao com abandono ou perda do nome prprio ou do
atributo especfico.
48
Mt 2, 1-2: evangelho de so Mateus, captulo dois, versculos um e dois.
49
Livro do Gnesis, captulo 41, versculos cinquenta e trs a cinquenta e sete.
82
Um desgaste ocorrido com o mito pode ser exemplificado em Xang. O termo
Xang um oriki, um epteto constitudo em poemas e cantos para se convocar um orix,
energia csmica que integra o indivduo perfeitamente ao seu ambiente e ao cosmo, na
medida em que ele se aproxima de si mesmo, de sua identidade interior e profunda
(TAVARES, 2000, p. 32). As cores vermelho e branco de Xang so o yin/yang, o
equilbrio, a unio das polaridades, representada tambm no machado de dois gumes,
ferramenta bipolar, nunca sectarizando, uma vez que o caminho da iluminao para os nags
o caminho da doura, da suavidade, da calma, da gentileza, iwa pel (ibidem, p. 51).
Xang, atualmente, alm de ser nome de candombl em Pernambuco identificado com um
guerreiro, ou seja, seu carter sinttico transformou-se em herico.
Reconhecendo que h momentos de inflao e momentos de deflao dos mitos nas
sociedades, a noo de bacia semntica utilizada por Durand (ibidem, pp. 162-169) nos
auxiliar na compreenso da mitanlise. Esse mesmo autor (2004, p. 103) utiliza a metfora
potamolgica de bacia, subdividida em seis fases, que no se sobrepem, pois (idem, 1998,
p. 163):
precisamente aqui que surge uma diferena radical entre o
tempo linear dos relgios newtonianos, demasiado utilizado
pelos historiadores (o tempo astral, o Wachsendzeit
paracelsiano), e o Kairos humano, o tempo do sentido, das
maturaes (o Krafzeit paracelsiano, algo que se poder
traduzir por fora do destino. Este ltimo baseia-se numa
reminiscncia, num atraso, e no homologvel ao primeiro.
O fruto do Outono encontrava-se j na flor da Primavera, o
boto da Primavera estava j sob a folha morta do Outono.
A primeira etapa denominada escoamento. Refere-se existncia de inmeras
correntes de crregos que subsistem s correntes dos riachos. As correntes subterrneas,
muitas vezes antagnicas, emergem em circunstncias favorveis. Para Durand (2004, p.
105), elas ressurgem no setor marginalizado da nossa tpica e testemunham a usura de um
imaginrio localizado, cada vez mais imobilizado em cdigos, regras e convenes. A
segunda a diviso das guas. Os diversos escoamentos se juntam formando uma
oposio mais ou menos acirrada contra os estados imaginrios precedentes e outros
escoamentos atuais (ibidem, p. 107). A terceira, (ibidem, p. 111) o nome do rio, o
momento da denominao, em que um personagem, seja real ou fictcio, promovido na
histria. Em seguida temos a organizao dos rios, que consiste numa consolidao terica
dos fluxos imaginrios onde ocorrem, com freqncia, os exageros de certas caractersticas da
83
corrente (ibidem, p. 113). A quinta refere conteno das margens, momento em que os
fundadores afirmam seus programas ideolgicos. Finalmente, ocorre o esgotamento, o
desgaste, a saturao dos deltas e meandros (ibidem, p. 114). A corrente do rio, ao se tornar
mais fraca, se subdivide e captada por outras correntes mais fortes.
Percebemos, assim, que na noo de bacia semntica, existem movimentos
permanentes ou perenes, fortalecidos por um conjunto de imagens estveis ou arquetipais, que
estruturam as realidades culturais das sociedades. No entanto, os movimentos psicossociais
no so estticos na histria, o que nos leva admitir o pluralismo cultural, e reconhecer os
fenmenos da aculturao, da re-interpretao, pois todas as sociedades esto sujeitas a
renascimentos culturais. De acordo com Durand (idem, 1998, p. 168):
Da que um tal mtodo choca as atitudes epistemolgicas
caducas e as mitologias que lhes esto subjacentes. Como
que poderia ser de outro modo, no acervo dos nossos
epistme ocidentais fortemente etnocntricos. (...) verdade
que, desde h quinze sculos, o Ocidente exclusivamente
atravs do desenvolvimento das cincias da matria
dominou gigantescamente a natureza, os povos
tecnologicamente subdesenvolvidos e, por ltimo, todo o
planeta e todos os homens. Mas quem que no v que este
domnio est em vias de diluio?
A mitanlise tem como objetivo apreender os mitos que orientam uma bacia
semntica, determinados momentos histricos, determinados grupos culturais e as relaes
sociais. a ampliao da mitocrtica para um campo bem maior, o da sociedade. O
pressuposto que h mitos tolerados em determinada sociedade, ou seja, patentes, e outros
mitos que no conseguem encontrar veculos de expresso, ficando, portanto, latentes. A
mitanlise consiste em desvendar esses mitos latentes e patentes.
A mitanlise, ao examinar todo um aparato social ao longo de determinado tempo,
extrai os grandes esquemas mticos responsveis por tais sociedades. Ela, ento, descobre a
alma do grupo. Para Durand (1993, p. 350) se trata de un mitoanlisis, porque con
frecuencia las instancias mticas estn latentes y difusas em una sociedad, e incluso cuando
estn patentes la eleccin de uno u otro mito explcito escapa a la conciencia clara, aunque
sea colectiva.
Compreendendo que a mitocritica se relaciona com a mitanlise, j que a primeira
revela os mitemas presentes nas obras, literrias, filosficas, pedaggicas etc, enquanto a
84
segunda estuda os mitos diretores dos fenmenos scioculturais. Compreendendo que toda
obra de um autor est situada em determinada realidade histrica, concordamos com Arajo
& Silva (2003, p. 350) em no diferenciar os conceitos:
Por isso, empregaremos, daqui em diante, o termo Mitanlise,
na medida em que um texto, como o reconhece Durand, um
cruzamento da histria, dos movimentos sociais, dos
caracteres e das biografias. Por outras palavras, os domnios
estudados pela Mitocrtica e pela Mitanlise interceptam-se,
porquanto o texto analisado pela primeira emerge sempre num
contexto que o domnio prprio da segunda: a mitanlise
pode assim proceder de dois modos: ou ela prolonga
naturalmente a mitocrtica, e esta via preferencialmente
seguida pelos literrios formados na anlise dos textos, ou e
a via filosfica ela parte de seqncias e de mitemas de um
mito bem estabelecido para ler as ressonncias de dada
sociedade ou de dado momento histrico. Sem nunca perder
de vista, todavia, que toda a sociedade modelada por uma
tpica sistmica e que a alma de um grupo (povo, etnia, nao
ou tribo) sempre mais ou menos malhada.
A mitanlise apresentada por Arajo & Silva (2007) como uma hermenutica
interdisciplinar. Ela resulta de uma variedade de disciplinas e conhecimentos de diversas
reas. Na viso desses autores, a mitanlise uma hermenutica instruda pelas figuras
simblicas: smbolo e mito enquanto forma simblica e como capital enriquecedor da cultura
humana. Mesmo reclamando-se uma tradio, mesmo considerando e pensando o passado,
no se pode deixar de articul-lo sempre com o presente, que est repleto de novas
significaes.
A mitanlise foi desenvolvida no contexto em que se surgiam teorias com crticas
noo de subjetividade nas tentativas de fundamentao do conhecimento empreendidas pelas
teorias racionalistas e empiristas. certo que as crticas de Hegel e de Marx j apontavam
para a insuficincia das anlises subjetivistas. Em Hegel, a subjetividade, a conscincia
individual, , ela prpria, resultado de um processo de formao histrico e cultural. Marx
assume essa mesma posio, apenas interpretando o processo de formao da subjetividade e
de nossas idias em termos materialistas, enfatizando o trabalho e as relaes de produo.
Uma anlise do processo de conhecimento que partiu da conscincia individual,
considerada, em si mesma, autnoma, tanto no racionalismo quanto no empirismo, acabou
encontrando dificuldades insuperveis para explicar a relao entre a conscincia e o real,
entre a mente e o mundo. nesse contexto que Wunenburger (2007, pp. 16-17) compreende o
85
surgimento de teorias com anlise do significado e de nossos processos de simbolizao,
constituindo-se como nova via na busca do fundamento:
Durante a ltima metade do sculo XX (1940-1990), foram
numerosas as contribuies filosficas de J.-P. Sartre, G.
Bachelard, R. Caillois, Cl. Lvi-Strauss, P. Ricoeur, G.
Durand, H. Corbin, G. Deleuze, J. Derrida, J.-F. Lyotard, M.
Serres etc. Elas se beneficiaram de um contexto intelectual
favorvel devido particularmente a novas referncias e
orientaes, ainda que estas tenham permanecido por longo
tempo modestas ou marginais: em primeiro lugar, as recadas
da esttica surrealista que permitiu, paralelamente lenta
difuso da psicanlise freudiana na Frana, promover prticas
imaginativas que remontam ao romantismo, at mesmo ao
ocultismo; em seguida, o interesse pela psicossociologia
religiosa, graas ao impacto do pensamento de . Durkheim,
em primeiro lugar, e em seguida dos trabalhos de
fenomenologia religiosa de Mircea Eliade e mesmo de
psicologia religiosa (M. Eliade) e mesmo de psicologia
religiosa (escola junguiana); enfim; a lenta progresso de um
neokantismo que considera adquiridos o estatuto
transcendental da imaginao e sua participao na
constituio de um sentido simblico (E. Cassirer, M.
Heidegger). Assim, no admira que a imaginao e a imagem
tenham podido ser integradas a novos mtodos ou gestes
filosficas, ainda que cada um deles desenvolva postulados e
modelos de anlises diferentes: a fenomenologia, advinda de
Ed. Husserl, consagra a imaginao como intencionalidade
capaz de um alcance eidtico (da essncia das coisas); a
hermenutica atribui s imagens uma funo expressiva de
sentido, em certos aspectos mais fecunda do que o conceito
(M. Heidegger, H. G. Gadamer, P. Ricoeur etc.); os debates
introduzidos pela Escola de Frankfurt (E. Bloch) obrigam a
levar em conta mito e utopia na histria sociopoltica. Quanto
aos mais recentes trabalhos de filosofia e de cincias
cognitivas, revalorizam tanto a metfora como as
representaes visuais. Nesse contexto, podem-se, entretanto,
privilegiar quatro obras particularmente criativas, que vm
renovar a compreenso da imaginao e do imaginrio: G.
Bachelard, G. Durand, P. Ricoeur e H. Corbin.
Arajo & Silva (op. cit., pp. 340-345), a partir do que Wunenburger denominou
hermenutica amplificadora, assentaram a mitanlise em oito pressupostos. Primeiramente,
o imaginrio bidimensional, ou seja, ele simultaneamente sciocultural (racional e
actancial) e arquetipal (inconsciente coletivo); em seguida, ambos diro que a origem da idia
est no semantismo arquetipal; o terceiro princpio est no fato do mito ser uma narrativa
inscrita num tempo e num espao sagrados, imemoriais; os autores continuam, afirmando que,
se os arqutipos situam-se em algum lugar do inconsciente coletivo, so inacessveis, por isso
86
a distino entre o arqutipo e a imagem arquetpica (smbolo). Sendo plural a natureza do
arqutipo, este se manifesta por uma variedade de imagens; o quinto pressuposto que so os
smbolos arquetpicos (imagens) que fazem a ponte entre o patrimnio gentico e o
patrimnio sciocultural; os mesmos autores continuam, afirmando que a imaginao coletiva
se organiza em torno de ncleos que so as idias-fora; o penltimo pressuposto de que a
produo de figuras do imaginrio tem por base o inconsciente coletivo; Arajo & Silva
finalizam, dizendo que o smbolo bidimensional. E concordam com Paul Ricoeur (apud
ARAJO & SILVA, ibidem, p. 346), que compreende a mitanlise como a:
Estrutura fundamental, tanto ontolgica que epistemolgica,
em virtude da qual a histria e a fico concretizam cada uma
a sua intencionalidade respectiva se cada uma delas tomar a
intencionalidade da outra. Esta concretizao corresponde, na
teoria narrativa, ao fenmeno do ver como... pelo qual, na
Metfora viva, caracterizamos a referncia metafrica. (...)
Ns vamos mostrar que esta concretizao se realiza na
medida em que, por um lado, a histria se serve de algum
modo da fico para refigurar o tempo, e em que, por outro
lado, a fico se serve da histria na mesma perspectiva.
Assim, no temos, nessa mtua concretizao, uma separao entre o histrico e a
fico, pois o mito que modelar a histria, diferentemente do que pensam os positivistas.
Nessa perspectiva, no h uma separao entre o texto de seu contexto, entre o mtico e o
ideolgico. Durand (1993, p. 347-350) j revelava essa compreenso, ao definir a mitanlise
como:
Um mtodo de anlisis cientfico de los mitos com el fin de
extraer de ellos no solo el sentido psicolgico (P. Diel, J.
Hillman, Y. Durand), sino tambin el sentido sociolgico (C.
Lvi-Strauss, D. Zahan, G. Durand). Mitoanlisis que, de
entrada, ampla el campo individual del psicoanlisis,
siguiendo la trayectoria de la obra de Jung, y que, superando
la reduccin simblica simplificadora de Freud, se basa en la
afirmacin del politesmo (M. Weber) da las pulsiones de la
psique. J. Hillman, em particular, muestra claramente lo que el
mitoanlisis aporta de nuevo al anlisis de tipo junguiano.
Mientras que el clebre psiquiatra de Zuriche generaliza y
uniformiza por ejemplo el arqutipo de Anima, el mitoanlisis
discierne distintos tipos de anima segn las tipologias de la
mitologa antigua: Venus, Demeter, Juno, Diana, etc.; pero
este mitoanlisis psicolgico se asocia as directamente a
una acpcin sociolgica, ya que los personajes mitolgicos
pueden ser objeto de un anlisis sociohistrico (J. P. Vernant,
M. Detienne) y los dioses y hroes aparecen y desaparecen
segn un ritmo que marca los momentos de la historia
sociocultural, como haba presentido formalmente P. Sorokin.
87
El mitoanlisis sociolgico (G. Durand), que se inspira a un
tiempo en los trabajos del estructuralismo de C. Lvi-Strauss,
pero tambin ya que las entidades mitolgicas son
potencias, fuerzas y no solo formas en todas las
investigaciones temticas o em los anlisis semnticas de
contenidos, intenta delimitar los grandes mitos directores de
los momentos histricos y de los tipos de grupos y relaciones
sociales. Se trata de um mitoanlisis, porque con frecuencia
las instancias mticas estn latentes y difusas en una sociedad,
e incluso cuando estn patentes la eleccin de uno u otro
mito explcito escapa a la conciencia clara, aunque sea
colectiva. Una y otra aproximacin tan solo difieren, pues, em
su campo de aplicacin prctica. Ambas presuponen, segn el
modelo irreversible del psicoanlisis y de psicologa de las
profundidades, un desnvel antropolgico entre lo patente y lo
latente, el consciente antropolgico y el inconsciente. Por lo
tanto, utilizan el mismo mtodo de base para tratar el mito.
A mitanlise se diferenciar assim da mitocrtica na medida em que esta revela os
mitemas de uma obra literria, enquanto aquela estuda os mitos diretores e que configuram os
fenmenos socioculturais. Porm, como no h separao entre a criao artstica, a criao
cultural e o contexto histrico-social, o contexto cultural, Arajo & Silva (op. cit., 350) no
acham mais pertinente utilizar os dois termos, passando a referirem a ambos apenas como
mitanlise.
A mitanlise tambm permite revelar os mitos latentes ou patentes presentes no
discurso ideolgicos-polticos, como refere Sironneau, no previsvel que ao nvel do
imaginrio socio-cultural, histrico ou poltico encontremos uma presena significativa de
mitemas, mas to-somente de mitologemas (organizao de elementos, motivos ou temas
mitolgicos) (ibidem, p. 352).
Visando detectar traos mticos em diversos textos ideolgicos, especialmente de
carter educativo, Arajo (ibidem, 353) introduz o conceito de ideologema:
1. O ideologema veiculado pelo discurso, seja ele poltico,
literrio, educativo, cientfico, esttico, histrico, entre outros
(...).
2. O ideologema j uma racionalizao ideometafrica das
imagens arquetpicas (smbolos arquetpicos) sempre
presentes e circulantes no Imaginrio Bidimensional.
88
Os mitemas e os mitologemas se caracterizam pela repetio dos motivos mticos,
assim, da mesma forma, os ideologemas manifestam-se pela repetio, pela redundncia.
Ento sua presena notada atravs da repetio obsessiva de esquemas verbais.
Arajo & Silva propem um caminho para o levantamento dos ideologemas:
inicialmente, deve-se estar atento aos indicadores ideologmicos, ou seja, os elementos
mais fortes nos textos analisados (ibidem, p. 355). Para detectar os traos mticos, o exegeta
deve ter uma tima formao, tanto da mitologia primitiva, oriental, mitologia ocidental
(greco-romana), sem esquecer as tradies culturais de que essas mitologias so solidrias
(ibidem, 356). Por fim, o hermeneuta dever possuir uma sensibilidade mtico-simblica,
uma empatia, uma intuio, para saber ouvir o que os mitologemas esto dizendo.
Os textos pedaggicos os discursos educativos esto impregnados de ideologia, com
influncias histricas, polticas, cientficas etc, ou seja, so textos fortemente ideologizados,
bem racionais, trazendo dificuldade de se perceber os mitos diretores. Com isso, Arajo
(1997, pp. 63-64) apresenta uma metodologia dividida em trs fases, para o levantamento dos
ideologemas. A primeira fase a identificao e a seleo dos ideologemas, consistindo numa
leitura diacrnica do texto. o que realmente procuramos fazer anotar todas as seqncias,
que se revelam mais pertinentes do ponto de vista mitocrtico ou mitanaltico (ibidem, p. 63).
Na segunda fase, devem-se reunir os ideologemas inventariados em torno de uma idia-
fora, consistindo numa leitura sincrnica do texto. Assim, possvel verificar as seqncias
das idias-fora. Finalizando, procuram-se selecionar os ideologemas. Para Arajo (ibidem,
p. 64), refira-se que a dimenso mtica, que nos dada pelos temas mticos (mitologemas),
pelos grandes mitos directores e pelas grandes estruturas mticas da humanidade, sempre
condicionada pelas estruturas antropolgicas do imaginrio estudadas por Gilbert Durand
(leitura isotpica).
Reconhecendo que todo mito pessoal um mito coletivo (BADIA, 1999, p. 130),
compreendemos que os mitos organizam a vida social dos indivduos e dos grupos, ou, como
Bastide (2001) j havia referido, ao estudar o candombl da Bahia, o mundo dos homens
um reflexo do mundo dos deuses, conclumos esta etapa concordando com Arajo & Silva,
(op. cit., p. 360) que:
1. A Mitanlise, como faz do mito a sua pedra angular, est
bem posicionada para estabelecer a ponte entre o imaginrio
sociocultural e o imaginrio arquetipal, dado que o mito,
ainda que imbudo de smbolos, de arqutipos e de schmes
89
j um esboo de racionalizao (Durand). Por isso, a
Mitanlise pode capt-lo em forma de narrativa nos nveis
actancial e do superego social da tpica sociocultural;
2. A Mitanlise, embora optando pelo transcendentalismo da
imagem (Wunenburger), no menospreza de modo algum o
papel crucial desempenhado pelo meio ambiente (contexto)
psco-social (lembramos a este propsito a noo de trajecto
antropolgico durandiana).
Para se compreender a importncia do pensamento de Munanga, no captulo seguinte
farei uma sntese dos estudos clssicos sobre as relaes raciais no Brasil, evidenciando as
principais correntes e pensadores, alm de apresentar algumas das tendncias destes estudos
na educao brasileira.
Em seguida, nosso objetivo levantar as idias-fora no discurso de Kabengele
Munanga, no intuito de identificar os mitos que orientam este autor e compreender, a partir
da, suas orientaes e/ou contribuies, partilhando-as com os que esto preocupados em
pensar uma educao a partir das africanidades.
90
TRAJETO DE ESTUDOS SOBRE O NEGRO NO BRASIL
O drama de ser dois [...] um trao fundamental de meu
perfil: eu no perteno a nada. No perteno a instituies,
no tenho fidelidade a coisas sociais, tudo o que social para
mim instrumento. Eu no sou de nada. Estou sempre
procura de alguma coisa que no materializada em
instituio, em linha de conduta. Ningum pode confiar em
mim em termos de sociabilidade, de institucionalidade, porque
isso no para mim, no so funes para mim (...). Eu estou
sempre in between. Nunca estou includo em nada. As minhas
metas so a nica coisa em que estou includo, no h pessoas
que me incluam (Alberto GUERREIRO RAMOS, apud Luiz
Alberto Oliveira Gonalves. De Preto a Afro-descendente: da
cor da pele categoria cientfica, 2004, p. 19).
91
TRAJETO DE ESTUDOS SOBRE O NEGRO NO BRASIL
O objetivo deste captulo apresentar um panorama das pesquisas sobre o negro no
Brasil, objetivando situ-las nas hermenuticas redutoras e/ou instauradoras. De forma geral,
esses estudos esto diretamente ligadas ao tema da escravido, tornando-se quase impossvel,
devido toda carga da conotao humana e desumana, abord-lo sem um envolvimento
emocional ou apologtico, principalmente levando em conta meu envolvimento pessoal com o
tema.
As descobertas graduais das costas da frica, no sculo XV, sobretudo pelos
navegadores portugueses, desenvolveram intensamente o trfico de africanos para a Europa,
sobretudo para os trabalhos na lavoura ou servios domsticos. Segundo Nei Lopes (2006, pp.
42-43), em 1442 o portugus Anto Gonalves teria seqestrado, na costa da Mauritnia
atual, um casal de africanos, apenas para comprovar que tinha realmente estado no Pas dos
Negros. Inaugurava-se a, segundo alguns autores, a primeira modalidade do trfico para a
Europa. Naquele perodo, quando os portugueses chegaram s costas da frica, o trfico
negreiro j era praticado largamente em Marrocos, na Arglia, na Tunsia e no Egito pelos
rabes (VERGER, 1987). De acordo com Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes (2004d,
p. 20):
Os rabes foram responsveis pelas rotas oriental e
transaariana, no perodo compreendido entre 650 e 1600,
estimando-se que teriam sido envolvidos cerca de cinco
milhes de africanos. Para essas duas rotas, os africanos foram
levados para o Oriente Mdio (Arbia Saudita, Emirados
rabes, Imen etc), ndia, China, Sri Lanka etc. Os europeus
foram os responsveis pelo trfico transatlntico, atravs do
qual 40 a 100 milhes de africanos foram deportados para a
Europa e Amrica.
Um dos motivos que fomentaram o trfico de africanos para a Amrica foi a
preocupao em desviar, dos mercados muulmanos, os negros escravizados. Em 1495, Isabel
I, rainha de Castela, Leo e Arago, apelidada de A Catlica, sancionou uma lei, proibindo
o aprisionamento e a subsequente venda dos indgenas da Amrica, levando comercializao
de escravos africanos. Como os espanhis, pelo Tratado de Tordesilhas, no tinham ponto de
apoio na frica, recorreram aos fornecedores portugueses. Assim, em 1562, o corsrio John
Hawkins fundou a primeira companhia inglesa do trfico negreiro, tendo entre os acionistas a
prpria rainha Isabel (SERAFIM LEITE, 1962). Em 1711, Antonil, jesuta italiano, publicou
92
uma obra que nos possibilita compreender a mentalidade daquela poca. No captulo IX
(ANTONIL, 1982, 97-104), o autor discorre sobre as procedncias dos africanos que para c
vieram e como os senhores deveriam trat-los:
Os escravos so as mos e os ps do senhor do engenho,
porque sem eles no Brasil no possvel fazer, conservar e
aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. (...) as mulheres
usam de foice e de enxada como os homens. (...) No Brasil,
costumam dizer que para o escravo so necessrios trs ppp, a
saber Pau, Po e Pano. E posto que comecem mal,
principiando pelo castigo que o pau, com tudo prouvera a
Deus que to abundante fosse o comer e o vestir como muitas
vezes o castigo dado por qualquer causa pouco provada ou
levantada, e com instrumentos de muito rigor, ainda quando os
crimes so certos, de que se no usa com os brutos animais,
fazendo algum senhor mais caso de um cavalo que de meia
dzia de escravos, pois o cavalo servido e tem quem lhes
busque capim, tem pano para o suor, e sela e freio dourado
(ibidem, pp. 97-101).
Anteriormente, Jorge Benci, tambm jesuta italiano que viveu no Brasil entre 1681 e
1708, escreveu uma obra expondo em quatro discursos como era a vida dos africanos
escravizados no Brasil. Nos dois primeiros discursos, ensina a obrigao dos senhores para
com os escravos, inspirando-se no Eclo
50
33: 25: Po, correo e trabalho para o servo. Para
Benci, os escravos esto privados de todos os bens naturais: riqueza, delcias e honra. No
terceiro discurso, explica que o castigo deve ser moderado, ensinando aos senhores o que
seriam tormentos inqualificveis: queimar com ferro em brasa, cortar orelhas e narizes,
marcar nos peitos e na cara, queimar a boca com ties ardentes. No quarto discurso, defende
a tese de que os africanos tm uma propenso sensualidade, o que obrigava os senhores a
dar trabalho aos servos, pois o cio me dos vcios e madrasta das virtudes. Concluindo,
o africano escravizado vivia a quase-morte pois, embora vivessefisica, poltica e civilmente,
estava morto. No era permitido ao escravizado exercer nenhuma ao poltica e civil
(BENCI, 1977).
As questes relacionadas ao negro brasileiro que mais polarizaram as pesquisas dos
estudiosos, esto relacionadas com variados temas: escravido, abolio, integrao,
preconceitos, discriminao racial, democracia racial, branqueamento, capitalismo,
marginalizao, quilombos, religiosidade popular, religies afro, sincretismo afrobrasileiro,
cultura negra, escolas de samba, polticas afirmativas, cotas etc. Assim, seria impossvel
50
Eclo 33, 25: livro de Eclesistico (antigo testamento da Bblia), captulo 33, versculo 25.
93
realizar uma reviso bibliogrfica e/ou literria to ampla. Por conseguinte, procurarei apenas
identificar os estudos que esto inseridos na categoria de hermenuticas redutoras e aqueles
que identifico como estando relacionados com as hermenuticas instauradoras.
Os estudos sobre a questo racial no Brasil podem ser agrupados em quatro correntes
principais (BANDEIRA, 1998, 15-19). A primeira, com pressupostos tericos evolucionistas,
abordando o negro como expresso de raa, enfatiza que h no Brasil uma verdadeira
democracia racial, ou seja, preconiza a inexistncia de preconceito tnico-racial. A segunda
corrente aborda o negro como expresso de cultura, considerando a raa um fator
determinante na alocao das pessoas, tanto na estrutura de classe quanto no sistema de
estratificao social. Dessa perspectiva, a raa um mecanismo eficaz na reproduo das
desigualdades sociais dentro do sistema. A terceira vertente, do negro como expresso
social, vincula estreitamente a questo da raa de classe, dando primeira uma posio
subordinada ltima. Nesse sentido, o preconceito contra pretos e pardos (negros) ocorreria
devido ao fato de a maioria destes pertencerem s classes sociais mais baixas e no por terem
a pele mais escura. Estas vertentes anteriores so identificadas, neste contexto, com as
hermenuticas redutoras. A quarta vertente aborda a especificidade da produo cultural
negra, com nfase nas questes religiosas, de identidade e de resistncia, aproximando-se das
hermenuticas instauradoras.
Guimares (2003, p. 100) identifica uma fase anterior, cuja preocupao estava com a
constituio da nao brasileira. Naqueles anos, o negro era visto como no pertencendo
nacionalidade, sendo, portanto, um grande obstculo para o desenvolvimento na nao
(ibidem, pp. 95-96):
A biologia e a antropologia fsica criaram a idia de raas
humanas, ou seja, a idia de que a espcie humana poderia ser
dividida em subespcies, tal como o mundo animal, e de que
tal diviso estaria associada ao desenvolvimento diferencial de
valores morais, de dotes psquicos e intelectuais entre os seres
humanos.
No fundo, a preocupao que girava entre o final do sculo XIX e incio do sculo
XX, aps a abolio da escravatura, era a da construo de uma identidade nacional e de que
lugar ocuparia a populao negra nesta nao. As vises que se construram em torno da
populao negra brasileira esto inseridas nas quatro vertentes apontadas por Bandeira,
embora identifiquemos a maioria delas nas hermenuticas redutoras.
94
A EXCLUSO DO NEGRO NA CONSTRUO DA NACIONALIDADE
BRASILEIRA
Os evolucionistas, principalmente Oliveira Viana, identificavam a miscigenao como
estratgia de branqueamento da sociedade brasileira. Andrews (1997, p. 97) nos diz que:
nos casos de mistura racial, sustentavam eles, o componente
gentico branco tenderia a dominar; e se tal mistura fosse
repetida durante vrias geraes, o resultado final seria uma
populao branqueada na qual a ancestralidade africana e
ndia seriam superadas e neutralizadas.
Segundo Munanga (1999, p. 52), os estudos evolucionistas estavam orientados pela
teoria de Gobineau, defensor da mistura das raas como princpio de maior relevncia na sua
teoria do nascimento da civilizao, contudo uma mistura que levaria do estado selvagem
ao estado da cultura. Inspirado nesse pensamento, Silvio Romero escreveu sobre o nascimento
de um povo tipicamente brasileiro, resultado da mestiagem de trs raas, com a
predominncia biolgica e cultural branca e o desaparecimento dos no brancos, que ele
denominava raas inferiores. Assim, o mestio brasileiro herdava do sangue africano, dizia
Silvio Romero, a apatia, o desnimo, a falta de iniciativa e de inventividade.
Um dos principais pensadores evolucionistas brasileiros foi Nina Rodrigues, que
defendia a superioridade da raa branca sobre a negra, justificando as posies sociais
ocupadas por negros e brancos e defendendo serem os negros causadores do atraso brasileiro
frente a outras naes (RODRIGUES, 1977, p. 7):
A raa negra no Brasil, por maiores que tenham sido os seus
incontveis servios nossa civilizao, por mais justificadas
que sejam as simpatias de que a cercou o revoltante abuso da
escravido, por maiores que se revelem os generosos exageros
dos seus turiferrios, h de constituir sempre um dos fatores
da nossa inferioridade como povo.
Esse autor conviveu com a escravatura no Brasil e, ao realizar um estudo sobre a
procedncia africanas dos negros brasileiros, incluindo os negros maometanos, defendeu a
tese de que os povos africanos no eram civilizados pois, comparados aos brancos, os negros,
devido ao desenvolvimento filogentico, possuam a massa enceflica com peso menor e seus
dentes tinham caractersticas animalescas. Essa posio de defesa do negro como inferior
manifestada em sua avaliao das religies de origem africana, as quais, em suas palavras
95
(ibidem, p. 260), s servem para ofender a Deus e perverter a alma. Sua viso era a de que
as religies africanas eram crenas animistas superadas.
Nina Rodrigues defendeu tambm que a mestiagem era um mal instalado entre
ns.Em sua obra Mestiagem, Degenerescncia e Crime, ele prope, em A
Responsabilidade Criminal, a criao de dois cdigos penais, um para brancos e outro para
negros (MUNANGA, 2004, p. 59). Para Nina Rodrigues (ibidem, p. 61),a influncia do
negro h de construir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Em sua tese,
Nina Rodrigues alegava que a criminalidade existente na Bahia era devida a influncia
africana, inspirando-se, para isso, nos estudos da medicina patolgica de Paul Janet sobre a
populao brasileira no ponto de vista da psicologia criminal ndios e negros. Influenciado
ainda pelo fetichismo de Des Brosses, o animismo de Taylor e o totemismo de Frazer, Nina
Rodrigues identificou a criminalidade nos cultos afrobrasileiros. Sobre o autores que
influenciaram Nina Rodrigues, dir Melloni (op. cit., pp. 69-70):
Admite-se que, assim como a famlia humana viveu em estado
de selvageria ou de barbrie, ou, ainda, tambm de civilizao,
incontestvel que tais condies se vinculam numa
seqncia de progresso natural e necessria. Desse modo,
desde as sociedades selvagens at s civilizadas, as diversas
populaes do globo encontram-se em pontos graduais de
maior ou menor progresso, cabendo ao antroplogo verificar
se e como assim se passa. A segunda tese amplia e aprofunda
a primeira, porque consiste em acentuar o alto grau de
estratificao entre as sociedades. Tylor, por exemplo, afirma
que ... as instituies humanas esto to distintamente
estratificadas como a terra sobre a qual o homem vive.
Sucedem-se uma s outras em sries substancialmente
uniformes em todo o globo, independentes das diferenas de
raa e de lngua que parecem, em comparao, superficiais,
mas modeladas pela natureza humana semelhante, agindo
atravs das condies sucessivamente alterveis da vida
selvagem, brbara e civilizada.
Se pudermos definir uma teoria racista no Brasil, ela est expressa no pensamento de
Rodrigues (op. cit., pp. 263-264)):
O que mostra o estudo imparcial dos povos negros que entre
eles existem graus, h uma escala hierrquica de cultura e
aperfeioamento. Melhoram e progridem; so, pois, aptos a
uma civilizao futura, mas se impossvel dizer se essa
civilizao h de ser forosamente da raa branca, demonstra
ainda o exame insuspeito dos fatos que exatamente morosa,
por parte dos negros, a aquisio da civilizao europia.
96
O que percebemos que, muito dos julgamentos que o senso comum formulou acerca
dos negros e que se manifesta atualmente, por exemplo, nas perseguies policiais e nas
pregaes das religies crists, especialmente as neopentecostais, combatendo as religies
afrobrasileiras, deve-se ao pensamento de Nina Rodrigues.
A tese do embranquecimento da populao brasileira estava igualmente presente no
pensamento de um dos precursores da sociologia brasileira: Silvio Romero. Alguns fatos so
marcantes neste admirador de Spencer. Primeiro, em sua tese Etnologia Selvagem,
defendida em 1875, junto Faculdade de Direito do Recife, ele assume uma postura
radicalmente positivista, realizando uma crtica s outras epistemologias (2001, p. 407):
Silvio Romero teria dito: Nisto no h Metafsica, Sr.
Doutor, h lgica, ouvindo como resposta do professor Coelho
Rodrigues, que A Lgica no exclui a Metafsica. Silvio
Romero, provocador diz: A Metafsica no existe mais, Sr.
Doutor. Se no sabia, saiba. No sabia, disse o
examinador. Pois v estudar e aprender para saber que a
Metafsica est morta. Coelho Rodrigues pergunta: Foi o
senhor quem a matou? Foi o progresso, foi a civilizao,
respondeu Silvio Romero gritando.
Romero, que foi deputado federal, teria proferido apenas quatro discursos ao longo do
ano de 1900, dois em 1901 e um em 1902, no entanto apresentou um projeto de lei, de n 6-A,
dividindo as Cadeiras do Ginsio Nacional em duas: Lgica e Literatura. Neste projeto,
props a substituio da Filosofia pela Lgica (ibidem, p. 415). Esse mesmo pensador atribui
a cor do mestio a uma molstia, uma nostalgia da alvura, uma certa dose de despeito contra
os que gozam da superioridade da brancura (apud Richard MISKOLCI, 2006, p. 355). No
conto Evoluo, Machado de Assis dirigiu uma crtica a Silvio Romero, dizendo que assim
como a seleo natural d a vitria aos mais aptos, assim outra lei, a que se poder chamar
seleo social, entregar a palma aos mais puros. o inverso da tradio bblica; o paraso
no fim (MACHADO DE ASSIS, 1946, p. 190).
Tal posio de Machado de Assis j estava presente em sua obra Memrias Pstumas
de Brs Cubas, de 1881. Nela, o personagem central, Braz Cubas, um morto que narra suas
memrias, expe com ironia suas prprias atitudes e as vaidades das pessoas com quem
conviveu. A obra revela o pessimismo da personagem e seu desencanto diante da vida. Brs
Cubas, que teve de esconder ou falsificar sua origem, alm da loucura de seu amigo filsofo
97
Quincas Borba, revela o que acontecia no Brasil, onde as pessoas escondiam a prpria origem,
bem como julga-se tanto um perdedor quanto algum capaz de grandes realizaes, entre elas
emplasto que ele gostaria de ter descoberto para aliviar as dores da humanidade.
Em 1897, com a criao da Academia Brasileira de Letras, que teve como patrono
Machado de Assis, Silvio Romero publicou Machado de Assis Estudo Comparativo de
Literatura Brasileiro, defendendo a tese de que Machado de Assis no era um grande
escritor, pois era o representante de uma sub-raa cruzada, estril e com problemas na fala
(MISKOLCI, op. cit., p. 357). A manifestao evidente do racismo em Silvio Romero est em
sua crena de que o humor uma caracterstica das raas nrdicas. Por esse motivo, ele
afirma que o pessimismo de Machado de Assis era sinal de sua anomalia. Declara Romero
(ibidem, p. 357): no sei bem ao certo se ele [Machado] um germano em qualquer grau;
no sei se na Amrica do Norte os mestios, quando falam de si, dizem: ns, os saxnios...
Aqui no Brasil a maior prova, a mais caracterstica do humor neles, quando dizem: ns, os
latinos! impagvel.
Segundo Munanga (op. cit., p. 68), outro pensador que teve suas idias pautadas no
evolucionismo foi Oliveira Viana. Seguidor de Silvio Romero, embora Viana reconhea a
existncia das trs raas no Brasil, alm dos mestios dessas, acreditava que um tipo
nacional era difcil de se formar, pois possuamos trs mentalidades heterogneas: a do
branco, civilizado; a do ndio, selvagem; e a do negro, brbaro. Para ele, os indivduos
resultantes da mestiagem entre cruzamentos de raas muito distintas, brancos e negros
revelavam caractersticas fsicas, morais e intelectuais de carter degenerescente, o que implic
afirmar que os mestios tendem a voltar ao tipo inferior.
Oliveira Viana (1956) elaborou ainda uma escala racial que tinha, na base, os negros,
acima destes, os ndios, e no topo, os brancos. Isso explicaria as relaes escravistas no Brasil,
j que negros e indgenas constituam raas brbaras cujo destino era o trabalho e a
obedincia aos brancos, raa pura e superior. Para Oliveira Viana, o negro deveria
desaparecer, j que significava um atraso para a nao. Em razo disso, ele defendia a
miscigenao, entendida por ele como movimento de arianizao, cujo objetivo era o
aumento da populao branca ou com sangue branco. De acordo com Ribeiro (op. cit., p.
24), Oliveira Vianna afirma no crer na igualdade entre as raas, localizando o negro numa
posio de inferioridade, como tambm advogando que este possui uma inteligncia inferior
em comparao s raas arianas ou semitas, alm de uma menor fecundidade. Alm disso,
98
para ele, o negro puro, portanto, no foi nunca, dentro do campo histrico em que
conhecemos, um criador de civilizao.
Oliveira Vianna defendeu que, a partir do momento em que foi institudo o sufrgio
universal, por ocasio da Independncia, iniciou-se a desorganizao nacional, pois o povo,
elevado ao status de soberano nacional, levou a irracionalidade e a incapacidade poltica para
a esfera pblica. A tese desse autor de que a nobreza no poderia ter seu voto misturado com
os analfabetos, mesmo os mestios. Toda a peonagem das cidades. Toda a peonagem dos
campos. Toda esta incoerente populao de pardos, cafuzos e mamelucos infixos, que
vagueavam ento pelos domnios (Oliveira Vianna apud Ricardo SILVA, 2008, p. 247).
O mesmo autor inicia sua obra Populaes Meridionais do Brasil (1987) elogiando
gnios possantes, fecundos e originais como Georges Vacher de Lapouge e Arthur de
Gobineau. Em seguida, defende a idia de que o Brasil, para preservar sua unidade nacional e
desempenhar um papel no mundo moderno, deveria embranquecer sua populao. Sua viso
dos mestios como inferiores fez desenvolver, no Brasil, a ideologia do
embranquecimento. Nela, a sada para o Brasil seria a intensificao da imigrao europia,
para que, por meio desta, ocorresse a eliminao dos selvagens e dos brbaros com o
gradual embranquecimento da populao.
A INCLUSO DO NEGRO NA CULTURA NACIONAL
A segunda vertente, com estudos de inspirao culturalista, desenvolveu pesquisas e
anlises de contedos culturais de traos complexos e padres identificados como de
procedncia africana, tais como entidades negras da cultura nacional. A cultura era concebida
como uma realidade suprassocial, um sistema independente e autnomo que age sobre a
realidade histrica, econmica e social, sem ser por ela ser afetada. A dinmica cultural era
tratada mecanicamente, privilegiando a origem do trao ou do padro cultural como base de
correlaes e explicaes (BANDEIRA, op. cit).
O rompimento com a concepo da inferioridade do negro foi iniciado com Gilberto
Freyre, deslocando-se a questo racial do debate biolgico para privilegiar a diferenciao das
manifestaes culturais. A publicao de Casa-Grande e Senzala, em 1933, introduz uma
nova concepo de Brasil e de povo brasileiro (BARROS, 1996). A hiptese de Freyre foi a
99
de que o processo de miscigenao teria criado uma democracia racial no Brasil, com um
livre convvio entre as etnias. O Brasil seria uma regio privilegiada, por no possuir uma
poltica discriminatria e segregacionista como a encontrada nos Estados Unidos, os quais, na
dcada de 1930, ainda possuam uma legislao separando negros e brancos em espaos
pblicos, como nibus e escolas, bem como proibindo casamentos intertnicos em estados
como da Gergia e do Alabama.
Segundo Munanga (2004, p. 88):
A grande contribuio de Freyre ter mostrado que negros,
ndios e mestios tiveram contribuies positivas na cultura
brasileira: influenciaram profundamente o estilo de vida da
classe senhorial em matria de comida, indumentria e sexo.
A mestiagem, que no pensamento de Nina e de outros
causava dano irreparvel ao Brasil, era vista por ele como uma
vantagem imensa. Em outras palavras, ao transformar a
mestiagem num valor positivo e no negativo sob o aspecto
de degenerescncia, o autor de Casa Grande e Senzala
permitiu completar definitivamente os contornos de uma
identidade que h muito vinha sendo desenhada. Freyre
consolida o mito originrio da sociedade brasileira
configurada num tringulo cujos vrtices so as raas negra,
branca e ndia.
O instrumento de formao da brasilidade, em Freyre, a miscigenao, sendo o
mulato um elo de unio entre negros e brancos, o que refora a tese de que nosso pas uma
sociedade mestia. Freyre descortinou novas perspectivas para compreender o Brasil,
valorizando a imagem do negro e do ndio e indicando as contribuies destes para a
formao da sociedade brasileira.
Os tericos marxistas brasileiros, especificamente Caio Prado Jnior, Florestan
Fernandes, Octvio Ianni e Fernando Henrique Cardoso, opuseram-se rigorosamente ao
pensamento de Gilberto Freyre, considerando que este no considerou a condio econmica
dos escravos
51
ao referir-se a uma noo de democracia racial, comprometendo assim as
polticas especficas que beneficiariam a populao negra, supondo que todos esto em
igualdade de condies. Para Hasenbalg (1979, p. 242):
Os princpios mais importantes da ideologia da democracia
racial so a ausncia de preconceito e discriminao racial no
Brasil e, conseqentemente, a existncia de oportunidades
econmicas e sociais iguais para brancos e negros.
51
Sobre as crticas realizadas a Gilberto Freyre, recomendo a leitura de BARROS, Joo de Deus, 1996.
100
Freyre elabora uma imagem otimista da mestiagem brasileira, levando Ribeiro (op.
cit., p. 46) a afirmar que ele expressa seu otimismo quando afirma que a despeito do nosso
atraso nos aspectos tecnolgicos e econmicos e nos aspectos de expresso cultural, a
populao brasileira composta de mestios, democraticamente quase todos morenos (...) o
homem brasileiro um homem nacional crescentemente miscigenado no sangue e na cultura.
Silva (2002, p. 86), por sua vez, identifica, no movimento modernista, essa nova
concepo, com a valorizao do negro nas obras Juca Mulato, de Menotti Del Picchia, de
1917; Macunama, de Mrio de Andrade, de 1928 e Essa Negra Ful, de Jorge de Lima,
assim como nas pinturas A Negra, de Tarsila do Amaral, Mulatas e Samba, de Di
Cavalcanti e Mestio, de Cndido Portinari.
Quanto mestiagem, tal como valorizada por Freyre, Munanga (ibidem, p. 122) afirma
que:
Atualmente, brancos e negros brasileiros compartilham, mais
do que imaginam, modelos comuns de comportamento e de
idias. Os primeiros so mais africanizados, e os segundos
mais ocidentalizados do que imaginam.
Arthur Ramos, rompendo com seus antecessores evolucionistas, inaugurou a pesquisa
culturalista. Justifica-se afirmando que, este, portanto, um ensaio de psicologia social e
antropologia cultural. Examino os padres de culturas que os negros transportaram da frica
para o Novo Mundo, e o destino que aqui tiveram (1946, p. 14). O mesmo autor, mdico
legista do Instituto Nina Rodrigues, d-se conta de que o estudo cientfico do negro estava
sendo prejudicado por trs obstculos: a explorao poltica (no sentido eleitoral) do negro; a
viso folclrica sobre o negro; e o negro como tema da moda, em contraposio s pesquisas
indianistas. O continente africano foi o ponto de partida dos estudos de Arthur Ramos
(ibidem, p. 21), para quem l vivem os agrupamentos mais caractersticos da raa.
Adotando a diviso lingustica de Seligman, esse autor reduz o negro africano a dois grandes
grupos: os sudaneses e os bantos. Os sudaneses ocupam uma vasta rea da frica Ocidental,
na Costa de Guin, constatando-se a a existncia de trs grupos: tshi, ewe e yorub. Os
bantos, por sua vez, ocupam dois teros meridionais da frica e distinguem-se em trs
grupos: bantos meridionais, bantos orientais e bantos ocidentais.
101
A preocupao de Arthur Ramos no foi a de estudar a distribuio racial dos povos
no continente africano, mas as culturas originrias dos povos negros trazidos para o Novo
Mundo, compreendendo ele cultura como sendo um complexo que engloba as crenas, as
religies, a moral, a lei, os costumes, os valores, os utenslios, as ferramentas, a cincia, a
tecnologia, a lngua, os smbolos, ou seja, os contedos materiais e espirituais de um povo.
Seguidor de Herskovits, Arthur Ramos utilizou-se tambm da diviso levada a cabo por este,
para quem (1973), h 9 reas e 2 sub-reas no continente africano: 1. Hotentote; 2.
Boschimana; 3. Oriental do Gado: 3.1. sub-rea ocidental; 4. do Congo: 4.1: sub-rea da
Costa de Guin; 5. Ponta Oriental; 6. Sudo Oriental; 7. Sudo Ocidental; 8. do Deserto; 9. do
Egito. Depois desse estudo feito sobre o continente africano, Arthur Ramos (op. cit, p. 72)
conclui que:
Na frica, existem representantes de diversssimos padres de
cultura. (...) que idia do homem africano selvagem,
contrapomos esta outra, de que devemos distinguir tantos tipos
africanos e tantos padres de cultura, como se tem feito com
relao ao homem da cultura ocidental.
Dois pontos no eram evidentes quanto ao processo de transferncia das culturas
negras africanas para o Brasil: o da quantidade de negros trazidos para o Brasil durante os trs
sculos de trfico regular de escravos; o da quantidade de negros na populao brasileira e sua
variao no decorrer de nossa histria. Segundo Moura (1989, p. 45), essa dificuldade dava-se
pela insuficincia documental, agravada pela destruio sistemtica dos registros sobre a
escravido no Brasil, ordenada por Rui Barbosa, ministro da Fazenda do governo Deodoro da
Fonseca
52
.Os povos africanos escravizados no Brasil foram distribudos em cinco focos: 1,
partindo da Bahia, com irradiao para Sergipe; 2, compreendendo o Rio de Janeiro e So
52
Ruy Barbosa, ministro e secretrio de Estado dos Negcios da Fazenda e presidente do Tribunal do Tesouro
Nacional, considerando que a nao brasileira, pelo mais sublime lance de sua evoluo histrica, eliminou do
solo da ptria a escravido - a instituio funestssima que por tantos anos paralisou o desenvolvimento da
sociedade, inficionou-lhe a atmosfera moral; considerando que a Repblica est obrigada a destruir esses
vestgios por honra da ptria, e em homenagem aos nossos deveres de fraternidade e solidariedade para com a
grande massa de cidados que pela abolio do elemento servil entraram na comunho brasileira: r e s o l v e:
1) Sero requisitados de todas as tesourarias da Fazenda todos os papis, livros e documentos existentes nas
reparties do Ministrio da Fazenda, relativos ao elemento servil, matrcula dos escravos, dos ingnuos, filhos
livres de mulher escrava e libertos sexagenrios, que devero ser sem demora remetidos a esta capital e reunidos
em lugar apropriado na recebedoria. 2) Uma comisso composta dos Srs. Joo Fernandes Clapp, presidente da
confederao abolicionista, e do administrador da recebedoria desta capital, dirigir a arrecadao dos referidos
livros e papis e proceder destruio imediata deles, que se far na casa da mquina da alfndega desta
capital, pelo modo que mais conveniente parecer comisso. Capital Federal, 14 de dezembro de 1890. Ruy
Barbosa.
102
Paulo; 3, na zona de minerao em Minas Gerais; 4, a partir de Pernambuco, com irradiao
para Alagoas e Paraba; 5 no Maranho, com irradiao ao Par.
As variadas culturas africanas que floresceram no Brasil no so encontradas em
estado puro, havendo uma predominncia dos yorubs no conjunto das culturas sudanesas,
uma predominncia dos mals no conjunto das culturas negro-maometanas e uma
predominncia angola-congolense no conjunto das culturas bantos. Arthur Ramos (op. cit, pp.
279-280) estabelece o seguinte quadro:
1. Culturas Sudanesas:
1.1. Yorubs da Nigria: nag, ijech, eub ou egb, ketu, ibadan, yebu ou ijeb.
1.2. Daoemianos: grupo Gge (ewe, fon ou efan); grupo fanti-ashanti.
1.3. Da Costa do Ouro: Mina (Fanti e Ashanti).
1.4. Grupos menores: krumano, agni, zema, timini etc.
2. Culturas Guineano Sudanesas Islamizadas:
2.1. Peuhl: fulah, fula etc.
2.2. Mandinga: solinke, bambara etc.
2.3. Hauss: do norte da Nigria.
2.4. Grupos menores: tapa, born, gurunsi etc.
3. Culturas Bantos:
3.1. Angola-congols: congos, cambindas e angolas.
3.2. Contra-costa: macuas, angicos.
A partir das consideraes das culturas africanas presentes no Brasil, Arthur Ramos
dedicou-se ento a estudar as relaes que se estabelecem entre as culturas negras e a cultura
branca dominante. Quando dois povos entram em contato, h sempre trocas, segundo Ramos
(ibidem, p. 358), o que revela que a adaptao um mecanismo biolgico; a acomodao e a
103
assimilao mecanismos sociais; o ajustamento, mecanismo psico-social; a aculturao,
mecanismo cultural. Segundo ele (ibidem, p. 358), as trocas culturais, tambm denominadas
como aculturao, compreende(m) aqueles fenmenos resultantes do contacto, direto e
contnuo, dos grupos de indivduos de culturas diferentes, com as mudanas consequentes nos
padres originais culturais de um ou ambos os grupos. Sobre os resultados da aculturao,
diz Ramos (ibidem, p. 360):
1) D-se a aceitao, quando a nova cultura aceita, com
perda ou esquecimento da herana cultural, mais velha; 2) na
adaptao, ambas as culturas, a original e a estranha,
combinam-se intimamente, num mosaico cultural, num todo
harmnico, com reconciliao de atitudes em conflito. 3) H
reao, quando surgem movimentos contra-aculturativos, ou
por causa da opresso, ou devido aos resultados
desconhecidos da aceitao dos traos culturais estranhos.
Por fim, ele defende a adaptao como sendo o resultado da aculturao encontrada no
Brasil, como tambm nas outras partes do Novo Mundo, como Cuba e Haiti.
A QUESTO RACIAL SUBORDINADA QUESTO ECONMICO-SOCIAL
A terceira vertente ganhou fora com as pesquisas sobre a estrutura das relaes
raciais entre negros e brancos, em substituio s anlises sobre as expresses religiosas e
culturais do negro. Florestan Fernandes foi um dos grandes expoentes dessa corrente. Para
ele, no Brasil, o que determina a desvantagem da populao negra em relao branca so as
leis da oferta e da procura, o desemprego que regula os baixos salrios, a competio inerente
ao mercado de trabalho, ou seja, a base cientfica dessa vertente o materialismo histrico.
Assim, rompendo-se ou minimizando-se estes problemas inerentes ao modo de produo
capitalista, certamente estariam findos ou remediados o racismo e seus reflexos nas condies
de vida da populao.
Donald Pierson desenvolveu sua pesquisa especificamente na cidade de Salvador,
entre os anos de 1935 a 1937. Na poca, ele era assistente de pesquisas do Social Science
Research Committe, da Universidade de Chicago, e seu objetivo era descobrir o que se
passou com os africanos importados em to grande nmero para esta parte do Novo Mundo?
(Pierson, 1971, 75). A obra, fruto dessa pesquisa, Pierson inicia-se fazendo uma descrio
104
etnogrfica da cidade de Salvador, desenvolvendo um esboo de sua histria e descrevendo
uma distribuio espacial das classes e das cores. Segundo ele, nas elevaes, encontravam-se
as ruas principais, as mais importantes linhas de bondes e de nibus, e fcil acesso s outras
partes principais da cidade. Nessas reas circulavam os jornais, encontrava-se a maioria dos
telefones e dos automveis, bem como as estaes de rdio. De acordo com seu relato (ibidem,
p. 100):
Ali se encontravam, em geral, os edifcios mais modernos e
mais ricos, e as casas das classes superiores. Ali viviam
geralmente os descendentes da velha aristocracia, os grandes
proprietrios, os intelectuais da cidade e as outras figuras
importantes de sua sociedade: os advogados, mdicos,
engenheiros e polticos; os oficiais do exrcito, poetas e
jornalistas, professores das Faculdades e os poucos industriais
que a Bahia tinha produzido na verdade, quase todas as
pessoas de destaque na vida intelectual, poltica, social e
comercial da cidade. Essas famlias possuam propriedades e
tinham numerosos empregados. Seus membros eram
geralmente letrados e os homens, pelo menos, eram formados,
circunstncia essa que os distinguia nitidamente do resto da
populao.
Na outra parte da cidade, encontravam-se os vales, onde as ruas no eram caladas,
havia uma preponderncia de trilhas e, nas chuvas fortes, a lama tornava escorregadia e
perigosa qualquer subida mais acentuada. Nos vales, viviam os pobres da cidade, em
habitaes que eram simples casebres, construdos com armaes de madeira cobertas de
barro. Segundo sua descrio (Ibidem, p. 101):
Quando a renda do proprietrio o permitira, as paredes toscas
tinham sido barradas e pintadas de vermelho, azul, verde ou
amarelo plidos. O cho era geralmente de terra, recoberto
caprichosamente com areia fresca da praia, renovada de
quando em quando. O teto dessas habitaes era muitas vezes
feito de folhas de palmeira e um pouco mais levantado na
cumeeira para facilitar a sada de fumaa do fogo. A moblia
consistia geralmente de bancos ou tambores rudimentares,
talvez uma cadeira barata, uma mesa rstica, catres ou, mais
comumente, esteiras para dormir.
Em sua pesquisa, Pierson descobre que os brancos e os mulatos claros ocupavam as
partes altas da cidade, onde os imveis eram mais caros, mais confortveis, mais cmodos e
mais saudveis, enquanto que os pretos e mulatos escuros residiam nas reas baixas, menos
convenientes, menos saudveis, mais afastadas e mais baratas. Assim, as moradias do alto
105
estavam associadas riqueza e aos brancos e as moradias dos vales, pobreza e aos negros.
Pierson detecta tambm uma rea intermediria, onde habitantes das classes superiores e
brancas se encontravam numa ntima proximidade residencial com habitantes das classes
inferiores e negros. Ele cita a avenida Sete de Setembro como exemplo disso, fazendo a
ligao entre os dois mundos. Faz ainda uma classificao dos caracteres fsicos dos
moradores dessa avenida, descrevendo a existncia de 19 famlias de pretos, 97 famlias de
pardos, 128 famlias de brancos, 5 famlias compostas de pardos e brancos e 2 famlias
compostas por pretos e pardos. Pierson pergunta a 142 estudantes brancos se eles se
aborreciam com a presena de vizinhos pretos e obteve 85% de respostas negativas. Pergunta
tambm se eles, estudantes brancos, aborreciam-se com a presena de vizinhos pardos,
obtendo 90% de respostas negativas. Isso o levou a concluir que (ibidem, p. 109):
Assim, embora a Bahia estivesse dividida de modo definido
em classes superiores e inferiores, que ocupavam reas
distintas da cidade, embora estas classes e divises
geogrficas tendessem a corresponder aproximadamente s
divises de cor, podia-se notar algumas excees importantes,
cujo aparecimento indicava antes classe que raa, como base
da organizao social.
Em seguida, Pierson (ibidem, pp. 125-151) dedica-se a reescrever a escravido. Ele
inicialmente mostra as origens dos escravos entrados na Bahia, as caractersticas desses
africanos, a quantidade, as relaes entre o nmero de brancos e o de negros. A seguir,
justifica e humaniza a escravido no Brasil, fazendo desaparecer dela os tumbeiros, o tronco,
o aoite, as torturas, a animalizao e a brutalizao sofridas pelos negros. Para ele (ibidem, p.
125), a escravatura no Brasil caracterizou-se em geral pelo desenvolvimento gradativo e
contnuo de relaes pessoais entre senhor e escravo, relaes que tenderam a humanizar a
instituio e a solapar seu carter formal.
A miscigenao o fenmeno que esse autor abordar logo aps sua anlise da
escravido. Sua viso de que, na falta de mulheres europias, os homens brancos se
relacionavam com as indgenas e negras. Outro fator que, segundo Pierson, contribuiu para a
miscigenao foi o fato de os portugueses estarem familiarizados com populaes de pele
mais escura, primeiro devido invaso rabe em Portugal, por mais de 500 anos e, segundo,
pela importao de escravos africanos para Portugal no sculo XV, o que teria favorecido a
associao dos portugueses acostumados convivncia com povos de cor escura.
106
Dois outros fatores favorveis miscigenao foram, ainda segundo Pierson: 1) o
hbito das famlias baianas de manterem empregadas pretas e mulatas em suas casas, o que
facilitaria ao patro visitas aos aposentos delas, sem contar o costume das unies
extraconjugais em que o homem casado com uma branca mantinha relaes com uma mulata
ou preta fora de casa; 2) a situao dos imigrantes portugueses pobres, que no conseguiam
casamento com mulheres brancas, a maioria delas situadas nas mais altas camadas da
populao, e que tinham, como nica opo as negras (pretas e mulatas), que se
transformavam em valiosas auxiliares, tomando conta da casa, lavando, passando e
cozinhando.
O processo de miscigenao tendia a diluir a linha de cor e o efeito mais evidente seria
a reduo das diferenas fsicas entre as raas. Para Pierson (ibidem, p. 193), portanto, a
miscigenao seria o ponto de partida do processo de superao do preconceito racial entre
ns. Declara ele que assim, por meio de casamentos legalmente constitudos ou por qualquer
outra maneira, a miscigenao estende as relaes pessoais ao ponto de inibir o preconceito de
raa.
O estudo das relaes entre raa e status social foi outro ponto relevante do estudo de
Pierson. Observando os dados estatsticos relativos distribuio racial nos empregos, o autor
confirmou que, nos empregos melhor remunerados, predominava o trabalhador branco, com
alguma penetrao de mulatos claros e raros casos de mulatos escuros; nos empregos
medianamente remunerados, predominavam os mulatos claros; nos empregos de baixa
remunerao, predominavam os trabalhadores pretos. Estendendo suas observaes a outros
aspectos da sociedade baiana da poca, que no o trabalho, ele confirmou, em todos eles, a
dominncia branca. Assim, nos clubes, nas escolas, nos sindicatos, nas igrejas, na poltica, em
suma, em todas as manifestaes sociais observadas, mesmo naquelas onde era grande a
presena de negros (pretos e mulatos), a direo pertencia aos brancos. Nos clubes, os negros
no eram admitidos como scios, nas escolas, eram raros os professores negros, nos
sindicatos, as lideranas eram brancas, nas igrejas, os padres eram geralmente brancos. Na
poltica, Pierson observou que, por ocasio de um ch danante realizado num dos clubes de
Salvador, em homenagem ao presidente Getlio Vargas, e que reuniu 600 pessoas da vida
pblica do Estado, no havia um s negro.
No entanto, ele insiste em afirmar a inexistncia de discriminao racial no Brasil,
considerando as diferenas como sociais. Sua concluso de que o tempo acabaria com as
107
diferenas, na medida em que o negro poderia superar as deficincias herdadas de sua
situao anterior, saindo de sua posio desvantajosa para uma posio de igualdade na livre
competio. Assim, nas palavras de Pierson (ibidem, p. 233):
A atual distribuio a que provavelmente se deve esperar
mesmo numa sociedade de livre competio, considerando-se
a condio de escravido do descendente de africano, sua
posio relativamente desvantajosa ao receber a liberdade, a
consequente limitao das oportunidades para melhorar sua
situao social, e o espao de tempo relativamente curto em
que tem gozado de uma condio de livre competio com os
brancos.
Essa posio do autor parece contraditria, considerando-se a situao racial nas
escolas, tal como ele mesmo a descreve (ibidem, p. 235):
Mesmo na poca da nossa pesquisa, no existia, nas escolas,
segregao de qualquer espcie. Entretanto, os alunos brancos
e mulatos claros predominaram. A participao dos pretos era
limitada e havia uma progressiva eliminao das cores mais
escuras medida que se subia na escala educacional. O
analfabetismo era grande, especialmente entre as classes
inferiores, nas quais, como j vimos, predominavam os
pretos e mulatos.
A contradio est justamente aqui, onde a definio de status atinge a todos os
indivduos de maneira indistinta, enquanto a discriminao racial recai apenas sobre os
indivduos negros. E Pierson (ibidem, p. 249) sabe bem disso, pois afirma que sem dvida,
cor um percalo.
Sobre as religies de tradio afrobrasileira, Pierson identificou trs tipos principais na
Bahia: o gge-nag, de tradio cultural yorub; o congo-angola, de cultura banto; e o
caboclo, que associava componentes indgenas e banto. Alm do aspecto religioso, as
religies de tradio afrobrasileira denominadas candombl, representavam um papel de
resistncia cultural. Resistncia opinio geral dominante da poca, que considerava o
candombl, assim como todas as manifestaes culturais afro, como reveladoras da ignorncia
e do atraso das populaes negras, embora, ainda segundo Pierson alguns brancos, mesmo
das classes superiores, visitassem o pai de santo para pedir conselhos a respeito de negcios,
poltica, e outras questes, ou ajuda na cura e preveno de molstias (ibidem, p. 334).
108
A concluso do estudo de Pierson fica entre a ideologia do branqueamento e a
arianizao progressiva. De acordo em ele (ibidem, pp. 346-358):
O negro, como unidade racial, parece estar gradual, mas
inevitavelmente, desaparecendo assim como tem
desaparecido, na Bahia, e em vrios outros lugares do Brasil o
ndio, antes dele. Em toda a histria brasileira, parece que a
tendncia foi para a absoro gradual pela populao
predominantemente de origem europia, de todos os outros
elementos. (...) A tendncia mais caracterstica de ordem
social baiana tem sido a reduo gradual, mas contnua, de
todas as distines culturais e raciais, e para a fuso biolgica
e cultural do africano e do europeu em uma raa e cultura
comuns.
Por conseguinte, Pierson compreende que o Brasil foi bem sucedido em eliminar as
castas raciais vigentes no perodo da escravido, estabelecendo uma sociedade multirracial
de classes, no existindo, pois, uma linha de cor nas relaes sociais, ou seja, no trabalho, na
religio e nas relaes familiares, o que levaria concluso de que, no Brasil, no poderia
haver discriminao de raa, mas apenas discriminaes de classe (RIBEIRO, op. cit., p. 49).
Os estudos de Luiz Aguiar Costa Pinto fazem parte de um conjunto de pesquisas
patrocinadas pela UNESCO (1955). Na dcada de 1950, realizou-se uma srie de pesquisas no
Brasil sobre as relaes raciais, patrocinadas pela UNESCO. Entre os pesquisadores
envolvidos, encontravam-se Thales de Azevedo, Marvin Harris, Charles Wagley, Harry
William Hutchinson, Virginia Bicudo, Aniela Ginsberg, Benjamin Zimmerman, Ren Ribeiro,
Roger Bastide, Oracy Nogueira, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Octavio
Ianni
53
.
Costa Pinto nasceu em Salvador, em 6 de fevereiro de 1920; seu av foi um senador e
seu pai era proprietrio de engenhos no Recncavo baiano, alm de mdico que havia
trabalhado com Nina Rodrigues na Faculdade de Medicina da Bahia. Em 1937, Costa Pinto,
mudou-se com a me e dois irmos para o Rio de Janeiro, devido morte do pai. Na antiga
capital federal, preparou-se para a Faculdade de Direito, envolvendo-se no movimento
estudantil e militando na Juventude Comunista. Inicialmente, Pinto aponta as falhas em meio
s quais se debatiam as propostas de estudo sobre o negro no Brasil. Para ele (PINTO, 1953, p.
21):
53
Projeto UNESCO no Brasil, CEAO (Centro de Estudos Afro-orientais). Disponvel em:
http://www.ceao.ufba.br/unesco/txt01.htm
109
O negro africano, escravo, ignorante, servil e malandro,
cmico e extico, preso ao branco por laos de dependncia
imediata e pessoal, dele remotamente afastado por distncias
sociais, fsicas e econmicas e parecendo to misterioso em
conseqncia das distncias culturais que os separavam era a
entidade consciente ou inconscientemente considerada na fase
afro-brasileira desses estudos.
O discurso de Pinto nega a existncia do negro enquanto ser tnico/cultural, presente
nos estudos culturalistas, defendendo o negro como uma identidade singular no interior da
formao social brasileira. Em suas palavras (ibidem, p. 26):
O negro brasileiro, ou melhor, o brasileiro negro e o processo
de sua integrao nos quadros da sociedade brasileira da
condio de escravo de proletrio e da condio de
proletrio de negro de classe mdia, jamais despertou o
interesse srio dos estudiosos do negro no Brasil.
Partindo dessa perspectiva, Pinto (ibidem, p. 33) procurou construir a proposta que
orientou e direcionou seu trabalho. O fenmeno tnico mascarava, para ele, uma questo que
fundamentalmente poltica, ideolgica e econmica. As questes das relaes de raas so,
na verdade, questes de relaes de classes. Para tanto, ele utilizou os dados do
recenseamento de 1940, fazendo uma decomposio da ocupao da cidade do Rio de Janeiro,
a fim de descobrir como os negros se inseriam socialmente, considerando idade e sexo.
Procurou verificar as possibilidades de ascenso social oferecidas aos negros, as barreiras
impostas e as relaes que se estabeleciam com o branco.
A concluso a que chegou Pinto foi a de que aos negros estavam reservadas as
atividades econmicas menos valorizadas e as piores condies de residncia e moradia.
Segundo ele (ibidem, p. 142), nas zonas mais deterioradas do mapa urbano que os grupos
de cor encontram o nicho onde se instalam e vivem, paralelamente ao nvel das posies
sociais mais subalternas, que foram os mais altos que lograram atingir na escala social.
Quanto escolaridade, Pinto constatou que aos negros eram vedadas as possibilidades
que poderiam ser abertas pela educao escolar. A populao negra revelava altos ndices de
analfabetismo, ndices baixssimos de escolaridade mdia e ndices desprezveis de
escolaridade superior. O pressuposto desse autor de que, devido aos negros ocuparem
posies inferiores na estrutura social, eles no tinham acesso educao escolar. Segundo
Pinto, com a expanso das oportunidades educacionais e sua extenso aos negros, estes iriam
110
adquirir instrumentos necessrios para analisar suas posies sociais, compreendendo as
contradies da sociedade, expondo e defendendo seus direitos. Afirma ele (ibidem, p. 165):
Se por causa da educao, e precisamente por causa dela,
esto se formando elites negras insatisfeitas na sociedade
brasileira que algo mais profundo e estrutural est em
jogo. No dia em que as massas de cor tomarem conscincia
disso ter comeo a fase mais aguda e decisiva do problema
das relaes de raas neste Pas.
Pinto via as Associaes Negras como expresses de uma tomada de conscincia dos
problemas relativos aos interesses dos negros em processo de ascenso social. Tais
associaes eram, em sua opinio, de dois tipos distintos: as associaes tradicionais e as
associaes de novo tipo, sendo as primeiras religiosas, como as Irmandades catlicas de
negros e a umbanda, e recreativas, como as Escolas de samba. J as associaes de novo
tipo eram as organizaes negras surgidas na dcada de 1930, ligadas s transformaes
econmicas, polticas e culturais que o Brasil ento experimentava. Exemplo dessas
associaes eram o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento, e a
Unio dos Homens de Cor. As associaes de novo tipo estavam identificadas com a idia
de negritude, o que, na opinio de Pinto (ibidem, p. 333) , em suma, um racismo s
avessas.
Em meu entender, Pinto desconhecia o fato de que, como bem coloca Appiah (1997, p.
23) a ngritude comea pela suposio da solidariedade racial dos negros. (...) Ngritude,
nesse contexto, no se refere simplesmente condio de ser negro, mas a um movimento
muito especfico, historicamente situado. O que se percebe , pois, uma resistncia por parte
de Pinto em aceitar as lideranas negras que buscavam organizar a populao negra brasileira,
em torno da negritude, afirmando a excelncia do negro, os valores, a cultura, a liberdade, a
igualdade e a justia. Numa leitura pautada pelo imaginrio, pode-se observar que esse
mesmo autor, pelo fato de recorrer noo de luta de classes, em voga na literatura de
tradio marxista, coloca-se numa posio reducionista, disjuntiva. Ao faz-lo, Pinto adere a
um imaginrio do tipo diurno, no interior do qual o conflito seria a mola propulsora da
soluo do problema, sendo que cada lado envolvido o branco e o negro terminaria por
ver o outro, a diferena, como o monstro devorante a ser combatido e abatido.
Florestan Fernandes (1978), por sua vez, realizou um estudo da formao,
consolidao e expanso do regime de classes sociais no Brasil, a partir das relaes raciais e
111
da absoro do negro por este regime. O universo de sua pesquisa foi So Paulo, escolha
justificada por ele pelo fato de permitir uma melhor observao das conexes entre a
desagregao do regime servil, a expulso do negro do sistema de relaes de produo e o
desenvolvimento da revoluo burguesa. O trabalho de Fernandes aborda, na primeira parte, o
perodo de 1880 a 1930, e trata especificamente de a desagregao do regime escravista e da
emergncia da nova ordem social. A segunda parte da obra examina o perodo de 1930 a
1960, abordando a expanso do regime de classes capitalista.
Fernandes (1978, p. 20) apresenta inicialmente as questes da desagregao do regime
escravocrata, a qual abandonou o negro ao seu prprio destino posteriormente abolio da
escravatura, quando estabeleceu-se a competio do primeiro com o imigrante pelo mesmo
mercado de trabalho. O argumento utilizado foi de que o negro possua uma inadequao ao
novo sistema de trabalho, ao passo que o imigrante estava integrado ao sistema j existente
em seu pas de origem. A inadequao do negro ao trabalho assalariado foi, contudo, superada
sempre que as condies do mercado de trabalho assim o exigiram. Segundo Fernandes
(ibidem, p. 34):
em algumas regies em decadncia econmica ou com falta de
braos, a transio se operou quase sem comodaes, os
antigos escravos conservaram-se trabalhando nas fazendas
como assalariados, com exceo de alguns (em geral
artesos), que se deslocavam para cidades prximas.
Tal afirmao revela uma contradio com a premissa inicial de que os negros no
estavam preparados para o trabalho assalariado, pois onde no havia grandes contingentes de
imigrantes, as relaes de produo foram reorganizadas com o aproveitamento de negros. Se
a discriminao era justificada pela inferioridade do negro nas teorias evolucionistas, agora
uma suposta inferioridade nas qualidades exigidas pela nova forma de organizao de
produo era a justificativa para a excluso do negro do mercado de trabalho formal. Ainda
para Fernandes (ibidem, p. 158), porm, a grande massa da populao de cor no tinha
oportunidade para reeducar-se para o gnero de trabalho, a tica e o estilo de vida do
trabalhador livre. Desse modo, as nicas oportunidades de ocupao para os negros eram
aquelas de baixa remunerao e pouco valorizadas socialmente.
Essa desorganizao social, aliada inexistncia da estrutura familiar, levou a
populao negra ao desemprego, ao alcoolismo, mendicncia, vagabundagem,
prostituio, criminalidade e ao abandono do menor e do idoso (ibidem, pp. 172-215). A fim
112
de suportarem tal situao de marginalidade, os negros descarregavam no lcool as tenses
que, sem este, certamente explodiriam. Os fatores da desorganizao e da incapacidade de
integrao do negro estavam concentrados na rea das relaes sexuais e da escolarizao.
Sobre a questo sexual, Fernandes v o problema na famlia negra, na maioria das vezes
uma famlia incompleta pela ausncia do pai, o que prejudicava o equilbrio do grupo,
deformando os papis. Nesse sentido, as famlias negras encontravam-se incapacitadas de
prepararem os jovens para enfrentarem eficientemente os ajustes sexuais. No dizer de
Fernandes (ibidem, pp. 217-218):
Interessa-nos muito mais saber por que, fora ou acima dessas
contingncias, a sexualidade do negro e do mulato mostrava-
se to rebelde regulamentao exterior. (...) O Joo Ningum
sentia-se gente: encontrava quem o amasse gratuitamente,
pelo prazer do amor; a mulher ressentida e amargurada: via-se
como a rainha de um corao. A aventura retemperava a
confiana em si, distendia frustraes, projetava a criatura na
posse da condio humana, abrindo-lhe perspectivas de
encontrar alguma coisa que valesse a pena numa vida de
privaes, vazia e sem sentido.
Quanto escolarizao, para Fernandes, os pais negros desconheciam a utilidade das
escolas. A educao informal a que estavam expostas as crianas negras, se as tornava mais
espertas para a experincia do que as crianas brancas, por outro lado no as preparava para o
exerccio de uma profisso ou de um ofcio. Isso sem levar em conta que esse contexto ainda
tornava os negros apticos, como alude Fernandes (ibidem, p. 233):
Desse prisma, a apatia aparece como uma condio dinmica,
como uma escolha que envolvia a predisposio de fazer
corpo mole at o fim. O que significa, em outras palavras,
usar deliberadamente a nica forma de resistncia e de
comportamento adaptativo voluntrio que estava ao alcance
do negro.
Finalizando a primeira parte de seu trabalho, Fernandes discute o mito da democracia
racial. Ele constata que esse mito indica o segmento negro como causador de sua situao
econmica e social subordinada, a qual seria derivada de sua incompetncia e de sua
irresponsabilidade, isentando assim a populao branca de qualquer responsabilidade ou
solidariedade em relao primeira. Fernandes verifica no mito da democracia racial uma
expresso da conscincia alienada da realidade brasileira, a mesma que, segundo ele (ibidem,
p. 256), suscitaria:
113
todo um elenco de convices etnocntricas: 1) a idia de que
negro no tem problemas no Brasil; 2) no existem
distines raciais entre ns; 3) a idia de que as
oportunidades de acumulao de riqueza, de prestgio social e
de poder foram indistinta e igualmente acessveis a todos,
durante a expanso urbana e industrial de So Paulo; 4) a
idia de que o preto est satisfeito com sua condio social e
estilo de vida em So Paulo; 5) a idia de que no existe,
nunca existiu, nem existir outro problema de justia social
com referncia ao negro, excetuando-se o que foi resolvido
pela revogao do estatuto servil e pela universalizao da
cidadania.
Nessa esteira, Florestan Fernandes afirma que as pessoas de cor no se libertaram da
condio inerente antiga condio do escravo e do criado da casa, que teriam no preto
o seu equivalente social. Esse termo, preto, estaria selecionando a cor como marca para
distinguir um estoque racial e uma categoria social marginalizada. Alm disso, a insero
tardia de pretos e mulatos na sociedade de classes em emergncia no permitiu que estes
partilhassem relaes de classes tpicas, entre si e com os brancos. A forma de acomodao
racial que se estabeleceu foi, portanto, a herdada do passado tradicionalista e patrimonialista
do regime escravista. Esse padro assimtrico de relao racial seria responsvel pela natureza
de certos efeitos psicossociais.
Embora ressalte vrios aspectos das relaes entre negros e brancos, o mesmo autor
examina os aspectos ideolgicos que permeiam essas relaes, partindo da afirmao de
que a ideologia racial imperante em So Paulo era, de forma tpica, a ideologia de uma
sociedade estratificada racialmente (ibidem, pp. 316-317). Tal ideologia racial florescia
enquanto se implantava a ordem social competitiva no mundo que os brancos construam para
si mesmos.
A questo da ideologia racial foi desenvolvida num segundo volume, o qual que
Fernandes inicia estudando as manifestaes e objetivos dos movimentos sociais negros. A
populao negra reagia a esse quadro social organizando-se em associaes, atividades
polticas e numa imprensa alternativa. Tais associaes operavam com trs funes principais:
1. a de difundir a importncia da educao para o negro; 2. a de atuar em grupo como forma
de presso; 3. a de no identificar o negro que sobe como ligado aos valores dos brancos.
Os movimentos sociais de negros desempenharam, na viso desse autor, o papel de caminho
ou mediador de integrao do negro sociedade de classes. Iniciativas como a Frente Negra
114
Brasileira representavam a canalizao de ressentimentos, frustraes e esperanas,
despertando entusiasmo e atraindo seguidores. Fernandes (vol. II, 1978, p. 83) relata que:
os movimentos reivindicatrios tambm provocaram uma
reavaliao moral interna do negro como e enquanto tal.
Apresentaram uma nova medida da capacidade criadora do
negro, incluindo em sua esfera de conscincia social e
convico de que to capaz quanto o branco e, pelo menos,
suficientemente apto para enfrentar e resolver os dilemas com
que se defronta.
Em seguida, Fernandes concentra-se em trs questes por ele consideradas
fundamentais: a natureza da ideologia racial; os contedos e a orientao das formulaes
ideolgicas; e as funes dessas formulaes. Em suas palavras (ibidem, pp. 93-94):
A ideologia negra forma-se como uma rplica ideologia
racial tradicionalista. De ngulo positivo ela representa o
produto dinmico da absoro de valores em que se assentava
a ordem legal (e, por conseguinte, o prprio estilo de vida dos
brancos) pelo negro. Na polarizao negativa, ela traduz a
repulsa do negro duplicidade de uma ordem social que lhe
parecia aberta num plano, mas fechada noutro. (...) Sob todos
os aspectos, estamos diante de uma contra-ideologia,
construda para minorar as frustraes psicossociais de uma
categoria racial e, eventualmente, para auxili-la na luta direta
pela modificao rpida do status quo.
Alm disso, Fernandes identifica duas funes manifestas principais e trs funes
latentes fundamentais das formulaes ideolgicas dos protestos negros. Nas funes
manifestas, a contraideologia negra concorria para desmascarar as racionalizaes
consagradas pela ideologia racial dominante, evidenciando assim os efeitos reais da
desigualdade racial vigente, ao mesmo tempo em que unificava a percepo e a explicao na
realidade em que vivia a populao negra. No terreno das funes latentes, a contraideologia
contribua para ajustar o horizonte cultural do negro realidade da sociedade de classes, para
difundir entre a populao negra impulses igualitrias de participao e integrao e para
eliminar a herana deixada pelo antigo regime.
Encerrando esse captulo, Fernandes (ibidem, p. 114) levanta a questo de por que os
movimentos sociais reivindicatrios no vingaram nem mesmo no meio negro,
respondendo-a, ele prprio, em seguida (ibidem, pp. 14-115):
115
Na imagem que se construam da sociedade brasileira os
brancos no s se representavam, inapelavelmente, como
raa dominante; teimavam, ainda, em no reconhecer a
legitimidade da autonomia de minorias tnicas ou raciais e
repeliam qualquer aspirao igualitria que estas definissem
com esse carter, como categoria tnica ou racial.
No capitulo II, denominado Impulses Igualitrias de Integrao Social, Florestan
Fernandes estuda as transformaes que ocorrem nas relaes raciais, ao longo do processo de
proletarizao da populao de cor da cidade de So Paulo, com a penetrao mais intensa
do negro e do mulato no mercado de trabalho, que assim conseguem atingir padres de vida
mais elevados. Entre algumas obviedades, esse autor constata que praticamente nula a
participao do negro como empregador, concentrando-se essa populao, em sua grande
maioria, na posio de empregados. Ele descobre tambm que muito alta a proporo de
negros ocupados em servios domsticos e que uma parcela considervel dessa mesma
populao ocupa posies perifricas e marginais. Alm disso, ele admite a existncia de
dificuldades estruturais para a insero do negro ao trabalho livre, j que os negros
compartilhavam atitudes e comportamentos na maioria das vezes incompatveis com os
exigidos pela sociedade de classes. Fernandes aponta trs fontes de dificuldades para que essa
insero ocorra. Primeira dificuldade, a estereotipao negativa, pois, nas avaliaes dos
empregadores, havia um favorecimento aos candidatos brancos, diminuindo assim
possibilidades de acesso dos negros a melhores empregos. Segunda, a socializao prvia,
pois os negros tinham dificuldade de dominar as tcnicas sociais do trabalho livre da
empresa moderna (ibidem, p. 147). Por ltimo, toda uma srie de manifestaes que se
vinculam aos contedos do horizonte cultural rstico ou ao padro tradicionalista de relaes
com o branco (ibidem, p. 148).
Paralelamente a estes fatores negativos, Fernandes ainda aponta outros, positivos, que
ajudam a modificar o quadro ocupacional e encaminham a uma redefinio das relaes entre
cor e estratificao socioeconmica. O principal deles, apontado pelo autor, diz respeito
escassez generalizada de mo-de-obra. Outra influncia positiva, segundo Fernandes (ibidem,
154), estaria na reeducao do negro pois, ao se reeducar para o sistema de trabalho livre, o
negro repudia sua herana cultural rstica e o nus que ela envolvia.
Todas essas posies de Fernandes so extremamente discutveis. Primeiramente
porque denominar a herana cultural dos negros como rstica envolve um juzo de valor, e
um juzo preconceituoso. Em segundo lugar, porque afirmar que os negros repudiam sua
116
herana cultural ao se reeducarem, no passa de uma opinio pessoal sem qualquer
fundamento concreto. Em suma, para Florestan Fernandes, a ascenso social dos negros est
resumida num nico caminho: tornarem-se brancos. Escreve o autor que graas a esta
varivel, a aceitao do negro que sobe condicionada pelo reconhecimento explcito de
algo equivalente a uma espcie de branqueamento social (ibidem, p. 260). A mesma posio
de Fernandes (ibidem, p. 304) reaparece mais frente, quando ele afirma que o trao mais
homogneo do negro que sobe consiste no repdio do padro de vida tradicional do preto.
No captulo III, o derradeiro de sua obra, Fernandes analisa o preconceito de cor tal
como ele interpretado e sentido por brancos e negros. Os dados foram colhidos em diversas
entrevistas com brancos e negros de vrios estratos sociais. Das explicaes tpicas fornecidas
pelo branco, h aquelas imputadas aos negros e as que so imputadas aos brancos. Das
explicaes para o preconceito de cor fornecidas pelo negro, h as que colocam a culpa no
branco e as que colocam a culpa no negro, e ainda explicaes que imputam o preconceito de
cor simultaneamente ao branco e ao negro.
Dos brancos culpando os negros (ibidem, p. 425):
1) os negros so culpados, pois agem servilmente, como se
ainda fossem escravos; 2) eles no so aceitos por causa da
cor; 3) uma raa degenerada; 4) o preconceito nasce da
falta de educao do preto; 5) os pretos no so inferiores,
mas sentem que a cor os torna inferiores; 6) eles so tratados
assim por causa das condies em que vivem; 7) o que
chamam de preconceito uma preveno do negro contra o
branco.
Dos brancos culpando os brancos (ibidem, pp. 425-426):
1) os brancos desprezam os pretos e no gostam deles; 2)
os pretos so mal vistos pelos brancos; 3) os brancos no
do oportunidades aos pretos; 4) falta de educao do
branco; 5) coisa de branco rico imitada pelo branco pobre;
6) o que vale o dinheiro; 7) isso veio de fora. coisa dos
imigrantes; 8) imitao dos norte-americanos.
Dos negros culpando os brancos (ibidem, p. 426):
1) o preconceito de cor uma arma de defesa do branco; 2)
o preconceito explica-se pelo orgulho dos antigos senhores e
pelo dio que eles devotam ao negro; 3) um preconceito
artificial nascido de preveno trazida com os imigrantes; 4)
117
imitao dos Estados Unidos, favorecida pelo dio existente
contra os negros entre os brancos; 5) nasce da hipocrisia do
branco; 6) produto do atraso e da falta de educao dos
brancos.
Dos negros culpando os negros (ibidem, p. 426):
1) a culpa do negro, que no sabe fazer as coisas e
comportar-se direito; 2) o negro responsvel como vtima,
porque no se insurge contra as manobras dos brancos; 3) o
preconceito de cor se explica pelos recalques do negro.
Dos negros culpando simultaneamente brancos e negros (ibidem, pp. 426-427):
1) um preconceito de classe, pois a cor indica a
inferioridade econmica e social do negro diante do branco;
2) o negro foi escravo do branco e nunca teve recursos
comparveis aos dos imigrantes. A abolio deu-lhe liberdade,
mas no independncia econmica e social. Continuou como
antes, uma vtima inerme dos esteretipos que o degradavam
como indivduos, como pessoas e como raa; 3) a raa
branca criou para si o conceito de superioridade e para a raa
negra o conceito de inferioridade. Ao aceitar os dois
conceitos, o negro sancionou a cor como marca da
superioridade da raa branca e da inferioridade da raa negra;
4) o preconceito existe porque o branco nunca deixou o negro
conquistar verdadeira igualdade de direitos; 5) um
preconceito misto de raa e de classe. No s de raa porque
h brancos que aceitam negro. No s de classe, porque
certas restries atingem todos os negros, mesmo os ricos.
Como preconceito misto, um preconceito de cor; 6) os
brancos eliminaram os negros de sua vida e se acostumaram a
viver isolados deles. Agora, os negros pensam que esto
proibidos de comparecer a certos lugares.
O que no me possvel perceber, baseado nos trechos aqui transcritos, a concluso
a que chega Fernandes (ibidem, p. 434) de que o preconceito de cor se manifesta de forma
discreta, velada e morna. Nessa mesma concluso, Fernandes (ibidem, pp. 441-445) passa
para aos dois ltimos temas de sua obra: as funes manifestas e as funes latentes do
preconceito de cor. As funes manifestas nada mais so do que opinies compartilhadas,
que definem aspectos da situao racial, sob a tica de cada grupo envolvido. Umas so
repeties de anteriores, como o caso entre manter o negro em seu lugar, manter o negro
na linha, desenvolver tolerncia e passividade e ajustar o negro psicolgica, social e
moralmente. As funes latentes surgem como variaes das funes manifestas, ou
subfunes. Desse modo, Fernandes constri os contedos de sua concluso. Ele trabalha com
118
um modelo ideal de ordem social competitiva, cujo desempenho pleno obstrudo pela
herana das relaes raciais tradicionalistas da sociedade escravista. Segundo ele (ibidem, p.
460), o dilema racial brasileiro constitui um fenmeno social de natureza socioptica e s
poder ser corrigido atravs de processos que removam a obstruo introduzida na ordem
social competitiva pela desigualdade racial. Em suma, desobstruindo-se o livre
desenvolvimento da ordem social competitiva, ela, por si s, por seus mecanismos racionais
de livre competio, segundo Florestan Fernandes, eliminaria o problema da desigualdade
racial, da discriminao e do preconceito de cor.
SUBVERSO EPISTEMOLGICA NOS ESTUDOS SOBRE O NEGRO
Esta quarta vertente, a qual se constitui como sendo da produo cultural negra, com
nfase nas questes religiosas e de identidade, abrangente, pois caracteriza-se pelo
rompimento com vises universalizadoras da humanidade, sendo modelada por estudos que
valorizam exatamente a diversidade e as diferenas. Por esse motivo, afirmo que ela possui
proximidade com as hermenuticas instauradoras.
Alberto Guerreiro Ramos baiano de Santo Amaro da Purificao, nascido no dia 13
de setembro de 1915. Negro e de famlia pobre, passou a infncia em vrias cidades que
margeavam o rio So Francisco (Januria, Pirapora, Petrolina e Juazeiro). Trabalhou desde os
onze anos, inicialmente como lavador de frascos em uma farmcia, em seguida como
caixeiro. Fez o curso secundrio no Ginsio da Bahia e, na mesma poca, dava aulas
particulares para ajudar no oramento familiar. Aos 17 anos, j escrevia no jornal O
Imparcial, e em revistas literrias de Salvador. Publicou dois livros na Bahia: O Drama de
Ser Dois e Introduo Cultura. Em 1939, ganhou uma bolsa de estudos do governo da
Bahia, mudando-se para o Rio de Janeiro a fim de cursar Cincias Sociais. Foi aluno da
primeira turma de Cincias Sociais da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do
Brasil
54
, fundada em 1939, sendo ento colega de turma de seu conterrneo Costa Pinto.
Em 1942, Guerreiro Ramos disputou as cadeiras de Sociologia e de Cincia Poltica na
Faculdade Nacional de Cincias Econmicas da Universidade do Brasil, sendo preterido nos
dois cargos. Infelizmente sua carreira acadmica foi prejudicada, tornando-se ele, em 1943,
54
A Universidade do Brasil foi um projeto do Ministro da Educao, Gustavo Capanema, surgido partir da
Universidade do Distrito Federal, projeto de Ansio Teixeira, e que havia sido extinta em 1935.
119
tcnico de administrao do Departamento de Administrao do Servio Pblico. Na Revista
do Servio Pblico, encontram-se artigos de Guerreiro Ramos, com anlises sociolgicas do
pensamento de Max Weber e Mannheim, entre outros. Em 1949, ele iniciaria sua militncia
no TEN Teatro Experimental do Negro.
O TEN Teatro Experimental do Negro (Abdias do NASCIMENTO, 2004) foi
fundado em 1944 com o objetivo de resgatar os valores da pessoa humana e da cultura negro-
africana, propondo-se a combater o racismo atravs da arte e da educao. Foi fundado por
Abdias do Nascimento, que tinha inicialmente como companheiros o advogado Aguinaldo de
Oliveira Camargo, o pintor Wilson Tibrio, Teodorico dos Santos, Jos Herbel, Sebastio
Rodrigues Alves, as empregadas domsticas Arinda Serafim, Marina Gonalves e Ruth de
Souza, e muitos outros. Os militantes do TEN eram recrutados entre empregados domsticos,
favelados, operrios e modestos funcionrios pblicos, chegando o grupo a reunir seiscentas
pessoas, inscritas em seu curso de alfabetizao. Em 1950, o TEN organizou o I Congresso do
Negro Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, cujo resultado foi publicado por Abdias do
Nascimento, O Negro Revoltado (1982). O TEN foi perseguido pelo regime militar, tendo seu
projeto sido interrompido.
Guerreiro Ramos organizou o concurso do Cristo Negro em 1955; alm do concurso
Rainha das Mulatas e um concurso de bonecas negras, denominado Boneca de Pixe, estes
ltimos entendidos por ele como instrumentos pedaggicos que teriam por objetivo realar a
beleza da mulher negra, educando assim o gosto esttico da populao. Organizou tambm o
jornal Quilombo: vida, problemas e aspiraes do negro, o qual trazia reportagens relativas
comunidade negra, entre os anos de 1948 a 1951. Em 1968, lanou, no Museu da Imagem e
do Som, a exposio Museu de Arte Negra. Os primeiros estudos de Guerreiro Ramos sobre
as relaes raciais ocorreram em cursos e trabalhos que ele desenvolveu no Departamento de
Administrao do Servio Pblico, notando-se a a influncia da sociologia americana,
especificamente de Pierson.
Inicialmente Guerreiro Ramos defendeu que o preconceito no Brasil era mais de
natureza econmica e cultural do que racial, evidenciando sua influncia da Escola
Sociolgica de Chicago. No entanto, com a militncia no Teatro Experimental do Negro, que
tinha como referncia a Frente Negra Brasileira que procurava estabelecer um novo patamar
social para os negros, levou Guerreiro Ramos a defender a ideia de que o preconceito em
120
relao ao negro no Brasil era de cor e no de raa, ou seja, no existia um sistema de castas
no Brasil, sendo que a preocupao principal dos negros era a ascenso scio-cultural.
Para Guerreiro Ramos (apud MAIO, 1997), o melhor caminho para os negros
atingirem o padro de comportamento das elites dominantes seria" transformar a luta de
classe num processo de cooperao, [...] num fator de equilbrio e de compreenso social
[...]". Ou seja, os negros deveriam criar uma cooperativa ou um grupo terpico, com a
finalidade de resgatar a pessoa humana. Escreve Maio (ibidem) que:
Nesse sentido, o Teatro Experimental do Negro era um
instrumento de valorizao, de integrao dos negros
nacionalidade em face das marcas ainda presentes do passado
escravocrata, associado aos efeitos perversos da modernizao
capitalista. O uso do psicodrama e do sociodrama so
indicadores precisos da secularizao do catolicismo de
Guerreiro Ramos na virada dos anos 40, inspirado agora no
socilogo e psicoterapeuta austraco, radicado nos EUA, Jacob
L. Moreno. A psicologia social to em voga no ps-guerra,
diante do esforo de tornar inteligvel o genocdio nazista,
deveria ser a marca de distino do movimento negro.
Para Guerreiro Ramos, o TEN deveria formar uma intelligentsia, imbudos que
estavam seus participantes de uma espiritualidade e uma misso. Essa intelligentsia
elaboraria, juntamente com os brancos, uma poltica de democracia racial para o mundo, pois
o Brasil era o nico pas em condies de oferecer ao mundo uma soluo adequada em
matria de relaes raciais. De acordo com Munanga (op. cit., p. 102), a crtica de Guerreiro
Ramos poltica e ideologia do branqueamento deve-se ao fato desta ter exercido uma
presso psicolgica muito forte sobre os negros, o que os teria levado a se alienarem de suas
identidades, transformando-se, cultural e fisicamente, em brancos. So vrios os exemplos de
mestios que anularam seu lado negro, atingidos que foram pela esttica da brancura.
Guerreiro Ramos fez tambm uma crtica profunda s Cincias Sociais que praticavam no
Brasil, pois estas viam os negros atravs de lentes deformadas. Segundo Maio (Guerreiro
Ramos, 1957, 128 apud MAIO, op. cit.):
interessante observar que parte dos cientistas sociais
criticados por Guerreiro Ramos pertencia ao projeto
patrocinado pela UNESCO sobre relaes raciais no Brasil.
Este projeto suscitou uma interessante confluncia dos
propsitos da UNESCO com a presena de um grupo de
pesquisadores brasileiros e estrangeiros que chegavam, em
graus variados, maturidade intelectual e profissional,
possibilitando, no contexto de democratizao do pas vivido
121
entre 1946-1964, o surgimento de novas interpretaes sobre
as relaes raciais no Brasil e, especialmente, a revelao da
discriminao racial em diversos nveis, frustrando, em parte,
a expectativa inicial da UNESCO. (...) Na verdade, Guerreiro
Ramos coloca-se na contramo do padro de
institucionalizao das cincias sociais vigente no Brasil
poca. Afinal, esse padro via o negro como objeto de estudo
e, portanto, no tinha interesse algum em "transformar a
condio humana do negro na sociedade brasileira [...]".
A analisar o pensamento de Guerreiro Ramos, Ribeiro (op. cit., pp. 153-154), afirma
que este crtica a sociologia feita no Brasil por consider-la uma agresso aos negros. Nela, o
negro apresentado como um ser mumificado e extico. Para ele, responsabilizar
totalmente o negro por sua condio econmico-social um reducionismo. De acordo com
Guerreiro Ramos (ibidem, p. 155), no estamos aqui apregoando que os estudos sobre o
negro devem ficar fora do campo da cincia, estamos ponderando que qualquer estudo que
desconsidera os problemas vividos pelos negros em favor de quaisquer outros elementos
reducionista.
O problema da no-aceitao dos negros d-se no momento em que estes tm a
ousadia de entrar no mundo da superestrutura. Para Guerreiro Ramos (apud Luiz Alberto
Oliveira GONALVES, 2004, p. 18):
nesse momento (...) que ns, negros, somos obrigados a
conhecer a dolorosa experincia da discriminao racial. Para
viver no mundo acadmico, no mundo da produo do
conhecimento cientfico, os negros tm de aprender a
manipular os mecanismos que regulam as relaes de
competio estabelecidas por nossa sociedade desigual.
As principais obras de Guerreiro Ramos so O Drama de Ser Dois (1937);
Sociologia Industrial (1951); Cartilha Brasileira do Aprendiz de Sociologia (1955);
Condies Sociais do Poder Nacional (1957); O Problema Nacional do Brasil (1960); A
Crise do Poder no Brasil (1961); Mito e Realidade na Revoluo Brasileira (1963); A
Reduo Sociolgica (1964); Administrao e Estratgia de Desenvolvimento (1966); A
Nova Cincia das Organizaes (1981). Ao realizar critica aos acadmicos que estudavam o
negro no Brasil, questionando todas as anlises que procuravam algo especfico ao negro,
Guerreiro Ramos compreende que esses antroplogos e socilogos no levavam em conta que
vivemos numa sociedade europeizada, cujo ideal valorativo seria o branco europeu,
desconsiderando que o negro, alm do fato de ter a cor da pele mais escura, possua
122
decorrncias psicolgicas da existncia desta cor em uma sociedade colonial racista. Em suas
palavras (GUERREIRO RAMOS, 1995, p. 215):
H o tema do negro e h a vida do negro. Como tema, o negro
tem sido, entre ns, objeto de escalpelao perpetrada por
literatos e pelos chamados antroplogos e socilogos.
Como vida ou realidade efetiva, o negro vem assumido o seu
destino, vem se fazendo a si prprio, segundo lhe tm
permitido as condies particulares da sociedade brasileira.
Mas uma coisa o negro-tema; outra, o negro-vida. O negro-
tema uma coisa examinada, olhada, vista, ora como ser
mumificado, ora como ser curioso, ou de qualquer modo como
um risco, um trao da realidade nacional que chama a ateno.
O negro-vida , entretanto, algo que no se deixa imobilizar;
despistador, proftico, multiforme, do qual, na verdade, no se
pode dar verso definitiva, pois hoje o que no era ontem e
ser amanh o que no hoje.
A condio tnica do negro brasileiro deriva de pertencer ao grupo majoritrio no pas,
mas cuja identidade social foi dada pelo branco brasileiro. O negro no Brasil no possui
cultura, nem religio, nem lngua, nem territrio, identificando-se perfeitamente com os
brancos na cultura, na religio e no territrio, contudo sendo visto como diferente. A sada,
para Guerreiro Ramos, dessa situao seria considerar o negro como um elemento normal
da populao brasileira, como povo brasileiro, para alm de sua condio tnica. Ou seja, a
condio negra no uma existncia racial objetiva, sendo negra um termo que refere
uma identidade construda socialmente pelos brancos, compreendida como impossibilitada de
alcanar a humanidade. Por isso, Guerreiro Ramos procura um enfoque humanista sobre o
negro, destacando o problema psicolgico e a esttica como enfoques analticos que
solucionariam os problemas relativos questo tnico-racial.
No perodo republicano brasileiro, os negros se reuniram num movimento poltico-
social pela primeira vez na Frente Negra Brasileira, fundada em 16 de setembro de 1931, no
bairro da Liberdade, em So Paulo, mas que se desenvolveu rapidamente, criando ncleos em
vrios estados (Mrcio BARBOSA, 1998). A Frente Negra Brasileira criou um jornal, A
Voz da Raa, mdia que difundia seus ideais. Os membros possuam carteira de
identificao, com duas fotografias (de frente e de perfil), e eram instrudos numa formao
bem rgida. Essa entidade do movimento negro obteve conquistas. Entre elas est a de que no
se aceitavam negros na Fora Pblica de So Paulo, at que a Frente Negra inscreveu 400
membros, conseguindo que muitos deles fizessem carreira militar (ibidem).
123
Com suas conquistas, em 1936, a Frente Negra decidiu se transformar em partido
poltico, j que possua todas as condies exigidas pela Justia Eleitoral para isso. Com o
golpe de Estado deflagrado por Getlio Vargas em 1937, cassando os partidos polticos, a
Frente Negra se dissolveu (ibidem). Os membros procuraram dar continuidade entidade,
mudando seu nome para Unio Negra Brasileira, mas a represso s associaes e a censura
aos rgos de imprensa fez com que o jornal A Voz da Raa deixasse de circular, e a Unio
foi desfeita em 1938 (ibidem). Os negros que fizeram parte da Frente Negra voltaram a se
reunir na dcada de 1940 e, em 1944, foi fundado, por Abdias do Nascimento, a Teatro
Experimental do Negro - TEN, ao qual j referimos aqui. Nesse mesmo perodo, as idias do
movimento literrio L Ngritude chegavam ao Brasil.
Em 1934, na Frana, Lopold Sedar Snghor, juntamente com Aim Csaire e outros,
fundaram a revista LEtudiant Noir, com objetivo de unir estudantes martiniqueses,
guadalupenses, guianos, africanos, malgaches etc em torno de ideias e ideais comuns. A
Frana das dcadas de 1930 e 1940 mantinha muitos imigrantes africanos e antilheses, todos
eles registrados como negros, e no por suas nacionalidades. Foi na revista LEtudiant
Noir que Csaire usou o termo ngritude pela primeira vez. Segundo Appiah, (op. cit., p.
23):
A tradio em que se pautavam os intelectuais francfonos da
era ps-guerra, fosse ela articulada por Aim Csaire, do
Novo Mundo, ou Lopold Senghor, do Velho, partilhava da
viso europia e norte-americana da raa. Tal como o pan-
africanismo, a ngritude comea pela suposio da
solidariedade racial dos negros.
Abdias do Nascimento nasceu na cidade de Franca, interior paulista, em 14 de maro
de 1914. Seu pai era sapateiro e sua me, doceira, costureira, cozinheira e ama de leite. Aos
13 anos, Abdias j trabalhava como guarda-livros em fazendas e stios, alm de dar aulas na
escola primria (CAVALCANTI, 1976). Aos 16 anos, ele entrou para o Exrcito Brasileiro,
tendo fundado, no quartel, o jornal O Recruta, alm de distribuir o Lanterna Vermelha, jornal
comunista clandestino. Foi condenado priso juntamente com seu amigo Sebastio
Rodrigues Alves
55
e ambos foram expulsos do exrcito depois de uma briga na porta de um
55
Sebastio Rodrigues Alves foi o presidente da Cruzada Afrobrasileira de Alfabetizao, do Teatro
Experimental do Negro. Para ele, a soluo para o negro era a educao: Educar o branco para receber o negro
no seu convvio social, livre do medocre preconceito, educar o negro para participar em todos os setores da vida
sem o prejuzo do complexo de inferioridade que uma herana da senzala e do preconceito (apud Macedo;
Guimares, 2008, p. 148).
124
bar, onde haviam sido impedidos de entrar por serem negros. Nascimento estava sempre
envolvido em movimentos de protestos e, como ele mesmo relata (ibidem, p. 30):
Em dezembro de 1937 fui preso juntamente com um grupo de
estudantes universitrios quando distribuamos panfletos
denunciando a ditadura Vargas e o imperialismo norte
americano. Condenado pelo famigerado Tribunal de
Segurana Nacional, fui mantido na penitenciria do Rio de
Janeiro at abril do ano seguinte.
No ms de novembro de 1945, na cidade de So Paulo, aconteceu a Conveno
Nacional do Negro, que reuniu muitos ativistas, com objetivo de apresentar propostas para a
Assemblia Nacional Constituinte
56
. Entre os pontos apresentados pela conveno, destacam-
se:
1- Que se torne explcita na Constituio de nosso pas a
referncia origem tnica do povo brasileiro, constitudo das
trs raas fundamentais: a indgena, a negra e a branca; 2- Que
se torne matria de lei, na forma de crime de lesa-ptria, o
preconceito de cor e de raa; 3- Que se torne matria de lei
penal o crime praticado nas bases do preceito acima, tanto nas
empresas de carter particular como nas sociedades civis e nas
instituies de ordem pblica e particular; 4- Enquanto no for
tornado gratuito o ensino em todos os graus, sejam admitidos
brasileiros negros com pensionistas do Estado, em todos os
estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundrio e
superior do pas, inclusive nos estabelecimentos militares; 5-
Iseno de impostos e taxas, tanto federais como estaduais e
municipais, a todos os brasileiros que desejarem se estabelecer
em qualquer ramo comercial, industrial e agrcola, com capital
superior a Cr$ 20.000.00; 6- Considerar como problema
urgente a adoo de medidas governamentais visando
elevao do nvel econmico, cultural e social dos brasileiros
(NASCIMENTO, 1982, p. 59).
Percebe-se logo a influncia de Abdias do Nascimento na redao desse documento,
pois suas idias sobre o negro brasileiro daquela poca giravam em torno dos seguintes
pontos: primeiro, para ele, persistia uma alienao econmico-social ps-abolio; segundo,
havia preconceito de cor e consequente discriminao, manifestos na ausncia de negros no
comrcio, nas Foras Armadas e no Itamaraty; por fim, existia um sentimento de inferioridade
por parte dos negros (MACEDO, 2005). Ideologicamente, Abdias procurava diferenciar a
situao dos negros brasileiros da realidade dos negros norte-americanos, devido s
56
Aps a deposio de Getlio Vargas, os chefes militares garantiram a realizao de eleies presidenciais. Foi
eleito em dezembro de 1945, o general Eurico Gaspar Dutra, candidato do PSD (Partido Social Democrtico),
com apoio do ento PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Em seu primeiro ano de governo foi instituda a
Assemblia Constituinte, para elaborar a quarta Constituio Brasileira, promulgada em 18 de setembro de 1946.
125
especificidades de cada pas. Esse trabalho no era fcil, pois os negros no faziam parte dos
grupos de cientistas sociais, nem de polticos. Segundo o prprio Abdias, foi influenciado por
suas viagens com um grupo de teatro, que ele foi incentivado a organizar o Teatro
Experimental do Negro, cujo objetivo era valorizar a identidade negra, a herana cultural
africana e a dignidade humana do afrodescendente. Narra ele (apud CAVALCANTI, op. cit.,
p. 35):
Por volta do ano de 1940-1941 juntei-me Santa Hermandad
Orqudea, um grupo de poetas argentinos e brasileiros: Efraim
B, Gofredo Iommi, Juan Raul Young, Napoleo Lopes Filho
e fizemos uma longa viagem por todo o rio Amazonas, at o
Ucaialy, na base da cordilheira dos Andes. Aps viver algum
tempo em Lima e Buenos Aires, regressei ao Brasil. Procurei
em So Paulo alguns escritores, meu amigo Fernando Ges,
que me apresentou a Mrio de Andrade e outros.
Em 1945, o Teatro Experimental do Negro fez sua estria no Teatro Municipal do Rio
de Janeiro, com a pea Imperador Jones
57
, de Eugene ONeill
58
. O Teatro Experimental do
Negro manteve suas atividades at a dcada de 1960 e, devido represso poltica, teve suas
atividades restritas, sendo completamente extinto em 1968. Depois disso, Abdias do
Nascimento exilou-se nos Estados Unidos da Amrica, onde se tornou professor das Yale
School of Drama; Wesleyan University, em Middletown, Connecticut. Em seguida, foi
convidado para lecionar como professor associado da Universidade do Estado de Nova York,
Bfalo, sendo promovido a professor catedrtico (MACEDO, op. cit.). Artista Plstico, fez
sua primeira exposio em 1969, no The Harlem Art Gallery, Nova York, embora continuasse
a exercer suas atividades acadmicas e polticas, participando de diversos eventos
internacionais que envolviam o mundo africano
59
. Nascimento retornou ao Brasil em 1981,
fundando, com Elisa Larkin Nascimento, o Instituto de Pesquisas e Estudos Afrobrasileiros
(IPEAFRO). Localizado no bairro da Glria, Rio de Janeiro, o IPEAFRO
57
A pea Imperador Jones narra a tragdia de um negro, Brutus Jones que, ao ser escravizado por uma "Amrica
Branca" racista, aprende com ela os maliciosos valores do dinheiro e deixa-se seduzir pela miragem do poder.
Desta forma, aps ter fugido da cadeia, retorna s terras de origem e o antes oprimido negro torna-se imperador,
dominando seu povo, porm sendo destronado em seguida.
58
Eugene Gladstone ONeill (16 de outubro de 1888 a 27 de novembro de 1953) foi um dramaturgo norte-
americano. Considerado um dos melhores escritores de teatro da Modernidade, ganhou o Nobel de Literatura em
1936. Seus trabalhos comunicam uma viso do homem moderno, vtima do acaso e que, no acreditando em
Deus ou no destino, culpa a si mesmo pela prpria misria. Extremamente pessimista, mostra o homem preso a
um destino sem sentido - o que o torna um existencialista.
59
6 Congresso Pan-Africano (Dar-es-Salaam, 1974); Encontro por Alternativas para o Mundo Africano - Unio
de Escritores Africanos (Dakar, 1976); professor visitante no Departamento de Lnguas e Literaturas Africanas
da Universidade de If, na cidade nigeriana sagrada de Il-If; participou do 2 Festival Mundial de Artes e
Culturas Negras e Africanas (Festac 77), em Lagos; 1 e 2 Congressos de Cultura Negra das Amricas (Cali,
Colmbia, 1977 e Panam, 1980); Coordenador Geral do Terceiro Congresso de Cultura Negra das Amricas.
126
(www.ipeafro.org.br) dedica-se atualmente a pesquisas e cursos de capacitao de
professores.
Ao comentar a obra O Genocdio do Negro Brasileiro, de Abdias do Nascimento,
Kabengele Munanga dir que, na dcada de 1970, vrios militantes afrobrasileiros
propuseram a construo de um pas plurirracial e pluritnico. Nesse mesmo perodo,
surgiram vrias entidades do movimento negro. Abdias do Nascimento era um dos porta-
vozes dos que lutavam pela (...) ideia de que o Brasil deveria ser consolidado como uma
sociedade plurirracial. Ou a sociedade brasileira democrtica para todas as raas e lhes
confere igualdade econmica, social e cultural, ou no existe uma sociedade pluriracial
democrtica (MUNANGA, op. cit., p. 98).
A final dcada de 1970, iniciou-se um processo de abertura poltica no Brasil. Nesse
mesmo contexto das lutas sociais, houve o ressurgimento do movimento negro. Em 1978,
Cuti
60
, poeta negro, publicou Poemas de Carapinha, retomando o processo da temtica
negra na literatura, na mesma linha de Solano Trindade
61
. No mesmo ano, jovens negros
lanaram o primeiro volume de Cadernos Negros e, no dia 07 de julho, foi criado, nas
escadarias do Teatro Municipal de So Paulo, o Movimento Negro Unificado Contra a
Discriminao Racial MNU. O convite para o Ato Pblico que resultou no surgimento
do MNU se deu porque, segundo relata Joel Rufino dos SANTOS (1998, p. 15):
No dia 28 de abril, numa delegacia de Guaianases, mais um
negro foi morto por causa das torturas policiais. Este negro era
Robson Silveira da Luz, trabalhador, casado e pai de filhos.
No Clube de Regatas Tiet, quatro garotos foram barrados do
time infantil de voleibol pelo fato de serem negros. (...) Mas o
Ato Pblico contra o Racismo marcar fundo nosso repdio, e
convidamos a todos os setores democrticos que lutam contra
o desrespeito e as injustias aos direitos humanos engrossarem
fileiras com a Comunidade Afro-brasileira nesse ato contra o
racismo. (...) No podemos aceitar as condies em que vive o
homem negro, sendo discriminado na vida social do pas,
vivendo no desemprego, subemprego e nas favelas. No
podemos mais consentir que o negro sofra as perseguies
constantes da polcia, sem dar uma resposta.
60
Luiz Silva (Cuti), nasceu em Ourinhos, SP; formou-se em Letras na USP, no ano de 1980; mestre em Teoria
Literria e doutor em Literatura Brasileira, foi um dos fundadores do Quilombhoje, que publica os Cadernos
Negros, lanando anualmente um livro de poemas e/ou contos, j se encontrando no 31 volume:
http://www.quilombhoje.com.br.
61
Solano Trindade poeta, folclorista, ator, pintor, que em 1934 organizou o I Congresso Afro-brasileiro, em
Recife, PE; e o II Congresso, em Salvador, BA. Nasceu em Recife no dia 24 de julho de 1908 e morreu na
cidade do Rio de Janeiro, em 19 de fevereiro de 1974. Sua filha mais velha, Raquel Trindade, fundadora e
mantm na cidade de Embu das Artes, SP, uma Nao Kambinda de Maracatu.
127
Outras entidades do movimento negro surgiram nesse mesmo perodo: o Grupo de
Unio e Conscincia Negra GRUCON e os Agentes de Pastoral Negros APN. Em
preparao para a Terceira Conferncia Geral dos Bispos Latinoamericanos, que se realizou
em Puebla, no Mxico, no ano de 1979, organizou-se um grupo de estudiosos da rea
afrobrasileira, a pedido dos Bispos da CNBB que participariam da Conferncia. Esses
estudiosos, ligados a comunidades eclesiais de base (CEB) continuaram a se reunir em outras
ocasies. A primeira dessas reunies deu-se num convento, localizado na cidade de So
Paulo; a segunda, num convento em Capo Redondo, So Paulo; a terceira, em Braslia. No
terceiro encontro, realizado nos dias 05 e 07 de setembro de 1981, foi formalizado o Grupo
de Unio e Conscincia Negra GRUCON (Marcos Rodrigues da SILVA, 1990).
O encontro seguinte ocorreria na Baixada Fluminense, no ano de 1982. No entanto,
entre os anos 1981 e 1982 eclodiu uma discusso interna, na qual um grupo de religiosos
defendia que o melhor caminho para abordar a questo racial no interior da igreja seria uma
pastoral especfica, enquanto outros compreendiam que uma pastoral incorreria no risco de
limitar o GRUCON aos catlicos. Como o grupo possua um grande nmero de participantes
no catlicos, a divergncia intensificou-se, a ponto de ocorrer a diviso em 1983, da qual
surgiram os APN. De acordo com Ana Lucia Eduardo Farah Valente (1989, p. 89):
Pessoas engajadas que exercem atividades voltadas para a
comunidade negra; (...) que se unem a todas as instituies e
movimentos negros que lutam pela mesma causa; (...) cujo
trabalho oferecer acolhida a todos aqueles que se identificam
com a luta contra toda forma de racismo, superando as
diferenas de cor e religio (...) e que enquanto organizao,
no esto vinculados a nenhuma poltica partidria; e esto
empenhados em colaborar para a unidade da comunidade
negra sem nenhuma preocupao de fazer adeptos religiosos.
A diversidade de entidades do movimento negro que ento surgiam no Brasil levou
organizao de fruns. O Primeiro Encontro de Entidades Negras ocorreu em novembro de
1991, na cidade de So Paulo. A ideia era entender o que essas entidades compreendiam por
movimento negro. Nesse Primeiro Encontro, foi definido que Entidade Negra era
entidade de maioria negra, voltada para o combate ao racismo e / ou a valorizao das
128
culturas de matizes africanas, e que no tenham vnculos com partidos ou governo
62
(Jos
Geraldo ROCHA, 1997, p. 26).
Abdias do Nascimento , para os militantes do movimento negro, um dos seus
principais representantes. Entre os anos 1950 e 1951, ao escrever sua pea teatral Sortilgio,
Nascimento defendeu que a assuno da cultura negra se daria por meio da religio
afrobrasileira. Em seu retorno ao Brasil, ele retomaria a discusso sobra o pan-africanismo e a
negritude, especificamente em seu livro Quilombismo, de 1980. Nascimento questionava a
tese de brasilidade assimilacionista, contribuindo para novas vises, baseadas nas perspectivas
multicultural e pluricultural, ou seja, de que a unidade brasileira construda em sua
diversidade. O que esse pioneiro sempre desejou que as populaes que foram vtimas do
preconceito na histria fossem respeitadas. No caso especfico da negritude, esta possui
valores intrnsecos que precisam ser reconhecidos pela e para a nacionalidade brasileira. Para
Abdias do Nascimento, o negro precisa reconhecer-se pertencendo a uma grupo discriminado
para que possa reverter sua imagem negativa numa imagem positiva, eliminando assim seu
complexo de inferioridade; o branco, por sua vez, precisa reconhecer que pertence a um grupo
dominante, usufruindo de privilgios que precisam ser abolidos.
Quanto a Muniz Sodr, em todas as suas obras, este se vale da questo racial no Brasil
para a compreenso da cultura e identidade nacionais. Sodr (1988a) utiliza a categoria
territorialidade, a fim de expressar um lcus determinado, onde so formadas as identificaes
culturais de um determinado grupo. O locus ou territorialidade, na modernidade, o espao da
cidade, o ambiente urbano, no uma cidade qualquer, mas a grande metrpole produtora dos
bens simblicos e ideolgicos que se irradiam para todos os ambientes. Nesse lcus, a
presena negra manifesta-se, concreta e simbolicamente, nos terreiros que abrigam os cultos
das religies afrobrasileiras, em especial os de candombl. Estes seriam, pois, testemunho da
solidariedade nascida entre os cativos, gerada desde a viagem pelo Atlntico, quando
provenientes da frica em direo ao Brasil. Sodr fala ainda acerca do intercmbio entre os
terreiros, que precisvam superar as rivalidades tnicas presentes na frica, as mesmas que se
tornavam desprovidas de sentido no Novo Mundo, uma vez que a situao de cativo igualava
a todos. Essa nova configurao da realidade fez com que etnias como as nag, hausss e
62
O Movimento Negro ento se caracteriza por uma diversidade de entidades: grupos de capoeira; blocos afro de
afox; a congada; o jongo; o maracatu; o maculel; o movimento hip-hop (os grupos de rappers e reagge);
terreiros de candombl; as irmandades negras (So Benedito, Santa Efignia, So Elesbo etc) as comunidades
rurais remanescentes dos quilombos e as entidades sociais (ONGs negras).
129
banto, entre outras, se juntasse, aos mals por ocasio da grande revolta ocorrida em Salvador,
em 1835. Segundo Muniz Sodr (ibidem, p. 55):
Fatos dessa ordem so importantes para a compreenso da
cultura negro-brasileira, porque demonstram que os orixs ou
os voduns ou os inquices (bantos) no so entidades apenas
religiosas, mas principalmente suportes simblicos isto ,
condutores de regras de trocas sociais para a continuidade de
um grupo determinado. Zelar por um orix, ou seja, cultu-
lo nos termos da tradio, implica aderir a um sistema de
pensamento, uma filosofia, capaz de responder a questes
essenciais sobre o sentido da existncia do grupo.
Ainda para Sodr (1988b), a cultura, no Brasil, cristalizou-se a partir de dois eixos
complementares: o modo de vida branco/europeu e outro, no-ocidental, representado
especialmente pela cultura negra. H conflito entre esses dois eixos da cultura nacional, o
ocidental e o no-ocidental, uma vez que o pensamento hegemnico recusa-se a admitir que
esta dualidade possa ocorrer, sem hierarquizao, no plano concreto,. A presena no-
ocidental admitida, porm no na dimenso e na importncia devida. Para justificar sua tese,
Sodr utiliza como exemplos a capoeira, a literatura de cordel e as religies afrobrasileiras.
No espao das grandes cidades brasileiras, assistimos ao jogo das representaes entre uma
viso de cidade voltada aos padres dos discursos da modernidade, desenvolvidos segundo os
valores eurocntricos do sculo XIX e tidos como universais, e a resistncia dos valores
scioculturais negros, os quais marcam sua existncia no cotidiano mediante a presena dos
terreiros a desafiar perseguies e preconceitos, alimentados pela lgica impositiva das
metrpoles. Esse quadro perpetua-se no tempo, como aponta Sodr (1988a, p. 99):
O Rio de Janeiro do incio da segunda metade do sculo
dezenove, quando uma grande populao de negros (bantos)
originrios da frica Centro-Ocidental e Oriental tenta resistir
fsica e psiquicamente hostilidade do ambiente. (...) Para os
negros, o Rio no era, evidentemente, cidade plena de ax. Era
lugar de infortnio, na forma de pobreza, doenas,
insegurana psquica e todos os males pessoais advindos da
situao de cativeiro ou de uma liberdade precria. Da, a
demanda coletiva de formas sagradas tradicionais, de ritos de
purificao, de danas grupais e de atrao de entidades
religiosas do grupo senhorial escravista. Santos como So
Benedito (negro), Santa Brbara, Nossa Senhora do Rosrio,
So Joaquim, Santa Efignia (negra), Virgem Maria, So
Joo, So Sebastio, So Lzaro, So Elesbo (negro), So
Baltazar (negro) e outros sem esquecer a prpria cruz
catlica atuavam como smbolos mediados entre a
cosmoviso negra e o universo branco-europeu, mas tambm
130
como engendradores de ax, porque eram santos, logo seres-
foras. A cruz catlica, por sua vez, alm de ser objeto
sagrado dos cristos, pertencia tradio litrgica dos
Bakongo (bantos) enquanto smbolo das quatro fases solares,
desde antes da chegada dos missionrios frica.
Dando prosseguimento sua reflexo, Sodr (1992, p. 126) defende tambm que uma
das caractersticas do racismo brasileiro a miscigenao e a mistura cultural, as quais
convivem com estratgia de discriminao e preconceito, contrrias s estruturas de separao
entre negros e brancos presentes nos Estados Unidos
63
ou na frica do Sul
64
. Para esse autor,
no Brasil, as diferenas fsico-humanas misturam-se em funo do modelo patriarcal
brasileiro, datado de nossa colonizao e marcado pela herana que a sociedade portuguesa
recebera desde as invases mouras, bem como pela dificuldade de Portugal de enviar para as
colnias mulheres brancas na mesma proporo dos homens que para c se dirigiam. Assim,
misturar-se s ndias e s negras era um meio de satisfazer a libido e garantir a reproduo do
gene do colonizador. O mesmo autor (ibidem, p. 126) destaca igualmente o fato de o Brasil
possuir a segunda maior populao negra do mundo, ficando atrs apenas da Nigria, um pas
do continente africano.
Atualmente, diz Sodr, uma das formas mais usuais de reproduo do racismo
concentra-se nos programas de televiso, os mesmos que, por meio de vises estereotipadas e
da presena nfima de negros em relao proporo que este grupo ocupa, no plano da
realidade, referenda os valores de hierarquizao entre as etnias no Brasil. Como aponta Sodr
(ibidem, pp. 124-125):
Embora a excluso racista operada pelos meios de
comunicao no se manifeste em sua essncia por contedos
ou mensagens, pode-se levantar, a depender do territrio
nacional concreto em que se produzam as emisses ou os
textos, um nmero considervel de esteretipos tnicos ou de
representaes excludentes de indivduos identificados com
culturas subalternas. Os excludos (negros, ndios, migrantes
etc.) quando incorporados, entrem geralmente na
categorizao do grotesco.
Mais recentemente, algumas ainda tmidas tentativas de enquadrar atores negros no
status de protagonistas, em novelas do horrio nobre e em sries, parecem revelar que a mdia
televisiva comea a despertar, seno para a necessidade reverso desse quadro gritante de
63
Sistema Jimm Crow.
64
Apartheid.
131
desigualdade, ao menos para a constatao de que os negros constituem um contingente de
consumidores que demanda mais ateno e investimentos.
Com relao formao da identidade nacional brasileira, Sodr (1999, pp. 135-230)
releva a importncia de Gilberto Freyre no pensamento social acerca da presena negra e do
carter mestio do povo brasileiro. No entanto, o mesmo autor afirma que, ao valorizar a
mistura entre as etnias, Gilberto Freyre tende a apontar somente para as consequncias desse
processo que considera positivas, desprezando os conflitos e contradies decorrentes do
mesmo. Ao enaltecer o desprendimento do colonizador portugus frente aos demais, em sua
capacidade de adaptao aos mais diversos relevos e climas, bem como em se deixar
miscigenar com outros povos, Freyre cai numa srie de incorrees. A miscigenao
brasileira ocorreu, a princpio, base do estupro das negras escravizadas por seus senhores e
feitores. As mes-pretas, escravas que amamentavam os filhos dos senhores de engenho e
de seus herdeiros, no cenrio socioeconmico, muitas vezes assim o faziam em detrimento da
amamentao dos seus prprios filhos. Assim, a nutriz dos rebentos da Casa Grande
continuava relegada, formalmente, condio de mera propriedade de seus senhores
(incluindo nessa categoria seus prprios filhos de leite), jamais como uma espcie de segunda
me. Do mesmo modo, os filhos gerados a partir das relaes sexuais entre senhores e
escravas seriam eles mesmos escravos, e no herdeiros dos nomes de seus pais e dos
engenhos. Por conta de alguns resqucios de pia conscincia catlica, em alguns casos, esses
filhos bastardos eram encarregados dos servios considerados mais nobres, como os afazeres
domsticos, a jardinagem, a carpintaria ou o ofcio de cocheiro.
Aps a Segunda Grande Guerra, o racismo enquanto ideologia foi duramente atingido,
no sendo mais legitimado na Academia. Contudo, as estratgias discriminatrias e
hierarquizantes transfeririam-se para a conscincia pequeno-burguesa, acentuadas pelos
intensos fluxos migratrios e atingindo grupos tnicos, religiosos, de gnero, preferncia
sexual e todas as outras formas identitrias consideradas divergentes pelos grupos sociais
hegemnicos. De acordo com Sodr (ibidem, pp. 119-120):
O racismo contemporneo oferece-se anlise, portanto, fora
do contexto das teorizaes clssicas sobre as pretensas
unidades biolgicas denominadas raas, mas dentro de
novos modelos explicativos das diferenas humanas, que
podem suscitar estigmas talvez mais profundos. (...) Existe de
fato no uma natureza (enquanto totalidade ordenada e
imutvel das coisas), mas uma naturalizao da cultura,
operada pelas teorias, discursos, representaes violentas no
132
nvel das relaes sociais. A naturalizao vem da prpria
estrutura da sociedade industrial moderna, atravessada por
divises violentas no nvel das relaes sociais. O que na
cultura resiste reforma, a prpria idia de civilizao ou
cultura enquanto modelo universal de desenvolvimento
humano. Esta a base para as representaes racistas.
A violncia (concreta e/ou simblica) um fato sempre presente nas manifestaes
discriminatrias ou de excluso racial. O elemento discriminado visto pelos grupos
discriminadores como uma constante ameaa identidade do grupo. As agresses de ordem
racista seriam, dessa maneira justificadas, quando consideradas como atos narcsicos de
defesa do direito de todo grupo a zelar por sua identidade, representada em valores
comunitrios ou nacionais. Vale considerar o fato de que a identidade narcsica coletiva
independe dos traos fsicos concretos das pessoas envolvidas, j que, em muitos casos, a
internalizao desses discursos atravessa alguns elementos das classes subalternizadas que
estejam desejosos de, pela absoro das aparncias da classe socialmente hegemnica,
vestirem mscaras brancas. Para Sodr (ibidem, p. 121):
Isto implica na prtica que indivduos de um grupo
potencialmente discriminvel invistam-se de fria narcsica
agressiva contra os outros de sua mesma extrao social e
cultural. E a fria tanto maior quanto maior for a sensao
de poder outorgado por uma corporao qualquer. A tortura
policial e militar, as matanas nas periferias das cidades, a
chacina de crianas negras e pobres so as consequncias
quotidianamente visveis.
A maior perversidade do modelo sobre o qual se construram as relaes raciais no
Brasil consiste em que as tenses raciais expressam-se de maneira dissimulada, raramente
sendo assumidas de forma direta, o que dificulta seu combate tanto quanto a formao de uma
conscincia racial entre os negros. Ao contrrio, esse contexto estimula os negros a buscarem
o embranquecimento como forma de atenuar os seus sofrimentos, fenmeno denominado por
Darcy Ribeiro (1995, p. 225) branquizao:
A caracterstica distintiva do racismo brasileiro que ele no
incide sobre a origem racial das pessoas, mas sobre a cor de
sua pele. Nessa escala, negro o negro retinto, o mulato j o
pardo e como tal meio branco, e se a pele um pouco mais
clara, j passa a incorporar a comunidade branca. Acresce que
aqui se registra, tambm, uma branquizao puramente social
ou cultural. o caso dos negros que, ascendendo socialmente,
com xito notrio, passam a integrar grupos de convivnvia
133
dos brancos, a casar-se entre eles e, afinal, a serem tidos como
brancos.
Com isto, Sodr conclui que a mestiagem brasileira vista pelos padres defendidos
por Oliveira Vianna, ou seja, pela busca do embranquecimento. O pensamento de Sodr
coincide com a de Munanga (1999, p. 112), que por sua vez afirma que a elite brasileira,
preocupada com a construo de uma unidade nacional, de uma identidade nacional, via esta
ameaada pela pluralidade tnico-racial. A mestiagem era para ela um ponte para o destino
final: o branqueamento do povo brasileiro.
Esse modelo de mestiagem passa longe da valorizao do negro, segundo Gilberto
Freyre. Segundo Sodr (Op. Cit., pp. 135-230), Gilberto Freyre, juntamente com Srgio
Buarque de Holanda, Prudente de Morais Neto e Caio Prado Jnior, iniciaram uma nova
forma de pensar esse tema, buscando explicaes para a formao e o sentido do Brasil que
passam necessariamente pela valorizao da cultura popular. O samba, por exemplo, msica
de negro e, por isso mesmo, perseguida e proibida, motivo de priso por vadiagem, consegue
emergir, com esses intelectuais, chegando a se tornar um smbolo da brasilidade. Foi com
esses pensadores que o negro passou a ser aceito como dotado de uma musicalidade e
etnicidade singulares, aliadas a uma resistncia fsica e uma sensualidade exuberantes. No
entanto, negava-se ainda aos descendentes de escravos a capacidade para o exerccio de
atividades racionais, tais como a produo cientfica, as carreira poltica e acadmica, as
posies de chefia. Ao conceder ao negro a capacidade sensitiva, emocional e corporal para
sintetizar a originalidade do povo brasileiro, reconhecendo-se nele apenas qualidades
referentes ao campo das emoes e das atividades fsicas, essa modalidade de reflexo
terminou por deix-lo margem dos atributos relativos inteligncia lgico-racional,
O samba, pela dimenso que ocupa no contexto da msica popular, como forma que
de sociabilidade, propiciador simblico de espaos de circulao entre pessoas e
coletividades, pela expressividade corporal que promove e pelos territrios de convivialidade
que possibita entre negros e no-negros, plenamente aceito e valorizado como genuna
manifestao cultural negra brasileira. Entretanto, esse reconhecimento no extensivo, por
exemplo, s religies afro como o candombl e a umbanda, enquanto elementos que
contriburam e continuam contribuindo poderosamente para a formao da identidade
nacional brasileira. Nesse sentido, vale chamar a ateno para a influncia exercida pelos
veculos de comunicao, atualmente responsveis pela construo e reproduo da
134
identidade pessoal e coletiva, bem como pela difuso de saberes, valores e idias. As
emissoras de televiso, rdios, jornais e Internet, cada vez mais concentradas nas mos de
grupos religiosos de orientao evanglica, os neopentecostais em particular, propagam
amplamente uma viso negativa das religies afrobrasileiras, frequentemente associadas
possesso demonaca (ibidem, 1992, p. 119).
Mais ainda, Sodr chama a ateno para o fato desse processo no significar um
desconhecimento da produo cultural por parte dessas chamadas minorias. A questo nem
sempre se prende unicamente ao aparecimento dos segmentos discriminados na mdia, mas
forma como estes aparecem e aos valores que representam. Segundo ele (ibidem, p. 122):
Embora a excluso racista operada pelos meios de
comunicao no se manifeste em sua essncia por contedos
e mensagens, pode-se levantar, a depender do territrio
nacional concreto em que se produzam as emisses ou os
textos, um nmero considervel de esteretipos tnicos ou de
representaes excludentes de indivduos identificados com
culturas subalternas. Os excludos (negros, ndios, migrantes
etc.) quando incorporados, entram geralmente na
categorizao do grotesco.
Vale pontuar que os parmetros simblicos com os quais nossa sociedade se constri e
forma seus membros, os mesmos que os veculos de comunicao reproduzem, so os de uma
comunidade europia ou ocidental. Para Sodr (ibidem, p. 119), essa comunidade no
est restrita Europa, que emerge apenas como referncia a um imaginrio particular da
matriz colonial, mas aos processos que envolvem a produo e disseminao de valores
culturais daquele continente para os demais. A religio, as conquistas cientficas e seus
paradigmas, os estilos artsticos e literrios, os valores, enfim, ancorados no gesto do
dominador e na cor de sua pele, mobilizam, nas pessoas, numa dimenso profunda e
transpessoal, um imaginrio civilizatrio que determinha o que relevante e eficaz, no
repertrio da produo cultural da humanidade. As parcelas minoritrias da sociedade so
minoritrias em termos de construo hegemnica, pois podem constituir a maioria de uma
populao nacional, como ocorre com negros, ndios, mulheres, homossexuais, grupos
lingusticos e religiosos que se vem privados de referenciais positivos no interior de uma
sociedade, por meio dos quais possam vir a reivindicar maior participao nas esferas de
poder, sem terem de abrir mo de seus prprios valores e prticas, ou ainda, sem se verem
forados a vivenciar representaes sociais daquilo que efetivamente no so.
135
Em suma, Sodr (1992, pp. 114-115) assume uma posio pessimista, frente aos
embates da sociedade moderna, pois, em sua opinio, os efeitos cotidianos da realidade
nacional levam a uma naturalizao do negro enquanto inferior, propenso prtica da
violncia e condicionado por uma forma pejorativa, apesar do alto grau de mestiagem de
quase todos os habitantes do pas. Encerrando esse sobrevoo pelos principais estudos sobre o
negro no Brasil, gostaramos agora de abordar as pesquisas especificamente ligadas temtica
do negro e a educao.
DE PRETO A AFRODESCENDENTE NA EDUCAO
A realidade da populao negra brasileira muito dura. Esta situao aumentou a cada
dcada. Em 1980, os dados do IBGE indicavam que o trabalhador branco recebia em mdia
4,8 salrios mnimos, enquanto o trabalhador negro recebia apenas 1,7 salrio mnimo.
Naquela dcada, os trabalhadores negros sem carteira de trabalho eram 48,1% e, das mulheres
negras, 66% no tinham registro (IBGE, 1982, p. 51). Na dcada seguinte, em estudo do
Instituto Nacional de Pesquisa Econmico Aplicada (CARVALHO; WOOD, 1995, p. 5)
indicava que os trabalhadores negros ganhavam 142,2% a menos que os brancos, e estes
chegavam a receber 295% a mais que a trabalhadora negra.
Visando superar esta realidade, a escola traz para os negros brasileiros, a idia da
integrao e da asceno social. A maioria negra, no entanto, forada a integrar-se ao
mundo do trabalho mais cedo a fim de atenuar suas necessidades bsicas, lutar pela
sobrevivncia, o que determina os poucos negros que chegam ao Ensino Mdio. O
analfabetismo resulta menos de uma falta de interesse do negro em frequentar a escola, do que
de uma resistncia a uma poltica educacional que busca introjetar valores alheios sua
condio de vida, tentando embranquec-lo, ou seja, homogeneiz-lo em seu
comportamento, costume e postura.
Assim, so vrios os estudos que procuram compreender os mecanismos de
desculturao da escola diante da cultura afro-brasileira e os contedos transmitidos pela
escola, negando, ocultando e desvalorizando a identidade, a histria e a cultura afro-brasileira,
dos quais pretendo revisar alguns deles abaixo;
136
PRESENA DO NEGRO NO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO
Um estudo que tomo como referncia para a compreenso do negro na rea da
Educao a tese de Cristiane Maria Ribeiro (2005), As Pesquisas sobre Negro e Educao:
uma anlise de suas concepes e propostas. O objetivo da pesquisadora foi conhecer a
proposta educacional/pedaggica dos pesquisadores com relao temtica do negro e a
educao, a fim de compreender a extenso do entendimento de negro, relaes raciais e
educao que subsidiam tal proposta. Um dado especialmente relevante, apontado pela autora,
de que os dados nos revelam que 39% dos pesquisadores que trabalham com a temtica o
negro e a educao ou so negros ou afro-descendentes (ibidem, p. 159).
Ribeiro (ibidem, p. 157) analisou 101 pesquisas, entre dissertaes de mestrado, teses
de doutorado e de livre docncia, todas produzidas no Brasil, dos anos 1970 at o primeiro
semestre de 2004. A escolha da dcada de 1970 como ponto de partida deve-se s
informaes de uma das autoras de sua referncia, Regina Pahim Pinto, a qual considera esse
perodo como aquele em que o tema tornou-se mais intenso e frequente, dando aos
pesquisadores as condies para exigirem mudanas na rea educacional (ibidem, p. 2). A
preocupao com a educao da populao negra era ento recorrente em obras de estudiosos
brancos e negros que investigavam as relaes entre raas no Brasil. As pesquisas referiam-se
a um contexto de anlises mais amplas, sem contudo privilegiar o recorte e o enfoque
educacional (ibidem, p. 2).
Josildeth Gomes Consorte outra autora de referncia no mesmo tema. Segundo
Consorte (apud RIBEIRO, op. cit., p. 2) houve um crescimento da presena do negro como
investigador de sua problemtica na dcada de 1970, o que o levou a adotar uma postura
crtica acerca de tudo aquilo que se produzia a seu respeito, evocando para si no apenas a
reflexo, como tambm formas de atuao capazes de reverter sua situao no interior da
sociedade brasileira. Sendo assim, passaram-se a denunciar as discriminaes a que os negros
eram submetidos, enfatizando os prejuzos de que eram vtimas, dentro do sistema
educacional brasileiro. Ao considerarmos os estudos sobre raa e educao, Pinto (ibidem, p.
3) analisou os artigos presentes nos Cadernos de Pesquisa da Fundao Carlos Chagas e
concluiu que as temticas mais estudadas foram: representaes de categorias tnico-raciais
nos materiais didticos e paradidtico; anlise das estatsticas educacionais em funo da
raa/cor da populao e identidade/socializao das crianas negras. Nesse mesmo contexto,
outra referncia para Ribeiro foram (ibidem, p. 3):
137
Gonalves & Silva (que) caracterizaram os estudos sobre
relaes raciais e educao entre os anos 80 e 90 apresentados
na ANPED (Associao Nacional de Ps-graduao e
Pesquisa em Educao) havendo o predomnio dos seguintes
assuntos: identidade de crianas negras, esteretipos e
preconceitos nos livros didticos; identidade tnica de
trabalhadores rurais; rituais pedaggicos enquanto mecanismo
de discriminao racial; formao e trajetria de professores
negros e avaliao de experincias no campo da
multiculturalidade.
Ribeiro tem ainda em Henrique Cunha Jr. outra referncia igualmente importante. Este
apresentou, no Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste, um texto, resultado da anlise
de teses e projetos de pesquisas relativos educao do negro brasileiro, no qual entrevistou
autores, colheu opinies e avaliou criticamente o material recolhido. O mesmo autor abordou
as dificuldades encontradas para a construo dessas dissertaes e, dentre outras, destacou a
falta de orientadores para a temtica, bem como a bibliografia descontextualizada e j
superada, a qual tenderia a reforar as posturas conservadoras da sociedade harmnica de
miscigenao intensa e diversa de todos os outros lugares do mundo. Em seu estudo, a autora
ainda construiu um retrospecto histrico dos estudos sobre o negro brasileiro, com o intuito de
identificar as principais interpretaes possveis sobre a situao da populao negra na
sociedade brasileira.
Outro estudo a ser considerado o de Maria Lcia Rodrigues Mller (2008) que, ao
realizar a pesquisa para seu doutorado, encontrou vrias imagens fotogrficas que revelam a
situao dos negros nas escolas, entre final do sculo XIX e incio do sculo XX. Para a
pesquisadora, as imangens testemunham a presena de negros na educao brasileira
anteriormente abolio da escravatura, contrariando o que dizem muitos autores que
defendem a presena negra na escola apenas depois de 1960. A tese de Mller (ibidem)
analisa 54 fotografias raras e textos da Primeira Repblica, de 1889 a 1930, os quais revelam
instantneos das histrias de vida dos primeiros alunos e professores negros, nos estados do
Rio de Janeiro e do Mato Grosso.
Os registros de Mller permitem concluir pela existncia de diretores e professores
negros, alm de alunos brancos e negros na mesma proporo nas salas de aula. Para essa
autora, o afastamento dos negros das escolas deu-se entre 1910 e 1930, poca que coincide
com a tese de autores evolucionistas brasileiros, como Oliveira Vianna, Nina Rodrigues, que
defendiam o embranquecimento da populao brasileira, com programas de incentivos a
138
imigrao europia, acreditando que isso cooperaria com o desenvolvimento do Brasil. A tese
de embranquecimento da populao brasileira, que teve em Silvio Romero, como j referimos
aqui, um de seus grandes defensores, tramitou na Assemblia Nacional Constituinte de 1933
como um projeto que proibia a imigrao de indivduos de cor preta, tendo assim
influenciado poderosamente a realidade. Anteriormente a esse fato, como aponta Nei Lopes
(2007), o governo brasileiro proibiu a incluso de jogadores de futebol negros na seleo
nacional em 1920 e, em 1922, uma viagem que Pixinguinha e Os Oito Batutas fizeram a
Paris, provocou longos debates na Cmara Federal.
No Rio de Janeiro, por exemplo, Mller (ibidem) dir que, em 1927, aconteceu uma
reforma educacional, segundo a qual no se aceitariam professores com mais de quatro
obturaes dentrias, sem algum dente e mesmo nascidos fora da cidade. E no foi toa que,
em 1929, liderado pelo mdico Renato Kehl, com a participao de vrios intelectuais
brasileiros, como Roquete-Pinto, foi organizado o I Congresso Brasileiro de Eugenia. Ao
discutir o significado do "tipo brasileiro essencial" sob bases "raciais" e "singularidades do
meio tropical", a intelectualidade brasileira props um conjunto de projetos de interveno
social, passando, com isso, a chamar a ateno para a necessidade de se conhecer melhor o
interior do pas e seus complexos processos de mestiagem. Tal concepo, segundo seus
defensores, "salvaria" a mestiagem, responsvel pela runa de nao brasileira. Assim, pela
voz da cincia e em nome do progresso humano, era possvel eliminar tecnicamente as "vidas
indignas" dos cidados, sem que isso fosse considerado genocdio. Para tanto, seria necessrio
que o Estado e a sociedade tomassem certas providncias, como a de desenvolver uma
"poltica eugenista de imigrao (idem, 2003). O tema complexo, tendo desenvolvido
vrias vertentes. Neste sentido, no h como considerar apenas um aspecto, ignorando os
outros. Algumas pesquisas que apresento a seguir do-nos uma viso dessa situao na rea
educacional.
Um importante estudo que contraria as teorias etnocntricas brasileiras o de Marcus
Vinicius Fonseca, que demonstra a existncia de negros inseridos na educao brasileira j no
sculo XIX. Em sua tese Pretos, pardos, crioulos e cabras nas escolas mineiras do sculo
XIX (2007), esse autor estudou o perodo que compreende os anos de 1820 a 1850,
apontando que essa poca marcou o incio da construo e da estruturao de uma poltica de
instruo pblica, cujo objetivo era educar o povo da provncia de Minas Gerais. Fonseca
analisou ainda o nvel de relao entre esse processo e o segmento mais expressivo dentro da
estrutura demogrfica de Minas Gerais, ou seja, a populao negra livre, que era classificada
139
atravs de diferentes terminologias (pretos, pardos, crioulos, cabras), as quais demarcavam
proximidades e distncias dos sujeitos com o mundo da escravido.
Para realizar a anlise, Fonseca (ibidem) tomou como referncia uma documentao
censitria a qual, em 1831, procurou contabilizar a populao de todos os distritos mineiros e
registrou as crianas que frequentavam aas escolas. A partir desse registro censitrio, ele
elaborou um perfil racial das escolas mineiras, o qual foi confrontado com informaes
fornecidas por outros documentos e revelou uma presena majoritria dos negros nos espaos
voltados aos processos de educao formal. Tais dados foram analisados a partir dos estudos
mais recentes sobre a populao mineira, em particular aqueles que procuram superar as
construes tericas que reduziram os negros escravido. A interpretao que Fonseca
produziu, em relao presena dos negros nas escolas mineiras, revela que essas instituies
estavam entre os elementos acionados por esse grupo especfico com o objetivo de afirmao
no espao social. Isso determinou a realizao de uma anlise crtica, por parte de Fonseca,
em relao historiografia educacional que tradicionalmente interpretou a escola como uma
instituio com a qual os negros estabeleceram contatos espordicos ou casuais.
Nessa mesma linha, Jos Galdino Pereira (2001), em sua pesquisa Os Negros e a
Construo da sua Cidadania: estudo do Colgio So Benedito e da Federao Paulista dos
Homens de Cor (1896 a 1915), resgatou a histria de uma instituio destinada educao
dos negros e seus filhos, bem como de uma entidade tnica de Assistncia Mtua. Segundo
Pereira (ibidem) a escolha pela educao por parte dos negros, em sua luta pela plena
cidadania, teve como critrio a marginalizao dessa parcela da populao em nossa
sociedade at os dias atuais. A luta da comunidade negra em prol da educao e por melhores
condies de vida legou sociedade campineira uma instituio de ensino que, por quase 40
anos, prestou a ela um servio inestimvel.
Como fonte de pesquisa, Pereira utilizou os jornais publicados na poca,
principalmente Cidade de Campinas e o Comrcio de Campinas, alm de estatutos das
entidades envolvidas. Seu trabalho est estruturado em quatro captulos: 1. A Irmandade de
So Benedito. 2. O Colgio So Benedito. 3. A Federao Paulista dos Homens de Cor. 4. O
Colgio So Benedito e a Federao Paulista dos Homens de Cor.
Outros trabalhos ainda discutem a ascenso do negro na sociedade brasileira, partir
de polticas de ao afirmativa no ensino superior. Sabrina Moehlecke, em sua tese
140
Fronteiras da Igualdade no Ensino Superior: Excelncia & Justia Racial (2004), estudou
as polticas de igualdade racial, como a ao afirmativa, mostrando que, ao exigirem direitos
coletivos e a identificao racial dos grupos beneficiados, os negros perturbam no apenas a
noo moderna de igualdade e justia, segundo a qual a distribuio de bens e posies
sociais seria baseada no indivduo e em seus mritos e talentos naturais, mas tambm a
ideologia brasileira da mestiagem e da democracia racial, constitutiva de nossa identidade e
unidade nacionais, em que no haveria espao para divises ou diferenciaes de raa.
Moehlecke (ibidem) analisa, ento, como tm sido recebidas as experincias de ao
afirmativa implementadas no Brasil, especialmente quanto ao ingresso no ensino superior,
espao reservado excelncia e meritocracia. Ela observou o desenvolvimento, nos Estados
Unidos, das experincias de ao afirmativa, reconstituindo seu contexto histrico, as formas
assumidas e avaliando alguns dos resultados alcanados, atravs do estudo de caso da
Universidade da Califrnia. A seguir, apresentou as principais teorias norte-americanas e
brasileiras sobre polticas de ao afirmativa, confrontando-as com as percepes sobre o
tema por parte dos estudantes entrevistados na cidade de So Paulo. Moehlecke (ibidem)
percebeu a exististncia, para alm das explicaes sobre identidade nacional e racismo
velado, de mltiplos fatores a influenciar e motivar os estudantes no apoio ou rejeio a tais
polticas.
Anteriormente, Moehlecke (2000) j havia pesquisado sobre as Propostas de Aes
Afirmativas no Brasil: o acesso da populao negra ao ensino superior, dissertao cujo
objetivo foi realizar um mapeamento da discusso de propostas de aes afirmativas voltadas
para a populao negra no Brasil. Nesse trabalho, a autora revelou que tal debate suscita
diversas polmicas e levanta diversas questes sobre o que so essas aes, onde existem, o
que propem e por qu. Ainda segundo Moehlecke (ibidem), a informao corrente no pais
traz, como principal referncia, a experincia norte-americana, hoje com quase 40 anos, e
identifica as aes, fundamentalmente, com o sistema de cotas, como o caso de alguns
projetos de lei que visam melhoria do acesso da populao negra ao ensino superior.
Entretanto, medida que polticas desse tipo vm sendo mais amplamente discutidas,
propostas e implementadas, torna-se necessrio promover um debate mais detalhado e
profundo, a fim de definir os limites e possibilidades das mesmas. Atravs da anlise do
processo de denncia, reconhecimento e, principalmente, das formas de combate ao racismo,
observa-se que as particularidades da realidade social, poltica, econmica e racial brasileiras
141
so apreendidas na formulao de aes afirmativas que vo assumindo significados
especficos.
Nessa mesma linha de estudos de confluncia entre educao, polticas pblicas e
desigualdades raciais brasileiras, h ainda a tese de Ahyas Siss (2001), denominada Afro-
brasileiros e Ao Afirmativa: relaes instituintes de prticas poltico-tico-pedaggicas.
Nela, o autor identifica, analisa e caracteriza as relaes que a educao, as organizaes do
Movimento Negro Nacional e o Estado, atravs das polticas pblicas, estabelecem, no
processo da conquista e garantia dos direitos da cidadania plena dos afrobrasileiros. Siss
(ibidem) examinou as diferentes propostas polticas de reconfigurao da sociedade e das
polticas educacionais oferecidas pelo multiculturalismo. Discutiu tambm a necessidade,
viabilidade e possibilidade de serem implementadas polticas pblicas de ao afirmativa
direcionadas para os afrobrasileiros, luz dos resultados alcanados pela sua implementao
nos Estados Unidos da Amrica. De acordo com Siss (ibidem) as principais divergncias e
convergncias que sustentam os debates estabelecidos em espaos sociais diversificados e
como por exemplo, sindicatos, Movimento Negro Nacional e partidos polticos, sobre a
eficcia de tais polticas em eliminar ou reduzir drasticamente os elevados, inquos e
escandalosos ndices de desigualdade racial, bem como de instituir no Brasil princpios mais
democrticos, foram caracterizadas e analisadas. Ele destacou o lugar que a academia vem
historicamente ocupando enquanto lcus de produo de conhecimentos, no que diz respeito
cidadania e aos afrobrasileiros. Concluiu favoravelmente implementao da poltica de ao
afirmativa, orientada na direo desses cidados em particular.
Outro estudo que procura compreender a socializao, no que tange s relaes raciais
na sociedade brasileira, o de Eliane dos Santos Cavalleiro (2003), denominado Veredas das
noites sem fim: um estudo com famlias negras de baixa renda sobre o processo de
socializao e a construo do pertencimento racial. Na tese, Cavalleiro investigou o
processo de socializao em trs geraes sucessivas de famlias negras, de baixa renda,
moradoras da regio central do municpio de So Paulo, a fim de compreender, atravs de
reconstruo da trajetria de vida das mulheres-avs e mes (1 e 2 gerao) - como estas tm
pensado, ao longo dos anos, a socializao da criana, no tocante ao pertencimento racial, na
perspectiva da luta para sobreviver e/ou enfrentar os problemas decorrentes do racismo,
preconceito e discriminao raciais. No que diz respeito criana (3 gerao), a autora
buscou compreender como esta pensa, sente e expressa seu pertencimento racial, nas relaes
sociais estabelecidas com brancos e negros, adultos e crianas. Os dados colhidos e analisados
142
permitiram Cavalleiro (ibidem) concluir que as mulheres negras de baixa renda, ao
dialogarem com uma sociedade que se diz no-racista e no discriminatria, vivem o medo e
tambm o no-saber realizar, no lar, junto a seus prprios filhos, uma educao capaz de
reverter o racismo presente na sociedade. Desse modo, estas submetem seus filhos e netos a
um processo de socializao similar ao que sofreram: no falam sobre a experincia de
resistncia e o enfrentamento ao racismo que vivem e percebem no dia-a-dia. Portanto, a
superao do racismo fica a cargo do esforo pessoal e da resistncia individual e familiar.
SOBRE A PLURALIDADE CULTURAL NA EDUCAO
Uma outra linha de estudos sobre negro e educao insere-se num campo influenciado
pelos Parmetros Curriculares Nacionais - PCNs, estudando a Pluralidade Cultural no
interior do ensino formal. Os PCNs tm como objetivo (BRASIL, 1997, p. 123):
Reconhecer essa complexidade que envolve a problemtica
social, cultural e tnica o primeiro passo. A escola tem um
papel fundamental a desempenhar nesse processo. Em
primeiro lugar, porque o espao em que se pode dar a
convivncia entre estudantes de diferentes origens, com
costumes e dogmas religiosos diferentes daqueles que cada
um conhece, com vises de mundo diversas daquela que
compartilha em famlia. Nesse contexto, ao analisar os fatos e
as relaes entre eles. a presena do passado no presente, no
que se refere s diversas fontes de que se alimenta a
identidade- ou as identidades, seria melhor dizer -
imprescindvel esse recurso ao Outro, a valorizao da
alteridade como elemento constitutivo do Eu, com a qual
experimentamos melhor quem somos e quem podemos ser.
Em segundo, porque um dos lugares onde so ensinadas as
regras do espao pblico para o convvio democrtico com a
diferena. Em terceiro lugar, porque a escola apresenta
criana conhecimentos sistematizados sobre o pas e o mundo,
e a a realidade de um pas como o Brasil fornece subsdios
para debates e discusses em torno de questes sociais. A
criana na escola convive com a diversidade e poder
aprender com ela. Singularidades presentes nas caractersticas
de cultura, de etnias, de regies, de famlias, so de fato
percebidas com mais clareza quando colocadas junto a outras.
Ao realizar uma pesquisa emprica de estudo de caso, Cirena Calixto da Silva (2005),
em sua dissertao denominada Caesalpinia Echinata: um projeto pedaggico com temtica
tnico-racial desenvolvido numa escola pblica, utiliza elementos do enfoque de pesquisa
143
etnogrfica para investigar um projeto pedaggico com temtica tnico-racial, desenvolvido
numa escola pblica. A perspectiva de seu trabalho foi de compreender a correlao desta
prtica e de seus objetivos com o debate nacional sobre educao e relaes tnico-raciais,
assim como as vias de entrada e de sobrevivncia de um tema especfico em contexto de
escola pblica. Os dados colhidos e analisados por Silva (ibidem) permitem uma reflexo
sobre as bases de uma parceria entre africanidades brasileiras e projetos pedaggicos
escolares, sobre o perfil de profissionais que idealizam e implementam projetos com temtica
tnico-racial e tambm sobre as dificuldades de se construir uma prtica pedaggica que
efetivamente d conta da diversidade no mbito do sistema pblico de ensino.
Com objetivo semelhante, Luciane Ribeiro Dias Gonalves (2004), em A Questo do
Negro e Polticas Pblicas de Educao Multicultural: avanos e limitaes no mbito
escolar, estudou vrias Polticas Pblicas que visam incluso da questo racial nos debates
emergentes. A pesquisa de Gonalves (ibidem) props-se a analisar o arcabouo jurdico-
normativo produzido na dcada de 1990 e suas manifestaes na dinmica curricular das
escolas, observando como as propostas oficiais esto sendo interpretadas e implementadas no
cotidiano escolar, bem como procurando dar visibilidade e seus avanos e limitaes. A
autora desdobrou a pesquisa em duas etapas. A primeira est ligada anlise documental
verifica as potencialidades multiculturais da legislao civil e a legislao educacional. Para
tanto, so investigadas as repercusses legais da Constituio Federal de 1988; da Lei de
Diretrizes e Bases (Lei n 9.394/96) e dos Parmetros Curriculares Nacionais, em especial
Pluralidade Cultural e da Lei 10.639/03 tendo como enfoque a forma pela qual esse aparato
legal sinaliza para prticas multiculturais, principalmente as ligadas cultura dos
afrodescendentes. A segunda etapa est voltada anlise dos impactos dessas polticas
pblicas no contexto escolar e suas interferncias na colaborao da construo de um
currculo menos hegemnico e eurocntrico, na dinmica das escolas pblicas, utilizando,
como coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas. Gonalves (ibidem) realiza sua anlise
luz do multiculturalismo crtico, o qual prope mudanas no contexto escolar e na
comunidade em geral, objetivando a transformao da sociedade, a fim de torn-la mais justa.
A dcada de 1990 foi relativamente profcua na sistematizao de diretrizes que primam pela
incluso da cultura afrobrasileira na dinmica curricular. Todavia, a pesquisa emprica
realizada pela autora possibilita afirmar que tais aes foram incipientes e tnues, pois os
mecanismos de implementao dessas polticas no parecem consistentes a ponto de
144
contribuir com a maximizao de aes antiexcludentes, seja no campo das Polticas Pblicas
ou na prtica cotidiana.
Eugnia Portela de Siqueira Marques (2004) estudou A Pluralidade Cultural e a
Proposta Pedaggica na Escola: um estudo comparativo entre as propostas pedaggicas de
uma escola de periferia e uma escola de remanescentes de quilombos, mostrando que a
discusso acerca dessa diversidade tem sido feita, tanto no campo da educao como em
outros relativos s Cincias Sociais e Humanas. No Brasil, segundo Marques (ibidem), parte
dos debates sobre a questo tnico-racial, iniciados na dcada de 1980, foi materializada nos
Parmetros Curriculares Nacionais - (PCNs), na forma do Tema Transversal Pluralidade
Cultural, a ser desenvolvido por todas as disciplinas e atividades pedaggicas da escola. A
Pluralidade Cultural ressalta a importncia da diversidade tnica presente na sociedade
brasileira, visando a valorizao das heranas culturais e a superao de todas as formas de
discriminao e excluso das pessoas. Do modo como tem sido idealizada, a Proposta
Pedaggica legitima e possibilita um espao para se efetivarem os objetivos apresentados por
essa temtica.
O objetivo geral da pesquisa de Marques (ibidem) foi investigar o desenvolvimento do
tema transversal Pluralidade Cultural em relao ao povo negro, pela anlise comparativa da
Proposta Pedaggica de duas escolas pblicas estaduais do Estado de Mato Grosso do Sul: a
Escola Estadual Rui Barbosa, localizada na periferia da cidade de Campo Grande, onde h
alunos pertencentes a diversas etnias, e a Escola Estadual Zumbi dos Palmares, situada na
comunidade de remanescentes de quilombos de Furnas dos Dionsios, situada a 40 km de
Campo Grande, no municpio de Jaraguari, onde a maioria dos alunos afrodescendente.
Marques (ibidem) realizou um estudo de caso subsidiado pela pesquisa histrica e
documental luz dos Estudos Culturais, fundamentada nas produes de Hall, MacLaren,
Giroux e Canen. Foram analisados os dados contidos na Proposta Pedaggica das escolas,
planos de ensino, livros didticos adotados e cadernos de atividades dos alunos. Ao final,
esses dados foram complementados por meio de entrevistas com professores, coordenadores
pedaggicos, dirigentes escolares e tcnicos da Secretaria de Estado de Educao. O estudo
comparativo demonstrou que a temtica Pluralidade Cultural foi contemplada na Proposta
Pedaggica da Escola Estadual Rui Barbosa, onde, porm, desenvolvida de forma
embrionria. Na Escola Estadual Zumbi dos Palmares, o tema no foi contemplado na
Proposta Pedaggica, mas est presente nas aes tmidas e isoladas de alguns professores.
145
Segundo a autora, os objetivos propostos pela transversalidade, enquanto um desafio
epistemolgico deve levar a uma outra leitura das histrias do conhecimento, ou das diversas
reas de conhecimento, no tm sido contemplados na organizao e prticas dos currculos
das escolas pesquisadas. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educao das Relaes
tnico-Raciais e para o Ensino de Histria e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL,
2004), institudas pelo Conselho Nacional de Educao CNE, para dar continuidade Lei de
Diretrizes e Bases da Educao Nacional, situam-se no campo das polticas de reparaes, de
reconhecimento e valorizao dos negros, possibilitando a essa populao o ingresso, a
permanncia e o sucesso na educao escolar. Envolve, portanto, aes afirmativas, no
sentido de valorizao do patrimnio histrico-cultural afrobrasileiro, de aquisies de
competncias e conhecimentos tidos como indispensveis para a atuao participativa na
sociedade.
A EDUCAO NO INTERIOR DE COMUNIDADES DE CULTURA BANTO
O contexto da lei 10.639 insere-se no perodo em que algumas pesquisas procuram
refletir ou pensar a educao no interior de comunidades afrobrasileiras. Ana Luza de Souza
(2006), em sua dissertao Histria, Educao e Cotidiano de um Quilombo chamado
Mumbuca/MG, teve por finalidade reconstruir a histria do quilombo da Mumbuca
localizada no Baixo Vale Jequitinhonha, em Minas Gerais. O interesse de Souza (ibidem) por
Mumbuca envolveu trs particularidades: a) a alfabetizao de seus membros; b) a posse de
bens e recursos; c) a propriedade da terra, adquirida por compra e devidamente registrada, em
1862. A pesquisa tenta reconstruir o possvel percurso realizado pelo fundador do quilombo,
at adquirir a posse da terra e a espoliao desta, por um coronel da regio, nos tempos atuais.
Souza (ibidem) procura tecer um paralelo, do cotidiano dos quilombolas em relao
aos aspectos da educao, trabalho e religiosidade, entre a primeira e a segunda metade do
sculo XX, considerando o processo de modernizao e industrializao ocorrido nesse
mesmo perodo. Reconstruir a histria do povo da Mumbuca foi necessrio para que a autora
pudesse verificar os processos de transformaes e permanncias ocorridas, bem como a luta
para reconsquistar a terra perdida.
146
O foco da investigao de Erisvaldo Pereira dos Santos (1997), Religiosidade,
Identidade Negra e Educao: o processo de construo da subjetividade de adolescentes dos
Arturos
65
, foi a transmisso dos saberes tradicionais para as novas geraes e a adeso s
prticas socioculturais intra e extracomunitrias pelos adolescentes. Santos (ibidem)
apresentou a histria dos Arturos, herdeiros de tradies engendradas no contexto
escravagista brasileiro. Tal herana consiste na devoo dos negros a Nossa Senhora do
Rosrio, atravs das Guardas de Congo e de Moambique e do Candombl. Essa herana
constitui-se num amlgama de prticas socioculturais e mgico-religiosas, as quais foram
vivenciadas pelo negro Arthur Camilo Silvrio e transmitidas a seus filhos e filhas os
Arturos. Santos (ibidem) utilizou a observao participante, entrevistas diretivas e no-
diretivas, em vista da compreenso do processo, das tenses e dos conflitos dos adolescentes
com relao ao modo como os Arturos de primeira linha esto transmitindo os saberes
tradicionais e a experincia de adeso a esses e a outros contedos scioculturais. O autor
apresenta os conflitos e as tenses decorrentes da forma de transmisso oral, quanto ao papel
socializador das prticas scioculturais da comunidade. Alm disso, ele revela como ocorre o
papel mediador das prticas scioculturais na educao dos adolescentes e jovens, no interior
da comunidade dos Arturos.
Outro trabalho procurou refletir acerca da dimenso pedaggica da Capoeira Angola,
apresentada no papel inovador/transformador das tradies na formao das identidades
possveis. Trata-se da dissertao de Rosngela Costa Araujo (1999), Sou Discpulo que
Aprende, meu Mestre me Deu Lio: tradio e educao entre angoleiros bahianos. Araujo
(ibidem), priorizando a identidade tnica atravs dos elementos que do sustentao
formao e continuidade do Grupo (coerncias e "rudos"), e a permanncia mitolgica no
conhecimento produzido coletivamente, buscou contemplar a vivncia destes na metfora da
rvore, percorrendo um caminho onde foi necessrio "gingar" teoricamente com os conceitos
de educao, cultura, socialidade, identidade, preconceito, racismo, cotidiano, imaginrio,
ordem-desordem-organizao e complexidade. A mesma autora (ibidem) afirma que essas
conexes so frutos de observaes e vivncias em meio aos "angoleiros" das mais diversas
procedncias tnicas ou origens socioculturais, filhos "legtimos" de uma frica idealizada
65
Os Arturos formam uma comunidade de remanescentes de quilombo. Iniciou-se com Camilo Silvrio e
Felisbina Rita Cndida, em Vila Santa Quitria, hoje municpio de Esmeraldas, MG. Dessa unio nasceu Arthur
Camilo Silvrio, que mais tarde casou-se com Carmelinda Maria da Silva. Seus descendentes constituem-se em
mais de 50 famlias, com aproximadamente 400 pessoas instaladas em seis hectares de terra localizadas em
Contagem, MG, desde 1880. Os Arturos cultuam Nossa Senhora do Rosrio nas festas de Congado, alm de
serem adeptos do candombl.
147
num projeto de transformao da sociedade brasileira, adotando o universo das relaes
raciais, na esteira das desigualdades sociais. A autora buscou atravs de entrevistas (abertas e
de questionrios), do material coletado em alguns grupos de Capoeira Angola, as bases de
produo dos discursos diferenciados no interior do mundo da capoeira, mas sobretudo na
interpretao das formas narrativas do imaginrio e suas formaes identitrias. Os dados
coletados indicam a crena num modelo educativo, aglutinador, holonmico, diferentemente
da viso destes sobre os modelos oficiais de educao, o que lhes modifica o olhar sobre a
prpria diversidade e nesta, dos sujeitos enquanto produtores de conhecimento. Mais do que
um emblema ingnuo da mitolgica democracia racial, a vivncia no grupo pode ser
considerada uma construo conjunta e mitopotica do anti-racismo, nas suas expresses de
corporeidade.
A tese de Araujo (2004), I, Viva meu Mestre: a capoeira angola da escola
pastiniana como prxis educativa, apresenta a Capoeira Angola proposta pela escola
pastiniana
66
como uma prxis pedaggica articulada ancestralidade e que a toma,
juntamente com a oralidade e a comunidade, como paradigmas de pertencimento dinmica
das tradies africanas no Brasil, dialogando permanentemente com entendimento sobre a
resistncia negra e sua permanncia nos fazeres educacionais destas matrizes, e apresentando-
se sob a forma de comunidades culturais. Esse trabalho de Araujo (ibidem) lida com uma
realidade marcada, no apenas pelo ressurgimento, mas pelo crescimento do estilo Capoeira
Angola, tido como a capoeira tradicional, africana, atravs de novas geraes de mestres e
contramestres originais da linhagem pastiniana, e orientados por ela, buscando apresentar os
resultados das suas prticas como um rico material para repensar o lugar das tradies quando
em constante entrosamento com os saberes produzidos nos sistemas oficiais de ensino. Dessa
forma, a autora busca encaminhar ao campo da Educao a proposta de ampliar as bases de
entendimento dessas tradies, fazendo-as migrar do lugar ingnuo e fossilizado da sua
folclorizao, e tambm do seu entendimento meramente desportivo, para o dilogo com
professores, educadores e movimentos sociais, bem como com outros entendimentos
filosficos, espirituais, polticos etc, sobre os saberes tradicionais africanos na formao do
conhecimento e demais cdigos civilizatrios brasileiros.
66
Vicente Joaquim Ferreira Pastinha nasceu em Salvador, no dia 05 de abril de 1889, e faleceu no dia 13 de
novembro de 1981. Aprendeu capoeira com seu mestre africano Benedito, quando a capoeira era crime previsto
no Cdigo Penal da Repblica. Em 1941, fundou a primeira escola de capoeira, Centro Esportivo de Capoeira
Angola, no Largo do Pelourinho, Salvador. Em 1965, publicou o livro Capoeira Angola, defendendo a natureza
desportiva e no-violenta desta arte.
148
Araujo (ibidem) aponta ainda o lugar da identidade na compreenso da importncia da
alteridade, a partir de um exemplo que transcende barreiras culturais e geogrficas,
socioeconmicas, religiosas, etrias e, mais recentemente, de gnero, como um enfoque
pertinente contemplao do corpo como espao sagrado, em que possvel elaborar
estruturas de autoconhecimento e de construo reflexiva da sociedade mais ampla. Para isso,
seu trabalho recorreu anlise de materiais produzidos em algumas organizaes de Capoeira
Angola, todas elas pertencentes a uma mesma linhagem, embora dispostas em localidades
distintas, concluindo a autora pela existncia de um conhecimento cujas bases de continuidade
esto assentadas na pertena escola pastiniana, como aspecto de resistncia cultural frente
aos processos de massificao verificados sobre a capoeira hegemnica, conhecida como
Capoeira Regional
A pesquisa de Carolina dos Santos Bezerra Perez (2005), Juventude, Msica e
Ancestralidade no Jongo: som e sentidos no processo identitrio, realizada com jovens no
grupo de Jongo da comunidade do Tamandar em Guaratinguet, estado de So Paulo,
buscou, atravs do seu imaginrio, desvelar as expresses simblicas presentes durante a
performance do grupo, e as razes mticas culturais existentes no contexto ritual das rodas de
jongo, atentando para as diferentes formas em que se do as transmisses do conhecimento s
geraes mais novas, e para a funo que exerce a msica, por meio do som e do sentido, no
processo de formao identitria dos jovens participantes na comunidade. Perez (ibidem)
atenta ainda para a necessidade de uma educao de sensibilidade, que vise minimizar os
preconceitos existentes no universo escolar para com as expresses presentes na cultura
popular e na herana da ancestralidade africana, partindo das referncias tericas que
privilegiam a instaurao de um pensamento transdisciplinar, o que justifica a convergncia
de hermenuticas entre a Antropologia do Imaginrio de Gilbert Durand e a Antropologia da
Complexidade em Edgar Morin.
Utilizando-se da descrio do cotidiano, da observao da socialidade, das aes
afetuais em Michel Maffesoli, a autora ampliou sua perspectiva com o referencial
fenomenolgico, buscando analisar o jongo a partir das definies sobre o Complexo de
Cultura e a Imaginao Material (Gaston Bachelard) e a Fenomenologia da Percepo
(Merleau-Ponty). Os procedimentos metodolgicos aplicados em campo, num estilo
mitohermenutico, partiram da observao, registro fotogrfico e captao do som no
contexto das apresentaes. A mesma pesquisadora constatou a importncia que dada
149
transmisso e aprendizagem do jongo aos mais jovens, num grupo onde diversas geraes se
relacionam a partir de uma perspectiva ancestral e de uma concepo educacional extraescolar
que comunga no aprender junto com o outro, fazendo, criando e recriando herdeiros de uma
tradio em que a memria e a oralidade se fazem presentes e indispensveis.
ESTUDOS SOBRE O NEGRO EM COMUNIDADES DA CULTURA NAG
Continuando com a reviso das abordagens da educao no interior de comunidade
tradicional afrobrasileira, agora voltados para as contribuies da cultura nag, temos a
pesquisa de Vanda Machado Silva (2006), denominada queles que tm na pele a cor da
noite: ensinncias e aprendncias com o pensamento africano recriado na dispora. A
autora investigou possveis relaes entre histrias de vidas o pensamento africano recriado
na dispora, mais precisamente na comunidade de terreiro do Il Ax Opo Afonj em
Salvador-Bahia e a formao de sujeitos autnomos e coletivos. Essa uma abordagem de
inspirao fenomenolgica, que atraiu uma escrita etnogrfica, dada a compreenso da
importncia de atores e interlocutores da pesquisadora. Trata-se de um intertexto polifnico,
que no se pretende normativo, muito menos prescritivo. Nesse contexto, Silva (ibidem)
considerou os aspectos essenciais do pensamento africano, vivenciados tanto na comunidade
do terreiro como naquilo que deles se esparrama para a sociedade que os contm, numa
existncia fluida e dinmica. Esses so aspectos importantes, de onde possvel brotar a base
de uma educao rizomtica para a criana brasileira. O que a autora pretende, de fato, a
busca de uma realidade no fragmentada pela necessidade, nem sempre mtica, de ligar todas
as coisas entre si, e o cotidiano na sua instabilidade reestruturante. A realizao do estudo
relacionado com o pensamento africano no Projeto Poltico-Pedaggico Ir Ay enquanto
construo coletiva, em sua complexidade, articulou a tradio, vivncias pedaggicas e
reflexes que se definem como estratgia poltica que desvela uma realidade cotidiana
silenciada, embora criadora e humanizante.
Nesta perspectiva, Silva (ibidem) pode perceber a idia de categorias fundamentais a
serem consideradas na complexidade desta construo, entre outras: memria, autonomia,
cotidiano, tradio, oralidade e convivncia solidria. Tais categorias aguam a conscincia
histrica, no sentido da universalizao dos saberes e da distino do singular e do individual
na coletividade. A interferncia curricular tende a manter os estudantes negros prximos aos
150
mananciais das cincias, da filosofia, da literatura e das artes, revertendo os argumentos
coisificantes que os foram ensinados, sem perder de vista a identidade ancestral que alarga a
conscincia e autoriza a reinveno da histria.
A relao entre educao e candombl foi o interesse de Denise Maria Botelho (2005)
em sua tese Educao e Orix: processos educativos no Il Ax Iya Mi Agba. A autora
buscou desvelar novas respostas, por meio do universo simblico dos adeptos e adeptas do
caminho dos orixs, para ampliar a reflexo sobre processos educativos voltados para a
diversidade tnico-racial do Brasil. A apreenso das prticas educativas presentes no
candombl gera, segundo a autora, novos subsdios para o ensino de histria e da cultura
africana e afrobrasileira, alm de difundir conhecimentos sobre a cultura religiosa do
candombl e suas prticas educativas. A mudana de olhar, proporcionada pela emergncia de
novos paradigmas, foi cenrio propicio para a anlise de uma prtica educativa que tem como
finalidade a busca de equilbrio dos contrrios e a insero de todos e todas em uma mesma
comunidade, no importando o sexo, a idade, a condio socioeconmica e a cor.
Botelho (ibidem) aponta igualmente para a produo desse conhecimento como
estratgia de combate intolerncia religiosa. Realizar essa investigao mediada pelas
perspectivas da Antropologia do Imaginrio e dos estudos sobre Mitologia uma atitude
reveladora de uma organizao educativa pouco conhecida, que muito tem para contribuir
com a temtica da diversidade tnico-racial. O referencial terico que alicerou a pesquisa
dialogou diretamente com Joseph Campbell (mitologia) e Gilbert Durand (estudos de
imaginrio), uma conjuno favorvel para o estudo proposto. O objetivo da autora foi
apreender os processos educativos presentes no candombl, em especial no Il Ax Iya Mi
Agba, revelando uma possibilidade pedaggica orientada por valores, por vises de mundo e
por conhecimentos afrobrasileiros.
Outro estudo no interior de comunidade tradicional afrobrasileira foi o de Kiusam
Regina de Oliveira Palma (2008) que, em sua tese Candombl de Ketu e Educao:
estratgias para o empoderamento da mulher negra, discutiu as estratgias utilizadas no
Candombl de Ketu capazes de empoderar a mulher negra, e a possibilidade destas serem
aplicadas na educao formal. O conceito de corpo e seus significados na sociedade tornam-se
fundamentais, uma vez que do corpo que partem as possveis identificaes que ocorrem
entre os indivduos e despertam nas pessoas reaes diversas a depender de suas
caractersticas. A subjetividade ganha destaque na tese, pois as identificaes ocorrem a partir
151
das histrias dos sujeitos reais e concretos, com experincias diversas. Discuti-la preciso,
por se tratar de um importante instrumento a ser utilizado pelos profissionais da educao, que
lidam constantemente com a diversidade racial entre alunas e alunos, numa sociedade
preconceituosa (racista e machista) como a brasileira e que os expe, constantemente,
vulnerabilidade, seja por serem negros, pobres ou mulheres, ou uma juno das trs
categorias. A pesquisa de Palma (ibidem) revelou que as subjetividades das entrevistadas
passaram por transformaes significativas e positivas ao se iniciarem no Candombl de Ketu,
por relacionarem seus corpos com a morada dos heris-orixs. Esse estudo enfatiza o carter
construtivo-interpretativo e dialgico do conhecimento, a partir da interpretao de Gonzlez
Rey. A pesquisa de campo realizada por Palma (ibidem) constituiu-se de entrevistas com duas
ebomis (pessoas com mais de sete anos de iniciao no Candombl de Ketu) pertencentes
orix feminina Oxum, em So Paulo, que levaram a autora construo dos seguintes ncleos
de sentidos subjetivos: o impacto da subjetividade das ebomis em relao: a) ao Candombl
de Ketu; b) identidade; c) mulher negra contempornea; d) educao formal e a criana
negra.
Os impactos de cada um desses ncleos de sentido subjetivo sobre as ebomis
entrevistadas foram os principais resultados da pesquisa, gerando novos conhecimentos, como
os de que o Candombl de Ketu utiliza estratgias voltadas para o empoderamento de
mulheres negras que vivem em sociedades racistas/machistas e precisam (re)construir suas
identidades. Assim sendo, este espao religioso capaz de oferecer aos profissionais da
educao, estratgias capazes de ganhar espaos de destaque em seu campo de atuao, com o
propsito de empoderar as crianas negras presentes nas salas de aulas brasileiras, ao
promover a educao anti-racista.
Um dos estudos pioneiros sobre educao e cultura tradicional afrobrasileira foi a tese
de Inaicyra Falco dos Santos (1996), Da Tradio Africana Brasileira a uma Proposta
Pluricultural da Dana-Arte-Educao. A autora, filha de Mestre Didi (Deoscredes
Maximiliano dos Santos), escritor e artista plstico, e neta de Me Senhora (Maria Bibiana do
Esprito Santo), uma das mais famosas Ialorixs, do Il Op Afonj, diz que a maioria dos
estudos conhecidos acerca da tradio africana-brasileira tm sido analisados a partir do
aspecto antropolgico ou da transmisso oral. Para Santos (ibidem), a linguagem corporal e o
aspecto educativo tm tido pouca considerao entre os estudiosos da rea em questo. A
autora observou essa situao sobretudo na rea de dana-arte-educao, e no que se refere ao
152
seu ensino, observou como se d a formao de indivduos brasileiros a partir de teorias
etnocntricas que continuam bastante enraizadas e disseminadas atravs do sistema
educacional, desestruturando e diluindo a tradio africana-brasileira bem como impedindo a
formao de uma realidade plural artstica nacional, o que as torna um estorvo na descoberta
aprofundada e audaz da criao artstica e de mtodos educacionais com razes brasileiras nos
limites desse trabalho.
O que Santos (ibidem) elabora uma proposta na dana-arte-educao em que procura
recuperar elementos estticos e mticos presentes na tradio africana-brasileira enquanto
criao coletiva. A experincia especfica realizou-se no conhecimento terico e prtico
vivenciado no universo mtico do tambor bata entre os yoruba na Nigria e seus descendentes
no Brasil. Concretizou-se na elaborao de um poema e montagem cnica, Ayan : smbolo
do fogo, cujo resultado ofereceu os fundamentos para uma metodologia no desdobramento
da vivncia pedaggica pluricultural, na construo de uma identidade individual.
NOVAS ABORDAGENS SOBRE O NEGRO NA EDUCAO
Um importante estudo sobre os jovens negros que esto fora de comunidades
tradicionais, como os remanescentes de quilombos, do congado etc, foi a tese de Nilma Lino
Gomes (2002), Corpo e Cabelo como cones de Construo da Beleza e da Identidade
Negra nos Sales tnicos de Belo Horizonte. Gomes pesquisou mulheres e homens negros,
cabeleireiras e clientes de sales tnicos da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A
pesquisa de Gomes (ibidem) procurou compreender o significado social do cabelo e do corpo
e os sentidos a eles atribudos, de forma particular, pelos homens e pelas mulheres negras
entrevistadas. A autora mostra que o cabelo do/a negro/a considerado, no de maneira
isolada, mas dentro do contexto das relaes raciais construdas na sociedade brasileira. Estas
so o pano de fundo sobre o qual as representaes negativas sobre o negro, assim como as
estratgias de reverso destas, se realizam.
O entendimento desse contexto revela uma complexidade: o cabelo crespo e o corpo
negro s adquirem significado quando pensados no cerne do sistema de classificao racial
brasileiro. Os sales tnicos se revelam, nessa pesquisa, como espaos culturais, corpreos,
estticos e identitrios e, por isso mesmo, ajudam-nos a refletir um pouco mais sobre a
complexidade, as ambiguidades e os conflitos em torno da identidade negra. Segundo Gomes
153
(ibidem), o cabelo crespo, visto socialmente como estigma, transformado, no sem
contradies, em smbolo de orgulho e afirmao tnico/racial.
Especificamente na Filosofia da Educao emerge a tese de Aparecida Sueli Carneiro
(2005) A Construo do Outro No-Ser como Fundamento do Ser, uma proposta de
aplicao dos conceitos de dispositivo e de biopoder elaborados por Michel Foucault ao
domnio das relaes raciais. A pesquisa de Carneiro (ibidem) um estudo de cunho reflexivo
especulativo com o qual a autora pretendeu averiguar a potencialidade daqueles conceitos
para a apreenso e anlise da dinmica das relaes raciais no Brasil. Para tanto, Carneiro
construiu, a partir deles, a noo de dispositivo de racialidade/biopoder, com a qual buscou
dar conta de um duplo processo: da produo social e cultural da eleio e subordinao racial
e dos processos de produo de vitalismo e morte informados pela filiao racial. Da
articulao do dispositivo de racialidade ao biopoder emerge, segundo Carneiro, um
mecanismo especfico que compartilha da natureza dessas duas tecnologias de poder: o
epistemicdio, que coloca em questo o lugar da educao na reproduo de poderes, saberes,
subjetividades e o cdio que o dispositivo de racialidade/biopoder produz. O que Carneiro
(ibidem) intentou foi inscrever a problemtica racial no campo analtico dos conceitos de
dispositivos e do biopoder, tal como formulados por Foucault, privilegiando discursos,
prticas e resistncias que o dispositivo de racialidade/biopoder produz e reproduz, com foco
na dimenso epistemicida que ele contm.
Um dos estudos relacionando a questo racial com o imaginrio de Gilbert Durand foi
realizado por Andria Lisboa de Sousa (2003), em sua dissertao Nas Tramas das Imagens:
um olhar sobre o imaginrio da personagem negra na literatura infantil e juvenil. Nessa
pesquisa sobre a representao da personagem negra na Literatura Infantil e Juvenil, o
objetivo principal foi identificar o impacto do imaginrio sobre a personagem negra em quatro
obras de literatura infantil e juvenil, em alunos da escola pblica, buscando assim
compreender como ocorre a interao dos leitores com os livros em que esta personagem
desempenha papel principal. O universo da pesquisa de Sousa (ibidem) foi configurado por
quatro livros de literatura infantil e juvenil com personagens negras, escritos na dcada de
1990, e tambm por estudantes na fase da alfabetizao e adolescncia, que cursavam o
ensino fundamental, nvel II, numa escola municipal localizada na cidade de So Paulo, cuja
faixa etria ia de 11 a 14 anos. Para o trabalho com os livros, foram selecionados/as
inicialmente vinte alunos/as da 5, 6, 7, e 8, sries, sendo cinco de cada srie.
154
A dissertao de Sousa (ibidem) fundamentou-se na Antropologia do Imaginrio de
Gilbert Durand e em outros referenciais convergentes com essa teoria, consistindo a pesquisa
na anlise compreensiva de questionrios, poesias e desenhos produzidos pelos alunos e na
mitocrtica das obras luz da mitologia ioruba, a fim de descortinar a presena dos mitos
afrobrasileiros nas narrativas estudadas. A anlise dos dados revelou que, se por um lado, o
imaginrio catlico e ocidental predominante no universo cultural dos/as estudantes, fato
que contribuiu para a manuteno de etnocentrismo, por outro, em certa medida, houve
predisposio a aceitao, quando no uma ressonncia promovida pela leitura desses livros
nas subjetividades dos/as alunos/as. O trabalho possibilitou tambm a compreenso da
representao da personagem negra na literatura infantil e juvenil, desvendando seus valores
simblicos para alm dos esteretipos herdados desde o perodo escravocrata. Outrossim,
permitiu ainda que se realizasse uma interface - ainda no explorada pelos/as estudiosos/as da
crtica literria - entre a personagem negra na literatura infantil e juvenil e a mitologia ioruba
afrobrasileira, guiada por um olhar antropoliterrio.
Por fim, a dissertao de Julvan Moreira de Oliveira (2000), Descendo Manso dos
Mortos... o mal nas mitologias religiosas como matriz imaginria e arquetipal do
preconceito, da discriminao e do racismo em relao cor negra, teve como objetivo
levantar imagens do mal nas mitologias ocidentais, demonstrando que elas so representadas
e/ou simbolizadas pela cor negra, desse modo contribuindo para o reforo do etnocentrismo.
A Antropologia do Imaginrio de Durand foi a abordagem terica eleita como fio condutor da
anlise, visando a instaurao de um pensamento transdisciplinar para a anlise dos smbolos.
Atravs da noo de trajeto antropolgico, ou seja, do um caminho circular, que ao nvel do
imaginrio, percorrido por nossas pulses interiores, assimiladoras (subjetivas)
simbiotizadas que dinamizam com as intimaes advindas do exterior, do meio csmico e
social (objetivas), essa mesma pesquisa acentua a importncia do mito como um vetor, uma
chave para a compreenso do esprito humano. Parte-se da mitodologia, ou seja, do
pressuposto de que existem, por detrs dos mitos, certos conjuntos de imagens permanentes
que se constituem como ncleos, modelos de linguagem. Esses conjuntos de imagens,
denominadas estruturas, so formas transformveis e desempenham o papel de protocolo
motivador de todo agrupamento de imagens, denominado por Durand de Regime. H,
segundo Durand, dois Regimes de imagens: o Diurno e o Noturno. O Regime Diurno da
Imagem valoriza as imagens do branco, do macho, da luta, da ascenso e dos deuses ligados
155
ao alto (urnicos). O Regime Noturno da Imagem valoriza as imagens negras, do feminino, da
intimidade, do aconchego, do repouso e dos deuses ligados terra e ao mar (ctnicos).
A pesquisa de Oliveira (ibidem) estudou as percepes sobre a cor negra vinculada ao
mal no interior do Regime Diurno, especificamente entre os povos ocidentais; em seguida, as
personificaes do mal, simbolicamente entidades nictomrficas, nas civilizaes grega e
romana. O cristianismo aculturou-se ao Regime Diurno da Imagem, levando os cristos a
lutarem contra os no-cristos e a v-los como representantes do Diabo. A imagem da cor
negra ligada ao mal definida em termos de tradio das percepes do Diabo. H vrias
tradies do mal, como, por exemplo, a judaico-crist e a hindu-budista. Como a sociedade
ocidental desenvolveu-se mais plenamente sob influncia do pensamento judaico-cristo, as
idias no-ocidentais so tratadas com fins de comparao.
Por fim, centrada na ntima e relevante vinculao da f e da religiosidade com o
processo pedaggico, a mesma pesquisa analisou o imaginrio cristo, levantando as imagens
que remetem idia de queda, de pecado, do demnio, do terror, ressaltando o imaginrio
subjacente, com o objetivo de destacar os mecanismos de desculturao do negro. Esses
atributos da cor negra, ligados ao mal, desgraa, morte, so reforados pela educao. O
trabalho demonstra que nosso processo educativo, influenciado pelo imaginrio ocidental,
confunde sua particularidade com a universalidade, fazendo-se porta-voz de determinada
cultura, no caso, a cultura ocidental, que se imps aos negros, contribuindo assim para o
preconceito, a discriminao e o racismo.
ainda dentro da perspectiva terica formulada por Durand que utilizo a mitanlise
para estudar o pensamento de Kabengele Munanga, pois sua aplicao revela a presena de
mitos, ou de estruturas mticas, que atuam inconscientemente na construo do sentido, assim
influenciando vida e sua obra. O mito um fio condutor pelo qual pretendo deixar-me guiar
durante o processo hermenutico, no qual o sentido passa do intudo ao percebido, ou seja, ao
significado. Dentre as diferentes etapas metodolgicas, inicialmente procurarei identificar os
mitemas, ncleos do discurso que do a significao mtica exatamente porque constituem a
repetio afirmativa de uma mesma ao. Em seguida, identificado o mito subjacente aos
mitemas de Kabengele Munanga, analisarei seu pensamento, vinculando-o com o contexto
social.
156
EM BUSCA DA IDENTIDADE PERDIDA
O indivduo antes de tudo uma histria, tambm uma
histria que pode ser definida. (...) Todos os acontecimentos
possveis se reduzem a certo nmero de casos tpicos ou de
conceitos o acidente, a doena, o dinheiro etc. -, e o que
individualiza a pessoa humana so as variaes de todas as
combinaes possveis desses conceitos classificatrios entre
si. As combinaes mudam porque cada homem tem a sua
histria, ou melhor, porque ele a sua histria; essas
combinaes, porm, no passam de certas classes de
acontecimentos, caracterizadas pelo nmero de bzios cados
sobre o lado aberto ou fechado. Cada uma das jogadas ao
mesmo tempo a palavra de um santo (...) o que faz com que
cada um dos acontecimentos-tipos que podem surgir na
existncia particular se ligue, pelo jogo e no jogo, a
determinado orix (...) de tal modo que tudo se passa como se
os acontecimentos se distribussem entre as divindades, como
se cada uma delas tivesse em partilha um dos conceitos
classificatrios, cujas combinaes constituem as diversas
existncias particulares (BASTIDE, O Candombl da Bahia,
2001, p. 148).
157
EM BUSCA DA IDENTIDADE PERDIDA
Naquele tempo no havia separao entre o Cu e a Terra.
Foi quando Orunmil teve oito filhos.
O primeiro foi o rei de Ar, Alar.
O segundo foi Ajer, rei de Ijer.
O filho caula foi Olou, rei da cidade de Ou.
Havia paz e fartura na Terra.
Numa importante ocasio, quando Orunmil celebrava um ritual, mandou chamar
todos os seus filhos.
Vieram os sete primeiros filhos de Orunmil. Eles lhe prestaram homenagens,
ofereceram-lhe sacrifcios, prostraram-se a seus ps batendo palmas, prostraram-se
batendo pa
67
, disseram as palavras de respeito.
Menos Olou.
Ele veio mas no deitou aos ps do pai, no fez oferendas, no o homenageou como
devia.
Por que no demonstras respeito por teu pai?, perguntou Orunmil.
Olou respondeu que seu pai tinha sandlias de precioso material, mas que ele
tambm as tinha; que o pai usava roupas dos mais finos tecidos, mas que ele tambm
as usava; que seu pai tinha cetro e tinha coroa e que ele os tinha tambm.
Que um homem que usa uma coroa no deve se prostrar diante do outro, foi o que
disse o filho ao pai.
Orunmil se enfureceu, arrancou o cetro das mos do filho e o atirou longe.
Orunmil retirou-se para o Orum, o Cu, e a desgraa se abateu sobre o Ai, a Terra:
fome, caos, peste e confuso.
Parou de chover, plantas no cresciam e animais no procriavam, todos estavam em
desespero.
Os homens ofereceram a Orunmil toda sorte de sacrifcios, de todos os cantos.
Orunmil aceitou as oferendas, mas a paz entre o Cu e a Terra estava definitivamente
rompida.
Os filhos de Orunmil o procuraram no Orum e lhe pediram para retornar ao Ai.
Orunmil entregou ento a seus filhos dezesseis nozes de dend e disse: Quando
tiverem problemas e desejarem falar comigo, consultem este If.
Orunmil nunca mais veio ao Ai, mas deixou o orculo para que as pessoas possam
recorrer a ele quando precisarem.
Os filhos de Orunmil eram assim chamados: Ocanr, Ekioc, Ogund, Irosum, Ox,
Obar, Odi, Ejiob, Os, Ofum, Ouorim, Ejila-Xebor, Ic, Oturopon, Ofuncanr e
Iret.
So estes os nomes dos odus
68
.
So estes os filhos de Orunmil.
Cada odu conhece um segredo diferente.
Um fala do nascimento, outro da morte, um fala dos negcios, outro da fartura, um
fala das guerras, outro das perdas, um fala da amizade, outro da traio, um fala da
famlia, outro da amizade, um fala do destino, outro da sorte.
Cada odu conhece um segredo diferente.
Desde ento, quando algum tem um problema, o odu que indica o sacrifcio
apropriado.
Orunmil disse: Quando tiverem problemas, consultem If.
Orunmil nunca mais veio ao Ai, mas deixou o orculo para que as pessoas possam
recorrer a ele quando precisarem (PRANDI, 2001, pp. 442-444).
67
Pa: sequncia rtmica de palmas usada para reverncia (nota pessoal).
68
Odu: caminho da vida. Segundo a tradio yorub,, cada pessoa nasce com um dos 256 odus.
158
Orunmil a divindade responsvel por conduzir os homens compreenso de suas
identidades. O reconhecimento da identidade simblico, pois nela esto incorporados os
traos da histria humana, revelado pelos poemas de Orunmil.
A leitura das obras de Kabengele Munanga revela a preocupao com a identidade,
especificamente com a dos brasileiros descendentes de africanos ou, nas palavras de
Munanga, os africanos da dispora. Em suas palavras (1988, p. 44), a identidade consiste
em assumir plenamente, com orgulho, a condio de negro, em dizer, cabea erguida: sou
negro. Com o processo de escravido, os africanos aqui trazidos perderam muito de suas
tradies culturais: as lnguas originais (exemplo disso so nossos nomes, pois raros so os
negros brasileiros com nomes e mesmo com sobrenomes em suas lnguas tradicionais), as
religies etc. De acordo com Kabengele Munanga, na cultura banto tradicional, a pessoa
recebe vrios nomes, o que exprime a prpria realidade do indivduo. Segundo ele (1977, pp.
112-113):
Entre os Basanga, foram observadas trs categorias de nomes
prprios. 1. Dijina dya kusemwa ou dijina dya munda (nome
de nascimento ou nome de interior). Este nome dado de
acordo com uma das seguintes possibilidades: a) ele imposto
por um ancestral e conhecido, quer antes do parto, quer no
momento do parto, quer depois. Antes do parto: logo no incio
da concepo ou durante a gravidez, um ancestral pode, por
um sonho ou pressgio qualquer, manifestar sua inteno de
impor seu nome criana. No momento do parto: quando este
difcil pode-se imaginar que h conflito entre os ancestrais.
As parteiras citam, ento, lentamente, o nome de parentes
mortos. A citao que ocasiona o parto, constitui a doao do
nome. Depois do parto: fazendo-se a interpretao do sonho
ou do conflito entre os ancestrais, um erro pode ser cometido.
Ele ser revelado por uma doena que surpreender a criana
nos primeiros dias de sua existncia. Neste caso, procede-se
nova escolha, dando-se um novo nome. Se a criana se
restabelece, dir-se- que o nome favorvel. b) fora de toda
manifestao da parte de uma ancestral, o pai e a me so
livres para dar criana um nome qualquer, escolhido na lista
dos nomes das suas respectivas linhagens. (...) 2. Nomes
circunstanciais: conjuntamente com seus nomes de nascena,
certas crianas levam um segundo nome, lembrando
circunstncias particulares nas quais eles nasceram. (...)
Encontram-se nos nomes prprios de nascimento, de
circunstncia, de passagem ou de iniciao entre os Basanga
as mesmas funes de identificao de definio do indivduo,
de agregao ao grupo, etc.,.
159
Munanga vai ao encontro dessa grande preocupao dos afrobrasileiros de resgatar
parte de nossa africanidade. Essa iniciativa o identifica, a meu ver, com Orunmil, pois os
negros brasileiros, especificamente os pesquisadores, educadores, cientistas sociais etc, o
tomam como referncia na busca para a compreenso das culturas africanas. Sobre esse tema,
Munanga pontua (1996c, p. 225):
A busca da identidade, no nosso caso no Brasil, apesar da
importncia, no uma coisa fcil; problemtica. Essa
identidade passa pela cor da pele, pela cultura, ou pela
produo cultural do negro, passa pela contribuio histrica
do negro na sociedade brasileira, na construo da economia
do pas com seu sangue; passa pela recuperao de sua
histria africana, de sua viso do mundo, de sua religio. Mas
isso no quer dizer que para eu me sentir negro assumido eu
precise necessariamente freqentar o candombl; no quer
dizer que eu precise escutar o samba ou outro tipo de msica
dita negra. (...) A questo fundamental simplesmente esse
processo de tomada de conscincia da nossa contribuio, do
valor dessa cultura, da nossa viso do mundo, do nosso ser
como seres humanos; e valorizar isso, utilizar isso como arma
de luta para uma mobilizao; isso que importante,
Alm disso, a complexidade da realidade contempornea, resultante da natureza to
dinmica da prpria humanidade, dissolve o ser humano na totalidade universalizante de
indiferenciao. Desse modo, ele passa a ser caracterizado a partir dessa totalidade, quando,
contrariamente, o sistema deveria servir a um propsito humanizador, como decorrncia da
personalidade humana.
Se o processo de escravido dos africanos no Brasil nos despersonalizou, nos
desumanizou, urgente pensar nossa identidade, nosso modo de ser pessoa, enquanto seres
finitos e universalmente reconhecidos por nossas particularidades especficas, mas que, ao
mesmo tempo, possuem caractersticas que os integram totalidade, enquanto conceito de
humanidade e de universo. Nesse sentido, o pensamento de Kabengele Munanga, mais que
voltado aos negros brasileiros, apresenta um projeto que contribui para a formao de uma
conscincia de si, do outro e da coletividade, de forma a estarem todas essas instncias
integradas. Afirma ele (2005/06, pp. 48-49):
O eu e o outro, o universal e o particular, a unidade e a
diversidade, o ego e o alter, se combinam no corao da
antropologia enquanto disciplina que pretende estudar o
homem no mesmo momento em sua unidade e em sua
diversidade. A questo da alteridade percorre todo o
pensamento antropolgico, dos ancestrais fundadores aos
160
contemporneos. (...) Constata-se que todas as correntes e
paradigmas que marcaram o desenvolvimento da antropologia,
cada um sua maneira, trataram das questes de identidade
sem utilizar essa palavra, atravs de conceitos de unidade e de
diversidade.
Para ele, a identidade do eu no toma como referncia apenas as individualidades
egocntricas, mas refere-se a todos os outros; ou seja, o outro, ao falar, refere-se, por sua
vez, a si mesmo enquanto eu, pessoa consciente de si e que, da mesma forma, busca seu
reconhecimento enquanto eu e enquanto outro; neste sentido, fala-se da coletividade, que nada
mais que a unidade diferenciada e indiferenciada das pessoas.
Quanto educao, ela vist,a no como sistema, mas como processo, como
dimenso mediadora. A educao a instncia capaz de integrar o indivduo como pessoa
totalidade do universo, no apenas intelectualmente, mas tambm objetivamente, facilitando-
lhe uma viso e um entendimento de si como parte do todo e como a prpria totalidade, numa
relao de absoluta corresponsabilidade, na qual o que tem maior importncia no nem o eu
nem o outro, mas o e, capaz de congregar sem desfigurar ou aniquilar a diferena, que o
verdadeiro sentido da relao. No fosse a diferena, direta ou indiretamente tudo acabaria
relacionando-se com o mesmo. No dizer de Munanga (2001, p. 79):
Alguns dentre ns no receberam na sua educao e formao
de cidados, de professores e educadores o necessrio preparo
para lidar com o desafio que a problemtica da convivncia
com a diversidade e as manifestaes de discriminao dela
resultadas colocam quotidianamente na nossa vida
profissional. (...) O resgate da memria coletiva e da histria
da comunidade negra no interessam apenas aos alunos de
ascendncia negra. Interessam tambm aos alunos de outras
ascendncias tnicas, principalmente branca, pois ao receber
uma educao envenenada pelos preconceitos, eles tambm
tiveram suas estrutura psquicas afetadas. Alm disso, essa
memria no pertence somente aos negros. Ela pertence a
todos, tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos
quotidianamente fruto de todos os segmentos tnicos que,
apesar das condies desiguais nas quais se desenvolveram,
contriburam cada um de seu modo na formao da riqueza
econmica e social e da identidade nacional. (...) No existem
leis no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes
preconceituosas existentes nas cabeas das pessoas, atitudes
essas provenientes dos sistemas culturais de todas as
sociedades humanas. No entanto, cremos que a educao
capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a
possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de
superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram
161
introjetados neles pela cultura racista na qual foram
socializados,.
Ao pensar a identidade negra brasileira frente aos brancos, Munanga reflete sobre esse
processo de interao dialgica entre o eu e o outro, o qual muito mais do que uma simples
conversao proximal ou de interesses entre as partes. uma relao de responsabilidade, de
compromisso interacional e de complementaridade. No so apenas partes de um todo
relacionando-se a partir de entendimentos e concepes particulares e distintas que, muitas
vezes, nem mesmo se aproximam de forma conceitual ou mesmo ideolgica, seno o prprio
todo indissocivel em suas partes, porm defensor das particularidades que se apresentam
omo sendo a prpria relao temporal de si para-si e para-com o outro.
A IDENTIDADE COMO AUTOCOMPREENSAO
A identidade pessoal afrobrasileira, entendida como autocompreenso, est situada no
centro da reflexo terica de Kabengele Munanga (2004, p. 14):
A construo dessa nova conscincia no possvel sem
colocar no ponto de partida a questo da autodefinio, ou
seja, da auto-identificao dos membros do grupo em
contraposio com a identidade dos membros do grupo
alheio.
Uma tal identificao (quem somos ns? de onde
viemos e aonde vamos? qual a nossa posio na
sociedade?; quem so eles? de onde vieram e aonde
vo? qual a posio deles na sociedade?) vai permitir
o desencadeamento de um processo de construo de sua
identidade ou personalidade coletiva, que serve de plataforma
mobilizadora.
A relevncia da noo do ser afro ou do ser negro, unida a outros processos
(individuao, globalizao, estetizao, especializao poltico-social), situa o seu interesse
de anlise na maneira em que os sujeitos sociais, especialmente os descendentes de africanos
no Brasil, constroem ou vem o mundo e a si mesmos. Em virtude desse vnculo entre
autocompreenso e compreenso do mundo, Munanga tem se preocupado com os fenmenos
identitrios, pois estes proporcionam a chave da ao social, ou seja, os parmetros de sentido
que movem os sujeitos a atuar de uma forma e no de outra forma, bem como os discursos
que conferem sentido para compreender e construir o mundo.
162
As identidades, individuais ou coletivas, so autocompreenses de carter discursivo
e, portanto, criadoras de sentido. seu carter narrativo o que constitui a essncia da
identidade, o que revela uma unidade aberta como processo, como contnua reconstruo
discursiva que aspira a uma narrativa coerente. Ou seja, a identidade um processo sempre
negociado e renegociado, de acordo com os critrios ideolgico-polticos e as relaes do
poder (MUNANGA, 2004, p. 119).
A identidade caracteriza-se por construir sentido a partir da internalizao de
processos de autodefinio e individualizao. Essa idia , em certo sentido, um paradoxo,
pois preconiza que a autocompreenso provm do sentido, ao mesmo tempo em que atua
como fonte deste. O que se supe disso a necessidade de conceituar a identidade como um
processo de contnua reproduo, no mecnica, de sentido. Se a identidade sempre
diversificada, segundo os modos de existncia ou de representao (idem, 2005-06, p. 48), a
identidade pessoal, assim como a coletiva, exige uma determinada imagem do mundo para
poder situar-se dentro dela. Simultaneamente, a identidade reproduz essa imagem. Os
parmetros de sentido em que o sujeito se move o conduziro a uma certa autocompreenso e,
na direo oposta, sua autocompreenso reproduzir seus parmetros de sentido.
No podemos esquecer que, no pensamento ocidental, do qual temos forte influncia
no Brasil, o conceito de identidade
69
como autocompreenso est presente no cogito
70
cartesiano. Diante do crescente dessacralizao do mundo, o ser humano construiu as noes
de indivduo e razo. Desde ento, foi a certeza do prprio cogito a base para qualquer
teorizao posterior. A imagem que se construiu a do sujeito (burgus, varo, branco e
heterossexual) que, de sua particularidade, pensou a si mesmo e o mundo.
Da metfora do sujeito pensante, derivaram as conhecidas distines pblico-privado,
sujeito-objeto, esprito-matria, corpo-mente, indivduo-sociedade, eu-outro, que atravessaram
o pensamento ocidental at nossos dias. A re-conceituao da identidade a partir das
africanidades, compreende que a africanidade no uma concepo intelectual afastada da
69
A primeira definio de Aristteles, que diz que em sentido essencial, as coisas so idnticas no mesmo
sentido em que so unas, j que so idnticas quando uma s sua matria (em espcie ou em nmero) ou
quando sua substncia uma. (...) Esse conceito de identidade como unidade de substncia ou (o que d no
mesmo) de definio da substncia foi conservado e ainda est presente em muitas doutrinas. (...) A segunda
definio de Leibniz, que aproxima o conceito de identidade ao de igualdade: idnticas so as coisas que se
podem substituir uma outra salva veritate (ABBAGNANO, 2007, 612).
70
Resume-se nessa palavra a expresso cartesiana cogito ergo sum, que exprime a auto-evidncia existencial
do sujeito pensante, isto , a certeza que o sujeito pensante tem da sua existncia como tal (ibidem, 173.)
163
realidade. Ela um conjunto dos traos culturais comuns s centenas de sociedades da frica
(idem, 1984a, p. 5) e, de alguma forma, supera essa lgica binria e excludente.
A lgica clssica, desenvolvida desde Aristteles, assumiu trs princpios solidrios
entre si: (1) O princpio de identidade (A = A), isto , a impossibilidade de que o mesmo
exista e no exista ao mesmo tempo e dentro da mesma relao; (2) O princpio da no
contradio (A no pode ser B e no-B); (3) O princpio do terceiro excludo (A B ou no-
B), ou seja, toda proposio ou verdadeira ou falsa (MORIN, 1998, 217-263). Sobre essa
base lgica construram-se a cincia e os critrios racionais de verdade e de realidade. O
real e o verdadeiro deveriam responder a esses trs princpios pois caso contrrio, tratava-se
de uma falsa aparncia, ou de um erro, no processo cognitivo.
O famoso paradoxo atribudo ao cretense Epimnides de que todos os cretenses
mentem j havia demonstrado a insuficincia das operaes dedutivas para abordar certas
realidades (ibidem, p. 232). Karl Popper insistiu na insuficincia da induo (ibidem, pp. 220-
221) a qual, junto com a deduo, supe a operao bsica da lgica formal.
Kurt Gdel demonstrou que a descrio epistemolgica completa de uma linguagem
A no pode ser dada na mesma linguagem A, porque o conceito de verdade das proposies
de A no pode ser definido em A (GDEL apud MORIN, ibidem, p. 234), ou seja, a noo
de verdade relativa a uma linguagem (a uma teoria, por exemplo) no pode ser definida
completamente atravs dessa linguagem (teoria), sem que se recorra a uma metalinguagem
(meta-teoria) mais ampla que a defina. Por sua vez, essa metalinguagem no pode definir
completamente sua prpria verdade, pois necessita tambm de uma metalinguagem, e assim
infinitamente.
Estas reflexes puseram em choque os limites e debilidades da lgica clssica. O que
se pode propor, com a leitura de Munanga, uma re-conceituao completa da identidade,
que integre, na mesma reflexo, a unidade e a pluralidade, pois todo brasileiro um mestio,
quando no no sangue, o nas idias (MUNANGA, 2005-06, p. 56).
Frente idia relativamente simples do eu como cogito, que conota a imagem de
uma reflexo pura, isto , a viso de um indivduo que, em sua solido e particularidade,
pensa a si mesmo, prope-se a noo de autocompreenso, tratando, dessa forma, de situar o
acento na mediao social que acompanha todo processo cognitivo e na dialgica (derivada da
164
confluncia de duas dinmicas, autocompreenso e heterocompreenso), que acompanham
todo processo de re-construo da identidade.
Desta maneira, perverte-se a lgica binria, pois o sujeito passa a ser simultaneamente
tambm objeto (narra e narrado), e o eu aparece atravessado pelo outro. O ponto de
vista do eu se construir em interao com o ponto de vista do outro e o outro pelo
eu. De acordo com Munanga (2005-06, p. 117):
Estamos de acordo que o Brasil uma nova civilizao, feita
das contribuies de negros, ndios, europeus e asiticos que
aqui se encontraram. Apesar do fato colonial e da assimetria
no relacionamento que dele resultou, isso no impediu que se
processasse uma transculturao entre os diversos segmentos
culturais, como se pode constatar no cotidiano brasileiro.
Nessa nova cultura, que no chega, a meu ver, a se configurar
como sincrtica, mas que eu qualificaria como uma cultura de
pluralidades, partilhadas por todos, identificvel a
contribuio do ndio, do negro, do europeu de origem
italiana, portuguesa, alem etc... e do asitico.
A idia de uma compreenso simples da identidade v-se substituda pela noo de
uma compreenso complexa, ao considerar as seguintes trs dinmicas do social que operam
na suposta particularidade e reflexo solitria do sujeito.
1. Primeiramente, os elementos simblicos com os quais o sujeito pode, no s
articular seu pensamento, mas articular-se a si mesmo, derivam da linguagem simblica. Esta
se origina na interao social, introduzindo reflexo subjetiva, conceitos e limites sociais,
sendo impossvel separar completamente dessa determinao social, o pensamento individual.
2. Em seguida, a noo de habitus neste contexto consegue visualizar o social na
cognio subjetiva. O habitus nos remete a modos precognitivos de comportamentos e de
pensamento-sentimento inculcados no sujeito. O habitus situa-se num espao intermedirio
entre o mecnico, por um lado, e o reflexivo e completamente articulado, de outro. De forma
anloga, poderamos dizer que, ao tocar um instrumento, h uma reflexo abstrata e articulada
e o ato (mecnico) de toc-lo. O habitus no s regula o comportamento humano, mas
tambm incide sobre os processos cognitivos, instaurando certas lgicas e processos de
pensamento, assim como determinando as reaes emocionais do sujeito.
165
3. Por fim, o terceiro aspecto do social na autocompreenso tem por base a
necessidade de reconhecimento por parte do Outro. Esta vontade de reconhecimento no
indiscriminada, mas se orienta diante de certas pessoas significativas para o sujeito.
A identidade pessoal dialgica, no s no sentido de que nela intervm a
autocompreenso e a heterocompreenso, complementando-se e opondo-se, mas tambm
porque que nela se juntam unidade e pluralidade. Deste modo, necessrio fazer referncia
aos descobrimentos das teorias da contemporaneidade sobre a fragmentao da identidade,
completando esta idia com a sensao de certa unidade e continuidade que ainda
caracterizam os sujeitos atuais. A dialgica, na identidade pessoal, uma caracterstica da
africanidade. Segundo Verger (1997, p. 34):
Os arqutipos de personalidade das pessoas no so to
rgidos e uniformes (...). No Brasil, alm do mais, cada
indivduo possui dois orixs. Um deles mais aparente, aquele
que pode provocar crises de possesso, o outro mais discreto
e assentado, fixado, acalmado. Apesar disso, ele influencia
tambm o comportamento das pessoas. O carter particular e
diferenciado de cada indivduo resulta da combinao e do
equilbrio que se estabelecem entre esses elementos da
personalidade.
A pessoa revela-se a si mesma e se reconhece em si mesma como existncia e como
existente. Essa revelao a intuio de si mesma. A existncia um dado, mas a revelao
da existncia um dado da intuio. A revelao do ser para si mesmo a mesma revelao
da gnese criadora. E Orunmil quem revela ao homem sua identidade e seu destino:
Obatal reuniu as matrias necessrias criao do homem e
mandou convocar os seus irmos orixs.
Apenas Orunmil compareceu.
Por isso Obatal o recompensou.
Permitiu que apenas ele conhecesse os segredos da construo
do homem.
Revelou a Orunmil todos os mistrios e os materiais usados
na sua confeco.
Orunmil tornou-se assim o pai do segredo, da magia e do
conhecimento do futuro.
Ele conhece as vontades de Obatal e de todos os orixs
envolvidas na vida dos humanos.
Somente Orunmil sabe de que modo foi feito cada homem,
que venturas e que infortnios foram usados na construo de
seu destino (PRANDI, op. cit., p. 447).
166
A intuio no a nica geradora da necessidade de deciso, mas a atitude geradora da
vida realiza, em cada instante, um novo momento de deciso apoiado numa intuio que s
poder ser confirmada a partir da deciso e da atitude realizadora desta. A intuio o
impulso de deciso que est na base da efetivao da vida. Ela, a intuio, dada a cada
pessoa por Orunmil. Como pontua Verger (1999, pp. 579-582), If
71
, portanto, um guia e
conselheiro. tambm o destino, a personalidade das pessoas. Um homem desejoso de
conhecer sua identidade profunda e de saber como comportar-se na vida deve adquirir seu If
pessoal.
A nfase do pensamento de Kabengele Munanga est, antes, na atitude existencial, e,
nesse sentido, entende-se que cada momento um instante de deciso existencial. A intuio
exige a atitude imediata, que vai muito alm da simples deciso, podendo at ser um ato
puramente racional, e assim corre o risco de refutar a atitude existencial. Ou seja, fora do
alcance da racionalidade pura, pode ser compreendida a experincia ftica, como geradora
tanto da histria quanto do conhecimento que dela emerge e que, por sua natureza e
facticidade
72
, abre espao para a racionalidade.
Aquilo ao qual no se pode fundamentar, mas que, ao mesmo tempo no se pode
negar, haja vista sua presena, pode-se apenas, num primeiro momento, intuir. A
fundamentao de sentido ser dada pelo prprio objeto intudo, na medida em que ele se
realiza faticamente na sua prpria existncia e historicamente a cada momento de deciso de
sua mesma existncia. Portanto, a existncia no apenas um dado, mas tambm, e acima de
tudo, uma atitude existencial, tanto na mais prosaica das realidades, quanto na normalidade da
cotidianidade, ou mesmo na mais atroz situao que muitos negros se encontram.
Diante da impossibilidade de conhecer o todo e da estagnao diante da morte, s resta
apostar na existncia como alternativa para satisfazer a condio imediatamente humana. A
aposta no em qualquer existncia, mas na existncia histrico-temporal, que exige uma
profisso de f a cada instante, existncia que contnua atitude existencial. Entretanto, com
o estabelecimento do estatuto da primazia da racionalidade na modernidade, tudo o que no
71
If o orculo divino. Nome atribudo a Orunmil, devido ao jogo divinatrio, if, de quem Orunmil,
divindade da sabedoria, detm o segredo.
72
O fato, que simplesmente a presena das coisas utilizveis, objeto de constatao intuitiva. A
facticidade da existncia, ao contrrio, s acessvel atravs da compreenso emotiva. Nesse sentido, a
facticidade um modo de ser prprio do homem e diferente da factualidade, que o modo de ser das coisas
(ABBAGNANO, op. cit., p. 492).
167
for primeiramente racional, ou no couber nas dimenses da pura racionalidade, rechaado.
Para Munanga (2005-06, p. 47):
A histria das sociedades e culturas modernas foi sempre
acompanhada de uma certa idia de humanidade, de uma
apreenso do ser humano pensado essencialmente atravs das
noes de igualdade e de liberdade. medida que a
significao e o alcance dessa idia moderna de humanidade
foram se aperfeioando, ela se viu atravessada por uma tenso
muito forte entre duas exigncias comparavelmente opostas
(...) a humanidade uma natureza ou uma essncia.
Em Kabengele Munanga, a racionalidade, em especial sua intencionalidade totalizante
e instrumental, toma ares de coadjuvante existencial de segunda ordem, dando preferncia
para a experincia ftica do real, da qual emerge a racionalidade relacional com a lgica de
sentido da vida. De um modo geral, com Munanga temos, ao invs de aficcionados pelo lgos
e pelo ser enquanto ser, uma incessante preocupao com a humanidade do prprio homem,
bem como com a mundaneidade do mundo e a divindade da ancestralidade, e no apenas sua
condio de existente ou no, condio essa que no mais est no foco de ateno da
racionalidade contempornea, mas na condio de realizao da experincia ftica da prpria
existncia, pois o dado intuitivo sempre uma expectativa de efetivao.
A existncia humana no est, de modo algum, contemplada na esfera de
entendimento e de explicao filosfica, superando todas as possibilidades de compreenso. A
existncia , ela mesma, o que . E, para chegar a um possvel entendimento do que ela
representa, mesmo para a racionalidade, necessrio fazer a experincia da existncia, que
no uma experincia neutra ou aptica, mas uma experincia criadora, ou seja, uma
experincia capaz de dar vida prpria existncia, fazer da existncia uma atitude de
autocriao do sentido de si mesmo e da prpria existncia. Como prope Munanga (1984a, p.
5)
Africanidade no uma concepo intelectual afastada da
realidade. Ela um conjunto dos traos culturais comuns s
centenas de sociedades da frica subsaariana. (...) O contedo
da africanidade o resultado desse duplo movimento de
adaptao e de difuso. (...) em toda a frica Negra a infncia
sempre acompanhada dos ritos de iniciao: a criana tem
sempre um contato prolongado com a me e tem uma
dependncia de linhagem muito grande, o que fundamental.
Sua referncia identitria no a nacionalidade, no a classe
social, mas, sim, seu grupo de parentesco.
168
A estrutura constitutiva do ser como existente, postulado obsessivamente repetido por
Kabengele Munanga ao longo de todos os seus textos, expresso em algumas preocupaes
que enumeramos no quadro abaixo:
Frase Obra Pgina
Quem somos ns? De onde viemos e para onde vamos? 2004 14
Todo brasileiro um mestio, quando no no sangue, nas idias. 2004 56
O Brasil uma nova civilizao, feita das contribuies de negros, ndios,
europeus e asiticos que aqui se encontraram.
2004 117
A identidade um processo sempre negociado e renegociado, de acordo com os
critrios ideolgico-polticos e as relaes do poder.
2004 119
A humanidade uma natureza ou uma essncia. 2005/06 47
... mas essa identidade sempre diversificada, segundo os modos de existncia ou
de representao...
2005/06 48
A antropologia no unicamente filha do relativismo cultural; ela tambm
herdeira do universalismo...
2005/06 48
Africanidade no uma concepo intelectual afastada da realidade. Ela um
conjunto dos traos culturais comuns s centenas de sociedades da frica.
1984a 5
O contedo da africanidade o resultado desse duplo movimento de adaptao e
de difuso.
1984a 5
Os avs so as pessoas com quem se brinca; isso fundamental. 1984a 5
O que significa ser branco, ser negro, ser amarelo e ser mestio ou
homem de cor?
2004 18
A evoluo ontognica uma simples recapilulao abreviada da evoluo
filognica.
2004 58
O grupo negride dividido em funo dessas diferenas antropolgicas em
cinco sub-grupos distintos.
1984 2
Para os africanos, uma das caractersticas a questo da fora vital, a
possibilidade de agir sobre essas foras atravs de prticas mgicas.
1984 6
Toda e qualquer construo racista baseada nas diferenas reais ou imaginrias. 1996b 17
A mestiagem que uma das realidades do Brasil existe apenas do ponto de vista
biolgico, ou ela poderia ser encarada tambm do ponto de vista tnico-cultural?
1996b 21
O mestio o elemento mais crescente da populao brasileira? 1996b 21
A mestiagem (...) um fenmeno universal ao qual as populaes ou conjuntos
de populaes s escapam por perodos limitados.
2004 17
O fenmeno da hibridade designado por uma polissemia terminolgica segundo
as naes, as regies, as classes sociais...
2004 20
A nao (...) feita de diversidades raciais e culturais, contrariamente idia da
nao como conjunto de tradies comuns.
2004 66
Os primeiros (brancos) so mais africanizados, e os segundos (negros) mais
ocidentalizados do que imaginam.
2004 135
Os atuais Estados africanos so multitnicos... 1984 2
Essa identidade sempre um processo e nunca um produto acabado. 2004 14
Se toda e qualquer mestiagem um processo pelo qual um fluxo gnico 2004 18
169
aproxima duas populaes...
Essa classificao racial brasileira baseada na cor ou na marca ambgua (...)
preto rico branco ou branco pobre preto.
2004 96
O espao do jogo de todas as identidades no nitidamente delimitado. 2004 136
Ele um e outro, o mesmo e o diferente, nem um nem outro, ser e no
ser, pertencer e no pertencer.
2004 140
O conceito de raa substitudo pelo conceito de etnia/cultura 1996b 21
Analisando o uso do verbo ser em Munanga, percebe-se que a complexidade da
compreenso do ser humano no passa por nenhuma definio simplria e esttica, baseada
em categorias pr-determinadas e agregadas ao ser. A compreenso do ser humano gerada a
partir da experincia particular da pessoa, a partir de si mesma, e se estende e se confunde
com a experincia da realidade ftica, do tempo e da temporalidade de sua existncia. Atacar
diretamente o corao do ser, na tentativa de compreenso deste, contentar-se com
especulaes tautolgicas vagas. A inteno deixar o ser dizer de si mesmo, a partir de suas
experincias particulares. Enfim, o conhecimento do ser humano , de certa forma, auto-
revelao de si para si mesmo em primeiro lugar, e para o outro, em segundo plano.
Ainda assim no chegamos a uma evidente compreenso do ser, nem como pessoa,
nem como mundo, nem como Deus, nem mesmo como tempo ou espao. Talvez o
entendimento da existncia resolva-se no prprio verbo ser, assim como a existncia do
existente tambm se resolva, do mesmo modo, no verbo ser. Ou seja, a preocupao com a
compreenso do ser resolve-se no fato de que o ser . Como afirma Blanc (1998, p. 14):
O verbo serexprime a aco pura como tal, que os demais
verbos/aces pressupem e significam, uma possibilidade de
participao sempre relativa a um sujeito, que actua
consumando. (...) Do ponto de vista semntico, o verbo ser
contm, sob a aparente abstrao da sua forma infinitiva, uma
riqueza de contedo bem concreta (...) significando viver
(segundo a raiz es, presente nas formas einai, esse,
ser, sein), crescer (segundo a raiz bhu, presente em
be, bin, fuein, fui) e permanecer (segundo a raiz
wes, presente nas formas war, gewesen e wesen.
Mas e quanto vontade, liberdade, ao querer e ao prprio agir criador: no sero
estes tambm constitutivos do ser? Sabemos que a compreenso do ser vai muito alm do
prprio ser. Sendo assim, o ser foge compreenso, contudo no foge da realidade de ser.
Talvez devamos deixar o prprio ser dizer de si e compreender a si mesmo. Nesse sentido, o
170
si-mesmo ou a essncia do ser sua autocompreenso dentro de sua natureza finita, o que no
significa que essa autocompreenso possa ser verbalizada.
O si-mesmo , ento, to prprio do ser e to particular que j nasce com o prprio ser,
ao mesmo tempo, num movimento nico que se completa em si-mesmo, ainda que
independentemente da conscincia de si mesmo. Assim o si est para alm da vontade livre
e consciente, est muito alm da prpria mundaneidade do ser, embora esteja contido nela,
est, ao menos seu entendimento, para alm da mundaneidade como uma metarrealidade,
constitutiva de si e da prpria realidade. O mais importante a presena do si a si mesmo e
realidade constitutiva de sua mundaneidade. Para explicar esta sensao, recupero a reflexo
sobre o corpo humano, presente no pensamento de Kabengele Munanga, o que permite
conceituar a identidade pessoal atravs da metfora do uno-mltiplo.
A RECUPERAO DA CORPORALIDADE PARA A TEORIZAO DA
IDENTIDADE PESSOAL
No pensamento ocidental, o corpo aparece conceitualmente separado da mente. A
origem dessa dicotomia, atualmente, se deu no contexto da emergncia das grandes
transformaes sociais. De um lado, a construo do moderno Estado-Nao sups um
processo centralizador que implicava a monopolizao dos meios de controle ideolgicos e
normativos. Neste sentido, o controle praticado entre indivduos fomentou uma maior
distncia emocional entre sujeitos, assim como a extenso de um sentimento de dualidade
mente-corpo. O eu sentiu-se localizado no corpo, sobre o que exerce algum tipo de controle.
Por outro lado, o processo de crescente secularizao permitiu que o indivduo, isolado
do mundo e preso em seu corpo, seja observado como nova fonte de conhecimento e certeza.
Ser o sujeito que falar de si mesmo e do mundo, do mbito de sua privacidade, situao que
refletir e produzir as dicotomias de pblico-privado, sujeito-objeto, todas elas relacionadas
entre si por distines bsicas entre corpos e entre corpo e mente. Resumindo, so dicotomias
que nasceram de uma conceituao e construo do corpo preso frente a um corpo aberto
diante do mundo e diante dos outros, ou, em outras palavras, do trajeto no mundo pr-
moderno ao individualismo moderno.
171
Esta concepo de indivduo situava sua essncia numa parte do esprito imaterial
preso no corpo. Este no era, portanto, o que definia o sujeito, mas to somente o recipiente
que o acolhia e que, de certa forma, o limitava. Munanga (2004, 18), ao se perguntar o que
significa ser branco, ser negro, ser amarelo e ser mestio ou homem de cor?, nos faz
refletir sobre as trocas sociais que se produziram a partir da segunda metade do sculo XX e
que esto re-significando o corpo humano: a crescente importncia da sexualidade e de sua
expresso pblica, as diversas formas de hedonismo, a preocupao com a sade, o culto ao
corpo etc, so elementos sintomticos dessa mudana. Cada vez mais o sujeito reconhece o
corpo como parte imprescindvel de sua identidade. Neste contexto, as explicaes de
diversas reas, como dos importantes avanos dentro da neurobiologia e da articulao das
lgicas aparentemente contraditrias, operam no mbito da identidade: a fragmentao e
pluralizao, de um lado, e a unificao, de outro.
Na dimenso africana, e afrobrasileira, podemos dizer que a distino de determinadas
qualidades ou caractersticas de um todo feita por abstrao, mas no podemos separ-las,
pois uma anlise desse todo revelar que as dimenses se cruzam em todos os pontos e em
todo momento, sem comeo e sem fim; assim ocorre, por exemplo, com as dimenses de
espao: altura, largura e profundidade. Matematicamente podemos conceber de forma isolada,
porm, no universo fsico, no existe nenhum objeto que no apresente estas trs dimenses,
por nfimas que sejam. Da mesma forma, o sujeito humano pode ser entendido como um n
grdio da trade corpo-mente-cultura, supondo-se, ento, uma entidade fruto da confluncia
sincrtica destes trs elementos.
O corpo pode ser apontado como uma entidade fsico-biolgica, que atua sobre a
sociedade (a materializa, resiste a ela e a inova), ao mesmo tempo em que suporte da mente
e a determina (atravs de seus diferentes estados somticos ou atravs das capacidades do
crebro); a mente, como emergncia do cultural-simblico e do crebro, atua tanto sobre a
sociedade (a reproduz e a modifica atravs de novas idias, reflexes e crenas), como sobre o
corpo (controla parte de seu movimento) e o crebro (a autosugesto); e o cultural, como
conjunto de elementos materiais e no-materiais surgidos da interao humana e impostos ao
humano, atua sobre o corpo (inculcando uma srie de hbitos, induzindo o desenvolvimento
de certas habilidades em detrimento de outras), e sobre a mente (ao propor os elementos
simblicos). Assim, para (MUNANGA, 1988, pp.7-8):
172
Parece-nos que o prprio homem seria o primeiro motivo ou
objeto da arte. Isto pode ser observado no enfeite e na
decorao do seu corpo; decorao acompanhada s vezes de
deformao e mutilao corporais. Muito impressionantes so
tambm os estilos de penteado entre mulheres de diversas
culturas africanas. Vrias interpretaes podem ser fornecidas
a esse respeito. Alguns poderiam ver na escarificao, na
mutilao dentria, nas deformaes e outras prticas
corporais um simples esforo do homem em superar suas
condies biolgicas. O homem insatisfeito do seu fsico quer
sair de sua animalidade. Outros veriam ali um sinal distintivo
do grupo tnico, uma divisa, ou ainda, um smbolo. O que
pode ser verdadeiro, mas difcil de comprovar. Para ns, a
funo esttica est verdadeiramente presente pelo fato de
que, nas prticas de mutilao e de deformao corporais, os
homens fazem um esforo de arranjo e de reestruturao em
busca do belo. O exemplo mais eloqente dessa busca esttica
nos fornecido pelos estilos de penteado. Quando, de modo
geral, raspa-se a cabea nos pases tropicais, no vemos nisso
nenhuma finalidade esttica, pois o cabelo constitui nesse caso
um incmodo, e preciso livrar-se dele. Mas, a partir do
momento em que se desenvolvem estilos de penteado, isto ,
procura-se colocar ordem na desordem, tem-se ali uma
afirmao do homem e de sua condio, um sentido esttico
visvel.
Esta conceituao do sujeito, tratando de superar a distino radical entre corpo e
mente, parece, contudo, conservar algo dela: a trade corpo-mente-sociedade d a impresso
de que a mente ainda ocupa um lugar de certo modo privilegiado, autenticamente individual,
mesmo sabendo-se que qualquer uma de suas manifestaos sempre ser mediada por
elementos corporais e sociais. Com a noo de mente, faz-se referncia a um momento ltimo
de indeterminao radical da pessoa, que permite-nos aproximarmos dela atravs do conceito
de sujeito. O certo que, se os elementos que compem a trade corpo-mente-sociedade
podem ser distinguidos abstratamente, eles so, no entanto, indissociveis, pois falando-se de
um deles, fala-se dos outros dois.
Aqui, cabe salientar o carter positivo das dimenses biolgica e social. A concepo
cartesiana de ser humano parecia dar-lhes um papel negativo: eram limitados diante o esprito.
Na perspectiva afro, o biolgico e o social constituem as condies de possibilidade de
manifestao do esprito, no s impondo limites, mas tambm proporcionando-lhe
capacidades. Este ponto de vista introduz um elemento normalmente no compreendido na
teoria social, o qual, no obstante, pode ajudar-nos a explicar essa sensao-sentido de
unidade que retm os sujeitos, em que pese a sua pluralidade. O corpo humano, a experincia
173
de se constituir um ser encarnado, o que inicia uma nova via de reflexo relativa
identidade, para resolver a aparente contradio entre pluralidade e unidade.
A explicao mais plausvel para esse sentimento de unidade, num espao e tempo
concretos, que sempre acompanha a identidade, remete ao corpo, experincia de sermos
entes encarnados, a qual pode manifestar-se nas narraes autocompreensivas, ao aparecer,
por exemplo, como idiossincrasias que o sujeito considera identificativas de si mesmo, como
sua beleza, sua feira, certas habilidades ou incapacidades etc. De acordo com Munanga
(1984b, 166):
Recordemos que o ser humano, nas sociedades bantos, assim
como em outras sociedades tradicionais, est integrado num
sistema de dinamismo, de foras que o afetam na realidade
mais profunda, em sua prpria existncia. O homem
concebido como um ser dinmico, quer dizer, existindo de
acordo com graus de intensidade varivel: forte ou fraco, ele
se sente salvo ou morrendo; ele poder fortalecer os mais
moos e depende, ele prprio, de seus mais velhos: pais e
antepassados. Comunica sua prpria subsistncia, sua vida e
sua fora sua progenitora, ao seu grupo, a tudo que possui, o
que manipula etc. com o apoio dos objetos materiais que o
homem entra em comunho vital com os outros: o objeto
transmitido que conduz sua existncia, sua vida, sua realidade
pessoal. O cho onde ele se assenta, o utenslio que ele
emprega, o p que ele pisa, a roupa que usa e, com mais forte
razo, tudo o que lhe pertence corporalmente unhas, cabelos,
crostas das feridas etc., tudo est impregnado da sua realidade.
Em Munanga, a subjetividade, a sensao de ser um eu, no est sob algum tipo de
esprito ou pensamento imaterial, nem em nenhuma representao construda do prprio eu,
mas na sensao que se tem do prprio corpo e da forma como este nos conecta ao mundo.
Deste modo, as narraes que construmos de ns mesmos esto baseadas na experincia de
estarmos encarnados e na maneira como a mesma simbolizada culturalmente.
O corpo como elemento simbolicamente apreendido e includo nas narraes
autocompreensivas e nos discursos de sentido, atua conferindo essa sensao de unidade e
continuidade do sujeito, indo mais alm, pois o corpo mesmo (no sua posterior apreenso)
constri essa sensao de unidade no sujeito; no se trata de um sujeito auto-consciente que
observa seu corpo, mas o corpo mesmo que se auto-observa, o corpo tomado por uma
energia, por uma fora. Para Munanga (1984, p. 71):
174
Para os africanos, uma das caractersticas a questo da fora
vital, a possibilidade de agir sobre essas foras atravs das
prticas mgicas, feitiarias. A prpria morte constitui uma
das maneiras de agir sobre as foras. A circulao da fora
vital, o princpio da fora vital caracteriza toda a frica.
Para os iorubanos, por exemplo, que constituem forte influncia na forma de ser
afrobrasileira, alm da pessoa fsica, h um outro eu, denominado de Or. Ningum consegue
fazer nem o bem, nem o mal para qualquer indivduo sem o consentimento de seu Or. Um
eb (oferenda feita ao orix) que os babalawos prescrevem so conhecidos como bor, ou
seja, sacrifcio ao Or, ao seu outro-eu. Segundo Omidire (2003, pp. 128-129):
Acredita-se que foi esse Or que estava envolvido no ritual de
knlyn antes mesmo que a pessoa fsica nasceu.
Acredita-se que, depois da formao duma pessoa pelo Orix
fabricador Oxal e depois da infuso do flego de vida por
Oldmar, o Deus criador, a primeira atividade do novo ser
a escolha de seu destino pelo Or. Segundo a crena, o novo
ser entra em um quarto onde so guardados diversos Or, sob a
vigia de um ente chamado jl. Neste quarto, o indivduo
recm-criado deve ajoelhar-se para escolher qual Or lhe
apetece. Por isso que o ritual denominado knlyn (a-
escolha-feita-ajoelhado). Cada um dos Or representa um
destino diferenciado. (...) Depois dessa escolha, o novo ser
continua de joelhos para que o Elda, o criador, lhe
assentasse o Or que teria escolhido. Neste momento, o
contedo da sua escolha lhe ser explicado plenamente. Por
exemplo, a escolha pode implicar sucesso ou fracasso nos
grandes empreendimentos da vida como casamento,
fertilidade, destaque profissional etc. Deste modo, os
iorubanos acreditam que o homem no deveria se queixar
sobremaneira do seu destino no mundo, uma vez que foi ele
mesmo (ou melhor, o seu Or) que fez a escolha de livre
vontade l no outro mundo. S que, aps de concludo o ritual
l no mundo espiritual a pessoa esquece imediatamente o seu
contedo. (...) o maior perigo no compreender o seu
destino. (...) o nico perigo ter selecionado na hora do
knlyn aquilo que se chama de ori olr, ou seja, o
destino errado
73
.
A fonte da identidade , pois, dupla: uma dimenso est sob mecanismos biolgicos,
enquanto a outra predominantemente social. Esta ltima conhecida; trata-se da expectativa
da unidade, das expectativas projetadas sobre os sujeitos para que seus atos e discursos sejam
coerentes, previsveis e contnuos. A primeira est sob a atividade do prprio organismo sobre
73
Vejo semelhanas com a narrao de Plato sobre o dilogo entre Scrates e Glauco, a respeito do mito de
Er, na Repblica. As almas escolhem, orientadas pelo Hierofante, os destinos de suas futuras vidas neste
mundo, inclusive o esquecimento a que estaro sujeitas ao encarnarem, aps beber as guas do rio Lete.
175
si mesmo e em sua capacidade para distinguir-se do entorno. Essa idia de um organismo que
se autorreconhece parece apontar para o fato que esse mesmo organismo , por si, uma
unidade, que natural. Essa incessante atividade do corpo sobre si mesmo situa-se na base
da subjetividade. Em relao identidade, cabe apontar trs hipteses:
1. a identidade idntica subjetividade, inata, no-social, como sustenta as
concepes essencialistas.
2. a hiptese do organismo auto-observador falsa: a subjetividade, assim como a
identidade so noes adquiridas.
3. existe uma autopercepo por parte do organismo (a subjetividade inata), mas o
plano da identidade pertence ao mbito da autoconscincia, cuja matria simblica.
O pensamento de Munanga, a meu ver, compromete-se com a terceira hiptese, ou
seja, a base da subjetividade e a sensao de unidade da identidade pessoal, orgnica. Isto,
porm, somente uma dimenso do fenmeno, posto que h que se considerar as outras duas,
social e individual, para que essa sensao, esse sentido de unidade se manifeste na narrao
provida de sentido. Essa mesma complexidade apontada, em outros termos, por Damsio
(1996, pp. 113-120), quando este afirma que:
O crebro e o corpo encontram-se indissociavelmente
integrados por circuitos bioqumicos e neurais recprocos
dirigidos um para o outro. Existem duas vias principais de
interconexo. A via em que normalmente se pensa primeiro
a constituda por nervos motores e sensoriais perifricos que
transportam sinais de todas as partes do corpo para o crebro,
e do crebro para todas as partes do corpo. A outra via, que
vem menos facilmente mente, embora seja bastante mais
antiga em termos evolutivos, como os hormnios, os
neurotransmissores e os neuromoduladores.
(...) Se o corpo e o crebro interagem intensamente entre si, o
organismo que eles formam interage de forma no menos
intensa com o ambiente que o rodeia. Suas relaes so
mediadas pelo movimento do organismo e pelos aparelhos
sensoriais.
O ambiente deixa sua marca no organismo de diversas
maneiras. Uma delas por meio da estimulao da atividade
neural dos olhos (dentro dos quais est a retina), dos ouvidos
(dentro dos quais est a cclea, um rgo sensvel ao som e o
vestbulo, um rgo sensvel ao equilbrio) e das mirades de
terminaes nervosas localizadas na pele nas papilas
gustativas e na mucosa nasal.
(...) Entre os cinco principais setores sensoriais de entrada e os
trs principais setores de sada do crebro encontram-se os
176
crtices de associao, os gnglios basais o tlamo, os crtices
do sistema lmbico e os ncleos lmbicos o tronco cerebral e o
cerebelo. No todo, esse rgo de informao e regncia,
esse grande conjunto de sistemas, detm tanto o conhecimento
inato como o adquirido sobre o corpo propriamente dito, sobre
o mundo exterior e sobre o prprio crebro, medida que esse
interage com o corpo propriamente dito e com o mundo
externo. O conhecimento utilizado para desdobrar e
manipular sinais de sada motores e mentais, que so as
imagens constituintes de nossos pensamentos.
Damsio (ibidem, pp. 87-95) exemplifica, utilizando a anosognosia, termo utilizado
para identificar as pessoas acometidas de paralisia do lado esquerdo do corpo, mas que no
estoa conscientes da mesma. Os portadores dessa condio podem reconhecer sua paralisia
se a enfrentam diretamente, por exemplo, se algum lhes pede que mova o brao esquerdo
sem a ajuda do direito; mas so incapazes de re-atualizar este conhecimento sobre o estado de
seu corpo. O problema no afeta a memria, pois tais pacientes recordam dados de suas vidas
(quem so, de onde vieram, quem so seus parentes etc), os sentimentos de fundo, que esto
sob a parte no-consciente, que um organismo detm de si mesmo.
Deste modo, e ainda de acordo com Damsio, um dos pilares da identidade essa
contnua auto-observao do organismo, a qual funciona segundo a clssica distino entre
um eu e um eu-objetivado: um organismo inter-atua em resposta a um objeto-estmulo X
e, nessa inter-atuao, representa-se a si mesmo. Esta a base biolgica da subjetividade.
A aceitao desta hiptese, que afirma a existncia de uma variedade de
autorrepresentaes do organismo, j que uma das fontes da sensao de unidade da
identidade pessoal, sua relao com os discursos identitrios (identidade entendida como
auto-narrao), obriga um melhor aprofundamento.
Num primeiro momento, parece que a autorrepresentao orgnica escapa ao fluxo do
simblico e do social. A contnua atividade do corpo sobre si mesmo e, com ela, a
subjetividade, supe uma incompleta inspirao para as narraes autocompreensivas de
autoconscincia pois, como todo sistema dinmico, o organismo se insere numa dialgica
abertura-fechamento, a mesma que lhe permite re-construir-se, neguentropizar-se, adaptar-
se ao meio (fsico e simblico), reconhecendo-se nessa troca. Em suma, o eu , utilizando
um conceito de Morin (1998, p. 216), um cruzamento bioantropolgico e antropo-scio-
noolgico.
177
A autorrepresentao orgnica constitui a base da dialgica da identidade entre
autocompreenso unitria e pluralidade identitria. As narraes simblicas da identidade se
nutrem, sobretudo, do social, de seu simbolismo; neste sentido, sua autonomia ampla em
respeito ao biolgico e sua variao cultural tambm dilatada. Para Morin (ibidem, pp. 28-29):
A relao entre os espritos individuais e a cultura no
indistinta, mas sim hologramtica e recursiva. Hologramtica:
a cultura est nos espritos individuais, que esto na cultura.
Recursiva: assim como os seres vivos tiram sua possibilidade
de vida do seu ecossistema, o qual s existe a partir de inter-
retroaes entre esses seres vivos, os indivduos s podem
formar e desenvolver o seu conhecimento no seio de uma
cultura, a qual s ganha vida a partir das inter-retroaes
cognitivas entre os indivduos: as interaes cognitivas dos
indivduos regeneram a cultura que as regenera. (...) O
conhecimento pode ser legitimamente concebido como o
produto de interaes bio-antropo-scio-culturais. A esfera do
sociocultural introduz-se no ser humano antes do seu
nascimento, no ventre da me (influncias do meio ambiente,
sons, msicas, alimentos e hbitos maternos) e, depois, nas
tcnicas do parto, no tratamento do recm-nascido, no
ensino/educao familiar/social. As interaes relativas ao
conhecimento comeam talvez durante o perodo embrionrio
(com o despertar dos sentidos do feto), desenvolvem-se e
aprofundam-se durante a primeira infncia. (...) Interdies,
Tabus, Normas, Prescries incorporam em cada um um
imprinting cultural frequentemente sem retorno. Por fim, a
educao, atravs da linguagem, fornecer a cada um os
princpios, regras e instrumentos do conhecimento. Assim, de
todas as partes, a cultura age e retroage sobre o
esprito/crebro para nele modelar as estruturas cognitivas,
sendo, portanto, sempre ativa como co-produtora de
conhecimento.
As narraes autocompreensivas so feitas sob exigncias sociais de uma certa
coerncia, e o sujeito assume essas exigncias, essa retroao sobre si mesmo: o que foi dito
num momento X obriga a re-construir a memria do que foi dito com anterioridade em funo
desse momento X, e assim determina parcialmente o que se dir no futuro. A determinao
no completa, pois o futuro terminar por formular o afirmado nesse momento X.
Caberia questionar se existe a retroao das estruturas simblico-culturais sobre a
forma em que o organismo atua sobre si mesmo. A configurao do organismo e, com ela, a
configurao do crebro e da mente no so unicamente dependentes da herana gentica,
mas tambm de fatores ambientais. Esta a conhecida distncia entre gentipo e fentipo, ou,
178
em outros termos, o fenmeno conhecido como imprinting (ibidem, pp. 34-38). De acordo
com Damsio (op. cit., pp. 137-138)
O genoma humano (o total da soma dos genes existentes nos
cromossomos) no especifica toda a estrutura do crebro. No
existem genes disponveis em nmero suficiente para
determinar a estrutura precisa e o local de tudo em nossos
organismos, muito menos no crebro, onde bilhes de
neurnios estabelecem os contatos sinpticos. A desproporo
no sutil: transportamos provavelmente cerca de 10
5
(100
mil) genes, mas possumos mais de 10
15
(10 trilhes) sinapses
no crebro. (...) E como que o arranjo preciso se estabelece?
Estabelece-se sob a influncia de circunstncias ambientais
que so complementadas e restringidas pela influncia dos
circuitos estabelecidos de forma inata e precisa, relacionados
com a regulao biolgica.
A um nvel to elementar como a ao do organismo sobre si mesmo, sua capacidade
de diferenciar-se do entorno e seu incessante trabalho de controle e cuidado (sua atividade
neguentrpica), no parece que o imprinting cultural possa jogar um papel muito importante.
A distino do organismo entre ser e no-ser e com ela a sensao de subjetividade parecem
ser inatas.
Ao estudar os Basanga de Shaba, um grupo da cultura banto, Munanga nos mostra que
existem duas naturezas, uma material e outra imaterial, ou seja, uma natureza corporal e outra
natureza espiritual. Sobre a natureza material, ou corporal, ele nos diz que (1977, p. 292):
O corpo humano, mubidi um complexo organizado de
ossos, de carne e de rgos diversos que tm um nome prprio
mas no so genericamente denominados. Entre esses rgos
o mutima o mais importante. No dizer dos Basanga, o
mutima se localiza no fgado ou o prprio fgado; o
centro de todas as faculdades, inferiores e superiores. As
alegrias e as dores, os desejos e os impulsos, a inteligncia
(mano) e o pensamento (mulangwe), a lembrana, o
sentimento, etc., tudo isto est localizado no mutima.
A corporalidade o que h de mais ntimo e prprio da pessoa. To prprio e to
particular que capaz de diferenciar uma pessoa dentre todas as outras. A humanidade ,
aqui, a dimenso universal constituda por pessoas de corporalidade e, portanto,
absolutamente inconfundveis e incomparveis. A pessoa a expresso de sua corporalidade,
sendo esta a mediao entre o particular mais ntimo do si-mesmo e a condio de
coletividade da realidade em que a individualidade est contida como parte integrante e
179
essencial. A corporalidade to pessoal que no poderia ser mais particular do que o si-
mesmo, ao mesmo tempo em que estabelece relao com o outro e com o mundo a fim de
afirmar sua particularidade a ponto da relao com o outro se transformar em caminho para o
si-mesmo. A importncia da corporalidade revela-se at na prpria sombra. No dizer de
Munanga, 1977, p. 295):
A sombra tambm no apenas uma simples projeo do
corpo vivo. Ela um pertence, uma manifestao do homem
interior, e desaparece com ele. Seria de mau agouro perceber a
sombra de um corpo sem vida. Ele no a tem mais, mas como
contudo manifesto que o envoltrio carnal, privado de vida,
projeta uma sombra, esta chamada mushinshi wa lufa,
sombra da morte. Enquanto que munshinshi wa bumi, a
sombra da vida, o sinal sensvel, de uma realidade
escondida, se opera no esprito dos basanga uma curiosa
conexo entre esta realidade e seu smbolo. Com efeito, bater
na sombra atentar contra o muntu mwine, ao prprio
homem; tirar terra desta sombra possuir um meio de atingir
seu ser interior.
Enfim, a corporalidade a identificao do eu consigo mesmo to nico e to
original que faz igualmente a pessoa ser nica, incomparvel e inigualvel, ainda que
necessite da coletividade como fator constitutivo da condio de pessoa.
Com a depreciao ao corpo negro durante o perodo escravocrata no Brasil, aliada aos
estigmas depreciativos da cor preta, os negros brasileiros buscam a valorizao de uma
esttica afro, visando especificamente restaurar essa dignidade. Segundo Munanga (1988, p.
7) alguns autores recusaram a existncia do belo nas culturas africanas, negando ipso facto
a existncia da noo de beleza entre os negros africanos. Neste sentido J. C. Pauvert disse
que, para o negro africano, no existe o belo em si. Um dos mitos iorubanos desmente essa
viso:
Um dia, Orunmil saiu de seu palcio para dar um passeio
acompanhado de todo o seu sqito.
Em certo ponto deparou com outro cortejo, do qual a figura
principal era uma mulher muito bonita.
Orunmil ficou impressionado com tanta beleza e mandou
Exu, seu mensageiro, averiguar quem era ela.
Exu apresentou-se ante a mulher com todas as reverncias e
falou que seu senhor, Orunmil, gostaria de saber seu nome.
Ela disse que era Iemanj, rainha das guas e esposa de Oxal.
Exu voltou presena de Orunmil e relatou tudo o que
soubera da identidade da mulher.
Orunmil, ento, mandou convid-la ao seu palcio, dizendo
que desejava conhec-la.
180
Iemanj no atendeu de imediato ao convite, mas um dia foi
visitar Orunmil.
Ningum sabe ao certo o que se passou no palcio, mas o fato
que Iemanj ficou grvida aps a visita a Orunmil.
Iemanj deu luz uma linda menina.
Como Iemanj j tivera muitos filhos com seu marido,
Orunmil enviou Exu para comprovar se a criana era mesmo
filha dele. Ele devia procurar sinais no corpo.
Se a menina apresentasse alguma marca, mancha ou caroo na
cabea seria filha de Orunmil e deveria ser levada para viver
com ele.
Assim foi atestado, pelas marcas de nascena, que a criana
mais nova de Iemanj era de Orunmil.
Foi criada pelo pai, que satisfazia todos os seus caprichos.
Por isso cresceu cheia de vontade e vaidades.
O nome dessa filha Oxum (PRANDI, op. cit., pp. 320-321).
Esse mito revela a viso esttica presente no continente africano, ao apresentar tanto
Iemanj como linda a ponto de Orunmil ficar atrada por ela, assim como Oxum, filha de
Iemanj e Orunmil. Se Orunmil tem essa ligao com a beleza, analogamente vemos essa
participao em Kabengele Munanga, especificamente em seu trabalho junto ao Museu de
Arte Contempornea (MAC), do qual vice-diretor, alm de ter sido diretor do Museu de
Arqueologia e Etnologia da Universidade de So Paulo (MAE).
A ESTRUTURA INTERNA DA IDENTIDADE PESSOAL:
UNIDADE E PLURALIDADE
O pensamento de Munanga sobre a mestiagem assume que a identidade pessoal
estrutura-se dualmente, obrigando distino entre um eu e um eu-objetivado. Para ele,
a mestiagem (...) um fenmeno universal ao qual as populaes ou conjuntos de
populaes s escapam por perodos limitados (MUNANGA, 2004, p. 17). Isso introduz um
problema de conceituao pois, intuitivamente, parece que se est afirmando que A = A + A,
ou seja, que a identidade igual a ela mesma mais outra coisa. Isso remete novamente
necessidade de conceituar a identidade como um processo, no como algo dado ou
conquistado de uma vez para sempre, mas que, ao contrrio, trata-se de um contnuo re-
construir-se e re-organizar-se. As identidades pessoais devem ser analisadas desde uma dupla
perspectiva: 1. o contexto de um sujeito (concreto, corpreo) pensando-se a si mesmo e; 2. a
181
incidncia dessa narrao identitria, autocompreensiva, sobre o mesmo sujeito, sobre seu
comportamente e atividade cognitiva.
O conceito de w no pensamento iorubano, presente na vida dos negros brasileiros,
talvez nos auxilie a compreender essa questo da identidade:
Um dos ods (caminhos) de If, a mais completa
enciclopdia iorubana, diz que w foi a esposa de Orunmil,
o profeta e mstico que Oldmar (Deus Criador) enviou ao
mundo para mostrar o caminho das divindades humanidade.
O Od conta que Orunmil no tratava essa mulher com o
respeito prescrito pela tradio porque w era uma mulher
exageradamente doce que no exigia nada do marido. Porm
um dia, no podendo mais suportar o desprezo de Orunmil,
w decidiu sair de casa sem avisar o marido. Ela levou tudo o
que lhe pertencia e se mandou. No incio, Orunmil achou
graa no sumio da esposa, pensando que era a melhor coisa
que poderia acontecer a ele. Porm, aos poucos, as coisas
comearam a andar mal para ele: perdeu a sua riqueza, perdeu
os amigos, perdeu o seu dom de visionrio na sociedade, a sua
clientela e, pior ainda, perdeu a fama e o respeito de que
gozava na comunidade. Vendo que ia acabar perdendo a
cabea se no tomasse alguma providncia urgente, pediu que
um outro babalawo jogasse If para ele afim de descobrir qual
a origem de sua m fortuna. Logo ficou sabendo que a
ausncia de w na sua vida foi o que estava provocando todo
do problema. Dizeram-lhe que se no recuperasse w com
toda urgncia, ia ter um fim miservel. Mandaram-no fazer
certos eb (sacrifcios) que serviriam para lhe propiciar a
graa divina para poder alcanar w que j foi muito longe.
Sem discusso, Orunmil fez o sacrifcio prescrito, porque
sabia mais do que ningum que o provrbio iorubano estava
certo quando diz que rru eb n gben, r r k gbe
nyn
74
. Feito o eb, que na realidade era a promessa de
mudar de rumo e passar a valorizar a esposa, Orunmil saiu
procura de w. Viajou de vila em vila, de cidade em aldeias,
cantando o seu lamento: talo bami rw fn mi, w, w l
nw, w! (quem viu a minha w, w que estou
procurando). Depois de muito penar, Orunmil achou a
mulher e a convenceu a voltar ao lar matrimonial. As coisas
no demoraram a melhorar para ele (OMIDIRE, 2004, pp.
166-167).
Percebe-se que, enquanto o Or o mediador entre o indivduo e os orixs, o w o
mediador entre o indivduo e seu Or. Ou seja, o indivduo seu Or e seu Iw.
74
A obedincia na execuo de sacrifcio o nico caminho para resolver as dificuldades do homem; quem
receber o aviso de fazer sacrifcio e no o fizer, acumular a sua culpa e a m fortuna. Sobre este provrbio, ler
o conto O carpinteiro que perdeu o nariz, de Mestri Didi, em Contos Crioulos da Bahia.
182
Tanto o eu como o eu-objetivado so plurais. Este ltimo varivel, o conjunto
de imagens, de narraes que um sujeito faz de si mesmo. O eu tambm plural (rompendo
com a tradicional identificao do eu com a unidade do sujeito). Um mesmo sujeito
descentrado est composto de mltiplos eus, assim como de mltiplas narraes auto-
compreensivas (eu-objetivado).
A idia de um eu mltiplo est pressuposta na determinao contextual de qualquer
enunciado; ou melhor, todo enunciado, includo o discurso identitrio, formulado a partir de
um contexto de enunciao concreto, incluindo este contexto, entre outras coisas, uma
determinada viso do mundo, que aparece indissoluvelmente ligada s identidades, s
autocompreenses. Este contexto de enunciao condiciona parcialmente o contedo do que
se diz, com o que desaparece a idia de um eu unitrio, descontextualizado. A ideia
implcita em tudo isso que as identidades, os discursos autocompreensivos, no so somente
narraes que o sujeito pensa ou inventa, mas, ao serem internalizadas, tornam-se vises do
mundo. De qualquer forma, a pluralidade de discursos identitrios (eu-objetivado) passa ao
interior do eu.
A afirmao anterior pode ser constatada por um observador externo ou pelo prprio
sujeito, com um olhar retrospectivo. Tanto o observador externo como o prprio sujeito que
se autocontempla, observam a partir da posio em que eles mesmos so uma unidade,
sentem-se uma unidade, pois essa pluralidade s pode ser observada, concretamente, a partir
de uma unidade. A pluralidade do eu s pode ser observada assumindo-se, nesse momento
concreto da observao, um eu unitrio, um dos autores internos que, organizados sem
nenhum centro, permitem realizar qualquer ao. A identidade, do indivduo e do grupo,
plural ou, como pontua Munanga (2004, p. 66), a nao (...) feita de diversidades raciais e
culturais, contrariamente idia da nao como conjunto de tradies comuns. No prprio
continente africano, territrio de origem dos negros brasileiros, h uma grande diversidade.
Como explicita Munanga (1984a, p. 67):
A unidade geogrfica do continente africano abriga, na
realidade, diversidade biolgica
75
, lingstica
76
e tnica
77
. (...)
75
Os negrides renem os melano-africanos (sudaneses, nilticos, guineenses, congoleses e sul-afriancos); os
san (bosqumanos); os khoi-khoi (hotentotes); os pigmeus e os etopes.
76
Existem quatro famlias lingusticas: afroasitica, khoi-san, nger-karfaniana e nilo-sahariana.
77
As diversidades tnicas no continente africano foram objeto de estudo de pesquisadores como Herskovits,
Ratzel, Frobenius etc. Jacques Maquet distinguiu cinco civilizaes: as do arco, povos caadores; as da
lana, povos pastores; a civilizao dos celeiros, agricultores que tinham excedentes na agricultura e
183
Atualmente, sem traar uma fronteira linear, dois grupos
destacam-se dos dois lados do Sahara. No norte, temos o
grupo rabe-brbere, composto dos descendentes dos lbios,
semitas, fencios, assrios, greco-romanos. (...) No sul, temos o
grupo negro, sem perder evidentemente as mestiagens
milenares que se fizeram na linha fronteiria entre os dois
grupos. (...) A teoria recente mostra que h uma certa unidade
gentica entre esses vrios grupos, que pertencem ao grande
Grupo Negride. Evidentemente que apresentam diferenas
antropolgicas notveis devido sua adaptao ao meio
ambiente: insolao, temperatura, umidade, alimentao, etc.
De modo geral, voc v que as populaes da frica da
floresta so mais baixas e mais claras caso dos prprios
pigmeus, que vivem em plena Floresta Equatorial -, enquanto
o homem da Savana ou do Sahael um tipo mais alto e mais
escuro. Isso sem esquecer os movimentos da histria:
migraes, mudanas ecolgicas e mestiagens.
A existncia singular, contudo a confirmao de tal existncia d-se no encontro de
relao, ou seja, na pluralidade. Esta sim capaz de certificar a existncia singular, a partir do
encontro e do reconhecimento de si mesmo no outro. O encontro, as relaes, os laos de
relao estabelecidos entre os particulares confirmam a inegvel existncia elemental, tanto
da singularidade quanto da prpria pluralidade, enquanto constituio da singularidade.
A caracterstica de unir os elementos, presente no pensamento de Munanga e
manifesta em seu estudo sobre a mestiagem, tambm nos permite identificar, em seu
imaginrio, o mito de Iroco
78
, a rvore sagrada.
Iroco era uma rvore muito importante, importante a valer.
To importante que todos iam ao p dela para pedir coisas,
dar-lhe presentes, olhar sua beleza e imponncia.
Exu era o senhor dos caminhos cruzados. Olofim determinou
que os orixs e ibejis (os gmeos) fossem cultuados pelos
viventes. Eles receberam a ordem de sair pelo mundo
procura de seus filhos, o que aproximaria o mundo dos
encantados do mundo das pessoas, para a felicidade de todos.
Iroco era muitssimo cultuado e trabalhava muito, at demais.
Os carregos grandes iam para o p da rvore e cada vez mais o
povo pedia.
Pediam tanto a essa rvore, que os milagres comearam a
acontecer e os pedidos e promessas triplicavam... Iroco era
cada vez mais popular, de tanto que pediam e de tanto que ele
trabalhava sem parar.
desenvolveram as monarquias; civilizao das cidades, que possuam o artesanato bem desenvolvido; e a
civilizao industrial, povos que trabalhavam com a metalurgia.
78
Iroco um orix para os nags; entre os jeje-mina o vodun Loco; e para os bantos, o inkisse Tempo, no
Brasil representado pela rvore Gameleira Branca.
184
Um dia, os olus (adivinhos) fizeram uma juno para
conversar sobre essa rvore, que tanto estava dando que falar.
Foram l para debaixo dela, na sombra e comearam a jogar,
Resolveram pedir a Iroco que ele viesse fazer parte do Ax,
junto com os outros orixs, para que fosse feito.
Ele respondeu que sim, que passaria para o lado dos orixs de
vez, mas que jamais moraria dentro de uma casa de orix. Ia
ficar na rua, que era seu lugar, do lado de fora, e no aceitaria
muro em redor de si, mas cerca feita de vrias tbuas, cada
uma representando um membro do candombl. Queria morar
cercado pelo povo-de-santo, sua gente, mas fora de qualquer
casa, que seu principal ew (proibio).
Tudo dele tinha de ser feito na rua. Ele se vestiria sempre de
branco e responderia em todas as naes. Sem essa de
nao pura, com ele! Cada uma tem seu encanto prprio e a
unio faz a fora.
Atenderia pelos seguintes nomes: Iroco, Loco, Olo Oco,
Oloroqu e Tempo. Os olus concordaram e disseram que
tudo seria feito de acordo com sua vontade.
Dito e feito.
L perto havia uma feira cheia de movimento. Iroco soprou,
soprou e o seu hlito, em forma de vento, foi cair sobre a
cabea de uma moa, que vendia na feira. A moa comeou a
rodar, a rodar, a rodar e foi cair nos ps de Iroco, nascendo a
primeira Locossi... a primeira filha de Iroco na Terra!
(...) Vendo aquilo, todos os orixs correram para o p de
Iroco, para uma grande juno. (Gente comum faz reunio;
orix faz juno...) Chegaram trazendo suas comidas
prediletas: Ogum levou inhame assado, Oxossi levou milho
amarelo, Omolu levou pipoca e feijo preto, Ossaim levou
farofa de mel de abelhas, Oxumar levou farofa de feijo,
Xang levou amal, Oxaluf levou milho branco, Oxogui,
bolos de inhame cozido, Orumil levou ossos.
Exu chegou, correndo e levou cachaa. Ajoelhou-se nos ps
de Iroco e jogou trs pingos no cho, cheirou trs vezes e
bebeu um pouco. Nesse momento, Iroco transformou-se em
rvore, Ogum em cachorro, Oxossi em vagalume, Omolu em
aranha, Oxal em camaleo, Oxumar em cobra, Xang em
cgado e as comidas ficaram no p da rvore (MARTINS &
MARINHO, 2002, pp. 117-120).
Nesse mito, o importante so as relaes da cotidianidade da realidade e, nessas
relaes que se d o acontecer da existncia. Na mesma instantaneidade, d-se a conhecer.
Kabengele Munanga no est exaltando uma suposta e indevida primazia da pluralidade sobre
a singularidade, o que nos levaria ao idealismo. Contudo, diz ele (2004, p. 135), no
devemos deixar de constatar que, atualmente, brancos e negros brasileiros compartilham, mais
do que imaginam, modelos comuns de comportamento e de idias. Os primeiros so mais
africanizados, e os segundos, mais ocidentalizados do que imaginam. Ele reafirma a
realidade individual que encontra na relao das singularidades a certeza da existncia dessas
185
mesmas singularidades elementais, enquanto singularidades absolutamente distintas que se
relacionam na realidade da pluralidade, e no apenas na pluralidade conceitual.
O mundo uma pluralidade de coisas e realidades singulares, e certamente o centro da
realidade so os pontos de convergncia relacional das singularidades, ou seja, as realidades
existentes e pensadas em suas mais perfeitas singularidades inconfundveis, as quais se do na
fluidez do tempo e, em algum instante ou em vrios instantes, entram em contato relacional
com outras realidades singulares, e a vem sua existncia realizada, bem como a efetivao
de outras realidades singulares. Munanga (2004, pp. 21-22) coloca o enfoque de sua reflexo:
... sobre os fatos sociais, psicolgicos, econmicos e poltico-
ideolgicos decorrentes desse fenmeno biolgico inerente
histria evolutiva da humanidade. Seria totalmente errneo
representar graficamente essa histria sob a forma de uma
rvore e suas ramificaes. Pois bem, se as ramificaes de
uma rvore representada por seus inmeros galhos no se
cruzam, a histria da humanidade apresenta um grfico
diferente, no qual os galhos se cruzam.
Assim a realidade do mundo uma s, porm composta de uma infinitude de
realidades particulares que, em seus pontos de confluncia relacional. fundamentam suas
existncias enquanto singularidades elementais, bem como fundamentam a realidade do
mundo enquanto nica e plural. Dessa forma, a essncia da coisa no est nela mesma, e sim
na relao que estabelece, ou mais ainda, no sentido que consegue conferir sua prpria
existncia, a partir da relao temporal com o outro. Nessa esteira, se o sentido e o
fundamento da existncia esto nas relaes existenciais estabelecidas a partir da facticidade
do real, pelo prprio ser existente, ento o ser criado autoconstitutivo em sua razo e seu
sentido, sendo que, em sua individualidade, alm de autoconstitutivo, tambm
influenciador na construo do sentido da existncia de outros indivduos, porquanto esses
estabelecem relao com aquele. Ou seja: o existente constitui-se de sentido a partir de suas
decises e atitudes temporais, bem como em suas relaes, sendo que, nestas, tambm
corrobora para que o outro existente encontre sentido em seu existir de relao.
Encontramos aqui o grande sentido da existncia, isto , a relao que realiza o ser em
sua singularidade e em sua pluralidade. O sentido da relao sempre de complementaridade,
nunca de excluso ou mesmo de dissoluo numa idia de elevao dos particulares a uma
coletividade. uma relao de sujeitos. Por isso, em Kabengele Munanga, a nfase da relao
est no e e no no ou. Assim temos sempre eu e tu, eu e outro, assim como a
186
relao das divindades com o mundo e o ser humano, pois essa uma relao temporal nica,
que se realiza concomitantemente nas trs dimenses. No uma relao do tipo Deus e
mundo, Deus e ser humano, mundo e ser humano. uma relao nica Deus e mundo e
ser humano. Temos assim o e como radical da experienciao existencial realizadora do
verbo ser.
Enfim, o sentido da existncia no se completa na criatura existente, mas se expande
para alm desta, na capacidade de se relacionar com outros a partir de si e mantendo sua
individualidade, ao mesmo tempo em que a criatura transforma-se em criadora de si, a partir
de sua atitude de deciso pela vida, e do outro, a partir da relao de responsabilidade
recproca.
Enquanto a lgica clssica da velha filosofia buscava uma soluo na excluso
recproca, ou seja, que experincia exclui subjetividade (ou objetividade ou subjetividade),
subjetividade exclui sistema; ou ainda, na tentativa de superao, subjetividade como
superao da objetividade, o pensamento tradicional africano busca uma soluo pela via da
integrao na temporalidade, ou seja, experincia e sistema e subjetividade divindades e
mundo e ser humano.
O pensamento de Kabengele Munanga , pois, uma filosofia que congrega, que
aproxima; no que unifica, uma vez que as divindades e o mundo e o ser humano no so uma
trindade que possa ser unificada num nico conceito ou numa idia totalizante. Eles s so o
que so enquanto diferentes e detentores de caractersticas peculiares prprias, e que na
experincia temporal se congregam. Desse modo, a comunidade ser a expresso do ser-com,
ou ainda, do eu e o tu e o outro. No uma unidade indiferencivel, ao contrrio, pois as
particularidades so ressaltadas na unidade. Munanga, assim como Iroco, tece a unio entre o
cu e a terra, leva os mortos na terra at o cu, pensa essa unio, essa integrao. Em suma,
como narra Prandi (op. cit., p. 389), o mundo foi criado e os orixs chegaram Terra. (...)
Naquele tempo, os mortos no eram enterrados e seus corpos eram colocados aos ps de
Iroco, a grande rvore. Analogamente, podemos considerar o cu como sendo a frica e a
Terra, cmo sendo o Brasil. Munanga quem possibilita essa aproximao dos negros
brasileiros com nossa identidade ancestral. Fazer a experincia do outro no significa testar ou
pr a prova a existncia alheia, mas adentrar a realidade alheia, deixar-se arrebatar pelo
diferente, pelo desconhecido, e compreender aquilo que ele prprio revela. No dizer o que
187
o outro ou representa, mas permitir que ele fale de si mesmo e diga quem . , na verdade,
uma outra apresentao do outro.
Tal experincia est longe de ser a vivncia da realidade alheia, sendo, contudo, um
reconhecimento da originalidade e da individualidade da vivncia e da existncia especfica
do outro, bem como da impossibilidade de compreenso de tais vivncias, o que nem por isso
as impede de serem desveladas e desvendadas, vindo, assim, a auxiliar na aproximao, seno
no conhecimento do outro. Fazer a experincia do outro deixar-se tomar pela realidade
alheia e deixar que esta fale de si mesma; no , de maneira alguma, apossar-se de tal
realidade, tentando defini-la ou caracteriz-la ou at mesmo compreend-la, mas deixar que
ela continue sendo, em sua originalidade, agora enriquecida com mais uma presena.
Estabelecer relao reconhecer o outro e sentir-se responsvel e comprometido com
a experincia do outro. Ao perguntar-se pelo tu, reconhece-se o eu, estabelecendo-se assim a
relao de reciprocidade, o ser-com que, a partir desse instante, indissocivel e, mais, s o
enquanto relao de amor recproca, que passa a reger o encontro e a realidade do eu e tu.
A elevao do outro ao nvel de conceitos totalizantes ou simplesmente a
racionalismos conceituais, o pilar sustentador da guerra e do desrespeito ao alheio, ou at
mesmo da desconsiderao da existncia como presena real e que deve ser levada a srio.
Quando o outro tido como um objeto, pode ento ser aniquilado at mesmo como ser
existente. Assim, quando um povo ou nao v outro povo ou nao apenas como objeto, na
relao sujeito-objeto pode livremente declarar guerra, mesmo sem motivo de ameaa
aparente, a fim, to simplesmente, de aniquil-lo.
A APREENSO DA DIALGICA UNIDADE-PLURALIDADE ATRAVS DA
METFORA SISTMICA
A dupla lgica da unidade e da pluralidade, operando dentro da identidade pessoal,
permite ser apreendida atravs do conceito de sistema. A noo de sistema complexa: nela,
o todo que emerge da organizao das partes, constituindo algo mais do que a juno desses
componentes isolados. O sistema retroatua sobre essas mesmas partes, reorganizando-as sem
cessar e, desta forma, reproduzindo-se constantemente a si mesmo (MORIN, 2002, pp. 124-
132).
188
Todavia o sistema tambm menor do que a juno de componentes separados, na
medida em que constri as potencialidades destes mesmos elementos sob a hegemonia de um
todo organizado. Desta maneira, o sistema exerce uma ininterrupta atividade neguentrpica
frente tendncia de dispero de seus componentes (entropia). Tende-se a ver os sistemas
como entidades mais ou menos estveis, fixas e coerentes, mas um sistema no tanto um
objeto quanto um processo nunca um repouso. Para Morin (ibidem, p. 135):
O que preciso compreender so as caractersticas da unidade
complexa: um sistema uma unidade global, no elementar, j
que ele formado por partes diversas e inter-relacionadas.
uma unidade original, no original: ele dispe de qualidades
prprias e irredutveis, mas ele deve ser produzido, construdo,
organizado. uma unidade individual, no indivisvel: pode-
se decomp-lo em elementos separados, mas ento sua
existncia se decompe. uma unidade hegemnica, no
homognea: constitudo de elementos diversos, dotados de
caractersticas prprias que ele tem em seu poder.
A metfora da ordenao sistmica da identidade pessoal est, ento, sob a
recuperao da experincia da encarnao. As partes (a pluralidade de autores internos no
eu e as diversas auto-narraes do eu-objetivado) no explicam por si ss o sistema. A
expectativa social de coerncia e unidade do sujeito, mas sobretudo a experincia de ser um
corpo fsico e da subjetividade que disso emerge somam-se a estas identidades sob a
hegemonia de uma identidade soberana: o sistema. Neste sentido, podemos falar de sistema
porque existe uma identidade nova, emergente, uma autonarrao que re-organiza
constantemente a pluralidade interna, num esforo de busca de coerncia e continuidade, e
que, por sua vez, constri a pluralidade interna, para ajust-la a essa expectativa social de
coerncia e a sensao corporal de unidade.
Para explicar o que quero dizer por autonarrao, o melhor utilizar um exemplo:
posso identificar-me como mineiro, como professor, como negro, como leonino etc.
Cada identidade, isoladamente, comporta sua prpria viso do mundo, seus prprios valores,
seus prprios smbolos, seus prprios interesses. Normalmente, quando estou participando de
um congresso de educao, no preciso recordar que sou mineiro e leonino, mas
possvel que, em algum momento, essas identidades entrem em conflito. Dado que no sou
vrias pessoas, no me sinto como vrias pessoas diferentes, chega um momento em que
vejo-me na necessidade de re-organizar minha identidade, de re-ordenar e hierarquizar os
diversos discursos (o de mineiro, o de professor, o de negro, o de leonino, o de
189
torcedor do S.P.F.C. etc), com que me identifico, e de faz-los compatveis. Nesse
momento de reorganizao, forma-se um novo discurso autocompreensivo, uma autonarrao
que nasce da ordenao sistmica de minhas diferentes identidades. Segundo Munanga (2004,
p. 14):
Essa identidade, que sempre um processo e nunca um
produto acabado, no ser construda no vazio, pois seus
constitutivos so escolhidos entre os elementos comuns aos
membros do grupo: lngua, histria, territrio, cultura,
religio, situao social etc. Esses elementos no precisam
estar concomitantemente reunidos para deflagar o processo,
pois as culturas em dispora tm de contar apenas com
aqueles que resistiram, ou que elas conquistaram em seus
novos territrios.
Desse modo, a identidade pessoal revela-se como uma unidade-mltipla ou complexa,
que nasce da sensao corporal de ser uma unidade e da expectativa social de mostrar
coerncia, mas que se constitui internamente como pluralidade. A ruptura com a idia de
unidade do eu obriga a precisar que se trata de um sistema acentrado
79
. Sem a resistncia
dos elementos constituintes no se obteria um sistema, mas uma homogeneidade. A
identidade pessoal esta narrao autocompreensiva emergente, esta narrao que parece
atuar como metanarrao (englobando as autonarraes parciais e transcendendo-as), isto , a
narrao que concede organizao sistmica s diferentes identificaes do sujeito.
Ao falarmos de autonarrao emergente como aquela narrao aparente, mais
complexa, que surge da organizao sistmica do conjunto de autonarraes do eu-
objetivado, no fazemos referncia (ainda que assim parea) a uma narrao por cima das
demais, mas que se situa ao mesmo nvel das restantes autonarraes, todas elas em constante
interao.
A idia de organizao sistmica deve ser conceituada, nesse sentido, como uma
incansvel re-ordenao, interao, de maneira que os elementos que compem o sistema so
modificados pelo prprio sistema (pela inacabvel re-organizao e interao de todos os
elementos) e, desse modo, o que, a priori, era visto como um elemento produto do sistema se
revela como um elemento componente do sistema, sem que nunca se detenha esse processo,
nem se estabelea numa variedade hierrquica de certos discursos identitrios, sejam eles
79
Acentrado: conceito utilizado por Morin (2002), compreendendo que no se trata de uma forma fixa, slida e
imodificvel, mas de uma constante atividade de re-organizao, de neguentropia, que as vezes privilegia uns
elementos e, em outras ocasies, outros.
190
definitiva ou permanentemente dominantes. Deste modo, emergncias e componentes no
se situam em nveis separados, mas no mesmo nvel. De acordo com Munanga (2004, pp. 18-
19):
Vista sob esse prisma, a mestiagem no pode ser concebida
apenas como um fenmeno estritamente biolgico, isto , um
fluxo de genes entre populaes originalmente diferentes. Seu
contedo de fato afetado pelas idias que se fazem dos
indivduos que compem essas populaes e pelos
comportamentos supostamente adotados por eles em funo
dessas idias. (...) Se toda e qualquer mestiagem um
processo pelo qual um fluxo gnico aproxima duas
populaes, pode-se constatar que os estudos clssicos s
trataram de alguns casos no conjunto dos fluxos que se
estabeleceram de uma populao outra e excluram
implicitamente outros casos.
Uma melhor compreenso talvez se d retomando as idias em torno da lgica clssica
e do mtodo complexo. A idia de que um sistema um processo o que permite ver,
logicamente, como o que re-produz um sistema , por sua vez, re-produzido pelo mesmo,
como o que emerge do sistema , tambm, componente do mesmo. A idia de organizao
sistmica introduzida aqui para, fundamentalmente, estabelecer que existe um certo limite
(imposto pelo prprio sujeito) pluralidade identitria que se considera assumida. Dentro
dessa multiplicidade, contudo, existem fenmenos de fragmentao e de descontinuidade. A
fragmentao chega ao ponto do sujeito se esforar em autolimitar sua pluralidade e/ou
reformul-la de modo mais coerente.
Podemos, assim, compreender uma segunda idia: a pluralidade identitria que fora a
atual policontextualidade, superando certos limites, converte-se num elemento deflagrador de
crises para o sujeito individual. No s os sujeitos querem viver mltiplas identidades mas,
habitualmente, tambm devem viv-las, ultrapassando o limite no qual o sujeito enfrenta-se
diante de uma incmoda pluralidade de respostas pergunta: Quem eu sou?. Essa idia faz
com que a classificao racial brasileira baseada na cor ou na marca ambgua (...) preto
rico branco ou branco pobre preto (MUNANGA, 2004, p. 96).
Recuperar a reflexo em torno da experincia da encarnao, tratando de superar a
dicotomia cartesiana entre mente e corpo, a mesma que tanto impregnou nosso pensamento,
permite conceituar a lgica de unidade a qual, juntamente com a lgica da pluralidade,
caracteriza os fenmenos identitrios, lembrando que o esforo do sujeito por re-construir-se
191
como uno est nas expectativas sociais de coerncia, mas tambm na sensao corporal de
unidade, sensao que alcanar a autoconscincia, mediada simbolicamente.
A noo de identidade pessoal que podemos observar no pensamento de Munanga
supe, de um lado, uma crtica concepo essencialista de identidade (que afirma a
identidade como una, nica unitria e herdada), e de outro, uma conceituao mais avanada
em relao quelas que, com o fim de atacar a noo essencialista de identidade, incidiam
unicamente nos fenmenos de pluralidade e fragmentao do sujeito. Voltando ao mito
(PRANDI, op. cit., 484-485):
Orunmil estava um dia distrado e de repente deu-se conta de
que era observado por Morte, Doena, Perda, Paralisia e
Fraqueza.
Orunmil ouviu o que diziam, o que elas diziam umas s
outras: um dia a gente pega este a.
(...) Orunmil assustou-se.
Orunmil voltou para casa.
Orunmil foi consultar o seu Ori.
Somente Ori podia salvar Orunmil.
Somente Ori podia livrar da Morte.
S a cabea poderia livr-lo da Doena.
Era o Ori que o livraria da Perda.
O Ori de Orunmil o livraria da Paralisia.
Somente seu Ori podia livr-lo da Fraqueza.
Orunmil foi consultar sua cabea.
O Ori livra o homem dos males.
Orunmil fez os sacrifcios cabea, fez bori.
Ori aceitou as comidas oferecidas, ficou forte e expulsou os
problemas de Orunmil.
Nada mais podia ameaar o seu devoto.
Ori salvou Orunmil da Morte e da Doena, da Perda, da
Paralisia e da Fraqueza.
Ori livrou seu devoto de todas as ameaas.
Encontrar a si mesmo , pois, encontrar o ser de si, no como um movimento
circular da razo sobre si mesma, mas como um movimento linear atravs da realidade mais
mundana, sem nenhuma certeza de onde esse movimento ir culminar, haja vista que o limite
do si enquanto personalidade a morte, contudo, enquanto carter, este se perpetua no
milagre da criao.
Na inteno de buscar o encontro do si como plenificao da efetivao do verbo
ser, exige-se um movimento que transcenda a realidade mundana, no como uma forma de
superao ou abstrao desta, antes, porm, como vivncia dessa realidade, como experincia
de cada momento da realidade na sua exata temporalidade e na sua completa durao. Assim
192
encontraremos, na prpria realidade do sendo, o que est para alm dela e que seu prprio
constitutivo, ou seja, o si-mesmo da realidade mesma. Nas palavras de Munanga (2004, p.
136):
Na sua retrica contra as desigualdades raciais, os movimentos negros
organizados enfatizam, entre outros, a reconstruo de sua identidade
racial e cultural como plataforma mobilizadora no caminho da
conquista de sua plena cidadania. Eles preconizam que cada grupo
respeite sua imagem coletiva, que a cultive e dela se alimente,
respeitando ao mesmo tempo a imagem dos outros... Ora, uma tal
proposta esbarra na mestiagem cultural, pois o espao do jogo de
todas as identidades no nitidamente delimitado. Como cultivar
independentemente seu jardim se no separado dos jardins dos
outros? No Brasil atual, as cercas e as fronteiras entre as identidade
vacilam, as imagens e os deuses se tocam, se assimilam. Por isso, tem-
se certa dificuldade em construir uma identidade racial e/ou cultural
pura, que no possa se misturar com a identidade dos outros.
O que orienta a vivncia humana e a via que a pessoa se dispe a seguir no o
destino, ou qualquer outra forma pr-determinada de orientao, mas o carter constitudo
pela prpria experincia vivenciada da pessoa. Desse modo, as aes humanas esto
aliceradas na vontade e, consequentemente, no carter, o que torna a pessoa moralmente
responsvel. Essa vontade essencial que a todo instante se renova, comporta os juzos morais
e, mesmo atravs deles e fazendo uso deles, renova-se, renovando igualmente a experincia e
a vivncia pessoal. Tal vontade essencial tambm pode, acertadamente, ser chamada de
liberdade, uma vez que essa erupo do carter em forma de vontade no tem nada de
passageiro, ao contrrio, um ato de fora do carter muito bem orientado, muito embora
jamais deixe de ser um arbtrio ou uma vontade de poder exteriorizada numa ao e, como
ao, sempre em relao com o outro.
No caso de Kabengele Munanga, o engajamento nas lutas do movimento negro por
uma sociedade igualitria, haja vista a natureza da vontade livre humana, o responsvel pela
realizao desse mundo igualitrio. Para ele (1996b, p. 23):
Um projeto nacional de construo de uma verdadeira
democracia no poderia ignorar a diversidade e as identidades
mltiplas que compem o mosaico cultural brasileiro. Um tal
projeto no poderia tambm ignorar o fato de que, alm das
diferenas, somos semelhantes e que o medo dos racistas est
justamente na aceitao das semelhanas que fazem de ns
seres capazes de exercer todas as atividades e no apenas
aquelas prescritas pelas diferenas. Quando falo das
semelhanas, no me refiro apenas as caractersticas gerais das
193
culturas humanas abstratas, penso sobretudo aquelas
semelhanas que todos os grupos tnicos que aqui se
encontravam conseguiram formar, atravs de uma convivncia
marcada pelos emprstimos, mestiagem tanto biolgica como
cultural, sincretismo cultural no sentido mais geral e no
apenas religioso e que conferem ao Brasil e aos brasileiros
alguns traos e comportamentos especficos. O
reconhecimento da pluralidade, o respeito das identidades e
das diferenas no se far romanticamente. Se far atravs do
jogo poltico, pois a existncia da identidade do afro-brasileiro
supe a existncia das identidade dos outros. No jogo poltico
de negociao das identidades nascer uma verdadeira
construo da cidadania, sem a qual no existe democracia.
No idealismo, especialmente o hegeliano, possvel conhecer o todo, uma vez que o
todo a prpria conscincia voltada sobre si mesma que, nesse movimento auto-reflexivo,
conhece a si e, consequentemente, tambm a totalidade. Na confluncia de ser e pensar,
conhecendo-se o pensamento conhece-se o ser. Nesse sentido, a histria da experincia se
transforma em histria da rememorizao do esprito, uma vez que o todo cognoscvel nada
mais que a totalidade abarcada pela conscincia.
Nas culturas tradicionais africanas, o conhecimento no um movimento do esprito
sobre si mesmo, mas um caminho da conscincia que experimenta, na realidade, sua prpria
realizao e que, ao mesmo tempo, se realiza na experincia existencial. Conhecer fazer o
caminho da conscincia pela via da experincia criadora. Nessa esteira, as coisas, por sua
natureza, passam, ao passo que os conceitos permanecem, sendo eles que relacionam, como
iguais os diferentes, permitindo assim que a cincia acontea. Neste caminho, so adotados
critrios histrico-culturais na base de sustentao do conhecimento, o que equivale a dizer
que esse caminho privilegia as referncias externas, explcitas ou implcitas e segue uma via
de acesso ao conhecimento por uma nova perspectiva, com bases existenciais e
experienciveis.
O conhecimento como proposta equilibradora refere-se a um espao dialgico, no qual
nenhuma verdade ou conhecimento pode ser alcanado como estgio de elevao ou como
instncia superiora qual se atinge por elevao, mrito ou autodeterminao, mas ao
contrrio, o conhecimento, bem como a verdade, acontece no prprio espao de dilogo. A
verdade no propriedade nem tampouco uma instncia superior e sim acontecimento
espao-temporal.
194
Assim, no se pode querer conhecer Deus, o mundo e o homem por meio de uma
lgica racional-especulativa direcionada a cada um deles, intentando-se conhec-los a partir
de si mesmos e em si-mesmos, ou alm dos elementos, como uma metaestrutura. No universo
tradicional africano, o que temos, em vez da racionalidade lgica, uma racionalidade
relacional, que busca a compreenso dos elementos da realidade a partir da relao entre esses
elementos, processo esse que se d necessariamente no tempo. Tal identidade relacional
permite-nos concluir que ela um e outro, o mesmo e o diferente, nem um nem outro,
ser e no ser, pertencer e no pertencer (MUNANGA, 2004, p. 140).
Iroco, entre todos os orixs, o nico que nunca se separou do Cu e da Terra. Sofre,
chora ao perceber a separao entre ambos, pois o filho amado do Cu (run), de onde vem
sua sabedoria, e tambm o filho predileto da Terra (Aye), responsvel por sua solidariedade e
compaixo. A sabedoria e a compaixo, presentes em Iroco, nos asseguram a percepo dessa
caracterstica em Munanga: ao mesmo tempo sbio, aquele a quem os negros brasileiros
ouvem, escutam com ateno, e solidrio, ao militar juntamente com os negros na luta por
seus direitos. Essa mesma caracterstica aparece em sua viso de identidade como uma e
mltipla. Narra o mito que (ESPIN, 1986, pp. 38-40):
Nos princpios do mundo, o cu e a terra tiveram uma
discusso. A terra argumentava que era mais velha e poderosa
que seu irmo, o cu. Eu sou a base de tudo, sem mim o cu
se desmoronaria, porque no teria nenhum apoio. Tudo seria
fumaa. Eu crio todas as coisas vivas, as alimento e as
mantenho. Sou a dona de tudo. Tudo se origina em mim, e
tudo volta a mim. Meu poder no conhece limites. E seguia
repetindo: sou slida, sou slida. O cu vazio, no tem
corpo. Como podem suas posses ser comparadas com as
minhas? Que tem ele, mais que suas nuvens, sua fumaa e sua
luz? Valho mais que ele. Ele deveria reverenciar-me.
Oba Olrun no respondeu, mas fez um sinal ao cu para que
se afastasse, severo e ameaador. Aprende tua lio, disse o
cu enquanto se afastava. Teu castigo ser to grande como
teu arrogante orgulho.
Iroko, a sumama, preocupada, comeou a meditar em meio
ao grande silncio que se seguiu ao afastamento do cu,
porque Iroko tinha suas razes fincadas nas entranhas da terra,
enquanto que seus galhos se estendiam no profundo da
intimidade do cu. O sensvel corao de Iroko estremeceu de
medo ao compreender que a grande harmonia que havia
existido desapareceria e que as criaturas terrestres sofreriam
terrveis desgraas.
At esse momento o cu havia regulado as estaes com terno
cuidado, de maneira que o calor e o frio tivessem efeitos
benvolos nas criaturas que povoavam a terra. Nem as
trovoadas nem as secas haviam castigado a terra. A vida era
195
feliz e a morte vinha sem dor. As enfermidades e as tragdias
eram desconhecidas. A morte era pura, pois no existiam as
epidemias. O homem desfrutava de uma longa vida, e a
velhice no trazia impedimentos fsicos, apenas um desejo de
imobilidade, e o silncio se movia vagarosamente atravs das
veias, buscando vagarosamente sua meta: o corao.
Suavemente os olhos se fechavam, vagarosamente chegava
uma escurido; a morte trazia a felicidade infinita. O fim era
um belo ocaso. A bondade pertencia a este mundo e uma
pessoa moribunda podia sorrir ao pensar no grande banquete
que seu corpo formoso e so ofereceria aos incontveis
vermes que o devorariam. Ao imaginar carinhosamente o
muito que se divertiriam os pssaros ao tirar-lhe seus
brilhantes olhos convertidos em sementes. Em seus sonhos, os
animais, fraternalmente, pastariam de seus cabelos quando
estes se misturassem com o capim tenro e nutritivo, e seus
filhos e irmos comeriam os suculentos tubrculos que foram
alimentados por seus prprios ossos e por sua carne. Ningum
pensava em causar danos a ningum. A natureza ainda no
havia dado mau exemplo. No existiam bruxas malvadas nem
plantas venenosas. Ningum tinha que controlar o poder das
foras malficas que surgiram depois da dor e da misria.
Tudo pertencia a todos e ningum tinha que governar,
conquistar nem reclamar posses. O corao humano era puro.
O cu e a terra estavam unidos, e o cu ainda no havia
enviado seu raio destruidor. Nunca as foras celestiais haviam
enviado seu raio para destruir bosques, nem um sol impiedoso
havia castigado a terra. O mar era uma calma infinita e
nenhum vento furioso se originava nele. Ningum se sentia
intimidado pelo mar. O rato era o melhor amigo do gato, e o
veneno dos escorpies era uma gota de mel. Qualquer monstro
tinha uma alma boa e cndida, e a hiena e a pomba tinham a
mesma alma.
A feira veio mais tarde, quando chegou o tempo dos
sofrimentos. Isso fez Iroko chorar, ele, a rvore mais amada
por ambos, o cu e a terra. Invadiu-o um luto profundo pelo
que se perdia. Ento a sumama produziu suas brancas flores
e espalhou sua dor sobre toda a terra. Esta tristeza, que viajou
com o vento, penetrou no homem, nos animais e em tudo
quanto vivia. Uma tristeza nunca antes sentida encheu todas as
almas. Quando, ao extinguir-se a tarde, se ouviu o grito
profundo e desconcertante da coruja, foi um novo lamento no
silncio de um ocaso diferente. Iroko estendeu seus braos
num gesto de proteo.
Essa noite foi uma noite diferente. Uma noite desconhecida,
na qual a angstia e o medo fizeram sua apario na terra,
penetrando os sonhos, gerando a Iyond, dando novas formas
e garras caractersticas e cruis escurido. No dia seguinte,
homem, animal e todas as criaturas vivas se perguntavam
assombradas, sem poder dar-se ainda uma resposta, por que
ainda no existiam palavras para expressar a confuso e
ansiedade. As vozes que se ouviam eram absurdas e
ameaadoras e penetravam no ar e na queda das guas. Um
dia inesperado nasceu cheio de trabalhos. O sol comeou a
devorar a vida. A sumama dizia a todas as criaturas que
196
buscavam refgio sob seus ramos: vamos rogar por nossa
me, a terra, que ofendeu ao cu. Mas ningum entendia
Iroko, porque ningum conhecia o significado da palavra
ofender. Lentamente a terra estava secando. O sol obedecia s
ordens de no queimar com seu calor e luz excessivas, mas de
ir esgotando as guas pouco a pouco. Naquele tempo, as guas
eram todas doces e potveis, inofensivas, claras, mansas,
cheias de virtudes e, como suas gigantescas bocas estavam
abertas para o sol, subiram para o cu e foram sustentadas no
ar. A terra sentia em suas entranhas os efeitos da fria de seu
irmo, o cu. Sofria terrivelmente de sede. E, finalmente, lhe
implorou em voz baixa: Irmo, minhas entranhas esto
secando, manda-me um pouquinho de gua.
E o cu, longe de aliviar a sede atroz de sua irm, a encheu de
um fogo branco e soprou seu corpo ardente com um vento
quente que, aoitando-a selvagemente, tornava ainda mais
aguda a dor das queimaduras. As criaturas da terra sofriam
junto com ela o terrvel tormento do fogo, da sede e da fome.
Porm, o martrio de seus filhos era, para a terra, mais cruel
que seu prprio sofrimento. Submissa pedia perdo ao cu por
seus filhos inocentes, pela erva esturricada e pelas rvores
moribundas. O sofrimento fazia com que se perdessem as
recordaes da felicidade passada. A dor exauria as criaturas
at que a ltima memria da felicidade, antes existente, fosse
esquecida. Toda felicidade, agora, era remota e inacreditvel.
Comearam as maldies. A feira entrou no mundo. Foi
ento, quando nasceram todas as desgraas. As palavras se
converteram em instrumento de maldade. A paz daqueles que
morreram foi perturbada; e aqueles que morriam no podiam
descansar na bela paz da noite, cuja doura era duradoura.
Perdoa-me, implorava a terra. Mas o cu, inclemente,
guardou suas guas. Tudo era p inerte, quase todos os
animais haviam morrido. Homens como esqueletos, sem gua
nem alimentos para manter-se, continuavam a tarefa de cavar
o martirizado corpo da terra em busca de gua e de foras para
devorar os que jaziam impotentes sobre as rochas nuas. Toda a
vegetao havia desaparecido e somente uma rvore, em todo
aquele mundo rido, com sua gigantesca copa, permaneceu
verde e saudvel. Era Iroko, que desde tempos imemoriais
havia reverenciado o cu. sumama dirigiam-se os mortos
em busca de refgio. Os espritos de Iroko falavam com o cu
constantemente, tratando de salvar a terra e suas criaturas.
Iroko era o filho predileto da terra e do cu. Seus poderosos
galhos acolhiam os que buscavam sua sombra e seu refgio,
sendo capaz de resistir ao castigo de Olrun. Iroko dava
instrues aos que podiam penetrar no segredo que estava em
suas razes. Estes conheceram a grandeza da ofensa e ento se
humilharam e se purificaram aos ps da sumama, fazendo
splicas e sacrifcios. Assim, a erva mida que havia ao seu
redor, os animais quadrpedes, os pssaros e o homens que
ainda restavam vivos e se tinham tornado clarividentes,
realizaram o primeiro sacrifcio em nome da terra.
197
O que Kabengele Munanga prope profundamente um sistema aberto, baseado na
relao de responsabilidade recproca, capaz de salvaguardar no apenas as individualidades
enquanto sustentculos da relao, mas tambm a realizao da prpria realidade vital como
relao. Atualmente, em meio complexidade da sociedade contempornea, temos a
impresso de que a vida no mais possui a fluidez que lhe prpria, nem mesmo uma
expectativa como realizadora de seu sentido nas relaes mais cotidianas. O pensamento de
Munanga pode ser traduzido como uma oferta de paz entre os diferentes, como tambm para
com o si-mesmo, a fim de (re)orient-lo na construo experiencial do prprio sentido de sua
existncia.
Por conseguinte, a educao tem papel facilitador muito mais amplo e profundo do
que o mero papel de socializao, acima de tudo como promotora da alteridade enquanto
proposta de relao de complementao recproca e criadora de uma idia de sociedade
desvinculada da idia de institucionalizao do ser e do pensar, numa massa desprovida de
personalidade e de individualidade. Uma educao em nada parecida com essa que se prope
basicamente a con-formar as pessoas de acordo com padres sociais, enquadrando-as em
padres prconcebidos, como se isso representasse um modelo de socializao. Tampouco
no se trata de educao como viagem para fora da realidade, como se tudo fossem ideologias
e divagaes abstratas, educao que guia o sujeito a um afastamento da realidade temporal,
eximindo-se da responsabilidade para com a vida e criando um mundo de fantasia. A
educao, ao fim e ao fundo, tem o papel de facilitadora da conscincia da experincia da
realidade mesma.
A condio de conscientemente voltar-se sobre a prpria realidade e sobre si mesmo
implica elaborar um julgamento da prpria histria, projetar um futuro para si e realizar tudo
isso no instante presente, como sendo sua nica propriedade e como aquele que diretamente
lhe cobra uma deciso, um compromisso. Isso tudo somente possvel aps satisfazer uma
condio essencial: a da existncia real, sem a qual todo o resto se desfaz em nada. Tal existir
como realidade representa absolutamente mais do que o simples estar-a, porque um
relacionar-se, ser-com, numa expresso, o real sentido do existir. Enfim, trata-se da
capacidade de estabelecer relaes de complementaridade que faam da diversidade o ponto
de partida para a compreenso, inclusive da existncia individual.
Relacionar-se , pois, estabelecer e assumir compromisso com a vida, com o diferente
e com o si-mesmo, como sendo a diversidade constitutiva do sentido do existir. Da natureza
198
relacional que emerge, numa dialtica criadora, o sentido de ser e de pensar a prpria
existncia, que nada mais do que aquilo que a prpria criatura capaz de criar a partir das
relaes livres e autnomas que puder estabelecer.
Assim, o ser humano no constitutivo de sentido, mas constitutivo e construtor de
sentido para seu ser e seu existir, a partir das relaes que se prope e que capaz de
estabelecer com o diferente, enquanto complemento de seu si-mesmo e de seu outro. Dessa
forma, so as relaes que do o que pensar. Nesse sentido, podemos ainda afirmar, que o
pensamento de Kabengele Munanga , de certa forma, uma filosofia do conhecimento
porquanto preocupa-se no com o sentido de ser, mas se ainda faz sentido perguntar-se pelo
sentido, uma vez que o ser fruto da construo realizada atravs da experincia da
facticidade do real.
As relaes constituem-se como vias de mo dupla, exigindo a alteridade como
paradigma e como matriz epistemolgica norteadora delas e das experincias perpassadas pela
racionalidade relacional. O diferente o ponto de partida para a compreenso do si-mesmo e
para a realizao do sentido de seu existir.
199
RE-SIGNIFICANDO A PRPRIA VIDA NA ANCESTRALIDADE
Todo homem descende de uma divindade (...). Cada deus tem
descendncia e face a esta, tem o poder de nela se perpetuar
atravs de filhos. Mas, numa segunda perspectiva (...), cada
deus tem uma funo determinada que lhe prpria
(FROBENIUS, apud BASTIDE, As Religies Africanas no
Brasil, 1971, p. 86).
(...) Homens e mulheres descendem dos orixs, no tendo,
pois, uma origem nica e comum, como no cristianismo. Cada
um herda do orix de que provm suas marcas e
caractersticas, propenses e desejos, tudo como est
relacionado nos mitos. (...) Os orixs alegram-se e sofrem,
vencem e perdem, conquistam e so conquistados, amam e
odeiam. Os humanos so apenas cpias esmaecidas dos orixs
dos quais descendem (PRANDI, Jos Reginaldo. Mitologia dos
Orixs, 2001, p. 24).
200
RE-SIGNIFICANDO A PRPRIA VIDA NA ANCESTRALIDADE:
Iroco era uma rvore muito importante, importante a valer. To importante que todos
iam ao p dela para pedir coisas, dar-lhe presentes, olhar sua beleza e imponncia.
Exu era o senhor dos caminhos cruzados.
Olofim determinou que os orixs e Ibejis (os gmeos) fossem cultuados pelos
viventes. Eles receberam ordem de sair pelo mundo procura de seus filhos, o que
aproximaria o mundo dos encantados do mundo das pessoas, para a felicidade de
todos.
Iroco era muitssimo cultuado e trabalhava muito, at demais. Os carregos grandes iam
para o p da rvore e cada vez mais o povo pedia. Pediam tanto a essa rvore, que os
milagres comearam a acontecer e os pedidos e promessas triplicavam... Iroco era
cada vez mais popular, de tanto que pediam e de tanto que ele trabalhava sem parar.
Um dia, os olus (adivinhos) fizeram uma juno para conversar sobre essa rvore,
que tanto estava dando que falar. Foram l para debaixo dela, na sombra e comearam
a jogar. Resolveram pedir a Iroco que ele viesse fazer parte do Ax, junto com os
outros orixs, para que fosse feito.
Ele respondeu que sim, que passaria para o lado dos orixs de vez, mas que jamais
moraria dentro de uma casa de orix. Ia ficar na rua, que era seu lugar, do lado de fora,
e no aceitaria muro em redor de si, mas cerca feita de vrias tbuas, cada uma
representando um membro do candombl. Queria morar cercado pelo povo-de-santo,
sua gente, mas fora de qualquer casa, que seu principal ew (proibio).
Tudo dele tinha de ser feito na rua. Ele se vestiria sempre de branco e responderia
em todas as naes. Sem essa de nao pura, com ele! Cada uma tem seu encanto
prprio e a unio faz a fora.
Atenderia pelos seguintes nomes: Iroco, Loco, Oloco, Oloroqu e Tempo. Os olus
concordaram e disseram que tudo seria feito de acordo com sua vontade.
Dito e feito.
L perto havia uma feira cheia de movimento. Iroco soprou, soprou e o seu hlito, em
forma de vento, foi cair sobre a cabea de uma moa, que vendia na feira. A moa
comeou a rodar, a rodar, a rodar e foi cair nos ps de Iroco, nascendo a primeira
Locossi... a primeira filha de Iroco na Terra!
Esta era a grande resposta do Senhor da rvore aos babalas:
Roko d, Soror...
Ogu, Ogu, Soror...
Isso quer dizer que Iroco chega no ax, chega para danar e ficar.
Podem falar que Iroco chegou!
Vendo aquilo, todos os orixs correram para o p de Iroco, para uma grande juno.
(Gente comum faz reunio; orix faz juno...) Chegaram trazendo suas comidas
prediletas: Ogum levou inhame assado. Oxossi levou milho amarelo. Omolu levou
pipoca e feijo preto, Ossaim levou farofa de mel de abelhas, Oxumar levou farofa de
feijo, Xang levou amal, Oxaluf levou milho branco, Oxogui bolos de inhame
cozido, Orumil levou ossos.
Exu chegou, correndo e levou cachaa. Ajoelhou-se nos ps de Iroco e jogou trs
pingos no cho, cheirou trs vezes e bebeu um pouco. Nesse momento, Iroco
transformou-se em rvore. Ogum em cachorro, Oxossi em vagalume, Omolu em
aranha, Oxal em camaleo, Oxumar em cobra, Xang em cgado e as comidas
ficaram no p da rvore.
A moa foi recolhida e assim foi iniciado o primeiro Iroco de que se tem notcia.
Dizem que o nome que esse Iroco trouxe foi muito lindo, bonito mesmo! (Cleo
MARTINS; Roberval MARINHO, 2002, pp. 117-120).
Iroco um totem. Como explicita Munanga (1988, p. 8):
201
Os defuntos, ancestrais e mortos, em geral, ocupam uma
posio importante na vida religiosa das populaes da frica
negra. Essa importncia transparece nas diversas
preocupaes do negro, notadamente na sua produo plstica,
o que explica a existncia de numerosas figurinhas esculpidas
para representar os ancestrais ou para servir nos cultos em sua
homenagem.
A ancestralidade na cultura afrobrasileira est ligada com a noo do tempo, conforme
nos relata Kabengele Munanga (2008b):
Esse um dado da africanidade, essa questo da ancestralidade. Est em
todas as sociedades africanas, em todas as culturas africanas. O que um ancestral?
O ancestral nada mais que um criador. Pode ser um ancestral feminino ou
masculino, dependendo da sociedade, se uma sociedade matrilinear ou patrilinear.
Quer dizer, o ancestral aquele que tem o estatuto de fundador, fundador do cl, da
linhagem, que foi uma personagem importante, que a origem, a fundao, o
fundador de tudo, da nao, uma pessoa cuja memria simplesmente rememorada,
retualizada em todos os momentos.
Em vrias sociedades africanas h uma relao de fora vital, que chamamos
de ax, essa fora vital tem uma relao dinmica, essa fora vital pode crescer como
pode diminuir, e nessa relao de fora vital que as pessoas dizem que as sociedades
africanas so politestas. No, as sociedades africanas so monotestas, e todas.
Todas tm uma idia de um Deus nico que criou o mundo. Para cada sociedade tem
um nome, os yorubs dizem que Olorum, na minha terra dizem que Zambi, que
Kalunga. Deus tem vrios nomes, dependendo da sociedade.
Esse Deus nico criou o mundo e se distanciou, est l longe, mas no se est
dizendo que ele est no cu. Deus se distanciou do mundo e deixou a administrao
desse mundo aos seus filhos que eram as pessoas vivas que tiveram funo na
sociedade, que morreram, que fazem parte desse mundo divino, que este mundo da
ancestralidade que veicula a fora vital, as energias vitais que vem l de cima. Eles
so intermedirios, como a idia dos santos no pensamento, na teologia crist. As
foras vitais vm desse Deus nico, que no convivia com os homens, mas se utiliza
202
dos intermedirios para transmitir essas foras para o povo, comeando com os mais
velhos, os mais velhos que vo tambm passar essas foras vitais at aos mais jovens.
Ento uma sociedade antropocntrica, o homem praticamente est no
centro de toda a obra de criao. Deus l em cima manda essas foras vitais que
passam pelos ancestrais, mas essas foras pode haver interseo de outras foras
intermedirias que so os bruxos, feiticeiros, que dominam as leis da natureza, que
podem manipular essas foras at para fazer mal. Por isso preciso de outras foras
que interferem para neutralizar essas foras.
Por isso os chefes, os dirigentes, sempre so iniciados. Mesmo os vivos, para
voc assumir um cargo, voc passa por um rito de iniciao. Se voc mais jovem, a
partir do momento que voc foi iniciado, voc j o mais velho pela iniciao. Mesmo
vivo, voc que intermedirio entre os vivos e o mundo dos ancestrais. Os ancestrais
que so os mortos.
Ento as sociedades africanas so sociedades compostas dos mortos, que
fazem parte dessa ancestralidade, e dos vivos. Tudo que existe est em torno dessa
unio, dessa integrao entre vivos e mortos, os ancestrais. At a natureza, at os
animais. por isso que no reino animal tem alguns animais que tem estatuto de
realeza, como o leopardo. Por exemplo, a pele do leopardo faz parte do sistema do
poder, no qualquer um que pode sentar sobre essa pele. S um rei, um chefe, um
prncipe iniciado.
Ento um conjunto de relaes, de interrelaes entre os vivos e os mortos,
e a ancestralidade muito importante porque o fundador de tudo.
Este , para ns aqui, um conceito crucial, pois nele se desenvolve o drama da vida,
conforme vemos representado no orix Iroco, no vodun Loco e no inquice Zar.
Iroco considerado o responsvel pela ligao entre cu e
terra (...) a rvore da eternidade, smbolo do prprio tempo.
(...) No Tambor de Minas do Maranho, originrio da tradio
jeje-mina, Loco considerado um vodum masculino da
famlia de Keviosso. (...) Tempo um inquice (...) divindade
que cultuada ao p de uma rvore sagrada. (...) Tempo o
203
Senhor da nao congo-angola (MARTINS; MARINHO, op.
cit., 41.69.107).
Os conceitos do tempo, em nosso lxico, referem-se sempre mesma coisa: a
mudana de algo ou de algum, no parecendo que existe um tempo em si mesmo
80
.
Etimologicamente, o termo metfora (metaphor) significa mudana. Portanto, o tempo a
durao das coisas sujeitas a metforas. Assim, podemos compreender que todo tempo
imaginado, conceituado, poetizado, pensado, enfim, j possui, em si mesmo, uma metfora, j
possui um tropo. Como pontua Terrin (2004, p. 214), esquecer o tempo significa tambm
transcender o tempo, entrar numa dimenso mstico-religiosa realizadora. E o que significa
tudo isso, seno voltar integridade originria, encaminhar-se ao paraso perdido?.
No Ocidente, utilizamos tradicionalmente, por influncia grega, dois conceitos de
tempo: ain e cronos. Enquanto cronos
81
se refere sucesso de acontecimentos, ain
82
a
eterna presena. E, por influncia crist, temos ainda o kairs
83
, o momento certo, o tempo da
graa, que no pode ser medido, mas vivido.
Ain identificado com a eternidade e com a fora inesgotvel da vida. Cronos
tambm pode ser eterno, mas no se trata da eternidade da vida, e sim de uma eternidade
objetiva, sem sujeitos mutveis. Kairs o tempo no qual a graa divina se manifesta, o
momento em que o Esprito age no mundo, por isso mesmo acredito que h uma semelhana
profunda deste com o transe, o momento da manifestao das divindades dos cultos
afrobrasileiros nos devotos (sejam essas divindades orixs, inkisses ou voduns). Sobre o
transe, Verger esclarece que (1997, pp. 19-33):
O orix uma fora pura, se imaterial que s se torna
perceptvel aos seres humanos incorporando-se em um deles.
(...) Os transes de possesso dessas pessoas tm geralmente
um carter de perfeita autenticidade, mas parece difcil inclu-
los na definio acima apresentada: a do orix-ancestral que
volta terra para se reencarnar, durante um momento, no cor
de um de seus descendentes.
80
O Dicionrio Houaiss possui 17 acepes de tempo. O Aurlio possui 14 definies. Em todas elas, o tempo
compreendido como durao de coisas sujeitas a mudanas.
81
(...) Definio de Aristteles, o Tempo o nmero do movimento segundo o antes e o depois, a expresso
mais perfeita dessa concepo, que identifica o Tempo com a ordem mensurvel do movimento
(ABBAGNANO, 2007, p. 1111).
82
Ain: desdobramento da eterna presena. (Lucrcio, versos 1058-1063, in Os Pensadores: Epicuro, Lucrcio,
Ccero, Sneca, Marco Aurlio. So Paulo: Abril, 1980).
83
Kairs o momento em que o eterno penetra na temporalidade, momento exttico, produzido pelo Esprito
(TILLICH, Paul. Teologia Sistemtica. So Leopoldo: Sinodal, 2005).
204
Embora os crentes no-africanos no possam reivindicar laos
de sangue com os seus orixs, pode haver, no entanto, entre
eles, certas afinidades de temperamento. Africanos e no-
africanos tm em comum tendncias inatas e um
comportamento geral correspondente quele de um orix.
Se pensarmos na representao temporal, existe uma dificuldade de adequar o devir ao
pensamento racional. Brgson (2003) procurou uma soluo para esta questo, desenvolvendo
o que denominou funo fabuladora. Se o homem sabe, pela inteligncia, que vai morrer, a
natureza humana o ajuda a suportar esse conhecimento fabricando deuses. Deste ponto de
vista, o tempo, a vida e a imaginao encontram-se implicadas num querer-viver objetivo,
produtor de um bom delrio que ajuda o homem a aguentar o peso da vida. Essa a
caracterstica da religio esttica, onde o culto motivado pelo medo de uma punio eterna
ou pela esperana de um prmio. A conscincia, atormentada por um insacivel desejo de
distinguir, substitui a realidade mediante o smbolo, ou s percebe a realidade atravs do
smbolo. Essa durao homognea implica um tempo-smbolo que substitui e, portanto,
tambm nega um tempo heterogneo. A durao pura tambm uma percepo, mas de
ordem diferente do espao, a representao de um transcurso indivisvel, tempo que flui e
reflui numa espcie de representao musical
84
, pois, como afirma Terrin (op. cit., p. 212):
Msica e experincia religiosa no parecem por isso
separveis na pr-histria da nossa compreenso do mundo,
naquela realidade inicial em que comeamos a tomar
conscincia do mundo e de ns mesmos numa totalidade sem
distines, sem dicotomia, sem efraes, sem espelhos.
Temos, assim, uma representao numrica e musical do tempo. A sujeio ao nmero
resulta num tempo cronolgico, numa medida do movimento. O tempo representado
musicalmente implicaria uma multiplicidade no numrica. Trata, pois, de uma sucesso de
diversidades que, na representao, podem se reunir. A representao musical do tempo
implica uma ordem diferente do presente, na qual ressoariam dois tempos, resultando numa
forma de simbolizar o inarticulvel. Dess modo, para Brgson (2005), o caminho mais
adequado para entender a durao no a prpria conscincia intelectual e a compreenso
84
Na verdade, intervalo no passa de ritmo, ordem, movimento csmico. Talvez no seja diferente tampouco o
significado da definio de Epicuro: o Tempo uma propriedade, um acompanhamento do movimento. (...)
Segundo Brgson, o Tempo da cincia espacializado e, por isso, no tem nenhuma das caractersticas que a
conscincia lhe atribui. Ele representado como uma linha, mas a linha imvel, enquanto o Tempo
mobilidade. A linha j est feita, ao passo que o Tempo aquilo que se faz; alis, aquilo graas a que todas as
coisas se fazem (Abbagnano, 2007, p. 1116).
205
analtica, mas a intuio, ou seja, a relao direta com um objeto, sem intermedirios. A
intuio (ABBAGNANO, op. cit., p. 671),
como rgo prprio da filosofia, possui as caractersticas da
Intuio intelectual romntica: relao imediata ou direta com
a realidade absoluta, ou seja, com a durao da conscincia ou
com o impulso criativo da vida. Brgson afirma: A Intuio
a viso do esprito por parte do esprito.
A religio mstica, que se baseia na intuio do Absoluto e na unio mstica com ele,
encontra-se neste ponto, assim como para Brgson, alma e corpo, esprito e matria, razo e
intuio so inseparveis, sendo aspectos complementares de uma nica e mesma realidade
(MONDIN, 2005, p. 137).
Os poderes da conscincia no vo alm da identificao negativa das coisas,
conhecendo-as pelo que no so, enquanto que a intuio relaciona-se, por meio da
participao subjetiva, com a natureza intima do objeto. A intuio no um ponto de vista,
pois se ope anlise, operao prpria da razo, que conhece um objeto por suas relaes,
pelo que este no . A intuio expressa aquilo que a linguagem, veculo da inteligncia, no
consegue expressar.
Gilbert Durand (1997), ao interpretar Brgson, entende que a existncia e a morte
esto implicadas no tempo representado, e contra a representao dos extremos fatais do
tempo que a imaginao pode insubordinar-se (1997, pp. 403-404):
contra o nada do tempo que se levanta toda representao, e
especialmente a representao em toda a sua pureza de antidestino: a
funo fantstica de que a memria no mais que um incidente. A
vocao do esprito insubordinao existncia e morte e a funo
fantstica manifesta-se como o padro dessa revolta.
A fabulao , portanto, uma reao defensiva da natureza contra a representao da
inevitabilidade da morte, reao contra um desencorajamento (...), que suscita, no seio da
prpria inteligncia, imagens e idias que mantm distncia a representao deprimente
(ibidem, p. 404). A natureza do tempo, de ser comeo e fim das coisas, reduplica-se, ento, de
acordo com a insubordinao do esprito. A imaginao seria uma revolta do esprito diante
da questo da passagem do tempo, que relativo apario e ao fatal desaparecimento das
coisas sujeitas a mudana.
206
Com a hiptese de Durand (ibidem, p. 405), o tempo seria produto de uma negao ou
uma eufemizao:
Todos aqueles que se debruaram de maneira antropolgica,
quer dizer, simultaneamente com humildade cientfica e
largueza de horizonte potico, sobre o domnio do imaginrio
esto de acordo em reconhecer imaginao, em todas as suas
manifestaes (religiosas e mticas, literrias e estticas), esse
poder realmente metafsico de erguer as suas obras contra a
podrido da Morte e do Destino.
Por meio da anttese do tempo, busca-se o que nele ou fora dele permanece para
sempre: a eternidade. A eufemizao do tempo consiste no em neg-lo, todavia em encontrar
uma soluo que responda ao lan, ao impulso de viver. A imagem, e com ela o conceito,
resultaria de uma sntese entre o impulso de se perseverar no ser e o juramento que o tempo
tem feito a cada coisa sujeita a mudana e, com estas, o nico capaz de escutar tal promessa: o
desaparecimento em sua antessala, os numerosos episdios de sofrimento. Tal sntese procura
transformar o terror, fazendo visvel e suportvel seu monstruoso semblante, potencializando
a observao das douras da existncia e formulando uma promessa de eternidade.
Se refletirmos sobre a vida dos africanos escravizados no Brasil, assim como em
outras terras, ao menos tal como apresentada por vrios historiadores, afirmamos que estes
viviam num vale de lgrimas. Assim relatado o banzo
85
, sentimento que levou muitos
negros a desejar no terem nascido, serem nada. Mesmo neste caso, o desejo do indivduo era
de sobreviver morte. Os deuses e os homens encontram-se exatamente neste campo. Creio
que o banzo tem a ver com a finitude, isto , com os estados afetivos frente s determinaes
dos limites da vida. O banzo seria ento uma resposta contra a presena terrificante de
Cronos, o tempo que devora. E os deuses e os ancestrais resolveram este problema.
Prandi (op. cit., pp. 65-66) retoma a narrativa mtica de um tempo em que os deuses
tambm eram devorados:
Havia um ser que no temia Exu e este era Icu, a Morte.
Icu ouvira falar de coisas terrveis que Exu tinha feito ao povo
e perguntou por que Exu fazia isso sem ser reprimido.
Todos diziam que ningum era suficientemente corajoso para
enfrentar Icu face a face.
Icu disse que era ela quem devia lidar com Exu e enviou uma
mensagem desafiando Exu para uma batalha.
85
Nostalgia dos africanos escravizados no Brasil, levando a total apatia e ao suicdio.
207
E Exu ento respondeu: Eu no tenho medo de Icu. Vamos
lutar.
Exu foi at seu amigo Orunmil e contou-lhe sobre o desafio.
Orunmil perguntou: Quem pode lutar com a morte?.
Exu respondeu bravo: Quem pode lutar com Exu?.
Exu pediu a Orunmil que arranjasse o combate.
E o dia do duelo chegou.
Veio gente de toda parte para assistir ao duelo e a cidade ficou
tomada de espectadores.
Exu bradou seu grito de guerra provocando Icu.
Ento Icu avanou, segurando a espada e o escudo, e cantou
provocando Exu.
E a batalha comeou.
Exu golpeava forte com o porrete, vrias vezes.
Mas Icu era rpido e gil.
Tanto que Icu prendeu Exu.
Icu jogou-o no cho e arrancou o porrete de sua mo.
Icu ergueu o porrete sobre Exu para mat-lo.
Ento houve gritos de alarme na multido.
Orunmil correu at o lugar da escaramua e tomou o porrete
de Icu, salvando o amigo da destruio.
E foi porque Exu foi defendido por Orunmil que ele no
morreu.
E por causa disso que os homens dizem:
Ningum pode matar a morte. Ningum pode derrubar Icu..
No tempo em que os deuses tambm morriam, Exu, adotando uma postura diurna,
enfrenta a morte. A mesma vontade de perseverar na vida leva Orunmil, numa postura
noturna, a fugir da morte (ibidem, 235-236):
Orunmil era um babala que estava com um grande
problema.
Orunmil estava fugindo da Morte, de Icu, que o queria pegar
de todo jeito.
Orunmil fugiu de casa para se esconder.
Correu pelos campos e ela sempre o perseguia obstinada.
Correndo e correndo, Orunmil chegou ao rio.
Viu uma linda mulher lavando roupa.
Era Eu lavando roupa junto margem.
Por que corres assim, senhor? De quem tentas escapar?
Orunmil s disse: H, h.
Foges da Morte? adivinhou Eu.
Sim, respondeu ele.
Eu ento o acalmou. Ela o ajudaria.
Eu escondeu Orunmil sob a tbua de lavar roupa, que na
verdade era um tabuleiro de If, com o fundo virado para
cima.
E continuou lavando e cantando alegremente.
Ento chegou Icu, esbaforida.
Feia, nojenta, moscas envolvendo-lhe o corpo, sangue
gotejando pela pele, um odor de matria putrefata empestando
o ar.
208
A Morte cumprimentou Eu e perguntou por Orunmil.
Eu disse que ele atravessara o rio e que quela hora devia
estar muito, muito longe, muito alm de outros quarenta rios.
A Morte desistiu e foi-se embora resmungando.
Eu tirou Orunmil de sob a tbua e o levou para casa so e
salvo.
Preparou um cozido de pres e gafanhotos servido com
inhames bem pilados.
noite Orunmil dormiu com Eu e Eu engravidou.
Eu ficou feliz pela sua gravidez e fez muitas oferendas a If.
Eu era uma mulher solteira e Orunmil com ela se casou.
Foi uma grande festa e todos cantavam e danavam.
Todos estavam felizes.
Eu cantava: Orunmil me deu um filho.
Orunmil cantava: Eu livrou-me da Morte.
Todos cantavam: Eu livra de Icu!.
Todos cantavam: Eu livra da Morte!
Eu o smbolo da vida que sempre retorna triunfante. O pessimismo e o medo da
morte em Orunmil so transformados por Eu, que conquanto no nos ponha a salvo dos
perigos da existncia, contudo capaz de inflamar nosso nimo, seja pelo filho, pela festa
onde todos cantavam e danavam. O filho, diz-nos Durand (1997, pp. 304-305), repetio
dos pais no tempo, muito mais que simples redobramento esttico, e a cerimnia do
casamento, onde todos cantam e danam, continua o mesmo autor (ibidem, p. 312), , ao
mesmo tempo, momento negativo em que as normas so abolidas, mas tambm alegre
promessa vindoura da ordem ressuscitada.
Esclarece Martins (2001, pp. 37.44-45) que Eu possui as caractersticas de Iemanj, Ians
e Oxum:
No a todos os olhares que esta aiab se mostra nos jogos
de bzios, apresentando-se, ora como Oxum, ora como Oi, e
s vezes at mesmo como Iemanj, o que leva muitos
sacerdotes e sacerdotisas ao total desespero. Atributos de Oi
e de Oxum esto contidos em Eu: transformao, guerra,
caa, feminilidade, disfarce, poder, pioneirismo,
encantamento, praticidade, beleza. (...) Eu a senhora da
transformao e da invisibilidade, o orix que age sobre a
imaginao dos seres vivos e trabalha as sensaes,
estabelecendo o conhecimento das coisas e a memria. (...) a
senhora da msica, o produto de todos os sons existentes na
natureza reunidos de forma harmnica.
Eu tem sua persuaso, a persuaso de existir, por meio da qual exerce um fascnio,.
Ela realiza a transio de um mundo ordenado pelo terror para um novo mundo: o da festa.
209
Diferentemente de Icu, a face dolorosa do mundo, a dor primordial, Eu a face da alegria, da
harmonia musical de todas as coisas. Ela infunde a alegria nos homens, posto que a senhora
da msica; com o canto e a poesia, Eu traz um estado de nimo para todos. O carter passivo
e compassivo diante a passagem do tempo ento superado pela viso da eternidade projetada
na arte, na msica, que propiciam um momento de reencontro com o desejo, com o devir.
Para Fabio Rubens da Rocha Leite (1982, p. 493), a elaborao do ancestral prope
que concretamente a morte, nos limites em que ela se manifesta, um fato insupervel. Mas
fora desses limites, no o , pois que o homem dotado de imortalidade. Nesta perspectiva
encontra-se Munanga, para quem a ancestralidade compreendida no a partir do tempo do
Mesmo, isto , do presente identificado como o modo temporal prprio da conscincia, mas a
partir do tempo do Outro. O passado e o futuro so modos prprios do pensar a
ancestralidade. Para Munanga (1977, p. 100), os bantos concebem o mundo como um
conjunto de foras hierarquicamente classificadas e sempre em interao. Esta interao
sempre feita seguindo a direo do superior ao inferior, quer dizer, de cima para baixo. Nesta
interpretao do tempo, a ancestralidade arrancada da simultaneidade da presena e
remetida a um passado imemorial, irrecupervel pela conscincia. Nesse sentido, Leite
esclarece, ao afirmar que (op. cit., p. 516):
Poderamos, assim, cogitar da existncia de um tipo de
ancestralidade divina ou semi-divina, altamente sacralizada,
envolvendo deuses e ancestrais histricos, estes s vezes
aparecendo at certo ponto como mticos e outras vezes como
realmente histricos. Liga-se geralmente explicao
primordial do mundo, ao aparecimento do homem e dos
ancestrais bsicos, originando as primeiras propostas de
organizao da sociedade, podendo entretanto at mesmo
relacionar-se com a configurao do Estado, quando o caso.
(...) o outro tipo de ancestralidade envolve apenas os
ancestrais histricos, altamente sacralizados, menos ou mais
longnquos mas perfeitamente individualizados e conservados
na memria social, sendo caracterstica bsica de sua
concretude o fato de sua condio ancestral ter sido criada
pela prpria sociedade, na maioria dos casos, atravs das
cerimnias funerrias. Liga-se a explicaes extremamente
diferenciais da realidade e d origem a instituies sociais
menos ou mais abrangentes, desde a configurao da famlia
at a da sociedade, incluindo mesmo a noo de Estado,
quando o caso.
A ANCESTRALIDADE COMO INFINITO
210
A ancestralidade pensada com a experincia do tempo, referindo-se s idias de
Criao. Iroco , por excelncia, a morada dos ancestrais (MARTINS; MARINHO, op. cit.,
p. 47). Uma caracterstica da africanidade consiste precisamente em referir o passado
criao e no criao ao passado, como postula Munanga (1977, p. 101):
A vida criada por Deus, que, ele mesmo, uma fora
suprema, Mvidie i muntu mukatampe. A vida dada por
Deus aos antepassados em seguida aos defuntos e, por
intermdio destes, aos homens. Entre estes ltimos a vida ,
inicialmente dada aos mais velhos e, depois, aos mais moos.
A temporalizao do tempo pensada, no como essncia, isto , como acontecimento
de ser. O tempo e a morte no so tratados em relao com o ser, mas antes, referem-se ao
Outro, isto , ao Infinito. O tempo pensado no como horizonte do ser, como essncia do
ser, mas como Dizer. Desse ponto de vista, o tempo no concebido como relao com a
finitude do ser (a morte), mas como relao como o Outro, que Infinito. Nessa esteira, pode-
se pensar o tempo independentemente da morte, a que a sntese passiva do envelhecimento
conduz, como coloca Leite (op. cit., p. 494):
Assim como na iniciao o homem, na morte, depende
totalmente das aes histricas. Isso significa, em ltima
instncia, que tanto na elaborao do homem natural-social
como na elaborao do ancestral, homem e sociedade detm
conscincia tima da condio existencial: na existncia
visvel, a sociedade integra o homem nas prticas histricas do
mundo terrestre, na instncia da morte, trata-se de integr-lo
no pas dos ancestrais. A carga vital histrica que tipifica o
pr-ancestral a mesma que o individualiza em seu retorno ao
mesmo grupo atravs da reencarnao ou em sua condio de
ancestral. Da a importncia da morte: ao invs de propor um
princpio de extino, estabelece a continuidade do homem e
do processo histrico.
O tempo temporaliza-se de modo diacrnico, isto , a despeito da sincronizao da
conscincia. Por isso, Munanga procura preservar a ambiguidade que a temporalidade do
tempo supe. Contrariamente a Kant, que compreende o tempo como forma pura da
sensibilidade, isto , como um a priori de toda experincia, aqui se assinala um lapso de
tempo sem retorno, uma diacronia refratria a toda sincronizao, ou seja, uma diacronia
transcendente. Narra Munanga que (1977, p. 102),
Um certo Kapanjyi da aldeia Lukinki, assim narra o caso de
concepo em seu lar: minha mulher no havia concebido
211
depois de muitos anos de casamento. Um dia fui consultar
uma mulher advinha chamada Mwamba. Esta me recomendou
ir a uma colina e de lhe trazer o primeiro objeto que
encontrasse. Trouxe-lhe uma erva. Em seguida, enviou-me a
uma floresta escura, tateando procura de uma folha ou de
uma raiz de qualquer rvore. Tudo isso significa uma criana,
disse ela.
Ela trabalhou a erva e a folha segundo seus conhecimentos e
predisse que meu lar teria uma filha Mukalai, nome dado
pelos advinhos Nnga s crianas nascidas graas ao poder
de suas folhas. Tudo se passou como previsto por esta mulher
e minha famlia teve uma filha a quem chamei de Mukalai.
(...) o que o advinho fez, foi a simbolizao da mesma relao
de fora vital entre o Alto e o Baixo ou a interao de um
sobre o outro para dar nascimento vida. O Alto, a fora vital
superior, a luz, o mundo celeste representado
simbolicamente pela colina (a erva da colina). A parte Baixa,
a fora vital inferior (a obscuridade) representada pela
floresta (a erva da floresta). Da interao de um sobre o outro
nasce a vida, a concepo.
A interpretao que Munanga faz desse relato, identificando o Alto, a colina, com
uma fora vital superior, e o Baixo, a floresta, com a obscuridade, coincide com a anlise de
Durand acerca dos regimes Diurno e Noturno do imaginrio. Percebe-se que Munanga move-
se numa estrutura sinttica, pois a vida nasce da interao entre estes dois lados. O tempo
temporaliza-se, pois, de modo a assinalar a dia-cronia da transcendncia, ou de outro modo
que ser. Em outras palavras, a temporalizao ou temporalidade do tempo significa uma
diferena irredutvel ao binmio ser e nada. Significa o para-alm do ser. Tal diferena
delineia-se na relao com o outro, uma vez que esta no pode ser representada, referindo-se
sempre a um passado imemorial. Isso porque a responsabilidade adquirida pelo Mesmo na sua
passividade de eleito escapa memria, isto , conscincia em sua atividade de reteno.
Em outras palavras,
preciso que falemos e tenhamos boa convivncia com essa
divindade silenciosa e turbulenta, contemplativa, que mais
gosta de ouvir que de falar, generosa e gentil, colrica e
terrvel, apaixonada e tambm cruel, mas muito justiceira.
Iroco a rvore da vida e a vida tudo (MARTINS;
MARINHO, op. cit., p. 45).
A diacronia do tempo irrecupervel pelo movimento tematizante e sincronizante da
conscincia, irredutvel a toda correlao notico-noemtica
86
. A significao da diacronia
86
Notico: parte da lgica que estuda as leis fundamentais do pensamento, que so os quatro princpios:
identidade, contradio, terceiro excludo e razo suficiente. Noemtico: adjetivo de noema: o aspecto objetivo
212
encontrada no mais alm ou mais aqum do Dizer, ou seja, a diacronia do tempo se produz, de
modo concreto, na responsabilidade para com outrem ou na tica. Entre os iorubas, por
exemplo:
Se o morto era um homem difcil ou violento, ou se a sua
morte foi conseqncia de uma longa doena, realiza-se um
rito de exorcismo para afastar as foras malignas que o
influenciavam. O rito realizado por um mdico (Oloogun),
que disparar uma flecha que entrar em contato com o corpo
do defunto de modo a extrair-lhe o esprito maligno. Lanar a
flecha para longe, na direo da floresta. Parece que este rito
realizado em ligao especial com o renascimento do defunto
idia muito difundida nas religies tradicionais africanas.
Trata-se assim de assegurar que o defunto, quando reencarnar,
no seja mais dominado pelo esprito maligno que justamente
atravs do rito lhe definitivamente tirado (TERRI, op.cit., p.
199).
sempre, de qualquer modo, uma passagem para o tempo do Outro. Isso porque o
Outro encontra-se num tempo diferente do tempo do Mesmo. Enquanto o Mesmo, em sua
atividade de conhecimento, significa o tempo da conscincia, o tempo enquanto presente, a
prpria origem, incio, o Outro remetido a um passado imemorial, concernindo-me antes
mesmo que eu tenha tempo para pensar, para escolher ou me decidir, isto , para tornar
presente a responsabilidade qual sou eleito, de modo que minha resposta a seu apelo est
sempre em atraso, sempre tardia. Essa an-arquia
87
, essa recusa da responsabilidade
representao, concerne-me sob o modo de um lapso de tempo, irrecupervel na
temporalizao do tempo. A temporalizao como lapso significa a prpria perda de tempo, o
meu atraso irremedivel com relao interpelao do outro. O tempo como lapso e perdio
irrecupervel, tempo perdido sem retorno, e exterior a toda vontade, assinalando, portanto, a
passividade inassumvel da subjetividade.
O tempo enquanto dia-cronia entrevisto na diferena do Infinito em relao ao finito,
ou do Outro na sua relao com o Mesmo, ou seja, na diferena do Infinito como relao com
o finito. Trata-se do tempo como diferena ou distncia intransponvel entre o Mesmo e o
Outro, como o intervalo ou o lapso que os separa e, concomitantemente, os mantm em
relao. O tempo dura maneira dessa diferena como no-indiferena. Ora, em sua
da vivncia, ou seja, o objeto considerado pela reflexo em seus diversos modos de ser dado (por exemplo, o
percebido, o recordado, o imaginado). O Noema distinto do prprio objeto, que a coisa (ABBAGNANO, op.
cit., p. 834).
87
Anarquia designa aquilo cujo princpio perdeu-se, o sem comeo, sem origem no presente, a prpria diacronia
do tempo.
213
inadequao ao presente, o tempo relao com um aqum e um alm, com um antes e
um depois, ou seja, com algo que no contemporneo ao pensamento, mas que o precede e
o excede, permanecendo exterior, separado, santo e, neste sentido, Infinito, transcendente.
Segundo Martins e Marinho, (op. cit., p. 55) a tradio nos ensina que em todas as famlias
de orixs existe uma qualidade que preferir a cor branca. Essas divindades so as mais
ligadas ao culto dos ancestrais e ao poder de transformao. O ancestral o mais velho,
possuidor de cabelos brancos, como aponta Durand (1997, p. 147), ao dizer que a sua cor
88
emblemtica o branco, e brancos so os bons de purificao dos circuncidados. (...) e
comparando esta brancura luminosa quela que a idade confere aos cabelos chama-lhe, apenas
por isso, velho. Trata-se de uma relao, na medida em que o Infinito no me indiferente,
contudo me concerne, isto , ordena-me sob a forma de um passado imemorial, de um atraso
irremedivel em relao ao Outro ao qual sou chamado, no sentido de uma obrigao a
responder.
O tempo relao, no de conhecimento, mas tica. A durao do tempo no
desvelamento, todavia possui o sentido de uma deferncia para com o Infinito. Em seu modo
prprio, o tempo relao de deferncia para com o Infinito, ou seja, o modo prprio do
tempo o de uma relao tica com o Infinito. Os termos tica e deferncia que
modalizam essa relao ou no-indiferena do Infinito para com o finito so utilizados no
sentido de que o Infinito permanece inapreensvel, intocvel e inassimilvel na relao, de
modo que sua alteridade absoluta ou ambiguidade incontornvel salvaguardada quanto re-
presentao ou sincronizao num presente. Em outros termos, o tempo como diacronia o
tempo como relao com o que permanece absolutamente Outro, escapando continuamente
posse do Mesmo e, neste sentido, Infinito. O tempo , pois, relao tica na medida em que
no implica sincronizao ou re-presentao, mas se temporaliza diacronicamente. Nesse
modo prprio do tempo, inscreve-se a significncia de um Outro, de um tempo-outro, que
no o tempo do Mesmo.
A eticidade ou deferncia dessa relao com o Infinito, que o modo prprio do
tempo, d-se sob a forma de um despertar, de uma inspirao, isto , sob o modo do Desejo.
O tempo deve ser pensado como modalidade na qual o mais inquieta o menos, cujo sentido se
desenha sob a forma de um despertar do psiquismo. Trata-se do tempo como inspirao,
inquietao, insnia originria, traumatismo ou afeco do Mesmo pelo Outro, ou seja, a idia
88
A cor do deus Faro, da etnia Bambara.
214
do Infinito no finito. Este no no relativo presena, no assimilao. Ao contrrio,
indica um acolhimento sem assuno, uma passividade sem receptividade, uma relao de
deferncia para com o no-representvel, para com o Outro, o Diferente que, no obstante a
sua diferena, no se mantm indiferente ao Mesmo.
O tempo um despertar do psiquismo, onde o termo despertar delineia a prpria
inquietude do tempo, que a prpria inquietude do Mesmo pelo Outro, a inspirao ou o
despertar. Deve-se atentar para a prpria inquietude do tempo, ou seja, para o seu modo
prprio, que independente, distinto e, neste sentido, transcendente em relao quele
mediante o qual a conscincia o concebe. Aqui h a passividade do sujeito que recebe o
traumatismo no tempo. Trata-se de conceber o tempo de outro modo que a intencionalidade
da conscincia, isto , desvinculando-o de sua doao de sentido, fazendo-o significar de
modo prprio, independente e distinto em relao quele sincrnico mediante o qual a
conscincia o designa. A temporalizao do tempo constitui-se como o contrrio da
intencionalidade entendida como pura atividade de doao de sentido s coisas. A sntese
passiva do envelhecimento indica essa exposio do sujeito que, apesar de si, padece a
durao do tempo sem poder det-lo.
O tempo como relao com o Infinito assinala, portanto, uma passividade radical por
parte do finito que suporta pacientemente o Infinito, isto , que padece a afeco ou
traumatismo do que lhe infinitamente exterior e transcendente. O tempo , pois, o modo de o
finito suportar o Infinito, sofrer a sua visitao ou descida idia na proximidade do prximo.
O finito suporta o Infinito de maneira paciente, isto , ao modo de uma espera, como um a
Deus no sentido de um movimento rumo ao Infinito, ou ainda, sob a forma do Desejo. Espera
sem esperado, desejo do que no lhe sacia a fome, pois o Desejvel permanece inadequado,
excedente, transcendente.
A desproporo ou excedncia do Infinito enquanto absolutamente Outro em relao
ao Mesmo assinala a prpria pacincia ou delonga do tempo, isto , sua durao. O tempo
significa a distncia ou santidade absoluta do Infinito, que j a sua proximidade, no sentido
de eleger a subjetividade a ser-para-o-outro. Neste sentido preciso de que o tempo no-
correlao, este sempre a-Deus, isto , ao Infinito.
A ANCESTRALIDADE E O PRESENTE
215
O presente entendido como a essncia que comea e termina, comeo e fim unidos e
em conjuno. Trata-se do tempo prprio da conscincia enquanto origem, princpio, como
relata Terrin (op. cit., pp. 200-201):
Em muitas aldeias iorubas, os habitantes acreditam que,
durante o perodo reservado memria dos antepassados
segundo o calendrio -, os espritos destes voltam terra para
visitar os vivos. (...) Muitos Egunguns visitam as casas dos
membros da sua descendncia e dos amigos, onde ao chegar
encontram vrios presentes como retribuio visita e
cortesia feita.
Para o pensamento ocidental enquanto filosofia do ser, tudo presente ou de algum
modo a ele se refere. Para a africanidade, o incio, como ato de conscincia, precedido por
algo que no pode ser sincronizado, isto , por um antes que no pode se tornar presente,
pelo irrepresentvel, pelo prprio Infinito, pelo Outro. A forma ou categoria da presena,
prpria da conscincia intencional, no serve para pensar o Infinito. A presena no a
inteligibilidade original do Ancestral. Isto porque, no presente da conscincia ou na
conscincia enquanto re-presentao do ser, ato ou acontecimento de ser, essncia do ser, a
ambigidade incontornvel do Ancestral, a sua alteridade absoluta e inabarcvel, trada,
sincronizada num Dito. O Ancestral arrancado simultaneidade da presena, isto , do
tempo sincronizvel da representao, e remetido a um passado imemorial onde significa
como Eleidade
89
, de modo que a sua transcendncia resguardada, e a arte poder nos dar
esta compreenso, como nos explica Munanga (2008b):
A arte tem uma importncia muito grande. A arte um documento histrico.
A arte serve para os cultos aos antepassados. As mscaras servem para os ritos de
iniciao, ritos de iniciao de fertilidade, de fecundidade, ritos agrrios, que so
momentos tambm de socializao. Os ritos servem tambm no apenas para
ritualizar as passagens da vida, as mudanas de status social na vida, mas alguns
ritos de iniciao so momentos de educar de uma maneira muito forte, porque o
momento to forte que causa um impacto muito grande nas pessoas em termos de
89
Eleidade um neologismo que significa existir e viver fora do meu poder racional, falar para alm do crculo
de minha influncia lingustica (Ricardo Timm de Souza. Sujeito, tica e Histria. Porto Alegre: EDIPUCRS,
1999, p. 75).
216
educao. Ento tudo so caminhos de transmisso de valores, so caminhos de
educao muito importante.
Eu me lembro quando era criana, nas aldeias, a gente bebia gua, gua do
rio, gua das fontes naturais. Na minha educao, dizia-se para as crianas, que voc
no poderia fazer xixi no rio, se voc fazer seu xixi no rio, seu pnis, voc vai ter uma
doena que atinge seus rgos sexuais, so rgos de reproduo, rgo tambm de
prazer sexual. No se dizia que era ruim fazer o xixi na gua, no rio. Sabiam que as
pessoas precisavam se traumatizar por isso: se voc fizer isso vai ter essa doena,
voc vai perder a potncia sexual, voc no vai ter filhos etc. Ento, a gente
desde pequeno no podia fazer xixi na gua, mas era uma maneira de educar, porque
no tinha outra maneira de imprimir isso de maneira muito forte.
Por que isso era s para os meninos? Porque para os meninos, para nosso
rgo sexual voc pode levantar e fazer xixi no rio, a mulher no, a mulher uma
outra postura, no pode fazer isso. Ento um caminho de educao.
Dizia tambm na minha infncia que voc no pode ficar durante o dia
contando os mitos, contos, provrbios, porque se voc fizer isso seu tio materno vai
morrer. Mas sabe porque? Porque de dia para trabalhar, o dia para trabalhar,
no para ficar de preguia contando contos, ritos, mitos, para trabalhar. Ento
tinha uma maneira de impedir, so tabus para as pessoas saberem que o dia
normalmente no momento de preguia, de ficar l deitado no momento de
trabalhar. Mas noite sim, a noite acabou o trabalho, o momento de descanso, o
momento em que as pessoas podem dizer essas coisas.
Essa ambiguidade do Infinito, refratria ao conhecimento enquanto desvelamento,
representao ou ao ser em seu ato de ser, isto , em sua essncia, constitui a prpria
alteridade ou diferena absoluta do Infinito em relao ao finito ou ao pensamento que se
perfaz como re-presentao, como presentificao de toda exterioridade. Dito de outro modo,
a transcendncia do Infinito sua santidade ou separao absoluta em relao ao presente.
Seu modo de significar aqum e alm do presente, sua no-presena mesma que no pura
ausncia, mas relao em que perdura a diferena, a diacronia, constitui a sua altura, a sua
prpria infinio.
217
O Infinito no contemporneo ao pensamento que o pensa, mas o precede e o excede
temporalmente. Num abuso da linguagem, pode-se dizer que ele adentra o presente e, nessa
entrada mesma, dele j se retira. Trata-se de uma passagem do Infinito, de modo que sua
retirada significa uma perturbao da ordem do ser, descrita pelos termos inspirao,
animao, afeco ou traumatismo.
A ANCESTRALIDADE NUM PASSADO IMEMORIAL
O Infinito recolhe-se num passado imemorial, irrecupervel pela intencionalidade da
conscincia. Trata-se de um tempo anterior ao comeo, de um passado mais arcaico que toda
origem representvel, isto , mais antigo do que a conscincia enquanto princpio,
fundamento, origem, e, neste sentido, passado pr-original e an-rquico. Passado que no
pode ter sido origem, passado sem referncia a algum presente, o que implicaria um eu j
firmado em sua conscincia. Passado mais antigo que todo presente, passado que nunca foi
presente, de uma antiguidade an-rquica, passado que significa mais aqum e mais alm da
manifestao do ser. Tempo imemorial que nenhuma reminiscncia pode recuperar como a
priori.
O termo imemorial no aponta para uma debilidade da memria, o passado
imemorial um passado irredutvel ao presente, isto , que permanece exterior a toda
reminiscncia, que no pode ser representado, que no pode ser recolhido pela memria ou
retido pela histria. Na medida em que jamais se cristaliza em presente, recalcitrando a sua
absoro numa reminiscncia, esse passado imemorivel a prpria eternidade. Esta, por sua
vez, significa a prpria irreversibilidade do tempo, realando obstinadamente em direo ao
passado. Passado cuja significncia pr-originria d-se na anterioridade tica da
responsabilidade por outrem, na medida em que o eu responsvel por uma falta que ele no
cometeu, por algo que jamais esteve em seu poder nem em sua liberdade, para o que no lhe
vem lembrana.
O passado imemorial significa, pois, minha participao no-intencional histria da
humanidade, ao passado dos outros que me concerne, que me diz respeito, embora no seja
por mim assumido. O passado imemorial refere-se anterioridade original, a ultimidade
original do ancestral, tal como refere Munanga (2008b):
218
A palavra, ela carregada de fora, carregada de energia. A palavra cura,
como a palavra mata. O curandeiro na viso africana no como em nossa terapia,
pois quem fala o curandeiro, ele quem fala todo o tempo, o paciente fica calado.
Quem cura a palavra dele, so os gestos dele que curam. Ento a palavra
carregada de energia. Essa energia vem l, so passadas pela ancestralidade.
A ancestralidade praticamente o ponto de partida de todo processo de
identidade do ser, para voc criar sua identidade coletiva voc tem que estabelecer
um vinculo com a ancestralidade. L sua existncia como ser individual e coletivo.
Ento a ancestralidade para ns muito importante.
to importante que voc no vai encontrar, na viso africana do mundo, os
templos dedicados ao Deus nico, para Olorum, para Zambi. Ele invocado, sabe-se
que Ele existe, mas ele no recebe culto diretamente. Os cultos so para os ancestrais,
os ancestrais so importantes na vida, para manter a vida da sociedade, a fertilidade,
a fecundidade. Nascem os filhos, toda evocao dirigida aos ancestrais.
Os akan, da Costa do Marfim, dizem que voc no coloca o chapu no joelho
quando a cabea est presente, quer dizer, a cabea o ancestral. Ento, o chapu,
voc no pode colocar no joelho, o joelho o mais jovem, a cabea que a
ancestralidade, a que voc coloca o chapu. O que quer dizer com isso, quando
numa reunio se tem o mais velho, no o jovem que fala em nome do grupo, o mais
velho que fala. Ento voc no coloca o chapu no joelho quando a cabea est
presente, a cabea a ancestralidade, o mais velho.
Na minha terra diz-se que a cabea no ultrapassa o pescoo. complicado,
no? Porque a cabea est em cima, como que voc vai dizer que a cabea no
ultrapassa o pescoo? Porque o pescoo a ancestralidade. Sem o pescoo a cabea
no sabe onde ficar, se o jovem se considera como cabea, mas essa cabea tem um
suporte que a ancestralidade, ento a ancestralidade fundamental em todo
processo de construo da nossa identidade como africano.
219
Essa anterioridade pr-original do ancestral no deve ser compreendida em termos de
ser, isto , como uma existncia anterior do criador em relao criatura. Por anterioridade do
ancestral entende-se sua Diferena como no-indiferena, que se d sob o modo temporal de
um distanciamento tico na forma de um passado imemorial.
A anterioridade do ancestral no significa sua existncia anterior ao homem, mas sua
Eleidade, isto , sua alteridade absoluta em relao ao ser, sua pr-originalidade ou
anterioridade em relao conscincia tematizante. O ancestral superior, isto ,
transcendente em relao ao ser. O ancestral no entendido em termos de ser, de presena,
de correlao, mas como passado imemorial, irrecupervel pela conscincia. Esse passado,
por sua vez, traduz-se em meu atraso em relao ordem dada. No no-instante da criao,
no havia ainda um eu para responder, embora j fosse chamado a ser; por isso, sua vinda ao
ser no se d seno como responsabilidade sempre em atraso irrecupervel, que, por isso, se
refere ao Infinito, isto , divindade.
Esse passado no qual o ancestral significa ou se passa mais antigo do que a
conscincia enquanto origem, ou ainda, utilizando um conceito filosfico, anterior ao cogito
enquanto fundamento do real. Por um lado, o passado absoluto ao qual o ancestral remetido
significa a sua distncia ou diferena absoluta em relao ao ser e conscincia tematizadora,
sincronizadora, representativa ou presentificadora. Na medida em que se afasta continuamente
sob o modo temporal de um passado irrecupervel, o Infinito permanece separado na relao,
isto , santo. Por outro lado, esse passado imemorial tambm significa a relao do ancestral
com a subjetividade. A diferena ou transcendncia do ancestral , a um s tempo, sua no-
indiferena ao homem; a anterioridade do ancestral j relao com a subjetividade no
sentido de uma eleio. Trata-se da relao com a Eleidade no prprio advento do ser, na
medida em que o prprio surgimento da criatura j resposta a um apelo. Da o passado
imemorial significar o prprio no-instante ou o tempo da criao, no qual a criatura eleita
ou investida pelo ancestral.
Munanga no faz uso do passado para remontar a um ancestral criador; antes, a
noo de criao que implica o tempo como passado imemorial, o tempo como a-Deus. O
tempo da criao ex nihilo
90
um tempo antes do tempo. Trata-se de uma anterioridade que
90
Ex nihilo (do nada): do latim nihil, nada indica em geral uma concepo ou uma doutrina em que tudo o
que os entes, as coisas, o mundo e em particular os valores e os princpios negado e reduzido a nada
(Abbagnano, op. cit., p. 829).
220
no significa arch
91
porque no se refere a um princpio tematizvel, a uma origem que
possa ser remetida presena mediante a atividade intencional da conscincia, e nem a algo
que se origina na vontade. Na medida em que escapa conscincia como princpio e vontade,
essa anterioridade pr-original e an-rquica.
A diacronia absoluta repousa no fato de que o eu no estava presente no no-instante
da criao para assumi-lo num para-si. A criatura no capaz de assumir o evento de sua
criao, porque ele anterior ao Eu enquanto conscincia, isto , enquanto princpio. O eu
capaz de assumir o ato s surge quando o ato criador j est acabado; logo, a criao no pode
ser re-presentada, isto , reconduzida ao presente. Assim, o no-instante da criao acusa uma
passividade radical por parte da criatura. Ou seja, o passado imemorial, no qual se inscreve a
criao ex nihilo, atesta a passividade absoluta que constitui a subjetividade. Indica a
suscetibilidade ilimitada e anrquica do sujeito que no capaz de assimilar em sua
conscincia o no-instante em que fora forjado.
O fato da criao no poder ser presentificada, ou seja, remetida presena da
conscincia ou conscincia enquanto re-presentao, sinaliza a primazia da tica em relao
ordem do conhecimento, ontologia. Indica, portanto, uma relao anterior e que se perfaz
de outro modo que o saber ou o conhecimento que sempre re-presentao. A noo de
criao revela a anterioridade das divindades em relao ao ser, do criador em relao
criatura, do infinito em relao ao finito. A precedncia das divindades, nossos ancestrais, em
relao criatura perfaz-se sob o modo de uma relao de eleio por parte das divindades. O
homem, antes de ser, convocado a ser, eleio. No chamado para ser, ou no prprio
acontecimento de ser, inscreve-se a transcendncia do ser para.
A an-arqua da criao, essa perturbao no ser, significa precisamente a anterioridade
da responsabilidade em relao liberdade. A an-arqua da criao revela que a
responsabilidade no tem princpio, ou seja, que o movimento para-o-outro no tem incio na
conscincia, e nem fim, tanto no sentido de finalidade, quanto no sentido de finitude: -se
responsvel por tudo e por todos des-medidamente, ilimitadamente, sem condies e sem
limites.
91
Arch (arque): ponto de partida e fundamento de um processo qualquer. (Abbagnano, ibidem., p. 928).
221
A ANCESTRALIDADE COMO ABERTURA A DEUS
O tempo a espera paciente de Deus, desejo, procura. Trata-se, porm, de uma
espera sem esperado, espera de algo que no pode ser termo ou fim pois est para alm do
movimento que o procura, excedendo-o infinitamente, isto , abrindo-o sempre mais,
aumentando sua fome ao infinito. Espera sem esperado, pois o movimento de busca ou espera
redirecionado ao outro homem. Nessa espera, a intencionalidade transmuta-se em
responsabilidade por outrem. Trata-se de uma espera no-teleolgica, pois no alcana aquilo
que busca. Nisto consiste o sempre da durao, a prpria eternidade do tempo. Eternidade no
como um incessante retorno ao presente, mas como abertura ao infinito do tempo. Como
esclarece Munanga (1977, pp. 162-163),
A morte constitui a ltima etapa nos ciclos da vida de todo
indivduo. Os Basanga tem, disso, perfeita conscincia e a
cantam nos provrbios, nos ditados, em toda a sabedoria de
viver (...). Contudo, apesar dessa familiaridade com a idia da
morte, os Basanga, ainda que considerando esta ltima a sorte
comum dos seres humanos, jamais consideram sua origem
como sendo natural. Ao contrrio, ela sempre atribuda a
uma interveno especial de Deus.
Pensado essencialmente como futuro, o tempo dia-cronia, pois no pode ser
conhecido pela conscincia, ou seja, no pode ser pensado a partir do presente. O fato do
porvir do futuro ser inacessvel conscincia revela a dia-cronia do tempo. Em sua
inadequao ao presente, em sua diacronia irreversvel, isto , enquanto futuro, o tempo
relao com um alm, com algo que no contemporneo ao pensamento, mas que o excede,
ou seja, que est para alm dele. Essa excedncia constitui a prpria transcendncia ou
diferena do Infinito; diferena como no-indiferena ao homem.
Abre-se a dimenso do futuro como possibilidades ainda imprevistas pelo Eu em ser-
para-o-outro. como se o que se apresenta na responsabilidade ou na obedincia no fosse
seno o que j deveria ter sido feito, como se o Eu estivesse em atraso e, por isso, j lanado
para alm do que interpelado a fazer. Aumento do Desejo na medida em que se tenta saci-
lo. Infinitude da responsabilidade, que me chega de um passado e me remete sempre ao que
ainda no fiz, ao porvir do tempo at ento insuspeitado.
O futuro pensado, no a partir do Eu e do que lhe ocorre, mas a partir do Outro, na
medida em que este questiona o Eu. O futuro compreendido a partir do momento dia-
222
crnico em que escuto o ancestral como vestgio do Infinito. No dizer de Munanga (ibidem, p.
298),
A morte no destri, absolutamente, os liames de dependncia
que determinam as relaes entre mais moos e mais velhos,
entre filhos e genitores. Ao contrrio, a dependncia do mais
jovem se intensifica. Ela se torna, mesmo, absoluta. H duas
razes para isso: primeiro, o morto dispe de outro meio de
coero que o vivo; seu conhecimento das condies terrestres
sendo muito maiores e suas possibilidades de ao muito mais
vastas. Segundo, o morto tem necessidade da submisso, da
piedade, do devotamento e do reconhecimento dos
descendentes. (...) existe uma espcie de intercmbio
obrigatrio entre os dois grupos de vivos e mortos. Os ltimos
do a fora vital em troca do culto que recebem dos primeiros.
A face da ancestralidade traz-me uma obrigao para alm de minha morte, isto ,
aps e apesar da minha morte, uma ordem significativa que se estende ao sem-fim, ao
infinito, ou seja, a Deus. Trata-se de uma obrigao que a morte no desfaz e que, por isso
mesmo, abre a dimenso do futuro. Ou seja, a ordem solicita alm da morte. Essa obrigao
que me obriga para alm de minha morte o sentido original do futuro. O futuro possui uma
significao imperativa: ele me concerne como no-indiferena ao outro. Neste devotamento
ao outro, nesta eleio, o eu lanado ao infinito, isto , a Deus.
223
FRAGMENTOS DA MEMRIA NA ORALIDADE: DO INDIZVEL AO DIZVEL
(...) A memria das pessoas de minha gerao, sobretudo a
dos povos de tradio oral, que no podiam apoiar-se na
escrita, de uma fidelidade e de uma preciso prodigiosas.
Desde a infncia, ramos treinados a observar, olhar e escutar
com tanta ateno, que todo acontecimento se inscrevia em
nossa memria como em cera virgem. Tudo l estava nos
menores detalhes: o cenrio, as palavras, os personagens e at
suas roupas. (...) Para descrever uma cena, s preciso reviv-
la. E se uma histria me foi contada por algum, minha
memria no registrou somente seu contedo, mas toda a cena
a atitude do narrador, sua roupa, seus gestos, sua mmica e
os rudos do ambiente. (...) Por isso muito difcil para um
africano de minha gerao resumir. O relato se faz em sua
totalidade, ou no se faz. Nunca nos cansamos de ouvir mais
uma vez, e mais outra a mesma histria! Para ns, a repetio
no um defeito (HAMPT B, Amadou. Amkoullel, o
menino fula, 2003, pp. 13-14).
Nas sociedades tradicionais, conciliar vises tericas
conflitantes faz parte do processo geral de acomodao
necessrio queles que esto ligados uns aos outros como
vizinhos, pela vida afora. (...) O estilo conciliatrio possvel
porque a transmisso oral dificulta o reconhecimento das
discrepncias. Assim, possvel ter uma imagem do
conhecimento como um saber imutvel, transmitido pelos
ancestrais (APPIAH, Kwame Anthony. Na Casa de Meu Pai: a
frica na Filosofia da Cultura, 1997, pp. 184-185).
224
FRAGMENTOS DA MEMRIA NA ORALIDADE: DO INDIZVEL AO DIZVEL
A dimenso da oralidade abrange todas as culturas tradicionais afrobrasileiras. Em
Munanga, especialmente, observamos a verdadeira ndole da aventura de sua lngua criadora.
Seus textos esboam um drama poitico
92
, a identidade de sua voz que se levanta, enfrentando
o poder destruidor do tempo. Sua voz constata que a realidade, incluindo a facticidade do eu,
no s existncia, mas expresso de um sentido. Uma voz, um entendimento finito, um fio
que se rompe, cada vez que a realidade transborda os parmetros antropomrficos
93
de
compreenso ou nega o previsto e o esperado. Na narrativa mtica (Prandi, op. cit., pp. 369-370):
Oxum queria um filho e pediu para Orunmil.
Ele ordenou-lhe que fizesse sacrifcio de dois carneiros, dois
cabritos e dois galos, de dois pombos, duas roupas e dois
sacos de bzios.
Quando Oxum deu luz, no era um nem eram dois.
Oxum teve trs filhos.
Mas ela no podia criar as trs crianas e mandou embora o
mais novo dos irmos para poder criar os outros dois, Tai e
Caiand.
Ido, o irmo rejeitado, no gostou de sua sorte e veio viver
na cabea dos irmos.
Vivia ora no ori de Tai, ora no ori de Cainad.
Ido atormentava os gmeos sem sossego.
Os ibejis viviam brigando.
Oxum estava enlouquecida com as brigas dos meninos.
Foi consultar Orunmil e ele viu a presena de Ido.
A perspectiva de desaparecimento da palavra causa consternao, pois ela o
testemunho da existncia do eu. Diante da incerteza do destino, a palavra se sobrepe
dvida como uma rotunda afirmao de f: a palavra no pode perder-se, nem a verdade
profunda de quem a diz, porque ela no mero signo, simples valor de troca, mas contm a
sustncia vital da conscincia, que se quer eterna desde sua imediatez.
A palavra, considerada sagrada nas culturas tradicionais africanas, se apresenta, desde
o incio, como uma incurso ao transcendente. A busca do sagrado pressupe a necessidade
de adquirir uma compreenso da realidade que supere a viso esclerosada pelo cotidiano.
92
Poitico: Produtivo ou criativo, diferente de prtico. Segundo Aristteles, a arte produtiva, enquanto a ao
no . (ABBGNANO, op. cit., p. 899).
93
Antropomrfico: Antropomorfismos so chamadas, em geral, as interpretaes de Deus em termos de
conduta humana. (...) Os homens, disse ele [Xenfanes] crem que os deuses tiveram nascimento e que tm
voz e corpo semelhantes aos deles; por isso, os etopes fazem os seus deuses de nariz chato e negros; os trcios
dizem que eles tm olhos azuis e cabelos vermelhos; at os bois, os cavalos, os lees, se pudessem, imaginariam
os seus deuses sua semelhana (ABBAGNANO, ibidem, pp. 77-78).
225
Dessa forma, Munanga investiga sobre as causas da infelicidade humana, mediante imagens
simblicas que lhe permitiram sair de um tom elegaco e fatalista, dando a ns, seus leitores,
uma percepo diferente da prpria condio do negro. O discurso de Munanga no
carregado de figuras que negam ao homem possibilidades vitais, ao contrrio, apresentando-
nos nossa capacidade de desenvolvermos em plenitude. Em Munanga, no h uma fatalidade
inerente condio humana, mas uma amlgama de fatores responsveis pela infelicidade
humana, sendo o primeiro passo para superar o determinismo arraigado na opinio comum.
Sua leitura, portanto, libertadora no sentido mais profundo, pois viver interpretar e
compreender os condicionamentos dessa interpretao abre um domnio de amplas
possibilidades que no se davam na determinao da vida real.
Ascender a uma vida mais autntica requer desativar os mecanismos de preconceitos e
discriminaes que se apresentam como produtos coerentes da histria, todavia que, em
verdade, impossibilitam viver integralmente ao distorcer o horizonte no qual esto situadas as
idias e as teorias verdadeiramente criadoras. Como expe Munanga (2008b):
Os meios de educao, os contos, os provrbios, so caminhos atravs do
qual se educa. Em que poca se fazia isso, na frica tradicional? As pessoas acordam
de manh e vo trabalhar, mas quando voltam para casa, no momento de descanso,
principalmente noite, sentam diante da fogueira e os velhos comeam a contar os
contos, os mitos, tudo isso para as crianas. Os provrbios, tudo isso carrega
elementos de socializao, de educao, momentos de introjeo dos valores da
sociedade. Ento, so meios importantes de educao, de comunicao tambm.
Nesta perspectiva, Kabengele Munanga um pensador peculiar. No acredito que
tenha criado um novo sistema de pensamento. No que tenha sido incapaz de gerar um
pensamento totalmente novo e original, porm sua reflexo mantm-se coerente em relao a
uma determinada posio terica. Munanga , antes de tudo, um homem de atitudes, de
maneira que estas se orientam em diversas perspectivas: nos estudos sobre as culturas
africanas, incluindo aqui o seu trabalho junto ao Ncleo de Estudos Africanos da
Universidade de So Paulo; suas pesquisas sobre as teorias racistas e antirracistas, que o
colocam como um dos principais tericos lidos pelos militantes do movimento negro
226
brasileiro; seus estudos sobre negro e educao, contribuindo para os jovens educadores e
pesquisadores na rea da educao que lutam por polticas afirmativas que incluam a
populao negra, especificamente no ensino superior; e ligados s culturas africanas, seus
escritos sobre a arte negra, incluindo tambm aqui os seus trabalhos junto ao Museu de
Arqueologia e Etnologia da Universidade de So Paulo (MAE-USP) e ao Museu de Arte
Contempornea da Universidade de So Paulo (MAC-USP).
O fato de atuar nesses campos diversos, revela, em Munanga, um terico que possui
uma inquietude, essa atitude de interrogao que conduz sempre a uma interrogao superior,
mais profunda. Nesse sentido, seu pensamento apresenta-se em forma de uma espiral que, por
um lado mostra-se incapaz de incorporar as sucessivas e infinitas interrogaes antropolgicas
e, por outro incorpora novas e profundas perguntas que revelam um saber impossvel de
enclausurar, ou seja, sempre aberto. A inquietude em Munanga, portanto, promove em seu ato
de pensar o movimento necessrio para ir sempre mais longe. Como seu pensamento est
intrinsecamente unido vida, esse movimento que vai sempre mais distante tem um horizonte
antropolgico muito evidente: a crtica toda violncia, especificamente o repdio ao
racismo, discriminao e ao preconceito, bem como a nfase comunicao profunda com o
outro. Ouamos ento essa voz (Munanga, 2008b):
A oralidade, apesar da escrita, importante em todas as sociedades
humanas. atravs da oralidade que comeamos os primeiros passos de educao,
dentro da prpria famlia. A linguagem, tudo passa pela oralidade, pela imitao. Os
pais repetem, falam a todo tempo, cansam sempre por ter de repetir. S depois que
vem a escrita. A educao no comea com a escrita, comea com a oralidade.
Na nossa vida cotidiana, temos nossas pesquisas, como as pessoas que fazem
antropologia, que trabalham com outras culturas, pesquisam a oralidade. Na
realidade, a escrita o registro da oralidade. A escrita no existe sem a oralidade, a
escrita simplesmente o registro da oralidade.
A histria da Grcia foi o que? Foi a oralidade que foi registrada. Ento a
oralidade est sendo colocada num segundo plano, no entanto, o veculo do
conhecimento, da educao, fundamental, que no podia ser descartada.
227
Nossos filhos chegam na escola, alguns j tm introjetados os mecanismos de
preconceitos, se discriminam entre eles. No pela escrita, vem pela oralidade, a
educao que eles tiveram na famlia. S mais tarde, quando eles vo ler nos livros e
encontram esses mesmos preconceitos, que s vo reforar o que trouxeram a partir
da oralidade. A oralidade comea na famlia, comea na rua, em tudo. Ento a
oralidade o veculo de transmisso da educao e do conhecimento, pois tudo se
fazia pela oralidade.
claro, isso no quer dizer que somos condenados a ficar na oralidade,
temos que combinar a oralidade com a escrita, porque a oralidade tem esse problema
da memria. Essa memria, no caso, por exemplo, da dispora africana, no caso dos
descendentes africanos aqui, uma parte da histria se perdeu porque estava na
oralidade, oralidade que no foi transmitida porque esses africanos escravizados
foram deslocados de um campo a outro, e a oralidade uma questo coletiva, ela no
se transmite individualmente.
Aqui, os africanos estavam se encontrando com pessoas de uma outra cultura
africana com quem no se comunicavam, e os homens que conheciam a histria de
sua famlia numa linguagem patrilocal, no construam essa famlia, ento no
conseguiram transmitir essa memria.
Muitas vezes isso explica o poder feminino muito forte no Brasil, pois as
mulheres foram mes de famlia que conseguiram transmitir uma parte dessa
oralidade, mas essa oralidade que transmitiram era na linhagem matrilocal, que era a
linha feminina, a cultura que predominava. Talvez uma parte da linha dos homens se
perdeu, voc no ouve.
Claro, houve uma resistncia muito grande na memria coletiva, atravs
dessa resistncia podemos continuar at a inovar com nossos ritos religiosos, nossas
religies, as artes, tudo continuou porque estava na memria coletiva, e essa memria
coletiva veio da oralidade, esses africanos vieram aqui s com a memria da
oralidade. Mas com o tempo essa memria se perdeu. Se tivesse registrado tudo isso,
ento teramos memria. Ento a escrita, para mim, veio auxiliar a oralidade, no
veio destruir a oralidade, se for bem empregada. Se deixar de lado a oralidade o que
228
ns temos so pessoas que no tem memria. A realidade a memria, a memria
um exerccio muito importante.
Ns temos visto que se os africanos tm boa memria, por essa oralidade.
Voc no precisa lanar mo de uma mquina para fazer 2 X 2, voc tem que
memorizar isso. Voc vem de uma famlia e a histria da famlia voc teve que
memorizar, ento o exerccio da memria tambm era muito importante graas a essa
oralidade.
Por outro lado, e de modo mais restrito, indubitavelmente a inquietude de Munanga
faz referncia existncia concreta do homem, inquietude esta que o dispositivo que
possibilita a convico de que o pensamento nunca est fechado, mas faz-se e se refaz
continuamente, como o prprio ser humano. Eu diria que, em Munanga, o pensamento no
nunca constitudo, mas continuamente constituinte, de forma que pode se afirmar que sua
inquietude a autntica chave do esprito humano. Orunmil, o que possui sabedoria,
constitui o mito diretor desse processo. Assim, voltando ao mito (PRANDI, 2001, pp. 466-467):
Fazia muito tempo que Obatal admirava a inteligncia de
Orunmil.
Em mais de uma ocasio.
Obatal pensou em entregar a Orunmil o governo do mundo.
Pensou em entregar a Orunmil o governo dos segredos, os
segredos que governam o mundo e a vida dos homens.
Mas quando refletia sobre o assunto acabava desistindo.
Orunmil, apesar da seriedade de seus atos, era muito jovem
para misso to importante.
Um dia, Obatal quis saber se Orunmil era to capaz quanto
aparentava e lhe ordenou que preparasse a melhor comida que
pudesse ser feita.
Orunmil preparou uma lngua de touro e Obatal comeu com
prazer.
Obatal, ento, perguntou a Orunmil por qual razo a lngua
era a melhor comida que havia.
Orunmil respondeu: Com a lngua se concede ax, se
ponderam as coisas, se proclama a virtude, se exaltam as obras
e com seu uso os homens chegam vitria.
Aps algum tempo, Obatal pediu a Orunmil para preparar a
pior comida que houvesse.
Orunmil lhe preparou a mesma iguaria.
Preparou lngua de touro.
Surpreso, Obatal lhe perguntou como era possvel que a
melhor comida que havia fosse agora a pior.
229
Orunmil respondeu: Porque com a lngua os homens se
vendem e se perdem.
Com a lngua se caluniam as pessoas, se destri a boa
reputao e se cometem as mais repudiveis vilezas.
Obatal ficou maravilhado com a inteligncia e precocidade
de Orunmil.
Entregou a Orunmil nesse momento o governo dos segredos.
Orunmil foi nomeado babala, palavra que na lngua dos
orixs quer dizer pai do segredo.
Orunmil foi o primeiro babala.
Considerando, pois, que o pensamento de Munanga aberto, ou seja, que no esgota o
real das coisas, relativizando nossos conhecimentos e descobrindo nossos prprios limites e
os limites de nosso conhecimento, observamos que ele vai ao encontro de Paracelso (apud
DURAND, 2008, p. 57), quando este afirmava que o homem possui realmente em si,
combinados em uma nica alma, todos os elementos animais do mundo; mas possui alguma
coisa a mais: o princpio divino que no vem da terra, mas de Deus. Durante os ltimos
sculos, em nome da objetividade, expulsram-se os mitos e as crenas do conhecimento. Em
outras palavras, o que caracteriza o mundo moderno que o saber destruiu progressivamente
o crer. Tal foi a tentativa da cincia em eliminar a f, seja religiosa ou no. Em Munanga,
todo pensamento, incluindo o cientfico, pressupe um certo tipo de crena. No existe
inteligncia sem crenas, j que o ato de f consubstancial ao esprito humano. A crena
aparece profundamente enraizada na constituio antropolgica do ser humano.
A atitude de inquietude presente em Munanga inicia-se, portanto, com a atitude de
assombro que as coisas produzem em ns, estando eu entre elas e com elas. O real para o
homem sempre capaz de produzir novidade, tanto imprevista quanto surpreendente. A
realidade nos assombra porque no a possumos. Nosso permanente assombro e sua expresso
em perguntas indica que, para ns, a realidade sempre tem crdito e, nesse sentido,
inesgotvel. Por esta razo, o homem, no fundo, crdulo, o que significa que o estrato mais
profundo de nossa vida, aquilo que sustenta e porta todos os demais nveis da existncia,
formado por crenas
94
.
A crena faz parte do conjunto da atividade intelectual humana, implicando sua
dimenso afetiva. A crena o resultado de uma variedade de idias, sentimentos e atos. Isso
94
(...) De per si, a Crena implica apenas a adeso, a qualquer ttulo dado e para todos os efeitos possveis, a
uma noo qualquer. Portanto, podem ser chamadas de crenas as convices cientficas tanto quanto as
confisses religiosas, o reconhecimento de um princpio evidente ou de uma demonstrao, bem como a
aceitao de um preconceito ou de uma superstio (ABBAGNANO, op. cit., p. 254).
230
significa que a mera unio dos termos e a construo de uma relao entre eles no d como
resultado necessrio a crena, mas o juzo; para que haja crena, necessrio algo mais, ou
seja, que o juzo integre-se ao nosso ser total, nossa personalidade integral. A crena exige,
pois, um carter de aceitao que ou completo ou no existe. Desse modo, podemos
entender que o esprito humano vive um clima de afirmao primria, segundo o qual existe
uma espcie de f elemental no uno mesmo, de confiana em si, de afirmao de si mesmo, f
esta que se expressa na multiplicidade de nossas crenas. Existe uma radical diferena entre a
aceitao e a inferncia de argumentos lgicos. A aceitao no a consequncia de uma
inferncia, mas algo distinto disso. A crena compromete a totalidade da pessoa, de modo que
pode sobreviver s razes que a provocaram. A crena a expresso da dimenso
antropolgica presente em cada pessoa e que se apresenta de modos distintos:
a. A crena como modo de abrir-se deste tempo eternidade. Posto que o homem
sempre um ser em situao, esta situao de um ser dividido entre a temporalidade e a
eternidade, de modo que o homem se converte em peregrino ao absoluto. Neste caso, a crena
, no fundo, uma progressiva captura da eternidade atravs da temporalidade.
b. A crena fonte de sentido, j que serve de plataforma de evaso do mundo para
refugiar-se na pura subjetividade; crer no seno esforar-se em descobrir progressivamente
o sentido desse mundo em que vivemos, pois quem cr uma conscincia que progride na
busca da verdade, participando nela.
c. A crena um modo de encontro do homem com a verdade e com os demais
homens. J que o homem um ser em contnua peregrinao, a crena aparece como fator de
consolidao de seu ser, atravs da possibilidade do encontro com os demais. Essa capacidade
de encontro marca a condio de temporalidade e historicidade em que vive o homem; o
homem histria, e a temporalidade e a historicidade so constitutivas de crena.
d. A crena um modo de abertura e confiana. A partir de sua conscincia de finitude
o homem se reconhece a si mesmo como estando na crena, fazendo parte de uma lgica de
participao e de comunho. Nesta perspectiva, a crena apresenta-me aquilo do qual
participo; do mesmo modo que a crena afasta a atitude intelectual para dar passo confiana,
j que no se pode crer sem estar possudo pela confiana.
e. A crena, como exerccio que comea em si mesmo e pela humanidade da qual
fazemos parte. A primeira condio para crer em algo tem raiz na crena em si mesmo e na
231
humanidade, prolongando-se na tarefa de fazer-se pessoa junto com os outros e na realizao
de uma nova humanidade.
CRTICA AOS REDUCIONISMOS
a. A idia da cincia do homem como a ltima conquista do esprito cientfico,
convertendo o homem num objeto da cincia, retira dele toda roupagem mitolgica e coloca-o
apenas num nico lugar: a natureza. Deste ponto de vista, o homem um ser na natureza e da
natureza. Aqui entende-se que, para o homem, s existem problemas e no mistrios. Nesse
ponto, as africanidades se mostram em desacordo com essa vertente do pensamento ocidental.
Na reflexo de Munanga (2008b):
O indivduo, ele existe. Ele pode se afirmar individualmente, mas ele no se
afirma no isolamento, porque isso tem a ver com a viso de mundo africana, onde o
social tem mais prioridade sobre o individual.
Voc v nas sociedades africanas acusaes de bruxaria, de feitiaria, era na
base de que as pessoas que eram acusadas de bruxas ou de feiticeiros so as pessoas
que tem comportamentos individualistas muito acentuados que no incorporavam os
valores do grupo. Ento essas pessoas eram consideradas divergentes, portanto
acusadas de bruxaria e de feitiaria.
O eu individual, a identidade, ela existe, mas no pode se colocar acima das
identidades, ela subordinada, uma identidade que existe, mas ela subordinada
aos valores do grupo, aos valores da sociedade.
Voc poderia ver isso at agora nas sociedades africanas, at os que esto
agora dentro do contexto da modernidade, dos valores da modernidade. Por exemplo,
sobre a senioridade, sobre as pessoas mais velhas, isso conta at agora. A pessoa
pode ser um poltico, pode ser um grande, mas quando ele chega dentro da famlia,
ele se submete aos mais velhos, que tem presidncia sobre ele.
232
Ento eu vejo todos os dias aqui [na usp] em minha andana, quando me
encontro com os estudantes africanos que esto aqui, alguns j so doutores, mestres,
eles no deixam eu nem carregar minha pasta. Eles tiram de minha mo, porque para
eles eu sou mais velho e eles no podem estar andando ao meu lado com os braos
vazios e eu carregando coisas. Eu tenho que dizer no, porque j estou vivendo nesse
mundo. Esses valores que fazem parte do que ns chamamos africanidades. Que
apesar da diversidade, esses valores voc encontra em todas as sociedades africanas.
So valores da africanidade que sobreviveram at aqui no Brasil.
Se voc for, por exemplo, num terreiro de candombl, os mais velhos so os
que conhecem a tradio, que conhecem os valores, so muito respeitados. O respeito
reverencial. Diante dos iniciados voc v at as saudaes durante os ritos, um
respeito reverencial. Isso tem a ver com os valores das culturas africanas
tradicionais.
b. A idia da cincia do homem como mutilao do humano. Esta tese entende que
tratar o homem como simples objeto desconhec-lo. No profundo do humano, est latente o
mistrio, que se aloja num lugar que o problema no alcana. Expressando de outra forma, a
cincia estuda e conhece o homem, mas no reconhece todo o humano, j que o humano
constituinte de outra forma de conhecimento propriamente filosfica, que a reflexo. Aqui
tambm as africanidades opem-se ao excesso de subjetivismo, que um dos grandes males
de nossa poca. Desse estado de coisas procede a oposio radical entre as cincias da
natureza, que priorizam a explicao, e as cincias subjetivistas, que defendem o conceito de
compreenso.
Em Munanga, encontramos o esforo de dilogo. Ele se mostra em desacordo com os
reducionismos biolgicos que tratam o homem exclusivamente como animal, como simples
natureza, j que o homem especificamente cultural e histrico, marca que o distingue dos
demais seres vivos possuidores da natureza biolgica. preciso ir mais alm da noo de
natureza biolgica para chegar a conhecer o homem. A compreenso supe um conhecimento
indireto. Compreender sempre compreender um sentido, de modo que a noo de sentido
correlativa de compreenso. A razo vai mais alm do que a simples legitimao, pois ela
233
deve voltar-se continuamente a interrogar-se sobre o sentido ultimo de todas as coisas e sobre
a significao que se d a essas coisas. No relato mtico (PRANDI, op. cit., p. 428):
Quando Olodumare quis fazer o mundo, desceu com Obatal
para realizar a sua obra.
No entusiasmo da Criao, Olofim fez coisas maravilhosas,
como as rvores, as nuvens, o arco-ris e os pssaros, mas
tambm teve fracassos e deixou coisas pela metade.
Os homens, por exemplo, foram feitos sem cabea e a obra
pareceu a Olofim imperfeita, inconclusa.
Incomodado com o desacerto, Olofim encarregou Odudua de
fazer cabeas para os homens.
Odudua fez as cabeas, mas as deixou com apenas um olho.
Tambm no gostou do resultado Olodumare e encarregou
Obatal de colocar dois olhos onde esto agora.
Foi ele que tambm deu aos homens uma boca, alm de ter-
lhe dado a voz e as palavras que saem dela.
Os homens ento passaram a ser como os conhecemos e tudo
parecia bem.
Assim, no preciso opor explicao e compreenso, j que ambas se encontram
mutuamente implicadas em dois momentos dialticos do mesmo conhecimento. Pensar
supor que o mundo tem um sentido, crer num sentido e consider-lo como um texto a ser
decifrado, uma espcie de linguagem que necessrio compreender. S uma racionalidade do
sentido pode justificar e fundar nossa existncia.
Munanga coloca-se numa corrente da antropologia filosfica que rejeita os
reducionismos cientfico-biolgicos que definem o homem como um animal a mais na escala
dos vertebrados, sendo este um mero produto final da evoluo. A dimenso racional do
homem no pode ser considerada como um simples prolongamento da vida biolgica. Buscar
a essncia do homem no implica que possamos chegar a uma definio deste, j que ele se
encontra entre dois mundos: o da natureza e o do esprito. E o mundo do esprito que
marcar a esfera do ser.
O esprito situa-se no marco da esfera fundamental, aquela que funda e distingue o ser
humano como tal e o diferencia dos restantes dos animais. Na perspectiva das africanidades,
h uma diferena essencial entre os homens e os animais, a qual vai mais alm daquilo que
denominamos inteligncia e nada tem a ver com o conjunto de funes ou capacidades vitais e
biolgicas frente ao restante dos animais. Essa diferena essencial constitui um novo
princpio, algo radical, que se estende por sobre toda a vida e cujas caractersticas so
absolutamente irredutveis vida. A este princpio, podemos denominar esprito.
234
O esprito no uma superestrutura sublimada da vida instintiva; sua procedncia
pertence ordem metafsica, no emprica, e ele capaz de apreender o mundo das idias e
dos valores; um autntico logos
95
que abre ao homem novas possibilidades de ser. A forma
concreta em que existe o esprito no homem a pessoa. Pessoa e esprito so equivalentes, no
sentido de que o primeiro se constitui como manifestao existencial do segundo. Deste
modo, infere-se que todo esprito necessariamente pessoal, da mesma forma que toda pessoa
h de ser um esprito. No se concebe a idia de um esprito impessoal. Toda pessoa a forma
de existncia essencialmente necessria e nica de um esprito, tratando-se de um esprito
concreto.
Nessa esteira, o esprito emerge como a expresso de independncia e grau absoluto
do homem frente aos restantes dos seres vivos. A caracterstica mais importante do esprito
seu carter de independncia, liberdade e autonomia essencial, frente ao exclusivamente
biolgico. O animal s pode mover-se no esquema fechado do impulso biolgico do seu meio.
O homem rompe com esses laos e exige a existncia de uma instncia supravital. O homem
uma realidade constitutivamente aberta a toda realidade e a si mesmo, como realidade. O
homem supera a estrutura do instinto e se abre a uma nova forma de contato com a realidade.
O homem se abre, basicamente, em trs direes: a si mesmo como realidade; aos outros, ao
mundo exterior; e a Deus. Para Munanga (2008b):
Na viso cartesiana, eu penso, logo existo. Pra ns africanos o que? Eu
tenho uma histria, eu tenho uma identidade, ento existo. Mas esta histria no
uma histria individual, uma histria coletiva, esta identidade no uma identidade
individual, que vem pelo nome que a gente recebe quando nasce, identidade individual
e familiar, essa identidade uma identidade coletiva, construda nesse processo de
resistncia cultural.
Ento, l na frica so totalmente diferentes dos cartesianos. O cartesiano
individualista. O nosso ser no individualista, ele coletivo, ele plural.
95
A doutrina do Logos como hipstase ou pessoa divina encontra sua primeira formulao em Flon de
Alexandria. Nessa doutrina, o Logos um ente intermedirio entre Deus e o mundo, o instrumento da criao
divina. Diz Filon: A sombra de Deus o seu Logos; servindo-se dele como instrumento, Deus criou o mundo.
Essa sombra quase a imagem derivada e o modelo das outras coisas. Pois assim como Deus o modelo dessa
sua imagem ou sombra, que o Logos, o Logos o modelo das outras coisas (ABBAGNANO, ibidem, pp. 728-
729).
235
Nesse sentido, a pessoa uma entidade dinmica, como a unidade de seus atos e, em
consequncia, como algo que se encontra mais alm de toda reduo matria e ao psquico.
A concepo de pessoa que se deriva desse pensamento contrria tanto ao impersonalismo
abstrato (do racionalismo, como de Descartes), quanto ao individualismo emprico (do
empirismo, como de Hume), que nega o carter especfico da espiritualidade pesssoal.
A PESSOA COMO ABERTURA
Embora refletindo especificamente sobre os africanos, do continente e da dispora, o
ncleo bsico do pensamento de Kabengele Munanga a pessoa. Ele elabora uma metafsica
da pessoa ou uma antropologia filosfica concreta. No o propsito direto de suas obras
traar o esboo de pessoa. No entanto, ao escrever sobre os negros, sua preocupao fazer
com que estes deixem de ser objetos para se tornarem, tambm, sujeitos, pessoas. Assim,
entendemos que no existe uma obra concreta onde possamos falar de uma pretenso em
elaborar uma filosofia da pessoa, no entanto, esta se encontra disseminada em suas obras, ao
analisar a situao existencial concreta dos negros. De acordo com Munanga (2008b):
Por esse processo de desumanizao e destruio de nossas identidades eu
penso que a nossa questo passa pela questo de afirmao de sua identidade coletiva
e sua cultura e sua dignidade humana que foi praticamente destruda pelo processo de
colonizao. Irei at mais longe, pois comea com o processo de escravido. Na
realidade fomos destrudos, transformados simplesmente em coisas, em fora brutal
de trabalho.
Durante a colonizao continuou a mesma coisa, nossa histria foi ignorada,
nossa cultura foi ignorada, os europeus transformaram a gente em pseudo-europeus,
pseudo-civilizados, e cada um de sua maneira: os portugueses e os franceses achavam
que podiam fazer isso atravs de uma administrao direta, os ingleses pensavam que
podiam fazer isso indiretamente para evitar a deslocao de (...). Mas todos visavam
236
a aculturao, ou assimilao, quer dizer, a perda da identidade do negro para torn-
lo um ser sem rumo. Assim voc pode dominar facilmente.
Ento, todo nosso processo de assumir-se, aceitar-se como negro, ento, se o
ser-negro para mim est no cerne de toda minha preocupao, isso
inconscientemente. Esse ser negro do qual eu falo um ser coletivo, no um ser
individual, e voc sacou muito bem. Quando eu falo da mestiagem, no meu trabalho,
estou querendo ligar essa mestiagem pelo mesmo processo de construo desse ser-
negro, para ver se a mestiagem possa assumir tambm o seu lado negro, possa
assumir a sua identidade. Ento eu no estou falando de uma identidade mestia
isolada que se constituiu no Brasil, como diz as obras de Gilberto Freire e Darcy
Ribeiro, que diz que nossa identidade mestia, essa mestia como se fosse uma
sntese, uma sntese do negro, do branco e do ndio, saindo um novo ser brasileiro.
Eu estou vendo esse mestio simplesmente como um ser que representa as
contribuies dos outros, mas que existe tambm coletivamente porque ele nessa
sociedade no tambm considerado como branco, mas os problemas que eles
encontram so pelo fato de carregarem a negritude. Ele discriminado porque
justamente ele carrega o sangue africano e quando tem uma competio acirrada ele
perde at as caractersticas do sangue branco, ele simplesmente considerado como
negro. Ento eu estou vendo esse mestio tambm no como uma coisa isolada. Ento
a o sentido que eu dou a toda minha obra ( uma pretenso, no sei se tenho obra,
mas todos os meus textos), esse sentido de pluralismo, quer dizer, voc chegou numa
viso mais sistemtica, pois o todo no tem sentido sem as unidades, as unidades
tambm s tem sentido dentro da totalidade.
O que quero mostrar aqui o sentido de pertencer. Pertencer um dado
fundamental da viso africana do mundo, a gente pertence, a gente no vive
isoladamente. S temos algum sentido no conjunto, o conjunto s tem sentido em
relao as contribuies dos seus membros. Ento a idia de pertencer aqui, para
mim, estou me descobrindo (...) est relacionado a esse ser, a esse verbo ser que tem a
ver com todo processo de construo da identidade do negro, que no se constri no
isolamento, se constri na totalidade em relao aos outros, por mais que voc
pudesse querer ser individual na viso ocidental, os outros vo sempre jogar voc na
sua raa. Qualquer coisa que voc vai fazer, voc no visto como uma pessoa, voc
237
no visto como cidado, voc visto como uma pessoa negra. Ento, no h como
voc (...), a nica sada voc assumir esse ser-negro em termos coletivo. claro,
isso no quer dizer que ns perdemos nossas individualidades, mas nossas
individualidades s so construdas socialmente, so construdas coletivamente.
Ento ns pertencemos. Ento eu acho que isso seria, por ai que eu estou vendo esse
ser que perspassa todo tempo nos meus textos, ou seja, ele central em meus escritos,
mas sem conscincia.
Munanga considera, pois, a pessoa como uma realidade no objetivvel. Esta no
objtivao da pessoa surge para fugir da coisificao da mesma, que a reduz a um simples
objeto. Essa considerao surge da viso metaemprica africana de ser humano, da qual
Munanga participa, compreendendo que a pessoa encontra-se instalada num mbito de tenso
agitado por dois plos: a vontade de organizao e a vontade de aspirao. Longe de qualquer
vestgio de individualismo, Munanga contempla a pessoa enraizada no real, para da participar
no ambiente que existe. Entretanto, por mais enraizada que esteja no cosmos, a pessoa possui
uma necessidade de infinitude. Em virtude de sua inteligncia, a pessoa mais vontade de
aspirao que vontade de organizao, isto , ela rechaa o mbito de animalidade entendida
em termos de vivncia exclusiva no meio, onde responde instintivamente aos estmulos que
esse meio gera. Esta prioridade do momento de aspirao sobre o momento de organizao
instaura-se porque existe, na pessoa, mais do que dois lados, uma busca de consistncia, um
movimento de lanar-se sempre mais longe. Esse movimento, o qual propicia pessoa sair do
mbito do dado, o que constitui a particular transcendncia desta, segundo a qual existir
significa coexistir com outro e com outras coisas. A pessoa , portanto, uma realidade
metaemprica que no se perde na natureza fsica ou social, mas que tem seu prprio destino
transcendente ao mundo.
Se a pessoa capaz de encarnar-se no real sem transformar-se no seu entorno, se
capaz de superar o marco da organizao biolgica e de mostrar-se criativamente a partir de
sua vontade de aspirao, porque possui alguns recursos exclusivamente humanos que a
fazem emergir do resto dos seres vivos. O ser no se identifica com sua apario, de forma
que o mundo dos fenmenos no a ltima palavra. Assim, o ser humano enquanto realidade
inteligvel o no objetivvel.
238
Desta perspectiva que entendemos a no objetividade do ser humano, a qual
apresenta o problema de uma certa inacessibilidade da pessoa. Longe de ser algo dado, a
pessoa uma realidade proposta, uma tarefa que se encontra fazendo-se, indo mais alm de
cada uma de suas manifestaes. A pessoa no um ente esttico e fechado em si mesmo,
mas uma realidade aberta a uma outra realidade e a si mesma como realidade num dinamismo
que no cessa. A este dinamismo, podemos denominar devir
96
.
Historicamente, o devir foi entendido como chegar a algo, o qual supe deixar de ser
algo que previamente se era, para se tornar algo que no se . A idia do devir envolve passar
do no-ser ao ser, ou do ser ao no-ser. Existe uma certa tendncia a identificar devir com
mudana fsica. Entretanto, alm da mudana fsica mediada pelo carter de movimento
segundo o qual um mesmo ser passa de uma ou outra forma de ser (perspectiva aristotlica
97
),
o problema que ocorre no devir diz respeito ao dinamismo do real, o qual no se identifica
exclusivamente com o carter de mudana das coisas. A pessoa devir em sua essncia, e o
devir no consequncia posterior de algo prvio. O devir no formalmente uma mudana,
mas um dar de si. O movimento e a mudana so momentos de um dar de si que os engloba.
Portanto, a pessoa uma realidade que se encontra continuamente fazendo-se, posto que essa
a condio dinmica da realidade humana.
Seguindo este fio condutor daquilo que compreendo como sendo uma caracterstica da
africanidade presente em Munanga, o sujeito um devir enquanto realidade pessoal, uma
estrutura fsica a que poderamos denominar natureza
98
humana.
96
Devir, o mesmo que mudana. (...) Mais do que pela admisso ou no da realidade do devir (aqueles que a
negam so minoria em relao queles que a afirmam), os filsofos se distinguiram historicamente sobretudo
pelas diferentes interpretaes metafsicas que deram dele. A propsito existem dois modelos bsicos: as
metafsicas imanentistas, para as quais devir absoluto (sendo toda a realidade) e auto-suficiente (sendo uma
propriedade intrnseca da matria ou da energia) e as metafsicas transcendentais, para as quais o devir, por ser
contraditrio ou problemtico, no se explica por si, mas remete a uma realidade imutvel (= Deus) que a sua
causa (ABBAGNANO, 2007, pp. 313-314).
97
Em Aristteles denominada de Potncia: em geral o princpio ou a possibilidade de uma mudana qualquer.
Esta foi a definio do termo dada por Aristteles, que distinguiu este significado fundamental em vrios
significados especficos, mais precisamente: a) capacidade de realizar mudana em outra coisa ou em si mesmo,
que a potncia ativa; b) capacidade de sofrer mudana, causada por outra coisa ou por si mesma, que a
potncia passiva; c) capacidade de mudar ou ser mudado para melhor ou para pior; d) capacidade de resistir a
qualquer mudana (ABBAGNANO, 2007, p. 915).
98
A interpretao da Natureza como princpio de vida e de movimento de todas as coisas existentes a mais
antiga e venervel, tendo condicionado o uso corrente do termo. (...) a Natureza um princpio de vida que cuida
bem dos seres em que se manifesta. Foi nesse sentido que Aristteles definiu explicitamente a Natureza: A
Natureza o princpio e a causa do movimento e do repouso da coisa qual ela inere primariamente e por si, e
no por acidente. (...) A Natureza tambm pode ser matria, a admitir-se, como faziam os pr-socrticos, que a
matria tem em si prpria um princpio de movimento e de mutao; mas realmente esse mesmo princpio,
portanto a forma ou a substncia em virtude da qual a coisa se desenvolve e torna-se o que (ABBAGNANO,
2007, p. 814).
239
Entretanto, a natureza uma construo mental; a natureza de uma coisa responde a
uma noo puramente descritiva, segundo o qual expressa o conjunto unitrio, cclico e
fechado das notas que especificamente a caracterizam. Assim, a natureza a estrutura bsica
da realidade humana e, como tal, essencialmente dinmica, no tanto porque possui um
dinamismo imposto de fora, mas porque , em si mesma, dinmica, dinamismo. O devir no
algo que acontece na estrutura, mas que se inscreve fisicamente nas notas constitutivas dessa
estrutura, de maneira que podemos determinar que a estrutura humana por si ativa, isto ,
constitui um dar de si prprio. Isto quer dizer, primeiramente, que temos de inscrever o devir
no marco da metafsica da pessoa, o qual implica conceder certa relevncia metafsica ao
conceito de dinamismo. O dinamismo no supe anular ou diluir a verdade da realidade
pessoal. Longe de constituir um relativismo filosfico, supe contemplar radicalmente essa
realidade pessoal que, ao ser uma realidade histrica, necessariamente deve e pode ser
estudada a partir de conceitos sumamente enriquecedores.
O dinamismo o dar de si da realidade, a viso afro da estrutura
99
da realidade
humana, pode ser assim compreendida:
a. O devir da pessoa para ser a mesma: o dinamismo da mesmidade; trata-se no de
uma forma de estabilidade, mas de uma mesmidade dinmica. A mesmidade consequncia
das estruturas e as estruturas esto para algo determinado, para ser o mesmo, tal como .
Este dinamismo da vitalidade constitui o fato de possuir-se enquanto a execuo formal da
prpria mesmidade. A vida no basicamente mudana. Enquanto a realidade humana me
prpria, minha realidade, tomo conscincia de que minha realidade minha, ou seja, eu sou
eu mesmo, independente da mudana. Isto quer dizer que o homem tem, como forma de
realidade, o si mesmo que constitui a razo formal da personalidade.
b. O devir da pessoa para no ser nunca a mesma: cada resposta realidade, cada
possibilidade que apropriada pela pessoa torna vivel a modificao do viver humano. Neste
sentido, para ser a mesma pessoa, para possuir-se, a vida humana adquire um carter fluente,
99
Utilizo o conceito estrutura, de acordo com Durand, para quem a estrutura implica (...) um certo dinamismo
transformador. O substantivo estrutura, acrescentado a atributos com sufixos tomados da etimologia da palavra
forma, e que, na falta de melhor, utilizaremos metaforicamente, significar simplesmente duas coisas: em
primeiro lugar que essas formas so dinmicas, ou seja, sujeitas a transformaes por modificaes de um dos
termos, e constituem modelos taxionmicos e pedaggicos, quer dizer, que servem comodamente para a
classificao mas que podem servir, dado que so transformveis, para modificar o campo imaginrio. Em
segundo lugar (...), esses modelos no so quantitativos mas sintomticos; as estruturas, tal como os sintomas
na medicina, so modelos que permitem o diagnstico e a teraputica. (...) Por isso essas estruturas descrevem-se
como modelos etiolgicos mais do que se formulam algebricamente (1997, pp. 63-64).
240
no sendo jamais a mesma. A personalidade torna-se ento a progressiva construo de uma
figura de realidade pessoal a partir de opes que a pessoa vai realizando atravs de sua vida.
Na perspectiva africana, da qual Kabengele Munanga participa, o universo material e o
espiritual no se configuram numa justaposio de partes, mas numa autntica conexo em
que cada um ocupa seu lugar. Orum e Ai, Cu e Terra, no esto opostos no sentido de um
espao sagrado e outro, profano. Resultado desta conexo o destino pessoal que cada pessoa
vai forjando. Se, contudo, no h separao entre esses dois universos, tanto o homem quanto
o mundo esto em devir.
O universo e o homem encontram-se inconclusos, abertos a um crescimento que se vai
revelando na histria. E a pessoa toma conscincia dessa orquestrao universal que a faz
situar-se, respeitando o mundo, respeitando o outro, respeitando os deuses (nossos ancestrais
divinizados). Esta caracterizao do devir leva a pessoa a viver um drama histrico, a
participao individual em sua prpria histria, em seu prprio destino, e a participao
coletiva na histria do mundo, ambas reciproca e concomitantemente.
Se recordarmos que o esprito
100
o ncleo bsico da pessoa, cabe compreender a
noo de esprito no plano antropolgico, para evitar o perigo de cair em certa abstrao ou
num espiritualismo desencarnado. Para o pensamento africano tradicional, a pessoa um
esprito, mas um esprito situado no mundo, encarnado. Este pensamento afasta toda filosofia
objetivista que reduz a pessoa mera entidade emprica. Tal viso de pessoa contm
momentos diversos e complementares:
a. A presena do esprito enquanto vivncia da pessoa no presente, j que a este se
constitui como a presena da eternidade no tempo. A pessoa no vive no passado nem no
futuro, mas o esprito que vive no presente.
b. A presena do esprito como a autocompreenso da pessoa constitutivamente
abertura. Desta perspectiva, a pessoa presena do esprito: presena do esprito a si mesma,
atravs da reflexo; presena do esprito aos outros, que amizade e amor; presena do
esprito aos deuses, que a orao.
100
Lvi-Strauss usa o conceito de Esprito humano para designar o conjunto de formas ou categorias
invariantes que, desde a noite dos tempos, regem os trabalhos e os dias do homem, constituindo, em seu todo, a
estrutura inconsciente de todas as culturas (ABBAGNANO, 2007, p. 414).
241
Assim, a presena do esprito neste mundo, encarnado, constitui o ncleo
antropolgico do pensamento africano, aquele que faz a pessoa ser entendida como devir,
como um dar de si. A pessoa sempre presena do esprito, uma presena que expressa a
condio dinmica da mesma em termos de encarnao e abertura.
Que a pessoa seja entendida como esprito, no sentido de independncia do meio, no
exime a idia contraditria do homem ser uma independncia dependente. No se trata de
uma dependncia patolgica, todavia criativa. A pessoa fazendo-se, criando-se e recriando
seu entorno. A pessoa se cria na abertura e se cria no presente que vive. A criatividade vai
gerando as formas, oposies e decises que, a partir do exerccio da liberdade, configuram a
personalidade da pessoa, fazendo possvel que aquela determine esta, ou seja, fazendo com
que a pessoa nunca seja a mesma.
A vida humana no comea do zero, de uma tabula rasa, mas montada sobre um
modo de estar na realidade que cada um recebe. Neste sentido, a pessoa faz sua vida tomar
distncia da perspectiva com seu entorno. Para executar essa ao em forma de escolhas de
possibilidades com as quais viver, a pessoa faz-se a si mesma numa situao concreta.
O pensamento de que o esprito que define a pessoa seja um esprito encarnado faz
surgir algumas tenses: primeiro, a impossibilidade de delimitar conceitualmente a pessoa,
por isso a idia do dever ser, do devir. Em seguida, o fato de que conhecemos a pessoa em
suas manifestaes, ainda que estas no abarquem a totalidade da pessoa. A pessoa humana ,
portanto, tanto fenmeno quanto noumeno
101
. Estar encarnado significa submeter-se s leis da
temporalidade, querendo dizer que se o homem radicalmente presente, no est totalmente
dado a si mesmo, sendo, portanto, um peregrino que deve fazer-se. na temporalidade que se
d a existncia concreta de cada homem. Para Munanga (2008b):
O corpo tem uma contribuio muito grande, porque o corpo a sede de
todas nossas identidades. Todas as identidades, sejam elas espirituais, intelectuais,
tudo passa pelo corpo. O prprio racismo que desumaniza o negro, que est na base
de toda desigualdade, dos problemas de excluso (...) foi construdo a partir do corpo
101
Noumeno: este termo foi introduzido por Kant para indicar o objeto do conhecimento intelectual puro, que
a coisa em si. (...) O objeto da sensibilidade o sensvel; o que nada contm que no possa ser conhecido pela
inteligncia o inteligvel. O primeiro era chamado de fenmeno pelas escolas dos antigos; o segundo, de
noumeno (ABBAGNANO, 2007, p. 838).
242
e a partir das diferenas entre os corpos. A cor da pele, os traos morfolgicos que se
construiu o racismo, e a partir do racismo, das diferenas dos corpos atingiram as
qualidades, o racismo na viso essencialista. A cor preta atinge a mente do negro,
atinge o esprito do negro, atinge a inteligncia do negro, e tudo est relacionado a
este corpo.
Ento o corpo a sede de todas as identidades. Se voc perceber bem, nossos
problemas desde pequeno, nas escolas, comeam por onde? Comea pelo corpo.
atravs do corpo que ns somos enxergados, e atravs do corpo somos atingidos em
todas nossas aes. Se eu cometo um crime, a primeira coisa que um policial pergunta
qual a cor do criminoso. Este o caso do Brasil, no se coloca a questo de
cidado, do indivduo, mas qual foi a cor do cidado.
Voc se lembra da histria do dentista Flvio, de Guarulhos
102
. O policial
perguntou para o cidado branco, que prestou queixa, que foi assaltado por um
cidado, qual foi a cor da pele: era um negro. O primeiro negro que apareceu, era
ele. Ento a individualidade a pessoa no contou, o que contou foi o corpo. Ento o
corpo o ponto de partida de tudo. Isso que o processo de construo da identidade
do negro, passa primeiramente pela cor da pele, e a partir da cor da pele tem que
assumir a sua histria, a sua cultura, a sua viso do mundo, a sua religiosidade. O
corpo a sede principal de nossas identidades, de todos os problemas que atingem o
negro, de meu ponto de vista.
A encarnao compreendida nesta tenso da situao em que se desenvolve o
crescimento da pessoa no mundo, crescimento este que se funda em descobrimentos de
relaes. A idia de uma simplicidade absoluta e inacessvel (esprito) que se constitui a
pessoa h de manifestar-se na multiplicidade e na complexidade
103
.
102
Flvio Ferreira de SantAna, com 28 anos, recm-formado em odontologia, voltava do Aeroporto
Internacional de Guarulhos, no dia 03 de fevereiro de 2004. Aproximadamente no mesmo horrio, o comerciante
Antonio dos Anjos, de 29 anos, denunciara a policiais do bairro de Santana, zona norte da cidade de So Paulo,
que fora assaltado. Flvio foi interpelado por uma viatura com um tenente, um cabo e cinco soldados, em
Santana, e morto com dois tiros. Colocaram no bolso de Flvio a carteira do comerciante e uma arma com a
numerao raspada, dizendo que ele fora morto, pois reagiu com tiros. O laudo residuogrfico nas mos de
Flvio deu negativo e o comerciante declarou que o Flvio no era o assaltante, e que os policiais o ameaaram
para manter a verso mentirosa.
103
Segundo Morin, significa dizer no apenas que o menor conhecimento comporta elementos biolgicos,
cerebrais, culturais, sociais, histricos. Quer dizer sobretudo que a idia mais simples necessita conjuntamente de
243
A rede de relaes que mencionamos est sob esta tenso, na qual a pessoa no se
realiza sem este par de contrrios, s vezes antitticos e complementares, que permitem a
encarnao, mas que, pela mesma oposio, a impedem de perder-se em qualquer de suas
encarnaes. A pessoa vive em suas personagens, no se esgotando em nenhuma delas, ou
seja, o noumeno est nos fenmenos. Aqui podemos perceber uma certa dialtica
104
da pessoa.
Uma dialtica onde o poder, o direito e o amor constituem a pessoa basicamente no mbito de
suas relaes sociais. A tenso e a dialtica constituem os momentos bsicos do dinamismo
da personalizao. A condio humana estar-se sempre em trajeto, no sentido dado por
Durand
105
(1997, p. 41). O ser humano ento entendido, todo ele, como uma estrutura
dinmica, o que implica dizer que o dinamismo no um elemento justaposto ou artificial. O
homem considerado como a presena do esprito, afastando-se tanto do objetivismo como
do espiritualismo abstrato. Esta presena se expressa na noo paradigmtica de abertura
106
,
pois o homem est sempre neste duplo movimento, de ser sempre o mesmo sem nunca ser o
mesmo.
A SUBJETIVIDADE NA CONSTITUIO DA PESSOA
O noumeno ir caracterizar a individualidade de cada pessoa. A individualidade o
que faz a pessoa ser ela mesma e no outra. A individualidade o que configura a
singularidade essencial em cada um, no se constituindo uma oposio entre pessoa e
individualidade, o carter constitutivo daquela. Do ponto de vista da vida orgnica, esta tende
individualizao, que pressupe que o indivduo se contrape pessoa, da mesma forma que
o particular se ope ao universal. A riqueza da concepo de pessoa, aqui, que pessoa no
uma formidvel complexidade bioantropolgica e de uma hipercomplexidade sociocultural. Falar em
complexidade , como vimos, falar em relao simultaneamente complementar, concorrente, antagnica,
recursiva e hologramtica entre essas instncias co-geradoras do conhecimento (MORIN, 1998, p. 27).
104
Dialtica: Esse termo, que deriva de dilogo, no foi empregado, h histria da filosofia, com significado
unvoco, que possa ser determinado e esclarecido uma vez por todas. (...) 1. Dialtica como mtodo da diviso;
2. Dialtica como lgica do provvel; 3. Dialtica como lgica; 4. Dialtica como sntese dos opostos
(ABBAGNANO, 2007, p. 315). Eu utilizo o termo no 4 significado, formulado pelo idealismo romntico, em
particular por Hegel; seu princpio foi apresentado por Fichte (...) como sntese dos opostos por meio da
determinao recproca. Os opostos de que falava Fichte eram o Eu e o No-eu e a conciliao era dada pela
posio do No-eu por parte do Eu e pela determinao que do No-eu se reflete sobre o Eu, produzindo neste a
representao (ibidem, p. 318).
105
Trajeto o trnsito, a relao, a trajetividade, entre os plos biopsquico (pulses subjetivas) e csmico e
sociocultural (intimaes objetivas).
106
Aberto: Atitudes ou instituies que admitem a possibilidade de participao ou comunicao ampla ou at
mesmo universal (ABBAGNANO, 2007, p. 1). Assim, a Abertura ressalta o fato de que o homem, ao contrrio
dos animais, no est vinculado a um ambiente especfico mas consegue tornar seu qualquer ambiente, com a
conseqncia de poder ser definido como o ser que no tem um ambiente (ibidem, p. 2).
244
o particular nem o universal, mas o trajeto entre o individual e o universal. A pessoa, desta
maneira, pode ser descrita como a juno de duas orientaes complementares: uma dirigida
concentrao em si mesma, e outra, como o movimento de expanso.
Por isso a tenso, pois a pessoa encontra-se entre o princpio da individuao e o
princpio da comunho, ou seja, ela realiza-se em ambas direes, entre o individual e o
social. O perigo est em utilizar apenas um dos elementos, em detrimento do outro. A pessoa
est acima do individual e do social, embora seja neles que se verifica sua realizao, nessa
tenso equilibrada de ambos movimentos. A realizao pessoal se d de forma individual e
comunitria, e fracassar no momento em que um dos lados se sacrifica em relao ao outro.
Portanto, toda revoluo autntica h de ser indissociavelmente individual e social, salvando a
pessoa de um individualismo absolutista e de um comunitarismo arrasador. A realizao
pessoal est no equilbrio, ou seja, num trajeto, sem cair em nenhum dos extremos de modo
exclusivista. Esta tenso tambm se d entre o pensamento e ao, pois o pensamento puro
desemboca num intelectualismo impotente, e o homem de pura ao se converte num agitador
irresponsvel. Em ambos os casos, o que se produz uma degradao da pessoa.
Desde o primeiro momento da vida, o homem chamado ao. Esta a atividade
especificamente humana, seja metafsica, moral, esttica, cientfica ou puramente prtica
107
.
Mesmo o homem que se nega a comprometer-se com algo uma ao, pois, elegendo a
passividade, o homem escolhe tambm seu prprio destino pessoal. A ao do homem se
distingue de qualquer outro movimento humano porque, diferentemente das mudanas
orgnicas, a ao se origina no esprito humano. O homem atua porque quer. Por ao, o
homem no s se encontra efetivamente comprometido e embarcado, mas se compromete e se
embarca, assumindo seu prprio destino. Assim, a ao se torna plenamente humana, ao
assumir todo o dinamismo espiritual do ser. Atuar, ento, buscar um equilbrio entre o
conhecer, o querer e o ser. Na ao, o homem manifesta a verdade de sua prpria realidade, de
forma que a sinceridade se converte em elemento regulador da ao.
107
Ao aqui no distinta de outras atividades como no pensamento ocidental:(...) O conceito clssico de
Ao voltou tona com a chamada reabilitao da filosofia prtica. Arendt, em especial, retomou e atualizou
as distines aristotlicas entre prxis e poisis, distinguindo na atividade do trabalho, no operar e no agir as
dimenses fundamentais da atividade humana. Enquanto o trabalho coincide com a atividade cujo fim a
sobrevivncia, e o operar coincide com a atividade tcnica cujo fim a produo de instrumentos e artefatos, a
Ao coincide com a atividade poltica (em sentido lato), ou seja, com o agir interpessoal que coincide com o
mbito da polis como comunicao de homens livres (ABBAGNANO, 2007, p. 8).
245
A experincia da realidade e da ao, que constitui a vida humana, o nico caminho
vlido que faz acessvel a verdade dos homens, uma verdade no cientfica, que provm dos
fatos, mas a que se desenvolve nos atos humanos. Na ao tambm se insere a atuao, isto ,
a interpretao de mltiplos personagens. O homem ator de sua vida, ao interpretar os
personagens que o modelam. Partindo desta viso, a ao do homem ser expresso dos
valores bsicos, da viso de vida e da realidade que d base a cada homem. O exterior reflete
o interior, e assim s conhecemos a ns mesmos atravs de nossas prprias aes.
O mistrio da pessoa consiste em criar-se como tambm em expressar-se em cada ato.
Nesta perspectiva, a ao nasce de mim e, por sua vez, me faz. O ato surge de meu
pensamento e o enriquece. Por meio desta dialtica da ao e do pensamento, edifica-se
lentamente minha pessoa. Pensamento e ao so expresses e instrumentos ligados a uma
dimenso nuclear da pessoa: o seu dinamismo espiritual. Deste mbito, o qual marca a
africanidade, o homem no pensa para pensar, mas para atuar e reencontrar, mediante esta
ao, o dinamismo espiritual que est alm do pensamento e da ao.
Um exemplo desta tenso entre pensamento e ao encontra-se na relao que o homem
mantm entre a contemplao e o trabalho. O trabalho se caracteriza na atividade, que se
localiza entre a atividade orgnica e vital e a atividade espiritual. O trabalho sempre o
esprito penetrando na matria, e espiritualizando-a. Assim considerando, o trabalho no em
absoluto um acidente para o homem, mas sua essncia mesma. O homem e o mundo so
realidades inacabadas e pendentes de humanizao. So realidades que, longe de encontrar-se
j construdas, esto por fazer. O homem e o mundo esto permanentemente dando de si e,
neste devir, inscreve o trabalho do homem, que h de entender-se como parte integrante da
condio humana. Desta perspectiva, a contemplao mesma ativa, trabalhadora, e o
trabalho supe a contemplao. A prpria realidade corporal do homem o que faz possvel
que todos seus pensamentos se encarnem.
O trabalho humaniza o mundo, ao mesmo tempo que espiritualiza o homem, j que
ambas dimenses constituem dois lados da mesma moeda: um lado chama necessariamente a
contemplar o outro. Como j observamos, a tenso que marca o desenvolvimento e o
dinamismo da personalizao inscreve-se nas categorias existenciais que afetam, de modo
especfico, o devir do ser humano. A tenso temporalidade-eternidade algo frequente, j que
os ancestrais divinizados, sejam os orixs (para os nags), sejam os inkisses (para os bantos),
sejam os voduns (para os jjes), esto presentes, neste mundo, atravs das pessoas.
246
O ser humano condensa em seu prprio dinamismo histrico o clssico problema da
relao existente entre temporalidade e eternidade. Este o problema que ordena a conduta
humana. Estar no tempo no tem uma conotao necessariamente negativa, nem pressupe
uma viso maniquesta do dinamismo da personalizao. Ao contrrio, estar no tempo
instalar-se no claro-escuro concreto da realidade humana que, em virtude de sua capacidade
para transformar-se, melhorar e avanar, faz pensar que o tempo em cada um de ns a
medida de sua distncia de Deus.
O fato que a pessoa no uma realidade eterna, no uma realidade absoluta, mas a
eternidade sinnimo de plenitude da existncia, e o tempo o modo de existncia de um ser
que no se d completamente a si mesmo, que se encontra diante da possibilidade de fazer-se.
Por isso, o tempo no possui nenhum elemento negativo da existncia humana, mas a
possibilidade de se fazer presente nos destinos da eternidade, tomando conscincia de que o
tempo que revela profundamente nossa limitao, de que nele se desenvolve o drama de toda
nossa existncia, a busca de uma plenitude que o prprio ser humano incapaz de dar-se a si
mesmo.
O tempo est diretamente ligado concepo da pessoa como tarefa, esforo, obra,
projeto. Este projeto nasce da inquietude que constantemente surge no interior da pessoa, que
se pergunta, O que vai ser de mim?, O que vou fazer de mim?. Estas perguntas so
prprias de uma realidade relativa e que no cabem no repouso absoluto, mas no devir que se
desenvolve atravs de um encaminhamento ao interior da eternidade. Portanto, o homem vive
num modelo de tempo totalmente descontnuo, mas no presente que ele se esfora por
condensar toda a eternidade. Essa eternidade implica uma maneira usual de compreender os
diversos momentos do tempo.
A OBJETIVIDADE NA REALIZAO PESSOAL
Kabengele Munanga participa do pensamento tradicional afro, segundo o qual a
pessoa se faz face aos seus semelhantes, de maneira que podemos compreender que toda vida
humana verdadeira encontro. O encontro, a relao, o dilogo aparecem, no como
acidentes, porm como uma exigncia que nasce da mesma estrutura antropolgica que
configura a pessoa como um fazer-se sempre frente ao dado, ao finalizado.
247
A partir da categoria de esprito encarnado, a pessoa concebida como abertura
radical, isto , como dilogo permanente que se expressa, mediante a palavra, numa relao
de comunho. A pessoa definida como presena de esprito compreendida como radical e
estrutural abertura a si mesma, s outras e a Deus. Esta abertura, recordando, supe o
abandono da concepo essencialista de pessoa, para fazer dela um centro dinmico de aes,
tomando em conta que esses atos volitivos e emocionais formam parte da constelao racional
da pessoa.
A abertura h de se entender como a capacidade exclusivamente humana de estar na
realidade como tal realidade e de enfrent-la. Observando especificamente a abertura radical
ao outro, compreendemos que o elemento da relao no algo dentro do prprio eu, mas que
pertence a sua estrutura mais profunda. O eu do homem toma conscincia de si mesmo de um
modo mediato, ao fazer-se presente a si mesmo atravs da referncia ao no-eu, de modo que
o eu se reconhece a si mesmo como pessoa, na medida em que descobre sua capacidade de
relacionar-se com o tu. Sem o tu no haveria lugar para a apario do eu pessoal, pois o outro
um momento necessrio para a plena constituio metafsica, histrica e social da
conscincia de si.
Diferente do racionalismo cartesiano que cai num solipsismo
108
, aqui o homem no se
relaciona em primeiro lugar consigo mesmo e em seguida com ou outro. Trata-se de uma
reciprocidade que pertence ao ncleo da pessoa, segundo a qual o homem se relaciona
consigo mesmo que o tu do outro. , portanto, impossvel pronunciar com autenticidade a
palavra eu sem referncia ao tu que a dota de sentido existencial. Deduzimos que tanto o
eu como o tu precisam-se mutuamente para existir. Mais ainda, um existe para o outro, o
que leva compreenso de que a dinmica da reciprocidade brota da natureza da pessoa.
Assim, podemos dizer que o outro no s me presente, mas con-presente. O ser humano,
ento, um ser-com e no um ser-para ou um ser-contra. Podemos afirmar, ento, que o
nascimento da pessoa tem lugar no momento em que se est instalada a experincia relacional
com outras pessoas. O outro, pois, no s uma realidade que participa em minha
constituio como pessoa, mas sem ele eu no chegaria a me constituir como tal, no haveria
possibilidade de que eu fosse.
108
Tese de que s eu existo e de que todos os outros entes (homens e coisas) so apenas idias minhas
(ABBAGNANO, 2007, p. 1086).
248
exatamente a partir daqui que compreendemos a importncia da oralidade na cultura
tradicional africana, pois a palavra o veculo privilegiado do encontro interpessoal.
A ORALIDADE SUBJACENTE
Ao dizer ns, no sentido de tu e eu, sou levado a esse outro que acabo de perceber. O
ns a vivncia de que participamos reciprocamente em algo que nosso. Na mtua posse do
ns surge a noo de dilogo. O dilogo muito mais do que um mtodo ao servio do
pensamento reflexivo. O dilogo pressupe conceitualmente a idia de pessoa como abertura.
A pessoa, ao constituir-se em sistema de relaes, est permanentemente aberta ao mundo,
aos outros e a Deus, de tal maneira que no tem em si mesma sua prpria consistncia.
O outro, mediante o dilogo e em virtude da estrutura aberta da realidade humana, me
constitui, j que em nenhum momento minha conscincia capaz de um crescimento de meu
ser sem dev-lo em primeiro lugar a seu anlogo com outra conscincia. Neste sentido, no
so as pessoas que fazem o dilogo, mas o dilogo que faz as pessoas. O dilogo encarna, em
alguma medida, a definio de homem. Ao responder ao outro no dilogo, eu o trato, no
como um adversrio, mas como um malungo
109
, um semelhante, o que implica o abandono da
luta pelo reconhecimento. Afastado da dinmica da luta pela apropriao do outro, o dilogo
se desenvolve atravs de outro esquema, do encontro interpessoal, ou seja, eminentemente
criador. Se a resposta realmente pessoal, necessrio invent-la, cri-la e recri-la em cada
situao. Por outro lado, o dilogo um dos melhores veculos que nos conduzem at
verdade. Compreendendo que o erro algo natural condio humana, a verdade supe uma
conquista dificilmente adquirida e, em todos os casos, compartilhada.
O dilogo necessita viver num mtuo equilbrio, do contrrio corre o risco de excluir-
se. Assim, no se deve cair no erro de rechaar o pensamento alheio, como tambm no se
deve integr-lo ao prprio, mas submet-lo discusso para progredir no contato com o outro.
Isso significa adotar a atitude de simpatia, que leva a experimentar o pensamento do outro por
dentro. O dilogo, portanto, s acontece na perspectiva da compreenso.
109
Malungo: Expresso de origem banto, utilizada no Brasil, com significado de companheiro de viagem,
parceiro, camarada.
249
Compreender sair de si, colocar-se no lugar do outro, suspender momentaneamente o
prprio pensamento. No dilogo, o homem no busca impor ao outro uma verdade fechada e
concebida como uma coisa, mas pr-se a servio de uma verdade que uma vida, ou seja,
significa estabelecer relaes reais com as coisas e com os seres. O dilogo pressupe a f no
homem, no sentido de reconhecimento de sua eminente dignidade como pessoa, o qual exige
que o dinamismo do mesmo dilogo se expresse mediante a reciprocidade, a igualdade
consentida. Este reconhecimento caracteriza-se num prvio conhecimento do outro e num
certo tipo de crena do outro. O conhecimento do outro enquanto participante no dilogo no
somente um conhecimento intelectual, mas afetivo. O conhecer humano no deve dissociar
o sentir do pensar.
Por isso a simpatia elemento constitutivo de conhecimento. O reconhecimento do
outro leva em si impressa a crena bsica no outro, qual vai mais alm da simples constatao
do que o outro diz. Quando, no dilogo, passa-se do que o outro diz para constar o outro
enquanto pessoa, chega-se ento crena no outro. Este duplo movimento de conhecimento e
crena no dinamismo do reconhecimento do outro, enquanto outro diferente, original, o que
confere a dignidade da pessoa. Todo dilogo consiste em reconhecer o prximo como um
outro, livre e subsistente em si mesmo. A primeira implicao do dilogo, enquanto
reconhecimento do outro distinto e original, leva a entender o reconhecimento de que o outro
um ser de direito, com capacidades. Um dilogo que encobre qualquer tipo de excluso
110
,
pelo motivo que for, rechaa o prprio dilogo, pois no se abre ao reconhecimento do outro.
A dominao disfarada de dilogo pura e simplesmente dominao, pois silencia a voz do
outro, desfigura o seu rosto, anula a realidade do outro excludo.
A fonte de todas as violncias qualquer forma de injustia que vicie, por princpio e
de maneira radical, as relaes humanas. O dilogo o encarregado de dar um fim ao poder
da violncia. O africano escravizado no podia falar verdadeiramente, pois era um dilogo
onde dois interlocutores no se falavam em igualdade de condies. Nestes casos em que no
se podia exercer livremente seu direito fala, surgiu o direito legtimo da rebelio. A rebelio
um recurso legtimo para participar do dilogo. No h dilogo sem homens que o exijam,
sem homens que queiram falar, como tambm no h dilogo sem homens que podem falar,
sem instituies que estabeleam um mnimo de igualdade entre os indivduos ou aos grupos.
Nesta perspectiva, podemos afirmar que o pensamento de Kabengele Munanga fundamental
110
Excluso: Proposio que afirma que um atributo convm a um e a um s sujeito (ABBAGNANO, 2007, p.
463). Portanto, incluo aqui o racismo, o etnocentrismo, o machismo, o preconceito, a discriminao etc.
250
para a constituio de uma democracia com os excludos. A participao das minorias
fundamental para a prpria democracia. No uma considerao face s minorias, mas uma
exigncia tica de respeito dignidade da pessoa, seja qual for sua condio. A democracia
a expresso da fraternidade, posto que a fraternidade indica respeito a liberdade do outro,
reconhecimento de sua dignidade de pessoa.
Num dilogo autntico, a crena no homem e o rechao violncia se encontram
vinculados a uma terceira condio: os valores. Quando, no dilogo, procura-se a ambio de
vitria sobre o pensamento do outro, isso significa que se permanece dependente da categoria
de violncia. Se um dilogo humano possvel, porque existe algo superior aos espritos, e
que os conduz e os julga. Desta forma, o dilogo se alimenta da riqueza inesgotvel dos
valores. O valor que guia o desenvolvimento do dilogo a busca da verdade, no
convencimento de que este no patrimnio particular, mas um bem da humanidade.
Portanto, o dilogo acontece entre interlocutores que admitem que a verdade e a justia so
transcendentes e implicitamente imanentes.
O importante do dilogo no est em dizer a ltima palavra, mas em descobrir, juntos,
a verdade e a justia. Neste sentido, o homem de dilogo o que escuta mais do que fala.
Assim, no dilogo, cada um est presente respondendo a presena do outro de uma maneira
concreta. A referncia aos valores no os toma como questes abstratas ou perifricas. No
encontro com o outro, mediante o dilogo, me encontro com o melhor de mim mesmo e com
o melhor do outro, me encontro com o que sou e com o que estou sendo.
O dilogo possibilita uma reflexo sobre a noo de palavra. O problema do dilogo
o mesmo que o da palavra. Somente na relao dialogal da palavra se reconhece o prprio
eu do homem como ser existente em sua dimenso interpessoal, j que, ao expressar-se por
meio da palavra, o homem sai de si, no para perder-se no tu, mas para se re-encontrar,
plenificado na mesma palavra. Todavia nem toda palavra dilogo pois, quando a linguagem
est submetida persuaso, mera informao, ao af do domnio, ou quando um dos
interlocutores se comporta de forma impessoal, ou seja, no se compromete com a palavra
dada, ento nos encontramos num pseudo-dilogo, no qual a palavra carece de valor.
A realidade humana totalmente dinmica, isto , estrutura-se como um dar de si
contnuo a que no podemos pr um limite. O homem no est nunca totalmente dado, j que,
em cada momento, ele se encontra criando-se, diferentemente do animal, que ao nascer j est
251
fechado e nasce ajustado a seu meio. Ao compreender o homem como abertura, este
transcende o mbito animal, ou seja, ao mbito fisiolgico, sendo a presena de um esprito,
isto , sendo um ser espiritual que vai muito alm do biolgico. Em certo sentido, o carter de
abertura do ser humano um carter eminentemente dinmico, no se tratando de um simples
estado. A abertura se constitui ento na direo e na orientao neste processo de realizao
da pessoa.
Esta definio de homem como abertura leva-nos at a experincia do mistrio
111
atravs das situaes limites. O homem sendo constitutivamente abertura s pode ser
compreendido como um movimento que vai sempre mais alm, penetrando desta maneira no
mistrio existencial por excelncia. O homem v-se sempre inacabado, a satisfao de seus
desejos o coloca sempre diante de uma nova perspectiva, a do desejo radical que o mesmo o
envolve. O desejo de uma nova perspectiva e o mistrio so os dois conceitos-chave para a
compreenso do acesso ancestralidade.
No conhecimento da ancestralidade, o homem depara-se com o problema das
representaes. Todo conhecimento da ancestralidade se realiza por meio de representaes,
que tomam formas humanas. Mas no h como confundir a representao de um objeto com o
objeto mesmo, pois a representao , para o homem, um meio de alcanar o inatingvel.
O filsofo ganense Kwame Appiah explica da seguinte forma (2006, p. 267):
importante insistir que quando digo nmeros no quero
dizer os numerais isso , os smbolos, como o smbolo 9
ou o algarismo romano IX que usamos para falar sobre
nmeros. (...) no devemos confundir usar uma palavra com
mencion-la. Se eu dissesse que 9 existe isso seria
claramente verdade. bvio que os numerais existem. A
questo interessante saber se os numerais se referem a
objetos reais e, se o fazem, que tipos de objetos so eles.
Inicialmente podemos analisar o mistrio como o carter sagrado de uma realidade. O
mistrio aquela realidade ou situao que, de modo provisrio, resulta impenetrvel para o
homem. nesta margem de obscuridade que o homem vive. A inteligncia humana, contudo,
tem outras possibilidades de relacionar-se como o mistrio, pois o homem sempre se interroga
sobre os mistrios que o envolvem, inclusive abrindo-se a eles e desejando ser transformado
111
Mistrio: No sentido em que a palavra comeou a ser usada pelos escritores hermticos da Antiguidade (p.
ex., Corpus hermeticum, I, 16), significa uma verdade revelada por Deus, que deve permanecer secreta
(ABBAGNANO, 2007, p. 783).
252
por eles. O mistrio, desta forma, no um ponto de chegada, mas uma realidade que envolve
o homem. Um universo misterioso circunda o homem por todos os lados, ou seja, h uma
realidade que o homem desconhece, porm na qual ele se encontra submergido. O mistrio o
insondvel que est mais alm do que o que desconhecido ou aquilo do qual se conhece
pouco.
A realidade do mundo como um complexo hierglifo, o qual preciso decifrar em
cada momento. O pensamento ocidental desacralizou a natureza, que absolutamente
misteriosa para as culturas tradicionais africanas. O homem, ao decifrar o mundo, coloca-se
diante de enigmas que so smbolos do mistrio. Num mundo fechado, no existiria o enigma
que, por sua natureza, se coloca diante de ns como uma dimenso da mesma realidade das
coisas. O enigma no faz referncia a algo esttico, no um problema que est a e que se
pode deixar de lado, pois ele arrasta a pessoa ao fundamento da realidade, at a
ancestralidade.
Para quem possui o sentido do mistrio, os enigmas so sinais de algo alm. O enigma
s pode ser decifrado luz de um mistrio mais alto e iluminador do sentido. Quando se vai
mais alm nas explicaes das coisas, quando se indaga o sentido delas, o enigma do mundo
se apodera do homem e o faz apresentar perguntas mais profundas. A dinamicidade do
enigma do mundo o de seu sentido para o homem. Se a maioria das correntes do
pensamento ocidental descarta o mistrio, Munanga, em contrapartida, o reconhece e utiliza.
Entretanto subsiste no homem uma zona misteriosa que provm do fato de que ele jamais
chega a penetrar, por suas prprias foras, no mistrio de seu esprito. Nessa tessitura, a f
aparece, no como um conhecimento, mas como origem de todo conhecimento. A f nos abre,
passo a passo, a uma nova orientao da reflexo sobre o mistrio da pessoa.
Para nos conhecermos plenamente, para compreender nossos atos mais profundos,
preciso entregar-se f, necessrio aceitar a revelao do mistrio, a qual no nunca total.
Assim, se os deuses so pessoas, o mais intimo e secreto s pode ser conhecido mediante a
revelao. O verdadeiro mistrio tem como destino orientar-nos sobre o sentido da vida, que
nos faz participar da mesma existncia dos deuses, nossos ancestrais, em seus projetos mais
ntimos.
253
DILOGOS SOBRE AFRICANIDADES E EDUCAO
Tanto os africanos como os afrodescendentes (...) referem-se
ao sentido amplo de educar-se como tornar-se pessoa, o que
traduzem como aprender a conduzir a prpria vida. Em vista
disso, educao (...) refere-se ao processo de construir a
prpria vida, que se desenvolve em relaes entre geraes,
gneros, grupos raciais e sociais, com a inteno de transmitir
viso de mundo, repassar conhecimentos, comunicar
experincias. Na perspectiva africana, a construo da vida
prpria tem sentido no seio de uma comunidade, e visa no
apenas o avanar de cada um individualmente. O crescimento
das pessoas tem sentido quando representa fortalecimento para
a comunidade a que pertencem (Petronilha Beatriz Gonalves
e Silva, Aprender a Conduzir a Prpria Vida: dimenses do
educar-se entre afrodescendentes e africanos, 2004, p. 181).
254
DILOGOS SOBRE AFRICANIDADES E EDUCAO
Conta-se no terreiro que Iroko foi enviado ao aiy para saber
qual a concepo de tempo que os humanos tinham. Quando
chegou no aiy, encontrou uma pessoa e lhe perguntou onde
ficava o fim do mundo. Essa pessoa lhe respondeu que o fim
do mundo ficava logo ali adiante. Iroko andou, andou e
encontrou outra pessoa que lhe disse que o fim do mundo
estava muito perto, era s andar um pouco mais. Iroko, ento,
andou bastante e encontrou a terceira pessoa e novamente fez
a mesma pergunta sobre o fim do mundo, mas antes lhe
colocou a sua experincia: Moo, a primeira pessoa me disse
que era perto e eu andei muito, a segunda me disse que era
mais perto ainda e eu j andei demais, o que fao para chegar
l? Ah! meu irmo, daqui para ali um pulinho s, s o
senhor andar mais um pouquinho que chega l. E a, de tanto
andar, chegou concluso de que no existia fim do mundo e
que para os humanos, o tempo e a lonjura tinham o tamanho
da preocupao (Maria Consuelo Oliveira SANTOS, 1997, p.
158).
A obra de Munanga permite um caminho muito interessante e importante, sobretudo
pelo seu carter complementrio, hermesiano, ou seja, de mediao entre o plano explicativo
e o compreensivo, processo que se expressa no desenvolvimento de sua obra, permitindo
entender a contribuio que as africanidades, tal como pensadas por vrios pesquisadores, e
que tm, em Munanga, um de seus principais porta-vozes podem trazer para a educao
brasileira. Em suas palavras (MUNANGA, 2001, p. 8):
No precisamos ser profetas para compreender que o
preconceito incutido na cabea do professor e sua
incapacidade em lidar profissionalmente com a diversidade,
somando-se ao contedo preconceituoso dos livros e materiais
didticos e s relaes preconceituosas entre alunos de
diferentes ascendncias tnico-raciais, sociais e outras,
desestimulam o aluno negro e prejudicam seu aprendizado. O
que explica o coeficiente de repetncia e evaso escolares
altamente elevado do alunado negro, comparativamente ao do
alunado branco.
Sem minimizar o impacto da situao scio-econmica dos
pais dos alunos no processo de aprendizagem, deveramos
aceitar que a questo da memria coletiva, da histria, da
cultura e da identidade dos alunos afro-descendentes,
apagados no sistema educativo baseado no modelo europo-
cntrico, oferece parcialmente a explicao desse elevado
ndice de repetncia e evaso escolares.
255
O pensamento tradicional afrobrasileiro apresenta certos conceitos muito semelhantes
aos de outros povos. Por esse motivo, um trabalho rduo definir as africanidades neste
campo especfico da filosofia, da antropologia filosfica, da educao, sem recorrer
comparao ou a diferenciao. Para Munanga (idem, 2004, p. 117):
Estamos de acordo que o Brasil uma nova civilizao, feita
das contribuies de negros, ndios, europeus e asiticos que
aqui se encontraram. Apesar do fato colonial e da assimetria
no relacionamento que dele resultou, isso no impediu que se
processasse uma transculturao entre os diversos segmentos
culturais, como se pode constatar no cotidiano brasileiro.
Algumas caractersticas culturais apresentadas por alguns pesquisadores como sendo
exclusivamente dos negros, so, na realidade comuns a vrias culturas nativas, entre elas as
da Amrica Latina. Nesse sentido, eu podera apontar um instinto de sobrevivncia
experincia da colonizao, um carter sagrado do pensamento, um holismo dinmico que
corresponde percepo temporal e viso cosmognica do mundo e um registro tardio na
forma escrita. Juntamente com estes conjuntos de expresses, h ainda a interpenetrao ao
longo dos ltimos cinco sculos das expresses culturais ocidentais. Se tivssemos, em
resumo, que descrever algumas caractersticas do pensamento tradicional afrobrasileiro, estas
seriam, sem dvida, a espiritualidade, o senso de coletividade e a oralidade, que tambm
constituem os fundamentos de outras culturas. provvel que o simbolismo, a iconicidade, a
oralidade e a iconodulidade sejam as expresses mais fortes do pensamento afrobrasileiro, por
isso presentes ao longo de toda obra de Munanga.
Num sentido lato, as africanidades, tal como compreendidas a partir de Munanga,
implicam um amplo movimento filosfico humanista que se inspira numa cosmoviso
pessoal-transcendental a qual coloca a pessoa afro no centro de suas reflexes. As
africanidades, de forma latente, esto impregnadas de um humanismo, pois procuram colocar
o afro no universo do homem, de onde ele foi excludo ao longo dos ltimos sculos, a partir
de vrias pseudojustificativas como as de Hegel que, em 1830 e segundo Laplantine (2007, pp.
45-46):
em sua Introduo filosofia da histria, nos expe o horror
que ele ressente frente ao estado de natureza, que o desses
povos que jamais ascendero histria e conscincia de
si. (...) O negro nem mesmo se v atribuir o estatuto de
vegetal. Ele cai, escreve Hegel, para o nvel de uma coisa,
de um objeto sem valor.
256
As africanidades so, neste sentido, um pensamento que nasce e se desenvolve durante
os ltimos anos. Seue renascimento ocorreria no sentido estrito, pois no sentido genrico
poderamos dizer que no h sentido em falar do renascimento de algo que permanece eterno
nas coisas. Est, pois, fora de lugar perguntar se renasce ou no renasce algo que transcende
ao eu, aos nascimentos, ao devir, j que, sendo caracterstica prpria dos africanos, no
continente ou na dispora, as africanidade so de natureza intemporal, no condicionada e
permanente. Exemplo disso a oralidade pois, segundo Santos (1997, 144), para os africanos:
(...) O contar histrias para a fixao de determinadas questes
uma tcnica reiterativa bastante utilizada. Um modo
pedaggico de narrao, que permite s pessoas apreenderem
inmeros aspectos do conhecimento e de serem utilizadas
como referncias, pois os mitos dizem verdades que a
comunidade constri, interpreta e vivencia.
As africanidades, consideradas propriamente como uma forma de pensamento, foram
sempre inspiradoras da maior parte das teorias e prticas dos negros que lutaram e ainda lutam
por seus direitos, muitos dos quais contrrios a elas. So, sobretudo, propriedade dos negros
que procuram preservar suas razes culturais, nem sempre declaradas. Realizadas estas
precises, pergunto-me se assistimos, com Munanga, a um renascimento das africanidades na
atualidade ou de seu aporte s idias pedaggicas brasileiras na contemporaneidade,
principalmente por parte dos educadores negros e no-negros atuais que aceitam os princpios
da cultura afrobrasileira, elaborando assim um novo iderio no campo educacional. Segundo
Munanga (2001, p. 9):
Como, ento, reverter esse quadro preconceituoso que
prejudica a formao do verdadeiro cidado e a educao de
todos os alunos, em especial os membros dos grupos tnicos,
vtimas do preconceito e da discriminao racial? No existem
leis no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes
preconceituosas existentes nas cabeas das pessoas, atitudes
essas provenientes dos sistemas culturais de todas as
sociedades humanas. No entanto, cremos que a educao
capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a
possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de
superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram
introjetados neles pela cultura racista na qual foram
socializados. (...) no temos dvida de que a transformao de
nossas cabeas de professores uma tarefa preliminar
importantssima. Essa transformao far de ns os
verdadeiros educadores, capazes de contribuir no processo de
construo da democracia brasileira, que no poder ser
257
plenamente cumprida enquanto perdurar a destruio das
individualidades histricas e culturais das populaes que
formaram a matriz plural do povo e da sociedade brasileira.
As africanidades, no contexto do discurso de Munanga, definem-se como um
pensamento contemporneo que desenha a situao intelectual, social, poltica e econmica
dos negros brasileiros em busca de superar tais condies. O autor prope-se a pensar e assim
a ajudar a construir um porvir para os negros brasileiros, mediante uma redefinio do amplo
movimento filosfico cultural, empenho este que, alis, j estava presente em vrios
intelectuais e militantes negros ao longo dos sculos XIX e XX.
REPENSANDO A REALIDADE
Compreendo que um ponto de partida seguro de toda filosofia em geral e de todo
fundamento antropolgico em particular, a experincia de ser pessoa. Nem sempre se tem
compreendido assim, contudo, desde as correntes atuais do pensamento, em especial depois
da formulao da Arquetipologia do Imaginrio de Durand, a experincia de saber-se pessoa
(eu) e a experincia de conhecer a pessoa (tu, o outro, os demais) como natureza existencial e
essencial, criadora de Direitos Humanos, uma verdade inicial do tipo de fundamento.
Toda obra de Munanga est atravessada por um genial imperativo: a recuperao da
situao do homem primordial. Desta perspectiva, a educao centra-se na necessidade do
homem de retornar periodicamente ao arqutipo, aos estados puros, aos princpios. Este
retorno assinala um sentido e uma via de conhecimento que se desencadeia com a morte
inicitica, vivncia simblica que supe o abandono da esfera do profano e a superao do
momento histrico pelo acesso ao universo do sagrado. A morte inicitica equivale ao
abandono da ignorncia e ao renascimento para o conhecimento, ou seja, trata-se da abolio
da experincia profana do homem natural, por meio de sua penetrao no plano do sagrado.
Na viso de Durand (2008, p. 65), este retorno ao homem primordial tem importncia, pois:
Certamente j no importa duas guerras mundiais, os
regimes dos campos de concentrao, o extermnio deliberado
de 30 milhes de homens em meio sculo, j no permitem
profetizar falsamente a paz, a felicidade, a prosperidade por
meio do progresso e da mquina, tampouco profetizar o super-
homem... Simplesmente (...) trata-se de erguer diante do
rumor das civilizaes, das mquinas, dos exrcitos, das
258
vitrias e das derrotas que passam e desfiguram, a figura do
Homem primordial, do homem depositrio da promessa e
no qual est embutido aquele poder mais que divino: o poder
de aceitar ou de recusar o acesso similitude divina.
O caminho de retorno s origens uma via de compreenso atravs do simbolismo
arcaico antropocsmico, que leva ao homem das sociedades modernas a entrar numa nova
dimenso de sua existncia, por meio da qual ele encontra um modo de ser mais autntico,
que o protege contra o nihilismo historicista sem expuls-lo da histria.
Efetivamente as africanidades so, sobretudo, uma filosofia que se caracteriza
fundamentalmente por colocar a pessoa, no caso, o negro, no centro de sua reflexo e de sua
estrutura conceitual. Dito de outro modo, tal filosofia tematiza como fundamento e eleva
universalidade essa experincia primeira do sujeito humano que se v a si mesmo e aos
demais como nico existente no mundo.
Partir da pessoa negra, que esteve to longamente excluda da idia de humanidade,
como dado existencial originrio e nico o mtodo indutivo de Kabengele Munanga. Isso
no significa excluir o pensamento ocidental, mas, ao contrrio, incluir em nossas escolas
outro referencial, neste caso tambm um iderio que est presente na maioria de nossa
populao brasileira, constituda de descendentes de africanos, alm dos brasileiros com outra
ascendncia e que assimilaram aspectos das culturas africanas que aqui vivem. Na introduo
deste trabalho, apontamos alguns autores ocidentais que servem de base para nossas
pedagogias. No se trata, pois, de exclu-los, j que isso geraria uma outra sorte de
polarizao. Alm disso, trata-se de autores que influenciam toda nossa formao. Com
relao ao ser humano, por exemplo, temos Heidegger (1996, pp. 82-83), que faz do ser-a
o ponto de partida universal de toda a filosofia:
Se se considera que na linguagem da metafsica a palavra
existncia designa o mesmo que ser-a, a saber, a
atualidade de tudo o que atual, desde Deus at o gro de
areia, claro que apenas se desloca quando se entende a
frase linearmente a dificuldade do que deve ser pensado da
palavra ser-a para a palavra existncia. (...) toda
objetividade , enquanto tal, subjetividade. (...) Mas ento
devemos pensar em sua unidade e como plena essncia da
existncia, sobretudo, o in-sistir na abertura do ser, o sustentar
da in-sistncia (preocupao) e a per-sistncia na situao
suprema (ser para a morte).
O ente que o modo da existncia o homem. Somente o
homem existe. O rochedo , mas no existe. O rochedo , mas
259
no existe. A rvore , mas no existe. O anjo , mas no
existe. Deus , mas no existe. A frase: Somente o homem
existe de nenhum modo significa apenas que o homem um
ente real, e que todos os entes restantes so irreais e apenas
uma aparncia ou a representao do homem. A frase: O
homem existe significa: o homem aquele ente cujo ser
assinalado pela in-sistncia ex-sistente no desvelamento do ser
a partir do ser e no ser. A essncia existencial do homem a
razo pela qual o homem representa o ente enquanto tal e pode
ter conscincia do que representado.
Essa mesma noo de Heidegger convida nosso olhar a revisitar a noo de homem na
histria da filosofia greco-crist. O primeiro a realizar uma sistematizao de homem foi
Plato. Para ele, o homem reduzido alma individual, que participa na natureza e na polis.
Em suas prprias palavras (2003, 621c4-d4), se acreditarem em mim, crendo que a alma
imortal e capaz de suportar todos os males e todos os bens, seguiremos sempre o caminho
para o alto, e praticaremos por todas as formas a justia como sabedoria, a fim de sermos
caros a ns mesmos e aos deuses. De sua parte, Aristteles j afirmava que somente real o
individual, entretanto o seu deus, a quem ele mesmo define como pensamento de seu
pensamento, no pode querer com uma vontade particular, nem conhecer por essncias
singulares, nem amar com um amor de eleio pessoal. Plotino, por sua vez, aponta para uma
falta primitiva na origem de todo sujeito e tambm para o fato de que a salvao s possvel
num retorno apaixonado ao Uno
112
e ao Intemporal.
Os gregos desenvolveram um sentido agudo da dignidade do ser humano, o qual
periodicamente perturbava sua ordem aparentemente impassvel. Seu gosto pela hospitalidade
e seu culto aos mortos do testemunho disso. Sfocles, a meu ver, quer evidenciar, em dipo
Rei, na idia do Destino cego, a de uma justia divina dotada de discernimento. O mesmo
autor, em Antgona, afirma o protesto no testemunho do eterno contra os poderes temporais.
Eurpedes, em As Troianas, ope a idia da fatalidade da guerra da responsabilidade dos
homens. Scrates substitui o discurso utilitrio dos sofistas pela ironia
113
, que transtorna o
interlocutor, voltando a questionar, ao mesmo tempo, o seu conhecimento. O conhece-te a ti
mesmo a primeira grande revoluo na reflexo sobre o homem.
112
Foram principalmente os neoplatnicos que usaram esse termo para designar a divindade ou o bem, que
transcendente em relao ao ser e inteligncia, portanto, est alm de qualquer multiplicidade
(ABBAGNANO, op. cit., p. 1165).
113
A ironia socrtica o modo como Scrates se substima em relao aos adversrios com quem discute.
Quando, na discusso sobre a justia, Scrates declara: Acho que essa investigao est alm das nossas
possibilidades, e vs, que sois inteligentes, deveis ter piedade de ns, em vez de zangar-vos conosco. Trasmoco
responde: Eis a costumeira ironia de Scrates (ibidem, p. 674).
260
O cristianismo, por seu turno, contribui fortemente, entre tantas definies, com sua
viso de homem. Enquanto que, para o pensamento e a sensibilidade dos gregos, a noo de
homem em sua multiplicidade era um escndalo e um mal inadmissvel para o esprito, o
cristianismo faz dela um absoluto, ao afirmar a criao ex nihilo e o destino eterno de cada ser
pessoal. O Ser Supremo, que leva aos seres pessoais a existncia por amor, j no constitui a
unidade do mundo pela abstrao de uma idia, mas por uma capacidade infinita de
multiplicar indefinidamente esses atos de amor singulares. Longe de ser uma imperfeio,
essa multiplicidade, nascida da superabundncia, leva em si a superabundncia pelo
intercmbio do amor.
O escndalo da multiplicidade das almas estar, por muito tempo, em conflito com as
supervivncias da sensibilidade antiga. Averris defendeu a necessidade de uma alma comum
espcie humana, e no deixa de ser significativo o fato de que, sendo este pensador o mais
firme aristotlico da Idade Mdia, a nica tese que poderia identificar-se verdadeiramente
com a de Averris seria a da afirmao de um s intelecto para todos os homens; as demais
teses j haviam sido defendidas, explcita ou implicitamente, por Aristteles, ou eram
consequncias que derivavam de outras perspectivas filosficas, tambm presentes no mundo
latino do sculo XIII, o que nos d idia da grande resistncia filosfica de pensar o mundo
em categorias de pessoa, apesar da poderosa influncia agostiniana em toda Idade Mdia.
A pessoa no o cruzamento de vrias participaes em realidades gerais (matria,
idias etc), mas um todo indissocivel, cuja unidade supera a multiplicidade, porque encontra-
se arraigada ao absoluto. Acima das pessoas, no reina a tirania abstrata de um Destino, de
uma Providncia Divina ou de um Pensamento Impessoal, indiferentes aos destinos
individuais, contudo um Deus que assumiu e transfigurou-se na condio humana, e que
prope a cada pessoa uma relao singular de intimidade, uma participao em sua divindade.
Um Deus que no se afirma, como defenderam Nietzsche, Feuerbach ou Bakunin, sobre a
liberdade humana mas, ao contrrio, outorga-nos uma liberdade anloga Sua.
A partir do cristianismo passa-se a afirmar que, se cada pessoa criada imagem de
Deus, sobretudo o na pessoa de Cristo e, portanto, cada pessoa chamada a formar um
imenso corpo mstico e carnal, na caridade de Cristo. A histria coletiva da humanidade, de
que os gregos no tinham idia, adquire, com o cristianismo, um sentido pessoal e, inclusive,
um sentido csmico. A concepo mesma da Trindade, que alimentou sculos de debates,
trouxe a idia surpreendente de um Ser Supremo no interior do qual dialogam intimamente
261
trs pessoas
114
, e que j, por si mesma, a negao da solido. Essa viso foi demasiado nova,
demasiado radical, produzindo imediatamente seus efeitos. Cristo, dir Agostinho, se
apresenta razo como origem e fim da histria.
Em todo caso, durante o longo perodo medieval, opuserma-se pessoa as
persistncias sociais e ideolgicas da antiguidade grega. Vrios sculos foram necessrios
para passar da reabilitao espiritual do escravo a sua libertao efetiva, graas, sobretudo,
revoluo da dignidade da pessoa particular, introduzida pelo cristianismo. Apesar da
Patrstica e da obra de Agostinho, a condio pr-tcnica do perodo feudal impediu
humanidade medieval libertar-se das excessivas servides do trabalho e da fome, e constituir
uma unidade cvica acima dos estados sociais. Esse mesmo perodo manifesta-se, segundo
Umberto Eco (1983, p. 19), da seguinte maneira:
Os homens de outrora eram grandes e belos (agora so
crianas e anes), mas esse fato apenas um dos muitos que
testemunham a desventura de um mundo que vai
envelhecendo. A juventude no quer aprender mais nada, a
cincia est em decadncia, o mundo inteiro caminha de
cabea para baixo, cegos conduzem cegos e os fazem
precipitar-se nos abismos, os pssaros se lanam antes de alar
vo, o asno toca lira, os bois danam. Maria no ama mais a
vida contemplativa e Marta no ama mais a vida ativa, Lia
estril, Raquel tem olhos lbricos, Cato freqenta os
lupanares, Lucrcio vira mulher. Tudo est desviado do
prprio caminho.
No decorrer do perodo moderno, emerge o lado existencial do cartesianismo. De
mogo geral, a Descartes so atribudos o racionalismo e o idealismo modernos, os quais
dissolvem na ideia a existncia concreta, esquecendo-se do carter decisivo e da complexa
riqueza do cogito. Ato de um sujeito tanto como intuio de uma inteligncia, o cogito a
afirmao de um ser que detm o curso interminvel da idia e se afirma com autoridade na
existncia. O voluntarismo, de Occam a Lutero, preparou essa via. A filosofia deixava de ser
uma lio para aprender, como havia ocorrido na Escolstica, e passa a ser uma meditao
pessoal que se prope a cada um, para que reaja por sua conta.
Hegel seguiu sendo o arquiteto da idia impessoal. Todas as coisas, todos os seres
dissolvem-se ali, em sua representao: no por mera casualidade que Hegel professa, no
final de contas, a submisso total do sujeito ao Estado. Kierkegaard, por seu lado, diante o
114
Os padres gregos denominavam Pericorese e os latinos Circum-incesso, brincadeira de roda, dana em
crculos, que foi compreendido, no cristianismo, como a interpenetrao mtua, coabitao, comunho.
262
sistema simbolizado por Hegel, afirma o irredutvel surgimento da liberdade. Situado numa
poca pronta a todas as escravides, transformadas por uma espcie de felicidade vegetativa,
Kierkegaard levou ao paradoxo o sentido da liberdade em sua unio radical com o sentido do
absoluto. Qual o sentido da existncia? Da morte? Da dor? Da liberdade? Do desespero? Da
angstia? O pensamento de Kierkegaard uma filosofia que considera a existncia como
ponto de partida para sua reflexo. Mas o que significa mesmo existir? O que significa
exatamente a afirmao "eu existo"? Ser uma simples experincia de fato da minha
existncia? Em que, ento, o fato da minha existncia difere do fato da existncia de outros
seres, animados ou inanimados? Ser a existncia o fato primordial, a partir do qual os outros
fatos adquirem sentido - o fato da existncia dos outros, da existncia do mundo, da existncia
de Deus? O fato da existncia pode ser indubitvel. J o sentido e a interpretao da existncia
no so nicos e indubitveis, ao contrrio, so diversos e diferentes.
Simetricamente a Kierkegaard, Karl Marx acusava Hegel de fazer do esprito abstrato,
e no do homem concreto, o sujeito da histria, de reduzir Ideia a realidade vivente dos
homens. Essa alienao traduz, aos olhos de Marx, a essncia do mundo capitalista, que trata
o homem trabalhador como objeto da histria e o expulsa de si mesmo, ao mesmo tempo em
que o isola do seu reino natural.
Parece que o que se poderia chamar de uma revoluo terica no sculo XIX, o ataque
contra todas as foras de despersonalizao do homem, subdividia-se em dois ramos: um, com
Kierkegaard, retornando o homem moderno, perdido pelo descobrimento e a explorao do
mundo, conscincia de sua subjetividade e de sua liberdade; o outro, com Marx,
denunciando as mistificaes que aprisionam o homem moderno s estruturas sociais, com
base em sua condio material. As duas linhas no fizeram mais do que separar-se, e uma das
caractersticas das africanidades consiste exatamente, no em reunir estas duas dimenses,
mas em conciliar a subjetividade, evidenciada pela religiosidade do negro brasileiro, ao
revolucionria, caracterizada na luta, anteriormente contra a escravido, expressa na
formao dos quilombos, e atualmente, no combate ao racismo, discriminao e ao
preconceito.
Uma marca da filosofia existencialista contempornea desencadeou-se com a
fortssima afirmao kierkegaardiana do particular frente ao universal, como reao ao
influente idealismo hegeliano. Sobre o nico (Deus) e o nico (a pessoa), entende-se
perfeitamente o que se construiu, porque, entre outras razes, o nico contata integralmente
263
com o nico. Frente aa identificao hegeliana do real e do racional, Kierkegaard proclama
que o pessoal o real, e nele assenta as bases do existente concreto, de onde partiram
decididamente as distintas correntes posteriores da filosofia da existncia.
O caminho existencial da pessoa particular, iniciado sobretudo por Santo Agostinho e
continuado, na modernidade, por Pascal, ser desdobrado por Husserl, que privilegia o
cotidiano da vida a partir do mundo noemtico
115
, o qual vai sendo constitudo
intencionalmente pela pessoa, em colaborao com outras pessoas como ela. Esse caminho ,
enfim, percorrido sobretudo por Heidegger, ao afirmar que a crise das cincias se produz
justamente pela falta do fundamento, isto , o ser. Nada de novo, j que o mesmo Heidegger
insistiu que, desde o incio da filosofia e no mesmo incio, o ser do ente manifestou-se como
fundamento.
Pois bem. Nas africanidades, esse fundamento identificado na pessoa, na estrutura da
conscincia de ser pessoa. A conscincia de ser pessoa um existencial prvio a toda
reflexo, entre outras coisas porque nada se move sem antes no se comover, e no o
contrrio, como postularam o Utilitarismo e o Positivismo. Para Munanga, as possibilidades
de ser so mais reais do que a prpria ao real, porque a ao o precisamente porque antes
era possibilidade. O homem possibilidade, conscincia pessoal. O poder ser equivale s
possibilidades de ser, da que o voltar-se a si mesmo seja sobretudo o voltar-se a poder ser si
mesmo. Chegar a ser o que se por perfeio ou ao que j se por natureza seria uma lei
pessoal. Logo se derivar disso que ser-no-mundo lugar e tarefa, existncia tica do homem
como projeto. E tudo isso pertence ao universo pessoal.
O mundo ocidental assistiu a uma dramtica situao intelectual: de um lado, o
Positivismo, que negava validez cientfica aos conhecimentos humanistas e filosficos e, de
outro, o momento histrico dos sculos XIX e XX, em que as cincias experimentais estavam
em pleno desenvolvimento, configurando-se num paradigma para todos os tipos de saberes.
Foi nesse contexto histrico que se desenvolveu o mtodo fenomenolgico como um novo
modo filosfico de abordagem da realidade, o qual consiste em eliminar todos os pr-
conceitos e todas vises pr-concebidas do real, para procurar ver o que a realidade apresenta,
115
Noema: O aspecto objetivo da vivncia, ou seja, o objeto considerado pela reflexo em seus diversos modos
de ser dado (por exemplo, o percebido, o recordado, o imaginado). O noema distinto do prprio objeto, que a
coisa; por exemplo, o objeto da percepo da rvore a rvore, mas o noema dessa percepo o complexo dos
predicados e dos modos de ser dados pela experincia: por exemplo, rvore verde, iluminada, no iluminada,
percebida, lembrada etc (ABBAGNANO, op. cit., p. 834).
264
eliminando assim todos os aspectos irrelevantes do fenmeno que se apresenta conscincia
at chegar sua essncia, isto , intuio das essncias, como pretendia Husserl. Isto
implicava tratar o conhecimento como intencional e objetivo, de um lado, e de outro, como
essencialmente similar para todos. O resultado metodolgico de olhar atentamente a realidade
de que a mesma essncia tem de ser alcanada para todos, e nisso consistia o fundamento de
um conhecimento cientfico e universal.
Com seu mtodo, Husserl abriu um caminho para que a filosofia se voltasse
realidade e refletisse sobre o existente. O mtodo fenomenolgico tornou-se ento um
caminho para fazer filosofia, partindo da experincia. Um valor, por exemplo, surge da
anlise fenomenolgica da experincia moral de uma pessoa, o qual faz ver que o homem
encontra diante de si valores e estes o movem ao. A categoria da relao, outro exemplo,
surge da experincia da intersubjetividade ou relao interpessoal atravs da palavra ou de
qualquer outro aspecto humano, como o amor, que procede de uma relao que no se
estabelece entre um sujeito e um objeto, mas entre duas pessoas.
Esta dimenso aproxima-nos daquilo que apreendemos em Munanga, pois nele a idia
de ser pessoa surge no homem, no deduzida de uma teoria ou teorias, mas da experincia
radical de ver-se a si mesmo como um ser que se pode qualificar de pessoal. Desde que o ser
humano pensa pela primeira vez em si mesmo, tem conscincia de ser-eu-mesmo, ou seja,
desde que tem memria da primeira vez de sua existncia, em que se capta como ser nico
existente, sua idia de ser pessoa surge da anlise fenomenolgica de uma experincia pessoal
radical. Ento o ser humano encontra em si, no frente a si, a razo essencial de seu ser-no-
mundo mediante a experincia de unicidade; isto ser pessoa, experincia de si unvoca e
fundamental, que j no o abandonar jamais ao longo de sua existncia.
Por conseguinte, nas ancestralidades, cada pessoa encontra, no interior de si mesma,
mediante a tomada de conscincia de si e do mundo, a realidade de ser pessoa. A experincia
que disso emerge no um pensamento subjetivista como o cogito, nem objetivista, que
contemple o eu frente ao eu como se fosse um objeto externo e estranho, pois a pessoa
tampouco um objeto.
UM SISTEMA INTEGRAL DO HOMEM E DA EDUCAO
265
Em Munanga, o homem no est a servio e disposio plena da sociedade, como
acontece nos totalitarismos, mas a sociedade que deve colocar-se a servio da pessoa,
porque esta o valor principal e primeiro, o qual est acima de qualquer organizao. A
pessoa, por sua vez, no tambm uma entidade egosta, voltada a pensar somente em seu
prprio benefcio, como prope o individualismo. O homem , portanto, um ser em relao.
No dizer de Munanga (2001, p. 9):
O resgate da memria coletiva e da histria da comunidade negra no
interessam apenas aos alunos de ascendncia negra. Interessam
tambm aos alunos de outras ascendncias tnicas, principalmente
branca, pois ao receber uma educao envenenada de preconceitos,
eles tambm tiveram suas estruturas psquicas afetadas. Alm disso,
essa memria no pertence somente aos negros. Ela pertence a todos,
tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos quotidianamente
fruto de todos os segmentos tnicos que, apesar das condies
desiguais nas quais se desenvolveram, contriburam cada um de seu
modo na formao da riqueza econmica e social e da identidade
nacional.
O pensamento de Munanga , pois, fundamentado no fato da experincia pessoal de
todo aquele que se constitui como sujeito nico, que existe e vive, e da conhece a minha vida.
Minha vida o resultado, no de uma deduo, mas da tematizao de uma experincia
universal. Neste sentido, a realidade humana no csmica, mas ambiental, o que implica
dizer que a pessoa ambiental e no objetal. Da categoria ambiental derivam-se, para as
pessoas, as possibilidades de serem seres ambientais e ambientalizadores:
Quanto hermenutica, as ancestralidades assumem uma viso global do
conhecimento humano, contrria ao racionalismo que defende um conhecimento puro,
cientfico e sem referncias s tradies. Para as ancestralidades, tal conhecimento no existe,
pois todo homem conhece, em determinado contexto concreto, o que implica dizer que tal
conhecimento depende tambm da tradio cultural e intelectual em que se encontra situado,
como reitera Santos (1997, p. 151):
No h uma poca para comear a conhecer e no h um fim.
Tambm no h registro escrito que prove o que se est
aprendendo ou o que se aprendeu. A concepo educacional
abrangente porque a prpria viso de mundo implica um
olhar, em que todos os elementos da realidade esto
intimamente relacionados. O educar se verifica em todas as
aes e o processo educativo se concretiza no desempenho dos
fazeres e dizeres.
266
O conhecimento, assim, ser sempre pessoal, no uma inteligncia abstrata e
inexistente, a que busca chegar verdade. Considerando que o ponto de partida a pessoa,
acredita-se que isso permite superar os vrios esquemas artificiais de oposio entre
objetivismo e subjetivismo, entre o conhecimento verdadeiro mas impessoal e o
conhecimento subjetivo mas sem a dimenso da verdade. O conhecimento pessoal porque
somente a pessoa concreta, no abstrata, capaz de comprometer-se, sem tomar partido, sem
expor-se pessoalmente, porque assumir um compromisso assumir a condio humana. O
conhecimento no se d com a pessoa sendo mero espectador, isto no s no sentido de busca
da verdade, mas em qualquer interpretao, j que, em cada processo hermenutico, esta est
sempre comprometida com a verdade, e a menor interpretao j possui, por si mesma, um
valor ontolgico.
Essa contribuio de Munanga vem orientando novas geraes de educadores e
intelectuais brasileiros, que passam a defender tais premissas e, a partir delas, comeam a
fazer ouvir suas vozes na sociedade brasileira, no que tange aos temas muito diversos. Como
relata Munanga (2008, pp. 115-116):
Mas veja, eu estou aqui no Brasil h mais de trinta anos. No
sei mais detalhadamente como anda o ensino de Histria nas
universidades africanas. Eu creio, entretanto, que no esto
mais estudando a Histria de um ponto de vista colonial. Fao
um comparativo, por exemplo, com esta universidade (USP).
Quando cheguei aqui, em 1975, se havia uma palestra sobre a
questo do negro no havia a participao do negro. Lembro
de uma Semana do Negro que aqui ocorreu em 1976. O que
havia? Meia dzia de professores da casa, alguns estudantes
brancos, dois pesquisadores negros: Clvis Moura e Eduardo
de Oliveira e Hamilton Cardoso, que era um jovem inteligente
e talentoso do movimento negro da poca, infelizmente j
morto, se pronunciava abertamente na platia na defesa no
negro. Hoje, qualquer debate que h aqui sobre a questo o
negro est repleto de jovens intelectuais negros. Alguns
corrigem mesmo o que os especialistas da rea dizem sobre o
assunto. Isto um processo, para mim, sem retorno. Daqui a
alguns anos, se as polticas de ao afirmativa derem certo,
teremos uma massa crtica muito importante, que vai trabalhar
tanto a questo da frica, quanto a questo do negro, de modo
diferente. Hoje, por exemplo, os temas sobre o assunto j so
muito mais variados. Antigamente, se parava na escravido e
no trfico. Hoje j tem dissertao de mestrado sobre
intelectuais negros, sobre movimento negro contemporneo,
biografias, sobre a cultura negra, sobre a educao do negro,
na psicologia, no direito, na antropologia, etc. Os prprios
intelectuais negros esto alargando os horizontes de
267
investigao e viso sobre o negro. Por esta e outras razes eu
creio que este um processo irreversvel.
O que se tem por fundamento aqui o homem em sua realidade singular, porque
pessoa, e porque pessoa, este tem uma histria prpria de sua vida e sobretudo uma histria
prpria de sua alma, pois precisamente este o ulterior grau de conhecimento, que
corresponde ao nvel profundo de sua pessoa, como o homem que se conhece a si mesmo, ao
mundo e Deus, j que a pessoa possui duas naturezas, a divina (orixs, inkisses e voduns) e
a humana (corporalidade).
A ao revela, pois, a pessoa, e olhamos a pessoa atravs de sua ao. A ao nos
oferece o melhor acesso para penetrar na essncia intrnseca da pessoa e nos permite
conseguir o maior grau possvel de conhecimento da pessoa. Sobre isso, escreve Santos (1997,
p. 155):
A interao entre as pessoas desempenha um papel de
destaque para o aprendizado que inclui a interdependncia dos
participantes que fazem parte do processo, requerendo que a
aprendizagem s se consubstancie na interao social. (...) as
relaes interpessoais tm grande importncia para o
aprendizado e so estabelecidas por respeito aos elos de
irmandade, uma noo que abrange necessariamente o outro, a
troca, o intercmbio. Aprender com o outro faz parte da rede
que tecida para que os conhecimentos sejam continuamente
incorporados criativamente.
Aprende-se olhando o outro, observando, escutando e
perguntando aos mais velhos e, estes, sentem-se responsveis
pela transmisso e orientao aos iniciandos.
Entre todas as criaturas, o homem pessoa, sujeito consciente e livre e, precisamente
por isso, centro e vrtice de tudo o que existe sobre a Terra. A causa de sua dignidade pessoal
ser humano, ou seja, ele um valor em si mesmo e por si mesmo e, como tal, exige ser
considerado e tratado. Ao contrrio, jamais pode ser tratado e considerado como um objeto
utilizvel, um instrumento, uma coisa. A dignidade pessoal propriedade indestrutvel de
todo ser humano. Esta afirmao se baseia na unicidade e na irrepetibilidade de cada pessoa.
Em consequncia, o indivduo nunca pode ficar reduzido a tudo aquilo que o queria abarcar e
anular no anonimato da coletividade, das instituies, das estruturas, do sistema. Em sua
individualidade, a pessoa no um nmero nem uma engrenagem do sistema.
268
Das consideraes precedentes, compreendidas especificamente a partir da leitura das
obras e discursos de Kabengele Munanga, destaca-se a necessidade de realizar, na vida, uma
das experincias mais plenamente humanas: colocar em jogo a relao dilogo e encontro. O
mundo uma realidade cujo autor no o homem, nem sua construo uma obra da mente
humana, nem tampouco uma srie de fenmenos sem conexes, qual o homem daria forma
em seu interior. As ancestralidades propem uma viso do mundo do tipo ontolgico ou
metafsico.
O mundo tem uma consistncia prpria, existe enquanto tal, est estruturado por leis
internas e objetivas que so independentes do sujeito que as pensa, e nele encontramos
realidades com diversos graus de perfeio, entre os quais se destaca a pessoa humana. Esta
uma realidade substancial, pois possui algo o eu que permanece essencialmente invarivel
ao longo de sua evoluo, o que o permite estabelecer e fundar a identidade e continuidade
das pessoas. Assim, para as ancestralidades, h uma natureza humana que , sempre,
essencialmente similar, o que significa que tem uma natureza determinada e especfica. Alm
disso, a pessoa tem a capacidade de conhecer uma verdade que, ao mesmo tempo, a
transcende. Com isso, afirma-se que o homem tem uma capacidade objetiva de conhecer a
verdade, que ele possui uma faculdade do esprito que lhe permite chegar realidade de um
modo nico e peculiar. Este modo ope-se aos dois extremos opostos: por um lado o
objetivismo radical, e por outro o subjetivismo absoluto. H que se destacar que o homem,
frente ao racionalismo puro que afirma que tudo acessvel mente humana, no capaz de
conhecer toda a realidade j que esta o transcende.
No discurso de Munanga constata-se que a pessoa livre. Nas posturas historicistas,
postulou-se o determinismo do homem, contudo, nas ancestralidades, d-se como certo que a
pessoa consubstancial liberdade, que inclusive se patentiza e se v exteriormente.
Esclarece o mesmo autor (MUNANGA, 2009, p. 95) que:
No domnio da cultura material, os bantos, assim como os
chamados sudaneses, deixaram vrios aportes hoje integrados
na cultura brasileira como um todo. Tais aportes se observam
nos instrumentos musicais, como os tambores de jongo: os
tambos (maiores) e os condongueiros (menores); o ingono ou
ingomba de Pernambuco e outros Estados do Norte, que so
nada mais que o ngomba ou angomba, angoma ou ngoma em
vrios grupos do Congo e Angola; o zamb, que um ingomo
menor e que deu origem dana coco de zamb, praticada em
alguns Estados nordestinos; a cuca, conhecida em todo o
Brasil, e que nada mais que a puita do Congo-Angola; o
269
urucungo, tambm chamado gbo, bucumbumba e o
berimbau-de-barriga, que o mesmo que rucumbo dos
lunda. Na escultura, os bantos deixaram suas marcas nas figas
em madeira e nos objetos de ferro, em que os moambicanos
se destacaram. No trabalho de minerao, eles introduziram a
bateia. Na construo, eles deixaram o mocambo, ainda vivo
no Nordeste do Brasil e em alguns isolamentos rurais.
No domnio das danas e msicas, os elementos culturais
bantos so presentes nos congos, quilombos, coco, jongo,
maculel, maracatu, bumba-meu-boi e capoeira, destacando-se
o samba, um dos gneros musicais populares mais conhecidos
e que constitui uma das facetas da identidade cultural
brasileira.
Na viso dos brasileiros afrodescendentes de modo geral,
consciente e inconscientemente, todos esses legados, ou
bantos ou sudaneses, constituem o patrimnio histrico,
sociopoltico, cultural e religioso com o qual eles constroem
sua identidade.
Junto liberdade, na pessoa encontra-se uma dimenso tica essencial que a
acompanha sempre em suas aes. Toda deciso moral afeta a pessoa de maneira global, j
que o sujeito sabe que, se elege o bem, no s acertar, mas tambm se far bom, enquanto
que, se elege o mal, no s se equivocar, mas tambm se far mau. Esta experincia
exclusiva do homem e nos distingue radicalmente dos outros animais. Ao mesmo tempo, por
ser assim, esta uma caracterstica inevitvel que o homem leva consigo. A dimenso moral
das aes est a e ainda que quisssemos afastar-nos dessa responsabilidade, no poderamos
faz-lo de nenhum modo.
Acima do conhecimento e da inteligncia, as ancestralidades defendem a primazia
absoluta aos valores morais. Uma das consequncias mais relevantes deste postulado a
revalorizao da ao, o qual expresso no discurso de Munanga, atravs de suas
manifestaes contra o racismo, a discriminao e o preconceito, sua reflexo social, e
sobretudo poltica, bem como sua atividade criadora no mbito esttico. Nas ancestralidades,
o homem considerado tambm um ser essencialmente religioso, algo que se desprende de
sua natureza espiritual, e as divindades so essencialmente pessoais. No interior de uma
comunidade tradicional afrobrasileira, Santos (op. cit., p. 166) observa que:
(...) as pessoas se colocam em constante aprendizado quanto
aos aspectos mticos do seu orix de cabea, ao procurar
estabelecer uma ponte com os seus prprios atributos.
Algumas chegam a dizer que s depois que entraram para o
terreiro que aprenderam a se conhecer, ou seja, conhecer as
simbolizaes do seu ori lhe permitiu um auto-conhecimento.
(...) O Conhecimento de si mesmo, porm, no est restrito
270
apenas a aprender a ver os sinais de seu Orix no prprio
corpo, mas em se reconhecer como parte da urdidura cultural
que comporta as experincias, prospeces, injunes
realizadas pelo intercmbio de sentidos em modos de
subjetivao que os sujeitos, individual e coletivo, validam.
PESSOA-INDIVDUO E PESSOA-OBJETO
Assim como Kierkegaard distinguiu entre vida esttica e vida tica, ou Heidegger
entre vida autntica e inautntica, os personalistas Gabriel Marcel, Buber e Mounier fizeram a
distino entre pessoa e indivduo (ABBAGNANO, 2006). Os personalistas abordavam os
problemas humanos a partir da teoria e da prtica, tomando essa pessoa em sua singularidade
e em sua dimenso comunitria, sobretudo a partir da perspectiva de sua dignidade.
As africanidades esto, nessa mesma perspectiva de pensar o homem, prximas da
perspectiva personalista. Talvez, para resolver a questo dos negros terem sido escravizados,
identificados como objetos, haja a necessidade de resolver a questo da pessoa-indivduo
contra a posio da pessoa-objeto. Munanga colabora em muito com essa discusso, ao
afirmar que (2004, p. 13):
Os movimentos operrios ainda no conseguiram mobilizar
todos os seus membros, vtimas das relaes de trabalho e de
produo dentro da sociedade capitalista, ainda menos no seio
de um capitalismo perifrico, de escassa cidadania como o
brasileiro. Os movimentos feministas tero de lutar muito
tempo ainda para tirar milhes de mulheres dos lugares e
posies a elas predestinadas pelas culturas machistas de todas
as sociedades humanas. Os movimentos homossexuais tero
de percorrer uma longa caminhada para conseguirem a
legitimidade e direitos iguais aos das unies heterossexuais,
consideradas como as nicas naturais e normais, em todas as
culturas e de suas respectivas religies e vises de mundo.
O discurso de Kabengele Munanga demonstra que sempre que se degrada o indivduo,
h desumanizao da pessoa. O indivduo, solitrio, fora de sua comunidade, conduzido a
um vazio existencial, ao desespero, angustia. A pessoa fora de seu grupo cultural pode no
se abrir fonte principal de sentido e s possibilidades que so os demais. Fica, ento,
paralisada, empobrece-se pouco a pouco, medida que se desvincula de sua realidade e cai
num vazio existencial, que essncia da desumanizao. A negao das expresses culturais
africanas e de suas razes, por parte de alguns negros, devido sua condio de
271
desvalorizao perpetuada por anos em nossa sociedade, leva a disperso da pessoa na
superfcie de sua vida, impedindo-a de encontrar sentido para a existncia, horizonte
existencial e vnculos pessoais.
A valorizao das culturas africanas faz com que os negros brasileiros possam se
construir como pessoas, mediante o compromisso com a vida, como existncia pessoal e
comunitria, encontrando assim sua vocao e seu destino, pelos quais Orunmil
responsvel, de tal maneira que ningum poder usurp-los. Assim entendida, a pessoa se
integra comunidade, pois no se pode encontrar-se sem se doar nela. As ancestralidades
esto numa perspectiva da re-humanizao, movimento contrrio desumanizao, ou seja,
de recuperao da pessoa negra, passo este que se inicia com a tomada de conscincia de sua
essncia perdida, expulsa de si mesma, desprovida de memria e projeto.
Nessa esteira, assumir as ancestralidades supe uma autntica converso, uma
mudana de ideal na mente e no corao, um redirecionamento do rumo existencial, que
assim opta por valores que fazem crescer a pessoa. Tal seria um movimento que vai do
externo, distante e superficial ao ntimo e profundo, o dinamismo bsico que faz o negro
brasileiro aspirar existncia em plenitude, semelhante ao caminho para o Bem de Plato, ou
aspirao perfeio de Aristteles, ou ao desejo de Deus de Santo Agostinho etc.
Por outro lado, esconder ou mascarar os sentimentos preconceituosos contra as
culturas africanas, os quais foram incorporados durante a vida e levaram ao vazio de uma vida
sem sentido, no soluciona os problemas existenciais das pessoas. Para sair da condio de
desumanizao e reconstruir novamente sua alma, a pessoa no necessita anestesiar suas
responsabilidades, como diria Marinoff (2001), ao contrrio. necessrio sobretudo criar um
horizonte de sentido e um sistema de valores, desde a perspectiva prtica, deixando-se de ser
mero objeto, res, massa, para tornar-se sujeito, pessoa.
Efetivamente que uma das preocupaes centrais do pensamento de Munanga a
educao. Por meio da educao, pode-se formar novas categorias antropolgicas que se
ajustem especificidade de ser pessoa e, posteriormente, estruturar, em torno delas, uma
antropologia equilibrada e suficientemente profunda para dar conta da realidade, com toda sua
complexidade e matizes. Segundo Munanga (2001, pp. 10-12):
Embora concordemos que a educao tanto familiar como
escolar possa fortemente contribuir nesse combate, devemos
aceitar que ningum dispe de frmulas educativas prontas a
272
aplicar na busca das solues eficazes e duradouras contra os
males causados pelo racismo na nossa sociedade. (...)
Lembrem-se que um professor ou um educador numa classe
como um ator nico num cenrio nico. Apesar do contedo
da mensagem ser o mesmo para todas as classes, ele precisa
adaptar sua encenao ao esprito de cada classe, seno ser
prejudicada a comunicao e a mensagem no ser igualmente
transmitida e entendida por todos.
O pensamento de Munanga leva-nos a passar de uma filosofia eminentemente
racionalista, interessada sobretudo na relao do homem com as coisas, a um pensamento que
se interessa pela relao do homem com outras pessoas. At aqui, o esprito humano era
definido por sua relao com objetos: relao de conhecimento (o objeto diante da
conscincia) e de vontade (o objeto como bem desejado). Munanga pe seu foco na relao
com um ser pessoal, o ancestral, a relao com o outro, a alteridade. O esprito humano
define-se muito mais por suas relaes pessoais que por suas relaes com os objetos.
Quando Durand (2008, pp. 251-252) postula o retorno tradio, isto significa, antes de
tudo, a volta ao ser pessoal:
(...) a famosa crise de civilizao se manifesta pela crise
epistemolgica das cincias do homem; no que a
epistemologia seja, neste sentido, um fator dominante, mas
sim porque a pedagogia que decorre dela , em nossas
sociedades onde a escolaridade obrigatria e a informao
obcecante, realmente uma dominante mais totalitria e
niveladora. (...) As Cincias chamadas humanas (ou sociais,
ou do homem etc), substituram seu tema o homo sapiens
em sua universalidade especfica por redues bastardas
que, com o pretexto de desmitificao, alienavam mais ou
menos, portanto mistificavam, o projeto e o objeto da espcie
em proveito desta ou daquela episteme regional.
O mundo atual est quase reduzido s coisas e o homem de nosso tempo est
sepultado nelas. Os pensamentos de Munanga e de Durand convergem quando procuram
despertar, nos homens, a conscincia de que no so meros objetos, nem sequer um
organismo, mas uma realidade complexa, difcil de compreender e, de forma patente, o nico
ser verdadeiramente inteligvel. Eliminando-se a relao pessoa-coisa desse contexto, a
pessoa agora se apresenta essencialmente ordenada para a relao intersubjetiva, seja do tipo
interpessoal familiar ou, mais amplo ainda, interpessoal social. Isso significa que a categoria
de relao essencial para a pessoa durante toda a sua vida, da gestao no seio materno at o
final de seus dias, pois, como afirma Ruiz (2006, p. 216):
273
O outro sempre horizonte da prtica humana. No podemos
desconhecer que existem interaes negativas e inclusive
perniciosas. Porm, queiramos ou no, essas interaes
tambm fazem parte do processo de subjetivao. O outro no
um mero limite natural a meu eu. No existe um eu primeiro
para depois se relacionar com o outro. O eu da subjetividade
sempre o resultado de um modo de relao intersubjetiva.
A relao da pessoa com as demais pessoas um meio privilegiado do prprio
desenvolvimento pessoal, sendo uma condio sine qua non para este. O importante no a
sociedade enquanto tal, nem o indivduo egtico, mas a pessoa na relao com as demais.
Nesse sentido, novamente para Ruiz (2004, pp. 56-57):
A alteridade no uma opo do ser humano, mas sua
condio de possibilidade para existir como pessoa. Ela no
foi uma simples conquista pessoal, coletiva ou da espcie. (...)
A alteridade uma ddiva que possibilitou a criao da
humanidade, porm tambm uma imposio, pois nenhum
ser humano pode optar entre a alteridade ou outra alternativa.
Ela a matriz geradora da liberdade do ser humano.
Contraditoriamente, uma liberdade imposta, pois a
dimenso necessria para que a humanidade possa existir
como espcie qualitativamente diferente do resto.
Da mesma forma, mais que a considerao global da pessoa e as implicaes do corpo
humano que permitem a descoberta das riquezas dos aspectos corporais, Munanga nos aponta
para as profundas implicaes do corporal e do espiritual: no posso pensar sem ser, nem ser
sem meu corpo; estou exposto por ele a mim mesmo, ao mundo, aos outros; por ele, escapo da
solido de um pensamento que no seria mais que pensamento de meu pensamento. Em
Munanga descobrimos que a filosofia no uma mera atividade da mente, mas uma atividade
da pessoa, pela qual compreendemos que o conhecimento do homem e do mundo tambm
um meio de interao com a realidade cultural e social e, portanto, desta perspectiva, procura
dar solues aos problemas sociais, ticos, polticos etc, problemas concretos que afligem a
todos os homens na vida cotidiana. De acordo com Munanga (2005/2006, p. 51):
A defesa do ensino da diversidade nas escolas formais resulta
do debate sobre as reivindicaes dos grupos nas sociedades
politnicas. (...) Pois, se o Estado se colocar como neutro
perante as questes provocadas pela diversidade dos grupos
tnico-culturais, ser estruturalmente incapaz de resolver as
questes resultantes da controvrsia concernente minorias.
274
Estamos, por fim, diante de um pensamento cujo ponto de partida o mesmo da
chegada: o amor. O amor a certeza mais forte do homem, mais forte que a razo, o mais
evidente cogito existencial sobre o qual no cabe dvida. As africanidades consideram que a
afetividade to essencial pessoa quanto a inteligncia e a vontade, mas sobretudo uma
afetividade que se conquista. A afetividade humana foi relegada a um papel secundrio no
Ocidente, considerada inferior inteligncia e vontade, porque toda esfera afetiva foi
assumida, em sua maior parte, sob o captulo das paixes, e sempre que se considera a
afetividade neste captulo especfico, insiste-se em seu carter irracional e no espiritual. Da
a importncia radical do amor e da esfera da afetividade para toda antropologia filosfica que
deseja ser digna de seu nome, pois no se pode deixar de considerar estes aspectos to centrais
da vida humana e deve-se conceder-lhes a relevncia que de fato possuem.
Todavia se o amor o que h de mais essencial na vida, no tem sentido que, do ponto
de vista das ancestralidades, ele seja considerado como uma questo secundria que fique
sempre para trs, por exemplo, nas reflexes gnosiolgicas ou lgicas. Ele, o amor, precisa
tornar-se um tema central, de importncia paralela a tudo o mais que reveste a vida de valor.
Mais que do temas de uma nova filosofia ento, teramos de falar de temas de sempre
de uma pessoa nova. Por ser esta essencialmente uma cosmoviso aberta e canalizadora, uma
metodologia construda partir das ancestralidades, pode igualmente converter-se numa
proposta firme no atual momento educacional, uma contribuio inestimvel. Desse modo
estaramos fazendo um esforo para compreender e superar o panorama da crise do homem no
sculo atual, posto que as ancestralidades se tornariam uma proposta eminentemente prtica,
voltada soluo dos problemas reais do homem, justamente porque insistem na pessoa como
fundamento de todo Humanismo.
275
CONSIDERAES FINAIS
276
CONSIDERAES FINAIS
Neste trabalho, parti das teses de que o mito e o sagrado no apenas sobrevivem, como
tambm vicejam, ainda hoje, nas mais diversas manifestaes, no interior de todas as culturas
humanas, e de que a sobrevivncia do mito, do sagrado e, portanto, do imaginrio como o
formula Gilbert Durand, supe necessariamente uma reutilizao dos mesmos materiais,
atualizados ou no, os quais permitem uma continuidade dos smbolos e dos arqutipos,
compreendendo que o smbolo expressa-se naquilo que Durand denominou trajeto
antropolgico, isto , na incessante troca que existe ao nvel do imaginrio entre as pulses
subjetivas e assimiladoras e as intimaes objetivas que emanam do meio csmico e social.
O imaginrio possuiria, pois, vrias dimenses, sendo a primeira delas a biolgica ou
vital, a mesma que se manifesta no sentido da luta pela fora da vida contra a certeza racional
da inevitabilidade da morte. A eufemizao promovida pela imaginao se faz, portanto,
como uma gigantesca muralha que resguarda o homem da temporalidade terrificante. Como
restabelecedora do equilbrio vital, a imaginao simblica comprometida tanto quanto
mobilizada pela noo de morte. A segunda dimenso do imaginrio dada por sua
manifestao no plano psicossocial; nesse sentido, vimos que, para Durand, a psicanlise
atravs da concepo da sublimao, j constatou o papel de tampo que a imaginao
simblica desempenha, como mediadora entre o impulso e sua represso. Esse arcabouo,
contudo, reduz as aberraes imaginrias da neurose aos fatos biogrficos da primeira
infncia. Finalizando, o smbolo teria um carter ambivalente e seu sentido dependeria do
contexto cultural que o interpreta, tendo o mesmo smbolo sido assumido por Durand como
imagem. Tais imagens, produzidas pela subjetividade envolvida no trajeto, so divididas, pelo
mesmo autor, em dois regimes: o Regime Diurno e o Regime Noturno da Imagem.
O Regime Diurno da Imagem est ancorado na dominante reflexa postural, o que o
vincula, por meio das imagens, tecnologia das armas, sociologia do soberano mago e
guerreiro, aos rituais da elevao e da purificao. Em contrapartida, o Regime Noturno da
imagem subdivide-se nas dominantes reflexas digestiva e rtmica, a primeira subsumindo as
tcnicas do continente e do hbitat, os valores alimentares e digestivos, a sociologia matriarcal
e alimentadora, e a segunda agrupando as tcnicas do ciclo, do calendrio agrcola e da
indstria txtil, os smbolos naturais ou artificiais do retorno, os mitos e os dramas
astrobiolgicos.
277
Desse modo, os smbolos aparecem em trs nveis diferentes da conscincia: um nvel
inferior, no qual este se mostra como um conjunto de sinais; um nvel intermedirio, da
imaginacin restringida, prpria da criana, onde o imaginrio aparece estereotipado e
reprimido pelos limites psicofsicos prprios da imaturidade, etapa na qual evolui esse
distanciamento simblico, a partir dos processos de aprendizagem, os jogos ou a presena dos
pais; e, por fim, um nvel cultural, correspondendo plena maturidade do indivduo e sua
imerso nos emaranhados sociais que o rodeia. neste nvel que chegamos ao mito, exemplo
da primeira emergncia da conscincia, o incio da derivao cultural. O mito seria j um
esboo de racionalizao, pois se utiliza do fio do discurso, no qual os smbolos se resolvem
em palavras e os arqutipos, em idias.
Nessa esteira, Durand props uma reviso completa de anlise estrutural do mito,
dando um passo alm na busca de chaves mticas e acrescentando aos mtodos conhecidos um
nvel analtico mais amplo, que os engloba e transcende. Dessa maneira, ele observou que
existe uma unidade mnima de significado dentro do mito, qual ele denomina mitema, e que
no esgotar seu significado na sequncia linear do relato, que ir muito alm, instaurando
sequncias de sentido a partir dos smbolos no relacionais. A atitude de Durand foi de
reconhecimento da anlise sincrnica, bem como de recusa da reduo formalista. Para isso,
esse autor conservou os nveis diacrnico e sincrnico, acrescentando um nvel a mais: o
arquetpico ou simblico, tendo por base a convergncia dos smbolos e dos mitemas.
O mito aparece, por conseguinte, sempre como um esforo para adaptar o diacronismo
do discurso ao sincronismo dos encaixes simblicos ou das oposies diairticas. Por isso,
todo mito possui, fatalmente, como estrutura de base ou como infraestrutura a estrutura
sinttica, em torno da qual se organiza o imaginrio sinttico ou dramtico, o qual tenta
organizar o tempo do discurso a intemporalidade dos smbolos. Compreendendo o fato de que
ao mito cabe unir as esferas do divino, do mundo e do homem, Durand conferiu um lugar
privilegiado dimenso narrativa mtica. Partindo dessa perspectiva, procurei levantar os
mitemas e os mitologemas, caracterizados pela repetio dos motivos mticos, presentes no
discurso de Kabengele Munanga, assim como os ideologemas que se manifestam pela
repetio, pela redundncia no mesmo discurso.
A primeira fase deste trabalho procedeu identificao e seleo dos ideologemas
atravs de uma leitura diacrnica do texto de Munanga. Na segunda fase, unimos os
ideologemas em torno de uma idia-fora, o que consistiu numa leitura sincrnica do texto.
278
No caso do discurso de Munanga, identifiquei que o ser aparece como o ponto central de
sua obra. Assim, analisei o discurso de Munanga a partir desse ideologema, ou seja, do ser,
ampliando para o fato de que para a cultura afrobrasileira est impregnada pelo
reconhecimento da identidade, que simblico, pois nela esto incorporados os traos da
histria humana, revelados nos poemas de Orunmil.
O texto de Munanga flui no sentido da grande preocupao dos afrobrasileiros, ou
seja, a de resgatar parte de nossa identidade, preocupao que , em si mesma, to relevante
quanto problemtica. Reconhecer essa mesma identidade, no caso dos afrodescendentes, passa
pelo reconhecimento da cor da pele, da cultura e da produo cultural do negro, bem como da
contribuio histrica do negro na sociedade brasileira e na construo da economia do pas,
contribuio essa feita com seu prprio sangue. Passa tambm pela recuperao de sua
histria africana, de sua viso do mundo, de sua religio. A questo fundamental desta tese,
que ecoa o pensamento e d a ver as imagens de Munaga, diz respeito ao processo de tomada
de conscincia da nossa contribuio formao do povo brasileiro, do valor de nossa cultura
nesse mesmo contexto, na construo de nossa viso do mundo e na constituio de nosso
ser como humano.
Na esteira da crescente dessacralizao do mundo, o ser humano construiu as noes
de indivduo e razo. Como resposta a esse processo, a africanidade oferece a possibilidade de
uma re-conceituao da identidade. A existncia um dado objetivo, mas a revelao da
existncia um dado da intuio. A revelao do ser para si mesmo a mesma revelao da
gnese criadora. A intuio o impulso de deciso que est na base da efetivao da vida.
Diante da impossibilidade de conhecer o todo e da estagnao diante da morte, s resta
apostar na existncia como alternativa para satisfazer a condio imediatamente humana.
Assim, a africanidade em Munanga no uma concepo intelectual afastada da realidade. A
compreenso do ser humano gerada a partir da experincia particular da pessoa que toma a
si como referncia e, de si, se estende e se confunde com a experincia da realidade ftica, do
tempo e da temporalidade de sua existncia.
A ideia da circulao da fora vital, do princpio da fora vital, caracteriza todo
pensamento africano tradicional. Cada um dos Or representa um destino diferenciado. O eu
da africanidade pessoal, mas tambm plural, rompendo assim com a tradicional
identificao do eu com a unidade do sujeito. A identidade, do indivduo e do grupo,
plural. Munanga, como Orunmil, possibilita, por sua mediao, essa aproximao com nossa
279
identidade ancestral. A dupla lgica, da unidade e da pluralidade, operando dentro da
identidade pessoal permite ser apreendida atravs do conceito de sistema. A metfora da
ordenao sistmica da identidade pessoal est, ento, sob a recuperao da experincia da
encarnao.
Na inteno de buscar o encontro do si como plenificao da efetivao do verbo
ser, exige-se um movimento que transcenda a realidade mundana, no como uma forma de
superao ou abstrao desta, mas antes como vivncia da realidade, como experincia de
cada momento da realidade na sua exata temporalidade e na sua completa durao. Assim
encontraremos na prpria realidade do sendo, o que est para alm dela e que seu prprio
constitutivo, ou seja, o si-mesmo da realidade mesma. Essa busca se far atravs do jogo
poltico, pois a existncia da identidade do afrobrasileiro supe a existncia das identidades
dos outros. Nesse sentido, a histria da experincia transforma-se em histria da
rememorizao do esprito, uma vez que o todo cognoscvel nada mais do que a totalidade
abarcada pela conscincia.
No universo tradicional africano, o que temos, ao invs da racionalidade lgica, uma
racionalidade relacional, que busca a compreenso dos elementos da realidade a partir da
relao entre esses elementos que se d necessariamente no tempo. Iroco, entre todos os
orixs, o nico que nunca se separou do cu e da terra.
Nesse sentido, podemos ainda afirmar, que o pensamento de Kabengele Munanga ,
de certa forma, uma filosofia do conhecimento porquanto preocupa-se no com o sentido de
ser, mas se ainda faz sentido perguntar-se pelo sentido, uma vez que o ser fruto da
construo realizada atravs da experincia da facticidade do real. O desejo do indivduo de
sobreviver morte e, desse modo, a fabulao emerge como uma reao defensiva da
natureza contra a representao da inevitabilidade da morte. A imaginao simblica prope
uma revolta do esprito ante a questo da passagem do tempo, que relativa apario e o
fatal desaparecimento das coisas sujeitas mudana. Em Munanga, o tempo pensado no
como horizonte do ser, como essncia do ser, mas como Dizer. Isso significa, em ltima
instncia, que tanto na elaborao do homem natural-social como na elaborao do ancestral,
homem e sociedade detm conscincia tima da condio existencial: na existncia visvel, a
sociedade integra o homem nas prticas histricas do mundo terrestre; na instncia da morte,
trata-se de integr-lo no pas dos ancestrais.
280
O tempo equivale, pois, ao modo de ser do Infinito, ou melhor, ao modo de o Infinito
significar ou passar alm, independentemente da conscincia em sua doao de sentido. O
tempo a significao do Infinito como absolutamente Outro, a sua diferena, distncia ou
infinio em relao ao finito. A temporalizao do tempo , portanto, a prpria diferena do
Infinito como no-indiferena para com o finito; a significao da transcendncia como
relao tica. Durao do tempo como relao com o Infinito.
Nesse modo prprio do tempo, inscreve-se a significncia de um Outro, de um
tempo-outro, que no o tempo do Mesmo. Trata-se do tempo como inspirao, inquietao,
insnia originria, traumatismo ou afeco do Mesmo pelo Outro, ou seja, a idia do Infinito
no finito. O tempo um despertar do psiquismo, onde o termo despertar delineia a prpria
inquietude do tempo, que a inquietude do Mesmo pelo Outro, a inspirao ou o despertar.
Aqui, a passividade do sujeito recebe o traumatismo no tempo. A sntese passiva do
envelhecimento indica essa exposio do sujeito que, apesar de si, padece a durao do tempo
sem poder det-lo.
A noo de criao revela a anterioridade das divindades em relao ao ser, do criador
em relao criatura, do infinito em relao ao finito. A criao, essa perturbao no ser,
significa precisamente a anterioridade da responsabilidade em relao liberdade. Nisto
consiste o sempre da durao, na prpria eternidade do tempo, no como um incessante
retorno ao presente, mas como abertura ao infinito do tempo.
Em Munanga, ainda identificamos que a busca do sagrado pressupe a necessidade de
se adquirir uma compreenso da realidade que supere a viso esclerosada pelo cotidiano.
Retomando seu discurso, atravs da oralidade que comeamos os primeiros passos de
educao, dentro da prpria famlia. Na realidade, a escrita o registro da oralidade.
A dimenso racional do homem no pode ser considerada como um simples
prolongamento da vida biolgica. Buscar a essncia do homem no implica que possamos
chegar a uma definio do mesmo, j que este se encontra entre dois mundos: o da natureza e
o do esprito. E o mundo do esprito que marcar a esfera do ser. O esprito encontra-se no
marco da esfera fundamental, aquela que funda e distingue o ser humano como tal e o
diferencia dos restantes dos animais. O esprito, dessa forma, a expresso de independncia
e grau absoluto do homem frente aos restantes dos seres vivos. O animal s pode mover-se no
esquema fechado do impulso biolgico do seu meio.
281
Embora refletindo especificamente sobre os africanos, sejam do continente ou da
dispora, o ncleo bsico do pensamento de Kabengele Munanga a pessoa. Para ele,
pertencer um dado fundamental da viso africana do mundo, a gente pertence, a gente no
vive isoladamente. Essa no objetivao da pessoa surge para fugir da coisificao que a
reduz num simples objeto. O dinamismo no supe anular ou diluir a verdade da realidade
pessoal. a partir deste ponto que compreendemos a viso afro da estrutura da realidade
humana: o devir da pessoa para ser a mesma; a presena do esprito enquanto vivncia da
pessoa no presente, j que este se constitui como a presena da eternidade no tempo; e a
presena do esprito como a autocompreenso da pessoa. Desta perspectiva, a pessoa
presena do esprito: presena do esprito a si mesma, atravs da reflexo; presena do esprito
aos outros, que amizade e amor; presena do esprito aos deuses, que a orao.
A encarnao compreendida na tenso da situao em que se desenvolve o
crescimento da pessoa no mundo. Nisso podemos perceber, em Munanga, uma certa dialtica
da pessoa. A tenso e a dialtica constituem os momentos bsicos do dinamismo da
personalizao. O homem considerado como a presena do esprito, afastando-se tanto do
objetivismo como do espiritualismo abstrato. O homem e o mundo esto permanentemente
dando de si e, nesse devir, inscreve-se o trabalho do homem, que h de se entender como
parte integrante da condio humana.
Estar no tempo no tem uma conotao necessariamente negativa, nem pressupe uma
viso maniquesta do dinamismo da personalizao. mais, um existe para o outro, o que
compreende-se que a dinmica da reciprocidade brota da natureza da pessoa. Na mtua posse
do ns surge a noo de dilogo.
O dilogo muito mais do que um mtodo ao servio do pensamento reflexivo.
Afastado da dinmica da luta pela apropriao do outro, o dilogo se desenvolve atravs de
outro esquema, do encontro interpessoal, onde ele se torna eminentemente criador. O dilogo,
portanto, s acontece na perspectiva da compreenso.
Esse reconhecimento caracteriza-se num prvio conhecimento do outro e num certo
tipo de crena do outro. O reconhecimento do outro leva impressa a crena bsica no outro.
Essa crena vai mais alm da simples constatao do que o outro diz. Trata-se de um duplo
movimento de conhecimento e de crena no dinamismo do reconhecimento do outro enquanto
outro diferente, original; aquilo que confere a dignidade da pessoa.
282
O valor que guia o desenvolvimento do dilogo o da busca da verdade, no
convencimento de que esta no patrimnio particular, mas um bem da humanidade. Neste
sentido, o homem de dilogo o que escuta mais do que fala. O problema do dilogo o
mesmo que o da palavra. Somente na relao dialogal da palavra se pode reconhecer o prprio
eu do homem como ser existente em sua dimenso interpessoal, j que, ao expressar-se por
meio da palavra, o homem sai de si, no para perder-se no tu, mas para se re-encontrar
plenificado na mesma palavra.
A abertura constitui-se, ento, na direo e na orientao neste processo de realizao
da pessoa. No conhecimento da ancestralidade, o homem v-se de braos com o problema das
representaes. A realidade do mundo como um complexo hierglifo que preciso decifrar
novamente, a cada momento. O homem, ao decifrar o mundo, coloca-se diante de enigmas
que so smbolos do mistrio. A dinamicidade do enigma do mundo a mesma de seu sentido
para o homem.
Em Munanga est presente um carter sagrado do pensamento, um holismo dinmico
que corresponde percepo temporal e viso cosmognica do mundo, bem como a um
registro tardio na forma escrita. O ente que o modo da existncia o homem. Somente o
homem existe. A frase: O homem existe significa: o homem aquele ente cujo ser
assinalado pela in-sistncia ex-sistente no desvelamento do ser a partir do ser e no ser.
Essa experincia exclusiva do homem e nos distingue radicalmente dos outros
animais. Acima do conhecimento e da inteligncia, as ancestralidades defendem a primazia
absoluta aos valores morais. Assim, uma das preocupaes centrais do pensamento de
Munanga a educao. O pensamento de Munanga leva-nos a transitar, de uma filosofia
eminentemente racionalista, interessada sobretudo pela relao do homem com as coisas, a
um pensamento que se interessa pela relao do homem com outras pessoas.
Da mesma forma, a partir da considerao global da pessoa e das implicaes do
corpo humano, as quais permitem a descoberta das riquezas dos aspectos corporais, Munanga
nos aponta as profundas implicaes do corporal e do espiritual: no posso pensar sem ser,
nem ser sem meu corpo; estou exposto por ele a mim mesmo, ao mundo, aos outros; por meio
dele, escapo da solido de um pensamento que no seria mais que pensamento de meu
pensamento.
283
Em Munanga, descobrimos que a filosofia no uma mera atividade da mente, mas
uma atividade da pessoa, e assim compreendemos que o conhecimento do homem e do mundo
tambm um meio de interao da pessoa com a realidade cultural e social. Portanto, dessa
perspectiva que Munanga procura apontar sadas para os problemas sociais, ticos, polticos
etc, problemas concretos que afligem a todos os homens, no apenas aos afrodescendentes, na
vida cotidiana.
284
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
285
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Kabengele Munanga:
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a Mestiagem no Brasil: Identidade Nacional versus
Identidade Negra. Belo Horizonte: Autntica, 2004 (1 ed. 1999).
______. Origens Africanas do Brasil Contemporneo: histrias, lnguas, culturas e civilizaes. So
Paulo: Global, 2009.
______. Negritude: usos e sentidos. So Paulo: tica, 1988.
______. Estratgias e Polticas de Combate Discriminao. So Paulo: EDUSP, 1996.
______. Os Basanga de Shaba (Zaire): Aspectos Scio-econmicos e Poltico-religiosos. 1977. 320 f.
Tese de Doutorado - Departamento de Cincias Sociais, da Faculdade de Filosofia, Letras e
Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, So Paulo, 1977.
______. Depoimento de Kabengele Munanga ao Museu da Pessoa. So Paulo: Casa das fricas,
2008a. Disponvel em:<
http://www.casadasafricas.org.br/site/index.php?id=banco_de_textos&sub=00&filtro=aut&busca
=Munanga%2C+Kabengele>. Acesso em: 03 de novembro de 2008a.
______. Entrevista Aberta concedida a Julvan Moreira de Oliveira. So Paulo, 2008b.
______.; GOMES, Nilma Lino. O Negro no Brasil de Hoje. So Paulo: Global, 2006.
______. ______. Para Entender o Negro no Brasil de Hoje: Histria, Realidades, Problemas e
Caminhos (livro do estudante). So Paulo: Global / Ao Educativa, 2004d.
______. ______. Para Entender o Negro no Brasil de Hoje: Histria, Realidades, Problemas e
Caminhos (livro de professores). So Paulo: Global / Ao Educativa, 2004e. 87 pp.
______.; SERRANO, Carlos. A Revolta dos Colonizados: o Processo de Descolonizao e as
Independncias da frica e da sia. So Paulo: Atual, 1995.
______. O Universo Cultural Africano, in Revista Fundao Joo Pinheiro, 14 (1-10). Belo
Horizonte: Fundao Joo Pinheiro, julho a outubro de 1984a.
______. Quadro Atual das Religies Africanas e Perspectivas de Mudana, in frica: Revista do
Centro de Estudos Africanos, n 8. So Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas
da Universidade de So Paulo, 1985, pp. 60-64.
______. A Criao Artstica Negro-africana: uma arte situada na fronteira entre a contemplao e a
utilidade prtica, in SOARES, A. frica Negra. So Paulo: Corrupio, 1988, pp. 7-9.
______. Aspectos do Casamento Africano, in Revista DDALO, n 23. So Paulo: Museu de
Arqueologia e Etnologia da Universidade de So Paulo, 1984b, pp. 163-170.
______. Fertilidade da Terra e Fecundidade da Mulher: smbolos e suportes materiais nas sociedades
negro-africanas, in DDALO Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, n 25. So
Paulo: MAE/USP, 1987, pp. 7-21.
______. Mestiagem e Experincias Interculturais no Brasil, in SCHWARCZ, L.; REIS, L. Negras
Imagens: ensaios sobre cultura e escravido no Brasil. So Paulo: EDUSP/Estao Cincia,
1996a, pp. 179-193.
______. Identidade, Cidadania e Democracia: algumas reflexes sobre os discursos anti-racistas no
Brasil, in RESGATE: Revista de Cultura, n 6. Campinas: Centro de Memria da Universidade
Estadual de Campinas, dezembro de 1996b, pp- 17-24.
286
______. Identidade tnica, Poder e Direitos Humanos, in Revista THOT, n 80. So Paulo: Palas
Athena, abril de 2004, pp. 19-29.
______. As Facetas de um Racismo Silenciado, in SCHWARC, L.; QUEIROZ, R. Raa e
Diversidade. So Paulo: EDUSP/Estao Cincia, 1996c, pp. 213-229.
______. Algumas Consideraes sobre Raa, Ao Afirmativa e Identidade Negra no Brasil:
Fundamentos Antropolgicos, in Revista USP, n 68. So Paulo: Coordenadoria de Comunicao
Social da Universidade de So Paulo, dezembro/fevereiro de 2005/2006, pp. 46-57.
______. Apresentao, in Superando o Racismo na Escola. Braslia: Ministrio da
Educao/Secretaria de Educao Fundamental, 2001, pp. 7-12.
______. Polticas de Ao Afirmativa em Benefcio da Populao Negra no Brasil: um ponto de vista
em defesa de cotas, in SILVA, Petronilha; SILVRIO, Valter (orgs.). Educao e Aes
Afirmativas: entre a injustia simblica e a injustia econmica. Braslia: Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira, 2003, pp. 115-128.
______. Racismo: da desigualdade intolerncia, in So Paulo em Perspectiva, Revista da Fundao
SEADE, vol. 4, n 2. So Paulo: Fundao SEADE, 1990, pp. 51-55.
______. frica e Imagens da frica, in Sankofa: revista de histria da frica e de estudos da dispora
africana, n 1. So Paulo: Geleds Instituto da Mulher Negra, junho de 2008, pp. 107-116.
disponvel em
http://www.geledes.org.br/attachments/1046_frica%20e%20Imagens%20de%20frica.pdf.
______. Racismo, Alteridade, Identidade, Cidadania e Democracia, in SANTOS, Juana Elbein dos
(org.). Democracia e Diversidade Humana: desafio contemporneo. Salvador: Ed. Sociedade de
Estudos da Cultura Negra no Brasil SECNEB, 1992, pp. 165-177.
______. Preconceitos de Cor: diversas formas, um mesmo objetivo, in Revista de Antropologia. So
Paulo: Departamento de Antropologia da USP, 1978, vol. 21, pp. 145-153.
______. Origem Histrica do Quilombo na frica, in Dossi Povo Negro 300 Anos. Revista USP, n
28. So Paulo: Coordenadoria de Comunicao Social/EDUSP, 1995.
______. O Trfico Negreiro, in RAMOS, talo (coord.). A Luta contra o Racismo na Rede Escolar.
So Paulo: FDE Grupo de Trabalho para Assuntos Afro-brasileiros, 1995, pp. 61-67.
______. O Preconceito Racial no Sistema Educativo Brasileiro e seu Impacto no Processo de
Aprendizagem do alunado negro, in AZEVEDO, Jos Clovis de. Utopia e Democracia na
Educao Cidad. Porto Alegre: ed. UFRGS/Secretaria Municipal de Educao, 2000, pp. 235-
244.
______. Negro, como ser?, in Revista de Cultura Vozes. Petrpolis: Vozes, n 75(6), agosto de 1981,
pp. 433-437.
______. Negritude Afro-brasileira: perspectivas e dificuldades, in Pad Revista do Centro de
Referncia Negromestia, n 1, Salvador, 1989, pp. 23-29.
______. Mestiagem: um problema para construo da identidade negra no Brasil, in Revista CCHLA,
nmero especial 300 anos sem Zumbi dos Palmares. Joo Pessoa: Universidade Federal da
Paraba, novembro de 1995, pp. 119-128.
______. Mestiagem e Identidade Afro-brasileira, in Cadernos PENEB (Programa de Educao sobre
o Negro na Sociedade Brasileira). Niteri: Universidade Federal Fluminense/Centro de Estudos
Sociais Aplicada da Faculdade de Educao da UFF, n 1, 1999, pp. 9-20.
______. Mestiagem, Identidade Afro-brasileira, in OLIVEIRA, Iolanda de (coord.). Relaes Raciais
e Educao: alguns determinantes. Niteri: Intertexto, 1999.
______. Mestiagem e Experincias Inter-culturais no Brasil, in NEVES, Fernando Santos. A
Globalizao Societal Contempornea e o Espao Lusfono: mitideologias, realidades e
potencialidades. Lisboa: Ed. Universitrias Lusfonas, 2000, pp. 225-241.
287
______. Identidade, Cidadania e Democracia: algumas reflexes sobre os discursos anti-racistas no
Brasil, in SPINK, Mary Jane Paris (org.). A Cidadania em Construo: uma reflexo
transdisciplinar. So Paulo: Cortez, 1994, pp. 177-188.
______. Identidade, Cidadania e Democracia: algumas reflexes sobre os discursos anti-racistas no
Brasil, in QUINTAS, Ftima (org.). O Negro: identidade e cidadania. Anais do IV Congresso
Afro-brasileiro abril de 1994. Recife: Fundao Joaquim Nabuco, 1995, pp. 66-75.
Bibliografia:
ABBAGNANO, Nicola. Introduo ao Existencialismo. So Paulo: Martins Fontes, 2006.
______. Dicionrio de Filosofia, 5 ed.. So Paulo: Martins Fontes, 2007.
ADINOLFI, Maria Paula Fernandes. A frica aqui: representaes da frica em experincias
educacionais contra-hegemnicas na Bahia. 268 f. Dissertao de Mestrado Programa de Ps-
graduao em Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da
Universidade de So Paulo, So Paulo, 2004.
ANDREWS, George Reid. Democracia Racial Brasileira, 1900-1990: um Contraponto Americano, in
Revista de Estudos Avanados, n. 30, So Paulo: Universidade de So Paulo. 2003, pp. 95-115.
ANTONIL, Andr Joo. Cultura e Opulncia do Brasil por suas Drogas e Minas. So Paulo: EDUSP,
1982.
APPIAH, Kwame Anthony. Na Casa de Meu Pai: a frica na Filosofia da Cultura. Rio de Janeiro:
Contraponto, 1997.
______. Introduo Filosofia Contempornea. Petrpolis: Vozes, 2006.
ARAJO, Alberto Filipe. O Homem Novo no Discurso Pedaggico de Joo de Barros: ensaio de
Mitanlise e de Mitocrtica em Educao. Braga: Universidade do Minho, 1997.
______. Estar o Discurso Pedaggico Receptivo Mitanlise?, in SANCHEZ TEIXEIRA, Maria
Ceclia & PORTO, Maria do Rosrio Silveira. Imaginrio, Cultura e Educao. So Paulo:
Pliade, 1999, pp. 29-71.
______. & ARAJO, Joaquim Machado. Figuras do Imaginrio Educacional: para um Novo Esprito
Pedaggico. Lisboa: Instituto Piaget, 2005.
______. & BAPTISTA, Fernando Paulo (coords.). Variaes sobre o Imaginrio: Domnios,
Teorizaes, Prticas Hermenuticas. Lisboa: Instituto Piaget, 2003.
______. & DIAS, Jos Ribeiro (coords.). Educao e Utopia. Braga: Universidade do Minho, 1995.
______. & SILVA, Armando Malheiro da. Mitanlise e Interdisciplinaridade: subsdios para uma
Hermenutica em Educao e em Cincias Sociais. Braga: Universidade de Minho, 1997.
______. & ______. Mitanlise: uma Mitodologia do Imaginrio?, in ARAJO, Alberto Filipe &
BAPTISTA, Fernando Paulo (coords.). Variaes sobre o Imaginrio: Domnios, Teorizaes,
Prticas Hermenuticas. Lisboa: Instituto Piaget, 2003, pp.
______. & WUNENBURGER, Jean-Jacques. Introduo ao Imaginrio, in ARAJO, Alberto Filipe
& BAPTISTA, Fernando Paulo (coords.). Variaes sobre o Imaginrio: Domnios, Teorizaes,
Prticas Hermenuticas. Lisboa: Instituto Piaget, 2003, pp. 23-44.
______. & ______. Educao e Imaginrio: introduo a uma Filosofia do Imaginrio Educacional.
So Paulo: Cortez, 2006.
ARAJO, Mrcia; SILVA, Geraldo da. Da Interdio Escolar s Aes Educacionais de Sucesso:
escolas dos movimento negros, escolas profissionais, tcnicas e tecnolgicas, in ROMO, Jeruse
(org.). Histria do Negro e Outras Histrias. Braslia: Secretaria de Educao Continuada,
Alfabetizao e Diversidade Ministrio da Educao, 2005, pp. 65-78.
288
ARAJO, Rosangela Costa. I, Viva meu Mestre: a capoeira Angola da escola pastiniana como
prxis educativa. 189f. Tese de Doutorado Faculdade de Educao da Universidade de So
Paulo, So Paulo, 2004.
______. Sou Discpulo que Aprende, meu Mestre me Deu Lio: Tradio e Educao entre
Angoleiros Bahianos (Anos 80 e 90). 169f. Dissertao de Mestrado Faculdade de Educao da
Universidade de So Paulo, So Paulo, 2003.
ARISTTELES. Metafsica. So Paulo: Loyola, 2002.
ASSIS, Joaquim Maria Machado de. A Nova Gerao, in Critica Literria. Rio de Janeiro: W M
Jackson editores, 1946.
AUGRAS, Monique. O Duplo e a Metamorfose: a Identidade Mtica em Comunidades Nag.
Petrpolis: Vozes, 1995.
______. Quizilas e Preceitos: Transgresso, Reparao e Organizao Dinmica do Mundo, in
MOURA, Carlos Eugnio Marcondes de. Candombl: Desvendando Identidades. So Paulo:
EMW, 1987.
B, Amadou Hampt. Amkoullel: o Menino Fula. So Paulo: Palas Athena / Casa das fricas, 2003.
______. A Tradio Viva, in KI-ZERBO, Joseph. Histria Geral da frica I. So Paulo: tica, 1982.
______. Confrontaes Culturais: entrevista concedida a Philippe Decraene, in THOT, n 80. So
Paulo: Palas Athena, abril de 2004, pp. 03-12.
BACHELARD, Gaston. O Novo Esprito Cientfico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2000.
______. .A gua e os Sonhos: Ensaio sobre a Imaginao da Matria. So Paulo: Martins Fontes,
1989.
______. A Terra e os Devaneios da Vontade. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
______. A Terra e os Devaneios do Repouso. So Paulo: Martins Fontes, 1990a.
______. A Psicanlise do Fogo. So Paulo: Martins Fontes, 1994.
______. O Ar e os Sonhos. So Paulo: Martins Fontes, 1990b.
______. A Potica do Devaneio. So Paulo: Martins Fontes, 1988.
______. A Potica do Espao. So Paulo: Martins Fontes, 1987.
BADIA, Denis Domeneghetti. Imaginrio e Ao Cultural: as Contribuies de Gilbert Durand e da
Escola de Grenoble. Londrina: EdUEL, 1999.
BANDEIRA, Maria de Lourdes. Territrio Negro em Espao Branco. So Paulo: Brasiliense, 1998.
______. Cultura e Rituais em Educao. In PORTO, Maria do Rosrio, TEIXEIRA, Maria Ceclia
Sanchez, SANTOS, Marcos Ferreira & BANDEIRA, Maria de Lourdes (orgs.). Tessituras do
Imaginrio: Cultura e Educao. Cuiab: EDUNIC/CICE/FEUSP, 2000, pp. 143-158.
BARBOSA, Mrcio. Frente Negra Brasileira: depoimentos. So Paulo: Quilombhoje, 1998.
BARCELLOS, Mario Csar. Os Orixs e a Personalidade Humana: quem somos? como somos? Rio
de Janeiro: Pallas, 2002.
BARROS, Joo de Deus Vieira. Regimes de Imagens em Casa Grande & Senzala: um estudo do
imaginrio em Gilberto Freyre. Tese de Doutorado. Faculdade de Educao da Universidade de
So Paulo, 1996.
BARTHES, Roland. Mitologias. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
BASTIDE, Roger. O Candombl da Bahia: Rito Nag. So Paulo: Brasiliense, 2001.
______. As Religies Africanas no Brasil: Contribuio a uma Sociologia das Interpretaes de
Civilizaes. So Paulo, EDUSP, 1971.
289
______. As Amricas Negras. So Paulo: Difel, 1974.
______. Estudos Afro-Brasileiros. So Paulo: Perspectiva, 1983.
BENCI, Jorge. Economia Crist dos Senhores no Governo dos Escravos. So Paulo: Grijalbo, 1977.
BERGSON, Henri. As Duas Fontes da Moral e da Religio. Coimbra: Almedina, 2003.
______. A Evoluo Criadora. So Paulo: Martins Fontes, 2005.
BLANC, Mafalda de Faria. Introduo Ontologia. Lisboa: Instituto Piaget, s/d.
BOECHAT, Walter. A Mitopoese da Psique: mito e individuao. Petrpolis: Vozes, 2008.
BOFF, Leonardo. O Despertar da guia: o dia-blico e o sim-blico na construo da realidade.
Petrpolis: Vozes, 1998.
BOTELHO, Denise Maria. Educao e Orix: processos educativos no Il Ax Iya Mi Agba. 118f.
Tese de Doutorado Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo, So Paulo, 2005.
BRANDO, Junito. Mitologia Grega, vol. 1. Petrpolis: Vozes, 1986.
______. Mitologia Grega, vol. 2. Petrpolis: Vozes, 1987a.
______. Mitologia Grega, vol. 1. Petrpolis: Vozes, 1987b.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educao das Relaes tnico-Raciais e para o
Ensino e Histria e Cultura Afro-brasileira e Africana. Braslia: Ministrio da Educao /
Secretaria Especial de Polticas de Promoo da Igualdade Racial / Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira, 2004.
______. Parmetros Curriculares Nacionais: pluralidade cultural, orientao sexual, vol. 10.
Braslia: Ministrio da Educao / Secretaria de Educao Fundamental, 1997.
CAMPBELL, Joseph. As Mscaras de Deus: Mitologia Primitiva. So Paulo: Palas Athena, 1992.
______. As Mscaras de Deus: Mitologia Oriental. So Paulo: Palas Athena, 1994.
______. As Mscaras de Deus: Mitologia Ocidental. So Paulo: Palas Athena, 2004.
______. O Heri de Mil Faces. So Paulo: Pensamento, 1995.
______. O Poder do Mito. So Paulo: Palas Athena, 1990.
CANDAU, Vera Maria (org.). Sociedade, Educao e Culturas. Petrpolis: Vozes, 2002.
CARNEIRO, Aparecida Sueli. A construo do outro no-ser como fundamento do ser. 340f. Tese de
Doutorado Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo, So Paulo, 2005.
CARVALHO, Jos Alberto de; WOOD, Charles. A Demografia da Desigualdade no Brasil, IPEA, in
Folha de So Paulo, Caderno Cotidiano (3), 08 de abril de 1995, p. 5.
CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o Homem: Introduo a uma Filosofia da Cultura Humana. So
Paulo: Martins Fontes, 1994.
______. Substance et Fonction: lments pour une thorie du concept. Paris: Minuit, 1977.
______. A Filosofia das Formas Simblicas: o Pensamento Mtico, vol. 2. So Paulo: Martins Fontes,
2004.
______. A Filosofia das Formas Simblicas: a Linguagem, vol. 1. So Paulo: Martins Fontes, 2001.
______. Linguagem e Mito. So Paulo: Perspectiva, 2006.
______. Antropologia Filosfica. So Paulo: Mestre Jou, 1977.
CAVALCANTE, Celso Uchoa (org.). Abdias do Nascimento: memrias do exlio. So Paulo:
Livramento, 1976.
290
CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Veredas das noites sem fim: um estudo com famlias negras de
baixa renda sobre o processo de socializao e a construo do pertencimento racial. 315f. Tese
de Doutorado Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo, So Paulo, 2003.
CEERT. Polticas de Promoo da Igualdade Racial na Educao: Exercitando a Definio de
Contedos e Metodologias. So Paulo: Ceert Centro de Estudos das Relaes de Trabalho e
Desigualdades, 2005.
CONSORTE. Josildeth Gomes. A Questo do Negro: velhos e novos desafios, in So Paulo em
Perspectiva, vol. 5, n 1. So Paulo, 1991, pp. 85-92.
CRUZ, Marilia dos Santos. Uma Abordagem sobre a Histria da Educao dos Negros, in ROMO,
Jeruse (org.). Histria do Negro e Outras Histrias. Braslia: Secretaria de Educao Continuada,
Alfabetizao e Diversidade Ministrio da Educao, 2005, pp. 21-33.
CUNHA Jr, Henrique. Educao, afrodescendente em mestrados e doutorados: alguns comentrios e
uma tentativa bibliogrfica. Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste. Salvador: Bahia,
UFBa. 1999.
______; LUIZ, Maria do Carmo; SALVADOR, Maria Nazar. A Criana (Negra) e a Educao, in
Cadernos de Pesquisa. So Paulo: Fundao Carlos Chagas, 1979, pp. 69-72. Disponvel em:<
http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/506.pdf>.
DAMSIO, Antnio R. O Erro de Descartes: emoo, razo e o crebro humano. So Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
DESCARTES. Meditaes Metafsicas. So Paulo: Martins Fontes, 2005.
DURAND, Gilbert. As Estruturas Antropolgicas do Imaginrio: Introduo Arquetipologia Geral.
So Paulo: Martins Fontes, 1997.
______. Cincia do Homem e Tradio: o novo esprito antropolgico. So Paulo: Triom, 2008.
______. A Imaginao Simblica. Lisboa: Edies 70, 2000.
______. O Imaginrio: ensaio acerca das Cincias e da Filosofia da Imagem. Rio de Janeiro: Difel,
2004.
______. Campos do Imaginrio. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.
______. De La Mitocrtica al Mitoanlisis: Figuras Mticas y Aspectos de la Obra. Barcelona:
Anthropos, 1993.
______. Mito, Smbolo e Mitodologia. Lisboa: Editorial Presena, 1982.
______. Mito e Sociedade: a Mitanlise e a Sociologia das Profundezas. Lisboa: A Regra do Jogo,
1983.
______. Vacance Brsilienne de Saint Antoine Ermite, in DURAND, Gilbert & SUN, Chaoying.
Mythe, Thme et Variations. Paris: Descle de Brouwer, 2000, pp. 203-271.
ECO, Umberto. O Nome da Rosa. Crculo do Livro. So Paulo: Nova Fronteira, 1983.
ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. So Paulo: Perspectiva, 1998.
______. Imagens e Smbolos: ensaios sobre o simbolismo mgico-religioso. So Paulo: Martins
Fontes, 1996.
______. O Sagrado e o Profano: a essncia das religies. So Paulo: Martins Fontes, 1993.
ESPIN, Orlando. Iroko e Ar-Kol: comentrio exegtico a um mito ioruba-lucum, in Revista
Perspectiva Teolgica, ano XVIII, n 44. Belo Horizonte: Centro de Estudos Superiores da
Companhia de Jesus, janeiro/abril de 1986, pp. 29-61.
FEYERABEND, Paul. Contra o Mtodo. So Paulo: edUNESP, 2007.
291
FERNANDES, Florestan. A Integrao do Negro na Sociedade de Classes, 2 vols. So Paulo: tica,
1978.
FERREIRA SANTOS, Marcos. Crepusculrio: conferncias sobre mitohermenutica & educao em
Euskadi. So Paulo: Zouk, 2005.
______. O Espao Crepuscular: mitohermenutica e jornada interpretativa em cidades histricas, in
PITTA, D. (org.). Ritmos do Imaginrio. Recife: ed.UFPE, 2005, pp. 59-99.
FTIZON, Beatriz Alexandrina de Moura. Sombra e Luz: o tempo habitado. So Paulo: Zouk, 2002.
FONSECA. Marcos Vinicius. Pretos, pardos, crioulos e cabras nas escolas mineiras do sculo
XIX. 01 de agosto de 2007.
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala: formao da famlia brasileira sob o regime da
economia patriarcal. 49a ed. So Paulo: Global, 2004.
FROBENIUS, Leo & FOX, Douglas. A Gnese Africana: contos, mitos e lendas da frica. So Paulo:
Landy, 2005.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Mtodo: traos fundamentais de uma hermenutica filosfica,
vol. 1. Petrpolis: Vozes, 2003.
______. Verdade e Mtodo II: complementos e ndice, vol. 2. Petrpolis: Vozes, 2002.
GARAGALZA, Lus. A Hermenutica Filosfica e a Linguagem Simblica, in ARAJO, Alberto
Filipe & BAPTISTA, Fernando Paulo (coords.). Variaes sobre o Imaginrio: Domnios,
Teorizaes, Prticas Hermenuticas. Lisboa: Instituto Piaget, 2003, pp. 71-92.
GONALVES, Luciane Ribeiro Dias. A Questo do Negro e Polticas Pblicas de Educao
Multicultural: avanos e limitaes no mbito escolar. 133f. Dissertao de Mestrado
Faculdade de Educao da Universidade Federal de Uberlndia, Uberlndia, 2004.
GONALVES, Luiz A. de O De preto a afro-descendente: da cor da pele a categoria cientfica. In:
BARBOSA, Lcia Maria de Assuno (orgs.). De preto a Afro-descendente: trajetos de pesquisa
sobre negro, cultura negra e relaes tnico-raciais no Brasil. So Carlos: EdUFSCAR,
2003.p.15-24.
GOMES, Nilma Lino. Corpo e Cabelo como cones de Construo da Beleza e da Identidade Negra
nos Sales tnicos de Belo Horizonte. 449f. Tese de Doutorado Faculdade de Filosofia, Letras e
Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, So Paulo, 2002.
______. Sem Perder a Raiz: corpo e cabelo como smbolos da identidade negra. Belo Horizonte:
Autntica, 2006.
______. Um Olhar Alm das Fronteiras: educao e relaes raciais. Belo Horizonte: Autntica,
2008.
______; AMANCIO, I.; JORGE, M. Literaturas Africanas e Afro-brasileira na Prtica Pedaggica.
Belo Horizonte: Autntica, 2008.
GUIMARAES, Antonio Srgio Alfredo. Como Trabalhar com Raa em Sociologia, in Educao e
Pesquisa, vol. 29, n. 1. So Paulo: Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo, 2003.
HADDAD, Srgio. Apresentao do livro Racismo no Brasil. In: ABONG. Racismo no Brasil. So
Paulo. 2002.
HASENBALG, Carlos Alfredo. Discriminao e Desigualdades Raciais no Brasil. Rio de Janeiro:
Graal, 1979.
HEIDEGGER. O Retorno ao Fundamento da Metafsica, in Heidegger, col. Os Pensadores. So Paulo:
Nova Cultural, 1996.
HERSKOVITS, Melville Jean. Antropologia Cultural, vol. 1. So Paulo: Mestre Jou, 1973.
292
HILLMAN, James. Encarando os Deuses. So Paulo: Cultrix, 1992.
______. Pais e Mes. So Paulo: Smbolo, 1979.
______; KERNYI, K. dipo e Variaes. Petrpolis: Vozes, 1991.
HOLLIS, James. Rastreando os Deuses. So Paulo: Paulus, 1998.
______. Mitologemas: encarnaes do mundo. So Paulo: Paulus, 2005.
HUME. Investigao sobre o entendimento humano. So Paulo: Escala, 2007.
IBGE. Dados da Realidade Brasileira: indicadores sociais. Petrpolis: Vozes, 1982.
JUNG, Carl Gustav. O Eu e o Inconsciente. Petrpolis: Vozes, 1987.
______. A Natureza da Psique. Petrpolis: Vozes, 1990.
______. A Energia Psquica. Petrpolis: Vozes, 1992.
______. Memrias, Sonhos, Reflexes. So Paulo: Nova Fronteira, 1961.
______. Tipos Psicolgicos. Petrpolis: Vozes, 1971.
KANT. Crtica da Razo Pura. So Paulo: Martin Claret, 2001.
LAPLANTINE, Franois. Aprender Antropologia. So Paulo: Brasiliense, 2007.
LEITE, Fbio Rubens Rocha. A Questo Ancestral: Notas sobre Ancestrais e Instituies Ancestrais
em Sociedades Africanas: ioruba, agni e senufo. Tese de Doutorado em Sociologia Faculdade
de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, 1982.
______. A Questo da Palavra em Sociedades Negro-africanas, in THOT, n 80. So Paulo: Palas
Athena, abril de 2004, pp. 35-41.
LPINE, Claude. Os Esteretipos da Personalidade no Candombl Nag, in MOURA, Carlos Eugnio
Marcondes de. Candombl: Religio do Corpo e da Alma: Tipos Psicolgicos nas Religies Afro-
brasileiras. Rio de Janeiro: Pallas, 2000, pp. 139-163.
LVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trpicos. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
LOPES, Nei. Kitbu: o livro do saber e do esprito negro-africanos. Rio de Janeiro: EdSenac, 2005.
______. Bantos, Mals e Identidade Negra. Belo Horizonte: Autntica, 2006.
______. O Racismo Explicado aos meus Filhos. So Paulo: Agir, 2007.
MACEDO. Mrcio Jos de. Abdias do Nascimento: a trajetria de um negro revoltado (1914-1968).
284 f. Dissertao em Sociologia Programa de Ps-graduao da Faculdade de Filosofia, Letras
e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, So Paulo, 2005.
______; GUIMARES, Antonio Srgio. Dirio Trabalhista e Democracia Racial dos anos 1940, in
Dados: Revista de Cincias Sociais, vol. 51, n 1. Instituto Universitrio de Pesquisas do Rio de
Janeiro, 2008, pp. 143-182.
MAIO, Marcos Chor. Uma Polmica Esquecida: Costa Pinto, Guerreiro Ramos e o Tema das Relaes
Raciais, in Dados: Revista de Cincias Sociais. v. 40, n. 1. 1IUPERJ Instituto Universitrio de
Pesquisas do Rio de Janeiro. 1997, disponvel em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52581997000100006&lng=pt&nrm=iso>.
MARINOFF, Lou. Mais Plato Menos Prozac: a filosofia aplicada ao cotidiano. So Paulo: Record,
2001.
MARINHO, Roberval & MARTINS, Clo. Iroco: o orix da rvore e a rvore orix. Rio de Janeiro:
Pallas, 2002.
MARQUES, Eugnia Portela de Siqueira. A Pluralidade Cultural e a Proposta Pedaggica na
Escola: um estudo comparativo entre as propostas pedaggicas de uma escola de periferia e uma
293
escola de remanescentes de quilombos. 171f. Dissertao de Mestrado Faculdade de Educao
da Universidade Catlica Dom Bosco, Campo Grande, 2004.
MAURON, Charles. Ds Mtaphores Obsdantes au Mythe Personnel: introduction la
psychocritique. 8 tirage. Paris: Libraire Jos Corti, 1988.
MELLONI, Rosa Maria. Temtica da Antropologia Filosfica e da Antropologia Cultural. So Paulo:
Pliade, 1998.
MIRANDA, Claudia. Narrativas Subalternas e Polticas de Branquidade: o deslocamento de
afrodescendentes como processo subversivo e as estratgias de negociao na Academia. 200f.
Tese de Doutorado Faculdade de Educao da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2006.
MISKOLCI, Richard. Machado de Assis, ou outsider estabelecido, in Sociologias - Revista do
Programa de Ps-graduao em Sociologia da UFRGS. n. 15, 2008, pp. 352-377.
MOEHLECKE, Sabrina. Fronteiras da Igualdade no Ensino Superior: Excelncia & Justia Racial.
181f. Tese de Doutorado Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo, So Paulo,
2004.
______. Propostas de Aes Afirmativas no Brasil: o acesso da populao negra ao ensino superior.
120f. Dissertao de Mestrado Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo, So
Paulo, 2000.
MONDIN, Battista. Curso de Filosofia: os filsofos do ocidente, vol. 3. 9 ed. So Paulo:
Paulus, 2005.
MORIN, Edgar. Cincia com Conscincia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
______. O Mtodo 1. A Natureza da Natureza. Porto Alegre: Sulina, 2002.
______. O Mtodo 4. As Idias: Habitat, Vida, Costumes, Organizao. Porto Alegre: Sulina, 1998.
______. O Mtodo 5. A Humanidade da Humanidade. Porto Alegre: Sulina, 2003.
______. O Paradigma Perdido: a Natureza Humana. Lisboa: Publicaes Europa-Amrica, 1988.
MOURA, Carlos Eugnio Marcondes de. As Senhoras do Pssaro da Noite: Escritos sobre a Religio
dos Orixs V. So Paulo: EDUSP, 1994.
MOURA, Clvis. Histria do Negro Brasileiro. So Paulo: tica, 1989.
MOURA, Glria. Aprendizado nas Comunidades Quilombolas: currculo invisvel, in BRAGA;
SOUZA, PINTO (orgs.). Dimenses da Incluso no Ensino Mdio: mercado de trabalho,
religiosidade e educao quilombola. Braslia: Ministrio da Educao / Secretaria de Educao
Continuada, Alfabetizao e Diversidade, 2006, pp. 259-270.
MLLER, Maria Lcia Rodrigues. A Cor da Escola: Imagens da Primeira Repblica. Cuiab:
Ed.UFMT, 2008.
______. Professoras Negras no Rio de Janeiro: histria de um branqueamento, in OLIVEIRA, Iolanda
(org.). Relaes Raciais e Educao: novos desafios. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
NASCIMENTO, Abdias do (org.). O Negro Revoltado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
______. Revista do Instituto de Estudos Avanados da Universidade de So Paulo. vol.18, n.50, So
Paulo Jan./Apr. 2004.
NUNES, Georgina Helena Lima. Educao Formal e Informal: o dilogo pedaggico necessrio em
Comunidades Remanescentes de Quilombos, in BRAGA; SOUZA, PINTO (orgs.). Dimenses da
Incluso no Ensino Mdio: mercado de trabalho, religiosidade e educao quilombola. Braslia:
Ministrio da Educao / Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao e Diversidade, 2006,
pp. 259-270.
294
OLIVEIRA VIANNA, Francisco Jos de. Evoluo do Povo Brasileiro. 4 ed. So Paulo: Jos
Olympio, 1956.
______. Populaes Meridionais do Brasil. Niteri: edUFF, 1987.
OLIVEIRA, Julvan Moreira de. Descendo Manso dos Mortos... O Mal nas Mitologias Religiosas
como Matriz Imaginria e Arquetipal do Preconceito, da Discriminao e do Racismo em
Relao Cor Negra. 11 de maio de 2000. 261 f. Dissertao de Mestrado Faculdade de
Educao, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2000.
______. Matrizes Religiosas Afro-brasileiras e Educao, in BRAGA, M.; SOUZA, E.; PINTO, A.
(orgs.). Dimenses da Incluso no Ensino Mdio: mercado de trabalho, religiosidade e educao
quilombola. Braslia: Ministrio da Educao Secretaria de Educao Continuada,
Alfabetizao e Diversidade, 2006, pp. 203-235. Disponvel em: <
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001463/146328por.pdf>.
______. Uma Leitura do Racismo a partir das Narrativas Bblicas, in PORTO, M.; CATANI, A.;
PRUDENTE, C. (orgs.). Negro, Educao e Multiculturalismo. So Paulo: Panomara, 2002, pp.
61-73.
______. Matrizes Imaginrias e Arquetipais do Negro como Mal no Pensamento Educacional do
Ocidente, 26 Reunio Anual da ANPED. Novo Governo. Novas Polticas? Rio de Janeiro:
ANPED (Associao Nacional de Ps-graduao e Pesquisa em Educao), 2009. Disponvel em:
< http://www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos/julvanmoreiradeoliveira.rtf>.
______. Educao e Africanidades: contribuies do pensamento de Kabengele Munanga, in 32
Reunio Anual da ANPED. Sociedade, Cultura e Educao: novas regulaes? Rio de Janeiro:
ANPED (Associao Nacional de Ps-graduao e Pesquisa em Educao), 2009. Disponvel em:
< http://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/trabalhos/GT21-5390--Int.pdf>.
OMIDIRE, Felix Ayoh. kgbdn: abc da lngua, cultura e civilizao iorubanas. Salvador:
EdUFBA/CEAO, 2004.
OTTO, Rudolf. O Sagrado: o Racional e o Irracional na Idia de Deus. Lisboa: Edies 70, 1992.
PAULA CARVALHO, Jos Carlos de. Antropologia das Organizaes e Educao: Um Ensaio
Holonmico. Rio de Janeiro: Imago, 1990.
______. Etnocentrismo: Inconsciente, Imaginrio e Preconceito no Universo das Organizaes
Educativas, in Interface: Comunicao, Sade, Educao.vol. 1, n. 1. Botucatu: Fundao UNI /
UNESP, jan / mar de 1994, pp. 181-185. Disponvel em:
http://www.interface.org.br/revista1/debates2.pdf.
______. Imaginrio e Mitodologia: Hermenutica dos Smbolos e Estrias da Vida. Londrina:
EdUEL, 1998.
______. Mitocrtica e Arte: Trajetos a uma Potica do Imaginrio. Londrina: EdUEL, 1999.
______. Cultura da Alma e Mitanlise: Imaginrio, Poesia e Msica. Londrina: EdUEL, 2000.
______. Paradigma do Imaginrio e Educao Ftica: Contribuies Filosficas e Antropolgicas, in
SANCHEZ TEIXEIRA; PORTO; MELONI. Imagens da Cultura: Um Outro Olhar. So Paulo:
Pliade, 1999b, pp. 33-43.
______. Derivas e Perspectivas em torno de uma Scio-Antropologia do Cotidiano, in Revista da
Faculdade de Educao da USP, 12 (1/2). So Paulo: Faculdade de Educao da Universidade de
So Paulo. 1986, pp. 85-105.
______ et alii. Imaginrio e Iderio Pedaggico: um Estudo Mitocrtico e Mitanaltico do Projeto de
Formao do Pedagogo na FEUSP. So Paulo: Pliade, 1998.
______. & BADIA, Denis Domeneghetti. Mitocrtica e Educao Ftica em L Martyre de Saint
Sbastien de dAnnunzio e Debussy, in PITTA, Danielle Perin Rocha (org.). Ritmos do
Imaginrio. Recife: EdUFPe, 2005, pp. 23-57.
295
PALMA, Kiusam Regina de Oliveira. Candombl de Ketu e Educao: estratgias para o
empoderamento da mulher negra. 100f. Tese de Doutorado Faculdade de Filosofia, Letras e
Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, So Paulo, 2008.
PEREIRA, Jos Galdino. Os Negros e a Construo da sua Cidadania: estudo do Colgio So
Benedito e da Federao Paulista dos Homens de Cor (1896 a 1915). 102f. Dissertao de
Mestrado Faculdade de Educao da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001.
PEREZ, Carolina dos Santos Bezerra. Juventude, msica e ancestralidade no jongo: som e sentidos no
processo identitrio. 196f. Dissertao de Mestrado Faculdade de Educao da Universidade de
So Paulo, So Paulo, 2005.
PINTO, Cli Regina Jardim. A Democracia Desafiada: Presena dos Direitos Multiculturais, in
Revista USP / Ps-modernidade e Multiculturalismo, n 42. So Paulo: USP / Coordenadoria de
Comunicao Social, junho-agosto de 1999, 55-69.
PIERSON, Donald. Brancos e Pretos na Bahia: estudo de contato racial. So Paulo: Companhia
Editora Nacional, 1971.
PINTO, Luiz Aguiar Costa. O Negro no Rio de Janeiro: relaes de raa numa sociedade em
mudana, 1 ed.. So Paulo: Companhia Editora Nacional, 1953.
PINTO, Regina Pahim. A educao do negro: uma reviso bibliogrfica. Cadernos de Pesquisas, n.
62. So Paulo, 1987, pp. 3-34.
______. Raa e educao: uma articulao incipiente. Cadernos de Pesquisas, n. 80. So Paulo, 1992,
pp. 41-50.
PLATO. Fdro. So Paulo: Martin Claret, 2001.
______. A Repblica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixs. So Paulo: Companhia das Letras, 2001.
______. Os Candombls de So Paulo. So Paulo: EDUSP, 1991.
PRIORE, Mary Del. Ancestrais. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
RAMOS, Arthur. O Negro Brasileiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Graphia, 2003.
______. Introduo Antropologia Brasileira: as Culturas No Europias. Rio de Janeiro: Casa do
Estudante do Brasil, 1961.
______. As Culturas Negras no Novo Mundo. So Paulo: Companhia Editora Nacional, 1946.
RAMOS, Guerreiro. Introduo Crtica Sociologia Brasileira. 2 ed. Rio de Janeiro: edUFRJ, 1995.
RIBEIRO, Cristiane Maria. As Pesquisas Sobre Negro e Educao: uma anlise de suas concepes e
propostas. 247f. Tese de Doutorado - Faculdade de Educao da Universidade Federal de So
Carlos, So Carlos, 2005.
RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a evoluo e o sentido do Brasil. So Paulo: Companhia das
Letras, 1995.
RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretao: o discurso e o excesso de significao. Lisboa: edies 70,
1997.
______. Interpretao e Ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990.
______. Ideologia e Utopia. Lisboa: edies 70, 1986.
ROCHA, Jos Geraldo. Teologia e Negritude: um estudo sobre os Agentes de Pastoral Negros. Tese
de Doutorado em Teologia Programa de Ps-graduao em Teologia da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997.
RODRIGUES, Raimundo Nina. Os Africanos no Brasil. So Paulo: Companhia Editora Nacional,
1977.
296
ROMO, Jeruse (org.). Histria do Negro e Outras Histrias. Braslia: Secretaria de Educao
Continuada, Alfabetizao e Diversidade Ministrio da Educao, 2005.
ROMERO, Silvio. Compndio de Histria da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 2001.
RUIZ, Castor Bartolom. Os Paradoxos do Imaginrio. So Leopoldo: Unisinos, 2004.
______. As Encruzilhadas do Humanismo: a subjetividade e a alteridade ante os dilemas do poder
tico. Petrpolis: Vozes, 2006.
SLM, Sikiru. Poemas de If e Valores de Conduta entre os Yoruba da Nigria (frica do Oeste).
18 de outubro de 1999. 375 f. Tese de Doutorado em Sociologia Faculdade de Filosofia, Letras
e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, So Paulo, 1999.
______. Ogun e a Palavra da Dor e do Jbilo entre os Yoruba. 12 de abril de 1993. 263 f. Dissertao
de Mestrado em Sociologia Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da Universidade
de So Paulo, So Paulo, 1993.
______. A Mitologia dos Orixs Africanos: Coletnea de dr (rezas), Ib (saudaes), Ork
(evocaes) e Orn (cantigas) usados nos cultos aos Orixs na frica, vol 1. So Paulo:
Oduduwa, 1990.
SANCHEZ TEIXEIRA, Maria Ceclia. Antropologia, Cotidiano e Educao. Rio de Janeiro: Imago,
1990.
______. Discurso Pedaggico, Mito e Ideologia: O Imaginrio de Paulo Freire e de Ansio Teixeira.
Rio de Janeiro: Quartet, 2000.
______. A Pesquisa sobre Imaginrio no Brasil: Percursos e Percalos, in PITTA, Danielle Perin
Rocha (org.). Ritmos do Imaginrio. Recife: EdUFPe, 2005, pp. 109-123.
______. Imaginrio e Memria Docente: o Mestre e a Pedagogia do Mistrio a trajetria de
Beatriz Ftizon, in ARAJO, Alberto Filipe & BAPTISTA, Fernando Paulo (coords.). Variaes
sobre o Imaginrio: Domnios, Teorizaes, Prticas Hermenuticas. Lisboa: Instituto Piaget,
2003, pp.
______. Imaginrio e Cultura: a Organizao do Real, in SANCHEZ TEIXEIRA, Maria Ceclia &
PORTO, Maria do Rosrio Silveira. Imaginrio, Cultura e Educao. So Paulo: Pliade, 1999,
pp. 13-27.
SANTOS, Erisvaldo Pereira dos. Religiosidade, Identidade Negra e Educao: o processo de
construo da subjetividade de adolescentes dos Arturos. 207f. Dissertao de Mestrado
Faculdade de Educao da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1997.
SANTOS, Inaicyra Falco dos. Da Tradio Africana Brasileira a uma Proposta Pluricultural da
Dana-Arte-Educao. 220f. Tese de Doutorado Faculdade de Educao da Universidade de
So Paulo, So Paulo, 1996.
SANTOS, Joel Rufino dos. IPCN e Cacique de Ramos, in Comunicaes do ISER, ano 7, n. 28. Rio
de Janeiro: Instituto de Sociologia e Estudos da Religio, 1988.
SANTOS, Maria Consuelo Oliveira. A Dimenso Pedaggica do Mito: um estudo no Il Ax Ijex.
220f. Dissertao de Mestrado Faculdade de Educao da Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 1997.
SEVERINO, Antnio Joaquim. A Filosofia Contempornea no Brasil: Conhecimento, Poltica e
Educao. Petrpolis: Vozes, 1997.
SERAFIM LEITE. Novas Pginas de Histria do Brasil. Lisboa: Academia Portuguesa de Histria,
1962.
SILVA, Alberto da Costa e. Um Passeio pela frica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006a.
______. A Enxada e a Lana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006b.
297
______. A Manilha e o Libambo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002c.
SILVA, Cirena Calixto da. Caesalpinia Echinata: um projeto pedaggico com temtica tnico-racial
desenvolvido numa escola pblica. 98 f. Dissertao de Mestrado Faculdade de Educao da
Universidade de So Paulo, So Paulo, 2005.
SILVA, Marcos Rodrigues da. Pistas para uma Teologia Negra de Libertao. Dissertao de
Mestrado Programa de Ps-graduao da Pontifcia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da
Assuno, So Paulo, 1990.
SILVA, Petronilha Beatriz Gonalves e. O Pensamento Negro em Educao no Brasil. So Carlos:
EdUfscar, 1997.
______. A New Millennium Research Agenda in Black Education: Some Points to be Considered for
Discussion and Decisions, in KING, Joyce E (org.). Black Education: a Transformative Research
and Action Agenda for the New Century. New Jersey: s/n, 2005, pp. 301-308.
______. Citizanship and Education in Brazil: The Contribution of Indian Peoples and Blacks in the
Struggle for Citizenship and Recognition, in BANKS, James A (org.). Diversity and Citizenship
Education: Global Perspectives. San Francisco: Jossey-Bass, 2003, pp. 185-217.
______. Aprendizagem e Ensino das Africanidades Brasileiras, in MUNANGA, Kabengele (org.).
Superando o Racismo na Escola. Braslia: Ministrio da Educao/Secretaria de Educao
Fundamental, 2001, pp. 151-168.
______. & GOMES, Nilma Lino. Experincias tnico/Raciais para a Formao de Professores. Belo
Horizonte: Autntica, 2002a.
______. & GONALVES, Luiz Alberto Oliveira. O Jogo das Diferenas: O Multiculturalismo e seus
Contextos. Belo Horizonte: Autntica, 2002b.
______. & ______. Movimento Negro e Educao. In Revista Brasileira de Educao, n 15.
Campinas/Rio de Janeiro: Autores Associados/ANPED, set / dez 2000.
______. & ______. Multiculturalismo e Educao: do Protesto de Rua a Propostas Polticas, in Revista
da Faculdade de Educao, vol. 29. So Paulo: Faculdade de Educao da USP, 2003.
______.& SILVRIO, Valter Roberto. Educao e Aes Afirmativas: entre a Justia Simblica e a
Injustia Econmica. Braslia: INEP, 2003a.
______; ______; BARBOSA, Lcia Maria de Assuno. De Preto a Afro-descendente: Trajetos de
Pesquisa. So Carlos: EdUfscar, 2003b.
SILVA, Ricardo. Liberalismo e Democracia na Sociologia de Oliveira Vianna, in Sociologias -
Revista do Programa de Ps-graduao em Sociologia da UFRGS. n. 20, 2008, pp. 238-269.
SILVA, Vagner Gonalves da. Candombl e Umbanda: caminhos da devoo brasileira. So Paulo:
Selo Negro, 2005.
______.Religies Afro-brasileiras: construo e legitimao de um campo de saber acadmico (1900-
1960), in Revista USP, n. 55. So Paulo: Coordenadoria de Comunicao Social da Universidade
de So Paulo, 2002.
SILVA, Vanda Machado. queles que tm na pele a cor da noite: ensinncias e aprendncias com o
pensamento africano recriado na dispora. 222f. Tese de Doutorado Faculdade de Educao da
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.
SILVRIO, Valter Roberto. O Multiculturalismo e o Reconhecimento: Mito e Metfora, in Revista
USP / Ps-modernidade e Multiculturalismo, n 42. So Paulo: USP / Coordenadoria de
Comunicao Social, junho-agosto de 1999, 44-55.
SISS, Ahyas. Afro-brasileiros e Ao Afirmativa: relaes instituintes de prticas poltico-tico-
pedaggicas. 240f. Doutorado em Educao Faculdade de Educao da Universidade Federal
Fluminense, Niteri, 2001.
298
SODR, Muniz. O Terreiro e a Cidade: a forma social do negro. Petrpolis: Vozes, 1988a.
______.A Verdade Seduzida. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988b.
______.Claros e Escuros: identidade, povo e mdia no Brasil. Petrpolis: Vozes, 1999.
______. Um Sincretismo Estratgico, in PITTA, D. (org.). Ritmos do Imaginrio. Recife: ed.UFPE,
2005, pp. 187-193.
SOUSA, Andria Lisboa de. Nas tramas das imagens: um olhar sobre o imaginrio da personagem
negra na literatura infantil e juvenil. 301f. Dissertao de Mestrado Faculdade de Educao da
Universidade de So Paulo, So Paulo, 2003.
SOUZA, Ana Luza de. Histria, Educao e Cotidiano de um Quilombo chamado
Mumbuca/MG. 177f. Dissertao de Mestrado Faculdade de Educao da Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2006.
SOUZA, Marina de Mello. frica e Brasil Africano. So Paulo: tica, 2006.
TAGUIEFF, Pierre-Andr. La Force du Prjug: essai sur le racisme et ses doubles. Paris: Editions
La Dcouverte, 1988.
TAVARES, Ildsio. Xang. Coleo Orixs. Rio de Janeiro: Pallas, 2000.
TURCHI, Maria Zaira. Literatura e Antropologia do Imaginrio. Braslia: EdUnB, 2003.
UNESCO. Relaes Raciais entre Negros e Brancos em So Paulo: ensaio sociolgico sobre as
origens, as manifestaes e os efeitos do preconceito de cor no municpio de So Paulo. So
Paulo: Anhembi, 1955.
VALENTE, Ana Lucia Eduardo Farah. O Negro e a Igreja Catlica: o espao concedido, um espao
reivindicado. 02 de agosto de 1989. 292f. Tese de Doutorado em Antropologia Cultural
Programa de Ps-graduao em Antropologia Cultural da Faculdade de Filosofia, Letras e
Cincias Humanas da Universidade de So Paulo, So Paulo, 1989.
VERGER, Pierre Fatumbi. Notas sobre o Culto aos Orixs e Voduns na Bahia de todos os Santos, no
Brasil, e na Antiga Costa dos Escravos, na frica. So Paulo: EDUSP, 1999.
______. Orixs: deuses iorubas na frica e no Novo Mundo. Salvador: Corrupio, 1997.
______. Lendas Africanas dos Orixs. Salvador: Corrupio, 2000.
______. Ewe: o uso das plantas na sociedade ioruba. So Paulo: Companhia das Letras, 1995.
______. Fluxo e Refluxo: do trfico de escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos
dos sculos XVII a XIX. Salvador: Corrupio, 1987.
WUNENGURGER, Jean-Jacques. O Imaginrio. So Paulo: Loyola, 2007.
XAVIER, Juarez Tadeu de Paula. Versos Sagrados de If: Ncleo Ordenador dos Complexos
Religiosos de Matriz Ioruba nas Amricas. 21 de maio de 2004. 313 f. Tese de Doutorado em
Comunicao - Programa de Ps-graduao em Integrao da Amrica Latina da Universidade de
So Paulo, So Paulo, 2004.
______. Exu, Ikin e Egan: equivalncias universais no bosque das identidades afrodescendentes nag
e lucumi. 10 de maro de 2000. 292 f. Dissertao de Mestrado em Comunicao Programa de
Ps-graduao em Integrao da Amrica Latina da Universidade de So Paulo, So Paulo, 2000.
Você também pode gostar
- Catalogo Forumdoc 2020Documento290 páginasCatalogo Forumdoc 2020Viviane A. Suzy PistacheAinda não há avaliações
- 2012 BrunoPaesManso PDFDocumento304 páginas2012 BrunoPaesManso PDFViviane A. Suzy PistacheAinda não há avaliações
- Viviane Angelica Silva PDFDocumento305 páginasViviane Angelica Silva PDFViviane A. Suzy PistacheAinda não há avaliações
- A Wakanda Do "Pantera Negra" É Um Quilombo No Espectro Planetário de Dominação - Revista FórumDocumento11 páginasA Wakanda Do "Pantera Negra" É Um Quilombo No Espectro Planetário de Dominação - Revista FórumViviane A. Suzy PistacheAinda não há avaliações
- A Mulher Negra Na Sociedade Brasileira - Lélia GonzalesDocumento13 páginasA Mulher Negra Na Sociedade Brasileira - Lélia GonzalesViviane A. Suzy Pistache100% (1)
- "NINGUÉM QUER SER UM TREZE DE MAIO" Matheus GatoDocumento26 páginas"NINGUÉM QUER SER UM TREZE DE MAIO" Matheus GatoViviane A. Suzy PistacheAinda não há avaliações
- Ancine 15 Anos Web Final - em Baixa2Documento74 páginasAncine 15 Anos Web Final - em Baixa2Viviane A. Suzy PistacheAinda não há avaliações
- FEMINISMO, HISTÓRIA E PODER Recebido em 13 de Julho de 2009. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 18, N. 36, P. 15-23, Jun. 2010 Aprovado em 10 de Dezembro de 2009. Céli Regina Jardim PintoDocumento11 páginasFEMINISMO, HISTÓRIA E PODER Recebido em 13 de Julho de 2009. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 18, N. 36, P. 15-23, Jun. 2010 Aprovado em 10 de Dezembro de 2009. Céli Regina Jardim PintoViviane A. Suzy PistacheAinda não há avaliações
- Geeradus Vos - O Pai Da Teologia BibliaDocumento9 páginasGeeradus Vos - O Pai Da Teologia Bibliaapolo tavoraAinda não há avaliações
- Por Que A Família É Importante? PDFDocumento3 páginasPor Que A Família É Importante? PDFgiovanaferraroAinda não há avaliações
- Trocando de Roupinha Preparado para Por FiguraDocumento10 páginasTrocando de Roupinha Preparado para Por FiguraBruno BarrosAinda não há avaliações
- Artigo Modelo Formatação - ExegeseDocumento6 páginasArtigo Modelo Formatação - ExegeseregismigliorelliAinda não há avaliações
- Matriz Religiosa Semita - APOSTILADocumento131 páginasMatriz Religiosa Semita - APOSTILArennanfromAinda não há avaliações
- ATIV - EST AconselhamentoDocumento4 páginasATIV - EST AconselhamentoLucas FerrariniAinda não há avaliações
- Conversando Sobre o FuturoDocumento45 páginasConversando Sobre o FuturoCicero DanielAinda não há avaliações
- 64 4 PB PDFDocumento289 páginas64 4 PB PDFThayane Gleicky CarneiroAinda não há avaliações
- Mensagem Gratidão A Deus FinalDocumento1 páginaMensagem Gratidão A Deus FinalHelci RamosAinda não há avaliações
- OsCeltaseoEspiritismo PDFDocumento124 páginasOsCeltaseoEspiritismo PDFEduardo Ribeiro100% (2)
- Filósofas GregasDocumento21 páginasFilósofas GregasEugenio Christi100% (1)
- Catequistas em Formação - Falando de Pais, Encontros, Crianças..Documento3 páginasCatequistas em Formação - Falando de Pais, Encontros, Crianças..Mariana Dos SantosAinda não há avaliações
- 1os Problemas Clássicos Do ConhecimentoDocumento3 páginas1os Problemas Clássicos Do ConhecimentoRute Carvalho100% (1)
- Lex Orandi, Lex CredendiDocumento7 páginasLex Orandi, Lex CredendiJanaina HernandesAinda não há avaliações
- Arthur Schopenhauer - Religião Um DiálogoDocumento21 páginasArthur Schopenhauer - Religião Um DiálogoAlan Tanoue de MelloAinda não há avaliações
- Maslow X Comer, Rezar e AmarDocumento2 páginasMaslow X Comer, Rezar e Amarjekinha134Ainda não há avaliações
- Palestra - Pontos Riscados - Nomes Orixas-Pontos CantadosDocumento3 páginasPalestra - Pontos Riscados - Nomes Orixas-Pontos CantadosgustavodsimoesAinda não há avaliações
- A Misericódia de Deus, e A Misericórdia Do Homem - TCCDocumento53 páginasA Misericódia de Deus, e A Misericórdia Do Homem - TCCFrei José Alegria do Menino JesusAinda não há avaliações
- Edward T. Welch - Quandos As Pessoas São Grandes e Deus É PequenoDocumento250 páginasEdward T. Welch - Quandos As Pessoas São Grandes e Deus É PequenoComunicação IELSPAinda não há avaliações
- Rafael Evaristo Da Silva: Universidade São Francisco TeologiaDocumento14 páginasRafael Evaristo Da Silva: Universidade São Francisco TeologiaRodrigo PenicheAinda não há avaliações
- Teísmo Clássico e o Problema Do Mal. A Contribuição Da Defesa Do Livre Arbítrio de Alvin PlantingaDocumento145 páginasTeísmo Clássico e o Problema Do Mal. A Contribuição Da Defesa Do Livre Arbítrio de Alvin PlantingaLeonardo Alves100% (1)
- Ensino Religioso ParanaDocumento286 páginasEnsino Religioso ParanaJoseSSFernandes100% (3)
- Os Jesuítas e A Cristianização Dos Tupis Nas Missões de MaynasDocumento7 páginasOs Jesuítas e A Cristianização Dos Tupis Nas Missões de Maynasione_castilhoAinda não há avaliações
- As Filhas de Maria Uma História Social Da Pia UniãoDocumento168 páginasAs Filhas de Maria Uma História Social Da Pia UniãoRafaela PargaAinda não há avaliações
- Nietzsche - Uma Critica Dos Valores Sociais CristianizadosDocumento68 páginasNietzsche - Uma Critica Dos Valores Sociais Cristianizadosrestband100% (1)
- 130 Frases de JungDocumento8 páginas130 Frases de JungAntonio LimaAinda não há avaliações
- Astronomia e Pedagogia EspíritaDocumento43 páginasAstronomia e Pedagogia EspíritagattobrzAinda não há avaliações
- Machado e Burity - A Ascensão Política Dos Pentecostais No BrasilDocumento31 páginasMachado e Burity - A Ascensão Política Dos Pentecostais No BrasilRodrigo CerqueiraAinda não há avaliações
- 05 - A Estrutura Da IgrejaDocumento4 páginas05 - A Estrutura Da IgrejaFUNTENAinda não há avaliações
- Analise Da Cultura Nas Sociedades ComplexasDocumento17 páginasAnalise Da Cultura Nas Sociedades ComplexasQuercia Oliveira100% (1)