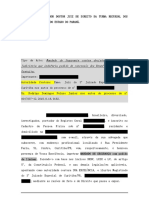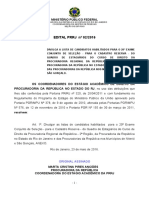Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Crispim
Enviado por
Anonymous Oqw6ZrLH5V0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
93 visualizações196 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
93 visualizações196 páginasCrispim
Enviado por
Anonymous Oqw6ZrLH5VDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 196
MINISTRIO DA EDUCAO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
CENTRO DE ESTUDOS GERAIS
INSTITUTO DE CINCIAS HUMANAS E FILOSOFIA
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM HISTRIA
ALCEBADES COSTA FILHO
A GESTAO DE CRISPIM:
um estudo sobre a constituio histrica da piauiensidade
NITERI
2010
14
ALCEBADES COSTA FILHO
A GESTAO DE CRISPIM:
um estudo sobre a constituio histrica da piauiensidade
ORIENTADOR: Prof. Dr. EDWAR DE ALENCAR CASTELO BRANCO
NITERI
2010
15
Ficha Catalogrfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoat
C837g Costa Filho, Alcebades.
A GESTAO DE CRISPIM: um estudo sobre a constituio
histrica da piauiensidade / Alcebades Costa Filho. - 2010.
194 f. : il.
Orientador: Edwar de Alencar Castelo Branco
Tese (Doutorado em Histria Social) Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Cincias Humanas e Filosofia, 2010.
Bibliografia: f. 172-198.
1. Brasil Histria. 2. Literatura brasileira Histria. 3. Literatura
piauiense Histria e crtica. 4. Piau Identidade cultural. I. Ttulo.
16
ALCEBADES COSTA FILHO
A GESTAO DE CRISPIM:
um estudo sobre a constituio histrica da piauiensidade
Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Histria da
Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para
obteno do ttulo de Doutor em Histria.
APROVADA EM: ____/____/_______
BANCA EXAMINADORA
_________________________________________________________
Prof. Dr. Edwar de Alencar Castelo Branco UFPI
______________________________________________________________
Prof. Dra. Raimunda Celestina Mendes da Silva UESPI
_________________________________________________________
Prof. Dr. Francisco Alcides do Nascimento UFPI
______________________________________________________________
Prof Dra. Ana Maria Mauad de Sousa A Assus UFF
______________________________________________________
Prof. Dr. J os Henrique de Paula Borralho UEMA
17
Para o Esprito Santo, fonte de toda sabedoria.
Para Conceio e Ariel, entre tantas opes que a vida me
ofereceu, foi ao lado de vocs que decidi envelhecer com
tranquilidade.
Para Ariana Maria, Iscio, Ana Carolina, Victor, Oberdan e J oo
Lucas votos de uma vida de realizaes.
18
AGRADECIMENTOS
Ao longo de quatro anos de trabalho, a ao de algumas pessoas foi valiosssima para a
realizao dos objetivos definidos inicialmente. Gostaria de registrar minha gratido a Snia
Maria Dias Mendes (Snia Terra) que, nesse perodo, apesar de sua responsabilidade como
gestora pblica, no esqueceu nossa amizade e seu auxilio para a realizao desse trabalho foi
decisivo.
Agradeo a Teresinha Mary Cortes de Sousa, amizade constituda ainda na graduao e
consolidada no trabalho em defesa do patrimnio documental do estado do Piau no Arquivo
Pblico. Ao longo dessas duas dcadas, apesar de nossas diferenas, a amizade apenas se
consolidou, seu apoio nesse momento foi revelador.
No posso esquecer a preocupao e a torcida de amigos como Vernica Pacheco,
Srgio e Ana Brandim que ao longo dessa jornada, sem alarde, me propiciaram tempo, espao
e bibliografia, a amizade de vocs riqueza imensa.
Quero agradecer aos queridos amigos Pedro Alcntara Carvalho Nascimento, Naria
Rbia e Adail W. Santos os momentos de entretenimento, para refazer as foras; aos dois
ltimos agradeo pelo apoio na digitao e configurao do trabalho.
As companheiras do curso de Histria da Universidade Estadual do Maranho, em
Caxias, Antonia Valtria Melo Alvarenga, Arydmar Gayoso Barros, Dalva Almeida, J ordnia
Maria Pessoa, Raimunda Borba (Dudu) e Salnia Maria Barbosa Melo, agradeo a
solidariedade recebida nessa fase da minha vida acadmica. Obrigado pelos momentos
19
agradveis de entretenimento e conversas que ajudaram a compreender aspectos do meu
trabalho.
necessrio registrar minha admirao a Professora Dra. Teresinha Queiroz, cuja obra
se ergue como luzeiro a iluminar o campo de estudos sobre a intelectualidade brasileira e, de
maneira singular, a intelectualidade piauiense.
Contei com a boa vontade de J os Elias de Ara Leo pela leitura do primeiro captulo
desse trabalho, foram valiosas suas sugestes, indicaes de fontes e lembranas, que
ampliaram nosso conhecimento acerca da temtica.
Ao professor Halan Silva, um apaixonado pelo estudo da intelectualidade piauiense e
que escreve sobre a Gerao de 1945, agradeo a leitura e sugestes do segundo captulo;
tambm ao professor Luiz Valadares Filho que leu e comentou os trs captulos em vrios
momentos da sua elaborao.
Aos professores Dr. Digenes Buenos Aires, Dr. Francisco Alcides do Nascimento e
Dr. J orge Ferreira, leitores de verses desse trabalho, obrigado pelas crticas. claro que os
problemas que o trabalho apresenta minha responsabilidade, os diferentes leitores apenas
contriburam com suas criticas e sugestes.
Agradeo ao Prof. Dr. Edwar de Alencar Castelo Branco, pela competncia e
tranquilidade no mbito da orientao, foram valiosas as conversas, as leituras indicadas, as
correes. Nesses anos, alm de ter crescido o meu respeito pelo intelectual, cresceu tambm
minha admirao pela pessoa humana de riso e fala afvel que sempre me incentivou com
seus elogios.
Agradeo a Universidade Estadual do Piau que possibilitou a oportunidade de cursar o
doutorado e aos companheiros de docncia na Coordenao do Curso de Histria quase todos
cursando ps-graduao, ao J oo Batista do Vale J unior, Valdinar da S. Oliveira Filho e
Viviane Padrazani que integram a minha turma do doutorado, desejo sucesso. Desejo lembrar
20
os nomes dos professores da Universidade Federal do Piau que tambm integram a turma do
doutorado: Antnio Melo, Bernardo P. de S Filho, Dalton Macambira, J oo Kennedy
Eugnio, J onhy Santana de Arajo, J unia Motta A. Napoleo do Rego, Manoel Ricardo
Arraes Filho e Snia Campelo Magalhes e mais Francisco das C. F. Santiago J nior, J ina
Freitas Borges e Francisco de Assis de S. Nascimento.
Agradeo ao Arquivo Pblico do Piau, cujo acervo me ajuda a compreender aspectos da
sociedade piauiense. Para cada um dos funcionrios, amigos de muito tempo, meu muito
obrigado.
21
Na verde catedral da floresta, num coro
triste de cantocho, pelas naves da mata,
desce o rio a chorar o seu perptuo choro,
e o amplo fluido lenol de lgrimas desata.
Caudaloso a rolar desde o seu nascedouro,
num rumor de orao, no silncio da oblata,
ao sol - lembra um rocal todo irisado de ouro,
ao luar - rendas de luz com vidrinhos de prata.
Alvas graas a piar, arrepiadas de frio,
seguem, de absorto olhar, a vtrea correnteza;
pendem ramos em flor sobre o espelho do rio...
o Parnaba assim, carpindo as mgoas,
- rio de minha terra, ungido de tristeza,
refletindo o meu ser flor mvel das guas.
(Rio das Garas, Da Costa e Silva)
22
RESUMO
Este trabalho reflete sobre alguns aspectos da formao histrica da piauiensidade, entendida
como a mdia dos parmetros identitrios que foram capazes de dar aos piauienses um
sentimento de pertena a uma comunidade. J os Elias de Ara Leo,Os recursos empricos
utilizados para o estudo foram principalmente livros, jornais e revistas que veicularam
produtos literrios da lavra de intelectuais piauienses, em especial aqueles produzidos entre os
anos de 1852 e 1952. Tais recursos foram lidos como instrumentos atravs dos quais, do
ponto de vista deste trabalho, seria possvel refletir sobre como se constituiu um sistema
literrio no Piau e, no lastro deste, como se conformou uma identidade piauiense.
PALAVRAS-CHAVE: Histria do Brasil. Literatura Brasileira. Literatura Piauiense.
Identidade Cultural.
23
ABSTRACT
This work reflects about some aspects of the historical formation of the piauiensidade,
understood as on average of the parameters of the identity that were able to give the
piauienses a sense of belonging to a community. The resources utilized for the empirical
study were books, newspapers and magazines that published the literary production of the
intellectual circle of Piau, particularly those produced between the year of 1852 and 1952.
These resources have always been read as instruments through which, from the standpoint of
this work, we could reflect on how to set up a literary system in Piau, and in its trails, how
the piauiense identity was built.
KEYWORDS: History of Brazil. Literature of Brazil. Literature of Piau. Cultural Identityh
24
LISTA DE QUADROS
Quadro 01- Censo da populao piauiense em meados do sculo XVIII
Quadro 02- Peridicos piauienses em circulao entre 1880 e 1922
Quadro 03- Livros de fico de escritores piauienses em circulao entre 1880 e 1922
Quadro 04- Livros de escritores piauienses em circulao entre 1880 e 1922
Quadro 05- Peridicos piauienses em circulao entre 1922 e 1952
Quadro 06- Livros de escritores piauienses em circulao entre 1922 e 1952
Quadro 07- Livros de fico de escritores piauienses em circulao entre 1922 e 1952
Quadro 08- Patronos da Academia Piauiense de Letras e sua obra literria
Quadro 09- Scios efetivos do Cenculo Piauiense de Letras e respectivos patronos
25
LISTA DE SIGLAS
ABL- Academia Brasileira de Letras
APL - Academia Piauiense de Letras
APPI - Arquivo Pblico do Piau
CPL - Cenculo Piauiense de Letras
IHAGP - Instituto Histrico Antropolgico e Geogrfico Piauiense
IHGB Instituto Histrico e Geogrfico Brasileiro
SAIN - Sociedade Auxiliadora da Indstria Nacional
26
SUMRIO
COMO FORMA DE INTRODUO.................................................................. 13
CAPTULO I De curraleiros a oficiais da Coroa Portuguesa ................................................ 17
1.1 Oeiras como centro da vida social piauiense: um olhar sobre a formao da elite ................... 17
1.1.1 Manoel de Sousa Martins: a ascenso da elite piauiense................................................. 31
1.2 Prticas sociais rurais no Piau oitocentista................................................................................ 33
1.3 Teresina entra em cena: o surgimento do high-life e as prticas sociais urbanas .................. 38
1.3.1 Para alm de Teresina marcas do progresso e de civilidade............................................ 58
CAPTULO II De curraleiros e oficiais da Coroa portuguesa a notveis em Paris,
Lisboa, Rio de Janeiro e Teresina................................................................................................. 63
2.1 Um olhar sobre a escrita de literatos piauienses na primeira metade do sculo XIX ................ 63
2.2 A formao de um ambiente literrio em Teresina .................................................................... 70
2.3 Vitria da cultura letrada e a institucionalizao da literatura.................................................... 80
2.4 Intelectuais piauienses imersos nos cnones literrios............................................................... 103
2.4.1 Institutos de representao literria.................................................................................. 117
CAPTULO III Representaes identitrias na produo literria piauiense ..................... 132
3.1 Um Piau longnquo, tosco e inculto emergem de exemplares da literatura piauiense............... 135
3.2 A celebrao do espao piauiense na poesia produzida na passagem do sculo XIX para o
XX..................................................................................................................................................... 149
3.3 Letras Calcinantes: a seca na produo literria piauiense ........................................................ 157
CONSIDERAES FINAIS......................................................................................................... 165
REFERNCIAS.............................................................................................................................. 168
COMO FORMA DE INTRODUO
Que relao poderia ser estabelecida entre os recursos literrios de um povo e as
representaes identitrios deste mesmo povo? De que modo, com que intensidade a literatura
poderia favorecer, nas pessoas, o sentimento de pertencimento a uma comunidade? Se o
espao um lugar praticado
1
, qual seria o capital de importncia dos textos literrios para a
prtica histrica de um espao? Estas so algumas das questes que nortearam este trabalho, o
qual, tendo em vista a conformao histrica das identidades culturais, indaga sobre o
processo de constituio da piauiensidade
2
.
Do ponto de vista emprico o trabalho operou com um vasto universo de textos
indistinguindo-os em termos de ficcionalidade e no-ficcionalidade produzidos por trs
geraes de literatos piauienses e que circularam no Piau e no Brasil entre a segunda metade
do sculo XIX e a primeira metade do sculo XX. Ressalte-se que textos literrios, neste
trabalho, no diz respeito apenas aos clssicos da literatura, geralmente compostos por
romances, novelas e livros de poemas. Admitiu-se como textos literrios tambm outros
documentos, inclusive teses acadmicas, documentos oficiais e cartorrios e artigos e crnicas
que circularam, no perodo estudado, em revistas e em jornais.
A atividade literria um dos fatores de convergncia entre os produtores de literatura,
atividade exercida por prazer ou na busca de status social, j que nenhum desses literatos
dependia da literatura para sobreviver. Os literatos escreverampoesias, crnicas, romances e textos
reconhecidos como resultantes de estudos sobre determinados objetos nas mais diferentes reas do
conhecimento. Consultando esse conjunto de textos e sua articulao com o contexto histrico em
que foi produzido, encontram-se indcios de que seus produtores se preocupavamem singularizar o
Piau em face das demais provncias/estados do Brasil.
Procurando atingir o objetivo proposto, no primeiro captulo refletiu-se sobre
aspectos da formao da sociedade piauiense que permitiram o surgimento de um grupo social
1
CERTEAU, 1994.
2
Entendida como a mdia dos parmetros identitrios que do aos piauienses um sentimento de pertena a uma
comunidade.
14
que, se destacando do restante da sociedade, formou a elite
3
. Refletiu-se sobre as formas do
viver rurcola, pouco afeitas s prticas da leitura e da escrita e o lento processo de transio
para as formas do viver urbano que por sua vez valorizam a cultura letrada. Nesse sentido,
extrapolaram-se o marco cronolgico estabelecido para esse trabalho, para observar os fatores
que conformaram os grupos de elite no Piau Colonial e seu interesse pela educao formal.
No segundo captulo refletiu-se a cerca do momento da institucionalizao da
literatura piauiense, que se manifesta atravs da criao das mais importantes instituies
culturais da poca, a Academia Piauiense de Letras - APL e o Instituto Histrico Antropolgico e
Geogrfico Piauiense - IHAGP, instncias especficas de seleo e consagrao intelectual, das
quais se originaram as regras para produo literria.
No terceiro captulo, a preocupao foi com o contedo de livros, jornais e revistas
na busca de representao
4
de piauiensidade. No conjunto de textos analisados, privilegiou-se
a poesia enquanto forma de manifestao dominante no ambiente literrio piauiense. Essa
manifestao literria parece apropriada para os objetivos proposto para o referido captulo,
como se observa no trecho seguinte:
A poesia notvel enquanto registro de todo um conjunto de experincias ligadas ao
sentimento, ao pulsar da vida, ao cotidiano, expresso e ao registro das emoes
que a histria, por muito tempo, no necessariamente conseguia captar e cristalizar.
Enfoques novos da histria que colocam em primeiro plano as dimenses da
subjetividade resgatam por essa via a efervescente sensibilidade de sujeitos da
histria, e essa notao bastante bem elucidada e apreendida segundo as fontes
poticas. Ao mesmo tempo em que a poesia consegue condensar toda uma variedade
de sentimentos, esses sentimentos so captados da histria, so absorvidos da
vivencia social, e a poesia os perpetua enquanto memria desta sociedade qual faz
referncia.
5
3
A concepo de elite que orienta esse trabalho se aproxima de um conjunto bibliogrfico, que trabalha com a elite
brasileira, a exemplo de: A construo da ordem de J os Murilo de CARVALHO (1981), O tempo
Saquarema de Ilmar R. MATTOS (1994), Belle poque tropical de J . D. NEEDELL (1993), Os literatos e a
Repblica de Terezinha QUEIROZ (1994), A elite colonial piauiense de Tanya Maria P. BRANDO (1995)
e As barbas do imperador Lilia M. SCHWARCZ (1998). Concebe-se a elite como uma categoria histrica, e
no [como] uma mera classificao, tanto que, ao longo do texto, utilizaram-se diferentes expresses para
denomin-la, ouvindo a voz dos sujeitos da poca: pessoas distintas da terra, gente principal, nobreza da
terra, pessoas gradas, high-life. Guardando-se as peculiaridades das diferentes interpretaes, algumas
caractersticas parecem comuns as elites analisadas pelos pesquisadores citados: constitui segmento social
minoritrio, concentra bens materiais, monopoliza a mquina administrativa, possui e valoriza a educao
formal, participa de uma teia de sociabilidades muito peculiar, que exige uma srie de atributos pessoais,
frequncia a determinados espaos, modos de ver e sentir o mundo.
4
A expresso est sendo utilizada no sentido atribudo por CHARTIER (1991), segundo o qual a representao
o produto do resultado de uma prtica. A literatura, por exemplo, representao, porque o produto de uma
prtica simblica que se transforma em outras representaes.
5
QUEIROZ, 2008, p. 205/206.
15
Alm da poesia, romances e textos no ficcionais, tais como depoimentos,
reportagens e estudos, foram utilizados para reforar as marcas de representao da
piauiensidade contida nos textos poticos.
Os dados foram basicamente levantados junto ao acervo do Arquivo Pblico do
Piau. Na Biblioteca de Apoio Pesquisa da referida instituio, na qual destaca-se um rico
acervo bibliogrfico constitudo na sua maioria pela primeira edio das obras ali
acondicionadas, foram apropriadas leis, decretos, discursos, teses, estatsticas, estudos de
histria e geografia, documentos de governo e instituies piauienses, alm dos livros de
fico tais como os de poesias e os romances, todos datados de meados do sculo XIX at a
presente data.
A bibliografia seleta, isto , os livros de meados do sculo XIX e primeira metade do
XX, ajudaram na observao das formas de viver dos piauienses. Foram valiosas as
informaes contidas nas obras Cronologia Histrica do Estado do Piau e Noticia sobre as
comarcas da provncia do Piau (manuscrito de 1885) de Pereira da Costa; Pesquisas para a
Histria do Piau de Odilon Nunes, assim como o acervo da hemeroteca do Arquivo Pblico
do Piau APPI. Anncios e colunas sociais de jornais e revistas piauienses se constituram
em fonte de informao, complementando vrios outros textos, a exemplo de memrias e
literatura de viagem. necessrio destacar que no j citado Arquivo Pblico do Piau
encontra-se o acervo particular de J oel Oliveira, constitudo de telegramas, cartas, cartes
postais, convites para diferentes eventos sociais, fontes que foram que ajudaram no
entendimento de aspectos do viver social em Teresina nas primeiras dcadas do sculo XX.
No segundo captulo o acervo da Biblioteca de Apoio Pesquisa e revistas e
jornais da Hemeroteca J oel Oliveira do Arquivo Pblico do Piau assumiram o carter de
objeto de estudo. Procurou-se determinar os livros em circulao e tambm os jornais e as
revistas, assim como as condies de produo e as pessoas ou grupos de pessoas envolvidas
na elaborao dos impressos. Um rico conjunto bibliogrfico composto de obras sobre a
histria da literatura brasileira a exemplo de Formao da Literatura Brasileira de Antonio
Cndido (1997), Histria Concisa da Literatura Brasileira de Alfredo Bosi, (2006), A
Literatura no Brasil de Afrnio Coutinho (2004) e De Anchieta a Euclides de J os
Guilherme Merquior (1996), ajudou a reforar, em ns, a idia que o fenmeno literrio se
confaz em ntima articulao com o contexto social.
Quanto expresso escolhida para dar ttulo ao trabalho, A gestao de Crispim,
remete a um dos marcos da identidade piauiense. O pescador Crispim, algoz de sua prpria
16
me, o principal personagem da lenda Cabea de cuia, a qual povoa largamente o
imaginrio popular piauiense e, portanto, constitui um dos alicerces da identidade cultural
piauiense.
A referida lenda conta a histria de uma viva, me de filho nico (Crispim),
residentes beira do Poti, os quais viviam de uma pequena roa e da pesca. Com isso o filho
tornou-se um bom pescador e mergulhador. Em decorrncia da ausncia misteriosa de peixes
em uma de suas pescarias, me e filho, [certo dia] discutem e este a agride com um fmur de
boi. Antes de morrer a me roga-lhe a praga de encantamento temporrio: viver como peixe
no fundo das guas, s tendo perdo para essa fome aps devorar sete virgens, de nome
Maria, de 7 em 7 anos
6
.
Ao apropriarmo-nos da imagem lendria e trgica do pescador Crispim para dar
ttulo ao trabalho, pensamos, com a lembrana do drama de Pndaro
7
, que estamos remetendo
nossos leitores ao cerne da questo que substrato do estudo: como chegamos a ser o que
somos?
8
6
BASTOS, 1994, p.94.
7
Pndaro foi um dos mais importantes poetas do sculo V a.C.
8
NIETZSCHE, 2001.
17
CAPTULO I DE CURRALEIROS A OFICIAIS DA COROA PORTUGUESA
1.1. Oeiras como centro da vida social piauiense: um olhar sobre a formao da elite
No final do sculo XVII, os principais cursos de gua do vasto serto do Piau
9
estavam pontilhados de currais. A ocupao do territrio fora um empreendimento de
criadores de gado vacum e cavalar, assim, a iniciativa particular antecedeu a ao da Coroa
portuguesa. Reduzido era o contingente populacional, bastante diferenciado quanto posse e
ao uso da terra, o que configurava quatro grupos distintos: os colonizadores, os colonos, os
nativos e os escravos.
Os colonizadores representavam a Metrpole, eram temidos e respeitados tanto pelo
poder de mobilizar contingentes de homens armados, como pela influncia que exerciam
junto aos representantes da Coroa portuguesa no Brasil. Responsveis pelo processo de
ocupao territorial, este grupo exibia a posse legal da terra ocupada por seus rebanhos e, via
de regra, era composto por senhores de escravos. Percentual considervel de currais pertencia
a criadores pernambucanos que, conjuntamente, com criadores baianos, ocuparam o territrio.
Com domiclio na capitania de Pernambuco ou Bahia, na impossibilidade de gerir seus
negcios no serto, os colonizadores constituram representantes, em geral, os vaqueiros de
suas fazendas.
No grupo dos colonos bastante complexo na sua composio - destacavam-se
vaqueiros e moradores
10
. Os vaqueiros eram temidos e respeitados, pois representavam os
colonizadores. Alguns eram curraleiros, uma vez que, na falta de moeda, eram pagos com
percentuais das cabeas de gado, o que permitiu a constituio de seus prprios currais.
possvel inferir, em razo do exposto, que esta situao resultaria na formao de currais,
possudos por vaqueiros, dentro ou fora dos limites das grandes propriedades dos
colonizadores. Os moradores, no possuam terras, habitavam na propriedade de favor,
alm de pagar certa quantia ou prestar servios aos proprietrios. Presume-se que constituam
o maior contingente populacional, contudo, no tinham influncia perante as autoridades
portuguesas, nem tampouco a posse legal das terras que ocupavam.
O grupo composto pelos nativos lutava contra a invaso de suas terras, uma parte
estava reduzida em aldeamentos e outra vagava pelo serto. Contrariando as determinaes da
9
A expresso serto do Piau comum nos documentos da poca, alm de ser utilizada pelos pesquisadores
piauienses que estudam o Perodo Colonial. A concepo de serto aqui expressa se aproxima da concepo de
ABREU, 1976, p. 98-172; VAINFAS, 2000, p. 528-529.
10
Concepo de morador no Perodo Colonial, cf. VAINFAS, 2000, p. 409. No Piau, ainda hoje, a expresso
morador muito utilizada pela populao.
18
Coroa portuguesa, colonizadores e colonos constantemente desrespeitavam os direitos dos
nativos, promovendo guerras para ocupar suas terras e obrigando seus integrantes ao trabalho
forado. Por fim, o grupo dos escravos que, tal qual ocorreu em todo o Brasil nos perodos
Colonial e Monrquico, legalmente no tinha direito ou acesso terra, alm de ser submetido
ao trabalho forado. Infere-se, com base em Pereira da Costa, que esse contingente
populacional, na sua maioria, era oriundo das capitanias de Pernambuco e Bahia.
A ocupao foi um empreendimento masculino. No final do sculo XVII, o serto
do Piau possua 438 habitantes, apenas 38 mulheres; 27 indgenas, 7 negras, 3 mestias e 1
branca. Cinco eram casadas, inclusive a mulher branca, D. Mariana Cabral, esposa de
Domingos de Aguiar. As outras, mal entravam na pubescncia, prostituam-se e tornar-se-
iam, quando muito, amsias dos vaqueiros.
11
A luta pela posse e uso da terra, desencadeada
pelos colonizadores contra os nativos
12
e as pssimas condies de vida, no que diz respeito
segurana e conforto, esto entre os fatores que explicam a ausncia de mulheres brancas e a
presena dominante de mulheres nativas e negras. Estas viviam na dependncia dos
colonizadores e colonos e no estavam em condio nem mesmo de escolher seus parceiros.
A legalizao do casamento entre reinis e nativos da Amrica, autorizado pelo rei de
Portugal, em 1755
13
, tendeu a atenuar esse grave problema, o que possibilitou o crescimento
da populao.
Examinando aspectos da cotidianidade desse contingente populacional, nota-se que
viviam no mais que cinco pessoas por fazenda, isoladas quilmetros de distncia umas das
outras. A cultura de alimentos no chega para suprir os habitantes das fazendas onde havia
algum roado, a terra destinava-se ao pasto natural e alimentava os rebanhos. O contingente
humano alimentava-se da carne de animais silvestres e peixes, em geral, assada no espeto de
pau, tambm, da coleta de frutos, mel e laticnios
14
.
No final do sculo XVII, partiria do bispado de Pernambuco a primeira manifestao
de ordenamento dos habitantes do serto, uma vez que a regio estava na jurisdio dessa
prelazia. Em fevereiro de 1697, na fazenda Tranqueira, residncia de Antonio Soares
Thouguia, reuniram-se vrios habitantes do serto com o objetivo de deliberar o melhor local
para construir a igreja da freguesia de Nossa Senhora da Vitria, criada no ano anterior. A
11
NUNES, 1972, p. 11-13.
12
Sobre o extermnio dos nativos no Piau cf. MACHADO, 2002.
13
COSTA, 1974, p. 126, v.1.
14
NUNES, 1972, p. 12.
19
criao e instalao da freguesia era indcio de que a Coroa portuguesa reconhecia
oficialmente a existncia de um crescente complexo sistema social no serto do Piau
15
.
A interferncia da Igreja nos domnios dos potentados pernambucanos e baianos
ameaava sua autoridade ou poder. Em agosto de 1698, o colonizador Domingos Afonso
Serra, invadiu a sede da freguesia de Nossa Senhora da Vitria, colocou a capela abaixo e
destruiu todo o casario em derredor, o que fez sob alegao de invaso antecedente de terras
de sua propriedade. O fato causou mal-estar entre as autoridades eclesisticas e, tambm,
entre as autoridades seculares. No sentido de conter os abusos de poder, a Coroa portuguesa
decidiu instalar-se na regio. no contexto de organizao e disciplinamento dos habitantes
do serto que se deve entender a atitude de Serra.
No ano seguinte, a Coroa determinou que os possuidores de terra no Piau que no
as cultivassem por si, seus feitores, colonos ou constituintes as perdessem, e que as mesmas
terras fossem dadas a quem as denunciasse. Trs anos depois, Carta Rgia de 1702
determinava aos possuidores de terra que as demarcassem no prazo de dois anos, sob pena de
ficarem elas devolutas
16
. Como se observa, gradualmente, a Coroa controlava as decises
sobre a questo da terra, fomentava o conflito, ao mesmo tempo em que se apresentava como
mediadora. Como sede de sua administrao, elevou a freguesia de Nossa Senhora da Vitria
condio de vila. Em 1717, no ato da instalao da referida vila, o governador do Maranho
enviou para povo-la muitas famlias e 300 degredados portugueses
17
.
Em 1715, a Coroa portuguesa criou a capitania subalterna de So J os do Piau, sob a
jurisdio do Maranho, retirando o Piau da influncia de Pernambuco e Bahia. Garantidos
os direitos dos colonizadores que no sculo anterior foram agraciados com o ttulo de
propriedade de terra. Ao longo do sculo XVIII, novas sesmarias foram concedidas queles
que preenchessem as exigncias da Coroa, foram contemplados alguns vaqueiros e
moradores, da mesma forma, pessoas de origem portuguesa que se fixavam no serto do
Piau
18
.
A propriedade da terra continuou, porquanto, como um elemento definidor das
posies sociais. Desse modo, a distribuio de novas sesmarias incluiu novos agentes sociais
no grupo dominante. Os novos proprietrios se sentiram capazes de assumir o controle
15
BRANDO, 1995; NUNES, 1975, v.1.
16
COSTA, 1974, v.1, p. 60 e 66.
17
COSTA, 1974, v.1, p. 77, 82 e 83.
18
Concepo de sesmarias cf. VAINFAS, 2000, p. 529-531. Uma leitura de COSTA (1974, v.1), NUNES (1975,
v.1) e BRANDO (1995) permite concluir que, na passagem do sculo XVII para o XVIII, e ao longo desse
ltimo, pessoas se fixaram no serto do Piau, ocupando terras nos limites das propriedades j existentes,
gerando focos de tenso.
20
poltico da regio em oposio aos colonizadores, em especial aqueles que residiam fora da
capitania
19
. Logo aflorou o conflito. Brando j havia chegado a essa concluso, ao asseverar
que, no incio do processo de organizao da ordem social piauiense o estrato superior
comeou a ser delineado na luta pela posse da terra
20
.
Representao da Cmara de Oeiras, datada de 1743, dirigida Coroa portuguesa,
aclara aspectos do conflito entre antigos e novos proprietrios de terra.
So extraordinrios os danos espirituais e temporais que tem havido, e atualmente se
experimentam nesta capitania [do Piau] originados da sem razo e injustia com
que os governadores de Pernambuco, nos princpios da povoao daqueles sertes,
deram por sesmarias neles e indevidamente grande quantidade de terras a trs ou
quatro pessoas particulares moradoras na Bahia, que, cultivando algumas delas,
deixaram a maior parte devolutas sem consentirem que pessoa alguma as povoasse,
salvo quem sua custa e com risco de suas vidas as descobrissem e defendessem do
gentio brbaro, constrangendo-lhes depois a lhes pagarem dez mil ris de renda por
cada stio em cada ano; pedimos a V. M. seja servido mandar que os ditos intrusos
sesmeiros no possam usar os ditos arrendamentos nem pedir renda aos moradores
desta capitania dos stios, que com tantos riscos e trabalho descobriram sua custa,
mas antes se sirva ordenar que cada uma das ditas fazendas contribua em cada ano
com algum limitado foro, atendendo a muita pobreza destes moradores, a metade
para o aumento da real fazenda, e a outra metade para o rendimento do conselho e
cmara daquela vila, para o que o provedor da fazenda e o ouvidor da dita capitania
faa averiguao das fazendas que h nelas pelo modo que for mais suave, fazendo-
as numerar em um livro por ele numerado e rubricado, que fique na cmara, ficando
dessa forma as terras das sobreditas fazendas pertencendo in solidum aos ditos
possuidores delas sem que em tempo algum se possa converter e disputar em juzo
escusa alguma a respeito do domnio das ditas terras, porque s desta sorte podero
cessar to injustos pleitos e o contnuo desassossego que experimentam os referidos
moradores; e o universal clamor e queixa que h naquela capitania sobre esta
matria, e que por nenhum modo possam os ditos moradores serem convencidos e
demandados fora de seu domiclio mas que o sejam em todas as suas causas e
dependncias perante os juzes que h naquela capitania ou perante o ouvidor e
provedor da fazenda real.
21
Infere-se da leitura do documento transcrito que a primeira metade do sculo XVIII
foi historicamente marcada pela explorao dos potentados pernambucanos e baianos, sobre
moradores de suas propriedades, impondo taxas constantes e abusivas; marcou ainda o
perodo, a disputa por reas entre proprietrios legalmente constitudos e aqueles que
ocupavam terras sem ter a posse legal e a demanda pela soluo dessas questes via
autoridades da capitania do Piau.
19
Na passagem do sculo XVII para o XVIII e por toda primeira metade desse ltimo, colonizadores e colonos se
enfrentaram pelo domnio poltico do serto. A Coroa portuguesa mediou o conflito, resultando na hegemonia
poltica dos colonos, que passaram a representar a gente principal, pessoas distintas ou nobreza da terra.
Restava aos colonizadores se adequar ao novo contexto social, supomos que alguns venderam terras e gado,
cortando relaes de qualquer natureza com o Piau, outros passaram a residir na capitania, submetendo-se s
determinaes da Coroa e aceitando as condies dos novos agentes sociais.
20
BRANDO, 1995, p.275.
21
COSTA, 1974, v. 1, p.113-114.
21
Conclui-se ainda que estivesse em crescente declnio a autoridade ou poder dos
colonizadores. O documento transcrito um forte indcio da fora de parcela dos habitantes
da capitania e da insatisfao dos mesmos contra o domnio dos potentados pernambucanos e
baianos. A questo da terra no o nico fato revelador do carter violento das relaes
sociais na capitania do Piau. Ao quadro descrito, somavam-se a luta contra os nativos que,
expulsos de sua terra, vagavam pela capitania e pelas capitanias vizinhas e tambm a luta
contra os bandos de desordeiros, tais como o de Lus Cardoso Balego, que na dcada de
1720, aterrorizava os habitantes da capitania
22
.
O sentimento de importncia que cada indivduo conferia a si mesmo, a presumida
capacidade de resolver os problemas com o uso da fora, sem recorrncia s instncias legais,
contribua para o clima de tenso na capitania. Um representante da Coroa informava a
autoridade portuguesa.
Neste serto, por costume antiqssimo, a mesma estima tm brancos, mulatos e
pretos, e todos, uns e outros, se tratam com a recproca igualdade, sendo rara a
pessoa que se separa deste ridculo sistema, porque se seguirem o contrrio expem
as suas vidas
23
.
A representao da Cmara de Oeiras, transcrita acima, demonstra que a populao
da capitania acenava com a possibilidade de mudana de postura em frente a esses problemas,
uma vez que convocava a Coroa para mediar as demandas originadas pelos interesses entre
antigos e novos proprietrios de terra, reconhecendo a autoridade da mesma. Ao longo do
sculo XVII e parte do sculo XVIII, as situaes conflituosas tiveram desfecho violento,
semelhante derrubada da primeira capela de Nossa Senhora da Vitria, por Domingos
Afonso Serra, com tendncia a diminuio a partir desse perodo. Mediando as divergncias
locais, a Coroa controlava os diferentes focos de tenso, objetivo principal de sua interveno
no serto do Piau.
Na primeira metade do sculo XVIII, com a tendncia ao disciplinamento do
contingente populacional da capitania do Piau, cresceu a parcela da populao feminina.
Nessa mesma centria, diferente do sculo XVII, surgiram os primeiros ncleos familiares da
nascente sociedade piauiense. A populao dispersa pela capitania concentrava-se em
fazendas e stios, onde a diviso do trabalho era menos rgida, ao lado dos escravos e
22
COSTA, 1974, v. 1, p. 94.
23
COSTA, 1974, v. 1, p. 167.
22
empregados, senhores e membros de sua famlia participavam diretamente das atividades
necessrias sobrevivncia
24
.
Em 1758, dando continuidade a interveno e disciplinamento das relaes entre os
habitantes da capitania do Piau, a Coroa portuguesa concedeu-lhe foros de capitania
independente, nomeando seu primeiro governador. bastante interessante, para uma reflexo
sobre a sociedade piauiense em seu processo de formao, a leitura de documentos como o
transcrito a seguir, sobre a posse de J oo Pereira Caldas:
Havendo o dito senhor [o governador da Capitania] pernoitado no dia 16 de
setembro de 1759 no stio Olho-dgua, distante uma lgua desta vila; e havendo na
manh seguinte ali concorrido a encontr-lo diferentes pessoas das distintas da
terra, o aclamaram todos conduzindo at a passagem do riacho vulgarmente
chamado Mocha, onde, apeando-se o mesmo senhor, para cumprimentar a cmara,
que naquele lugar o esperava e ouvir a orao, que recitou um dos vereadores,
depois foi ao mesmo tempo cortejado com as continncias e descargas das tropas
pagas, e de ordenanas, que tambm ali se achavam postadas. Depois disto, com o
acompanhamento da cmara e gente principal se encaminhou o dito governador a
fazer orao na igreja paroquial, e dela enfim se recolheu com todo o referido
cortejo a casa que para sua residncia se achava destinada; e havendo de noite e nas
duas seguintes o costumado obsquio de luminrias que em semelhantes ocasies se
pratica; e repetindo-se tambm todo dia 20 do mesmo ms e ano com o motivo da
posse, que do governo desta capitania se conferiu ao sobretido senhor governador na
maneira seguinte:
Na tarde do referido dia, tendo concorrido casa do senhor governador o corpo do
senado, precedido do desembargador ouvidor-geral da comarca, e toda nobreza da
terra, logo o dito senhor, entrando debaixo de um plio, que ali se achava pronto, e
se conduziu por algumas pessoas distintas, que a esse fim o mesmo senado havia
convidado; recitada que foi uma orao por um dos vereadores, se transportou assim
o senhor governador com todo aquele acompanhamento casa da cmara, para nela
se realizar o ato da sobredita posse, em virtude da sua patente e carta credencial que
com aquela ali juntamente apresentou. Procedendo-se ento ao termo de posse, logo
que ela lhe foi dada pelo senado, se encaminhou o dito senhor com igual
formalidade a render a Deus as graas, na igreja paroquial, sendo na passagem
cortejado com as continncias e descargas das tropas que na praa se achavam
formadas. E por fim se recolheu s casas da sua residncia com toda a indicada
cerimnia, e ainda debaixo do referido plio, que pertence ao secretrio - J oaquim
Antunes (destaques nossos).
25
Segundo o texto, em meados do sculo XVIII, representantes da Coroa portuguesa j
reconheciam que na capitania do Piau existia um grupo social que se aproximava ao nvel da
nobreza da Metrpole ou gente do reino, por eles denominado de pessoas distintas, gente
24
Passada a fase mais violenta da ocupao e repovoamento do Piau, correspondente segunda metade do sculo
XVII e primeiras dcadas do sculo XVIII, ocorreu um aumento no nmero mulheres e de famlias. Este fato
repercutiria favoravelmente na formao e diversificao da sociedade piauiense, ampliando e
complexificando os troncos familiares. Em razo disso, na segunda metade do sculo XVIII, eram numerosos
os domiclios com estrutura familiar, principalmente entre os proprietrios de terra. Nas freguesias que foram
surgindo, algumas famlias j se destacavam pelo patrimnio material acumulado e pelo poder de influir junto
aos oficiais da Coroa portuguesa. Estudos abordando aspectos relativos famlia no Piau, no perodo da
Colnia e Imprio, cf. BRANDO, 1995; RGO, 2001; FALCI, 2002.
25
COSTA, 1974, v.1, p.133.
23
principal ou nobreza da terra. nesse grupo social que os representantes da Coroa se
inserem, contudo, necessrio registrar que, no processo de acomodao, ocorreram
momentos de muita tenso entre os representantes da Coroa e os proprietrios de terra e
rebanhos residentes na Capitania.
Como base na exposio, entende-se por pessoas distintas, gente principal ou
nobreza da terra as famlias constitudas entre o sculo XVII e XVIII, que construram um
patrimnio em terra e gado, o que lhes dava preeminncia aos olhos dos representantes da
Coroa. Essas famlias foram constitudas por antigos vaqueiros e moradores das fazendas dos
potentados pernambucanos e baianos e tambm por gente do Reino, portugueses de
nascimento, que se fixaram no Piau em busca de uma vida melhor. Em meados dos
setecentos, essas primeiras famlias j exibiam riqueza e poder.
O recm empossado governador recebeu instrues no sentido de iluminar a
rusticidade desta gente
26
. A urbanizao foi um dos meios utilizados com vistas
consecuo desse objetivo, ainda que se possa lembrar, a ttulo de exemplo que, ao final do
sculo XVIII, a prpria Europa encontrava-se imersa em fortes laos da tradio rural,
conforme se depreende do excerto a seguir:
Tinha pouco mais de vinte cidades com cem mil habitantes, em geral, possuam de
dois a cinco mil. Eram pequenas cidades de provncia, onde as pessoas podiam, a p
e em poucos minutos, vencer a distncia entre a praa da catedral e o campo. Estas
cidades no eram menos urbanas por serem pequenas, nem por pertencerem
essencialmente sociedade e economia do campo.
27
Somente em face do exposto, possvel falar em urbanizao no Piau, no sculo
XVIII. Ao tomar posse, o primeiro governador da capitania elevou as seis freguesias da
capitania condio de vila e a vila da Mocha condio de cidade. Em 1761, essas
freguesias eram todas arraiais mantidos no interesse dos criadores de gado, sendo os
primeiros moradores agregados no servio de pastoreio e na incipiente lavoura de
sustentao
28
. Como se observa, as vilas piauienses nasciam dependentes dos interesses
rurais.
26
Expresso do governador J oo Pereira Caldas em ofcio ao governador do Estado do Gro-Par e Maranho,
informando sobre a populao que habitava a capitania do Piau. O trecho completo : Devo igualmente
segurar a V. Exa. que pela minha parte no tenho omitido todos os meios que me parecem conducentes ao
sossego e civilidades destes povos, que V. Exa. semelhantemente me recomenda. Porm a rusticidade dessa
gente no tem permitido o gosto de a ver to polida como desejara, no obstante as repetidas persuases e
advertncias que continuamente lhes estou fazendo para este fim. Cf. COSTA, 1974, v.1, p. 161 (destaque
nosso).
27
HOBSBAWM, 1977, p. 27.
28
FRANCO, 1977, p. 32.
24
O quadro seguinte, com dados relativos populao residente em cada municpio,
datado da poca da criao das vilas, possibilita algumas consideraes acerca desses ncleos
populacionais. Aproveitamos igualmente para consideraes sobre a distribuio das famlias
distintas da terra ao longo do territrio da capitania.
Quadro 01- Censo da populao piauiense em meados do sculo XVIII
Vilas Habitantes
urbanos
Habitantes rurais Total de habitantes
Valena 156 1.329 1.485
Marvo 65 994 1.059
Campo Maior 162 1.705 1.867
Parnaba 19 2.349 2.368
J erumenha 99 598 697
Parnagu 97 805 902
Oeiras 1.120 2.495 3.615
Total 1.718 10.275 11.993
Fonte: NUNES, 1975, v. 1, p. 110.
Observamos inicialmente a capital da Capitania, Oeiras. Em 1712, a freguesia de
Nossa Senhora da Vitria deu origem vila da Mocha, sede dos negcios da capitania de So
J os do Piau, subalterna ao governo do Maranho. Documento de 1722, elaborado pelo
ouvidor da comarca, Antonio J os de Morais Duro, descrevia a cidade de Oeiras.
No tem relgio, casas de Cmara, cadeia, aougue, ferreiro ou outra nenhuma
oficina pblica. Servem de Cmara uma das casas trreas de barro e sobre que
ocorre litgio. A cadeia cousa indignssima sendo necessrio estarem os presos em
tronco e ferro, para segurana. A casa do aougue alugada e demais cousa alguma.
As casas da cidade todas so trreas at o prprio palcio do Governo. Tem uma rua
inteira, outra de uma s face e metade de outra. Tudo o mais so nomes supostos; o
de cidade verdadeiramente s goza o nome.
29
No obstante ser o ncleo urbano mais povoado, na opinio do ouvidor Duro,
Oeiras no apresentava um equipamento urbanstico apropriado categoria de sede do
governo. Em outro trecho do documento transcrito, o ouvidor acrescentava que a cidade
ficava no meio da Capitaniasituada numa regio isolada, o que motivou as autoridades a
projetar a transferncia da capital para o norte, tanto pela proximidade do litoral como pelas
promissoras condies de desenvolvimento. Ainda assim, com a criao da Capitania
independente, a vila foi mantida capital. O primeiro governador, J oo Pereira Caldas (1759-
29
BRANDO, 1995, p. 65.
25
1769), seguindo instrues da Coroa portuguesa, concedeu-lhe os privilgios de cidade,
mudando o nome para Oeiras.
Por essa poca, no termo da cidade e circunvizinhanas, j eram numerosos os
domiclios com estrutura familiar. Na passagem do sculo XVIII para o XIX, entre outras
famlias, j se destacavam: Coelho, Vieira de Carvalho, Sousa Martins, Pereira da Silva e
Arajo Costa, notveis pela posse de terras e rebanhos e poder de influncia junto aos
delegados da Coroa portuguesa. Em decorrncia da atividade de criao extensiva, base da
riqueza dos habitantes daquela cidade, a populao se concentrou na zona rural, formando
uma rede de sociabilidades que se limitava ao crculo dos parentes e as famlias de igual
condio social.
Segundo o ouvidor Duro, regularmente os prprios vaqueiros [eram chamados]
para servirem de juzes e vereadores nas Cmaras, confirmando o que se concluiu acima
acerca da formao dessas primeiras famlias e o importante papel social que desempenharam
nessa poca. Essas famlias, a partir de 1743, recorreram Coroa para mediar os conflitos
locais, reconhecendo o poder da autoridade portuguesa. Mediando as divergncias locais,
atendendo favoravelmente demanda das famlias que habitavam na capitania, a Coroa
reconhecia a crescente influncia que elas exerciam nas suas decises, incluindo-as no restrito
crculo da autoridade ou poder.
No extremo norte do Piau, Parnaba foi uma das vilas para a qual se cogitou a
transferncia da sede do governo
30
. nico porto martimo da Capitania, no final do sculo
XVIII, constitua-se em importante emprio comercial, exportando carne seca para Bahia,
Par, Minas Gerais e Rio de J aneiro, bem como outros produtos, tais como couro e algodo.
Na passagem do sculo XVIII para o XIX, em contato direto com a Europa e outras regies
do Brasil, j se destaca um grupo de famlias notveis pela riqueza e tambm pelo estilo de
vida refinado, mais prximo dos hbitos e costumes europeus, considerados civilizados.
Entre as famlias distintas se destacavam os Dias da Silva, que possuam grande
riqueza, habitavam casares assobradados com capela contgua, empreenderam viagens
Europa, cultivaram a msica e possuam escravos de libr
31
. A famlia Miranda Osrio, por
sua vez, destacava-se pela riqueza, mas principalmente pela erudio. Esta distino
parnaibana, expressa exemplarmente na vivncia dos Dias da Silva e dos Miranda Osrio,
favorecia a circulao de jornais e livros, o que transformou Parnaba em um centro de
30
COSTA, 1974, v. 2, p. 233.
31
Sobre esse tipo de escravos treinados para atender s necessidades pessoais do senhor, cf. FALCI, 2002, p. 241-
277; DEL PRIORE, 2006, p. 141-149
26
convergncia dos debates sobre a independncia do Brasil
32
. O estilo de vida das famlias da
Parnaba no impediu que integrassem a rede de relaes entre as famlias proprietrias de
terras, rebanhos e escravos, no sentido de dominar a capitania
33
.
Outra vila, Campo Maior, apresentava maior progresso do que Oeiras, localizada
numa espaosa e alegre campina, com 79 fogos semelhana de povoao do Reino,
desafrontada de matos; mais capaz de ser cidade do que esta de Oeiras, que fica numa
furna
34
. Antes mesmo da elevao da freguesia condio de vila, a famlia Castelo Branco
j exercia domnio na regio. Essa famlia se integrou ao acordo tcito
35
estabelecido entre as
famlias distintas da terra, apresentando interesses convergentes no que diz respeito ao
exerccio da autoridade ou poder na capitania do Piau.
Ainda que relativamente insignificante, o nmero de habitantes no termo da vila de
Campo Maior, havia um comrcio de produtos de primeiras necessidades, tais como aves,
porcos, carneiros, bodes, gado vacum, algodo, mel de cana e aguardente. Do mesmo modo,
j existia tambm uma significativa diviso social do trabalho, conforme se pode depreender
de documento da Cmara, datado de 1764, o qual legislava sobre taxas a serem cobradas pelos
servios de profissionais tais como ferreiro, carpinteiro, alfaiate, sapateiro e pedreiro
36
. Nesse
aspecto, guardadas as propores de uma vila para outra, j estava disseminado um incipiente
comrcio e uma diviso social do trabalho. No obstante as potencialidades que qualquer um
dos ncleos urbanos da poca pudesse apresentar, a idia da transferncia da capital se
efetivou somente em meados do sculo XIX.
32
BASTOS, 1994, p. 409, 538 e 542.
33
O objetivo aqui demonstrar que, na poca da criao das vilas, no Piau j existiam famlias distintas,
expresso que denomina o grupo das famlias que se formou no contexto social do XVIII. Aliceraram essas
famlias, vaqueiros, moradores e os portugueses natos que se fixaram na capitania do Piau. O patrimnio em
bens materiais que construram e o poder de influenciar as decises dos representantes da Coroa portuguesa
deram ao grupo a liderana na conduo do processo de formao da sociedade piauiense. As famlias aqui
citadas ilustram a afirmao, so apenas famlias entre as famlias distintas. necessrio considerar que nas
ltimas dcadas do sculo XVIII e por todo o sculo seguinte, os matrimnios entre membros dessas famlias
geraram novos grupos familiares que ainda hoje exercem influncia social no Piau.
34
FRANCO, 1983, p. 82.
35
Referencia a rede de interdependncia que se estabeleceu entre as famlias distintas desse perodo, no sentido
de imporem sua autoridade ou poder por toda a capitania do Piau, embora no existam indcios de acordo
firmados entre elas. Colocamo-nos em posio distinta a idia de espaos isolados de autoridade ou poder de
cada famlia. A rea habitada pelos membros da famlia Sousa Martins, por exemplo, extrapolava os limites do
municpio de Oeiras, conseqentemente, tambm, sua rea de influncia. O que se percebe e a solidariedade
entre essas famlias nos momentos em que sua autoridade ou poder estiveram ameaados. As divergncias
entre elas afloraram em diversos momentos nos sculos XVIII, XIX e XX, contudo, no alteraram as relaes
de poder que estabeleceram desde essa poca, no impediram que membros de famlias distintas rivais
contrassem laos matrimoniais. Dados nesse sentido, cf. COSTA, 1974, v.1 e 2; NUNES, 1975, v.1; RGO,
2001.
36
COSTA, 1974, v. 1, p. 162-163.
27
No extremo sul do Piau localizava-se a vila de Parnagu. Como em Parnaba e
Campo Maior, o nmero de seus habitantes da zona rural era maior do que nos limites da vila.
Geograficamente distante do centro poltico da Capitania e com dificuldades de comunicao
com a mesma, as famlias distintas dessa vila, como a Barros, Nogueira, Ribeiro e
Cavalcante, estabeleceram relaes econmicas e sociais com a Bahia. A famlia Carvalho da
Cunha, uma das mais preeminentes da vila, casou J oo Lustosa da Cunha Paranagu com
Amanda Pinheiro de Vasconcelos, filha do Visconde de Montserrat, importante poltico
baiano
37
. Todavia, essas famlias, assim como outras residentes na vila, integraram-se ao
grupo de famlias que conduziu o processo de formao da sociedade piauiense.
As demais vilas, eram pequenas, constituam-se em espaos de moradia de uma
populao diminuta, de pouca ou nenhuma influncia poltica junto s autoridades reais, cujos
habitantes no preenchiam nem mesmo os requisitos necessrios para exercer os diferentes
cargos da Cmara. As famlias distintas residiam em suas fazendas, nas circunvizinhanas
das vilas. Em Valena, entre outras, se destacavam as famlias Pereira Ferraz, Portella, Castro
Veloso e Nogueira; em J erumenha os Alves da Rocha, Fonseca e Pereira.
Diante do quadro de predomnio da populao rural, a Coroa portuguesa insistia com
seus representantes para reverter o quadro de ruralismo que caracterizava a sociedade em
formao. Nesse sentido, determinou ao primeiro governador da capitania:
Vossa Merc [deve persuadir] aos mesmos povos que tambm a nobreza deste reino
tem fazendas a 5, 10, 15, 30, 40, 50, 60 e mais lguas fora das cidades e vilas onde
habitam; e que por isso no vai viver com os gados e com os irracionais nessas
distncias para se escurecer at vir perder a nobreza na habitao de ermos to
remotos; por cuja razo as pessoas distintas, ou que se procuram distinguir,
costumam viver, nas cidades e vilas, terem nas fazendas criados e administradores
para tratarem delas, e irem ento visit-las de tempos em tempos, para no se
perderem.
38
Como incentivo fixao nas vilas, a Coroa passou a oferecer vantagens. O esforo
de persuaso expressava-se atravs de regimentos como o seguinte:
37
J oo Lustosa da Cunha Paranagu (1821-1912) era irmo do Baro de Paraim e do Baro de Santa Filomena.
Pai do conde de Paranagu e marqus de Monferrat. Formou-se na Faculdade de Direito em Olinda em 1846.
Foi Veador da Casa Imperial, Gentil Homem da Imperial Cmara, oficial da Imperial Ordem da Rosa e
comendador da Ordem de So Gregrio Magno. Conselheiro do Imprio e ministro de diferentes pastas.
Presidiu as provncias do Maranho, Bahia e Pernambuco. Foi deputado geral e senador pelo Piau. Na Bahia,
atuou como advogado e atingiu a magistratura. Exerceu cargos administrativos como de delegado de polcia e
secretario da provncia, alm de exercer o mandato de deputado provincial. No Rio de J aneiro, foi chefe de
polcia e juiz de direito em Petrpolis. Pertenceu ao IHGB, do qual foi presidente. Fundou e presidiu a
Sociedade Brasileira de Geografia. Cf. PACHECO, 1917; ACADEMIA PIAUEINSE DE LETRAS, 1980;
BASTOS, 1994, p. 362-363.
38
COSTA, 1974, v. 1, p. 148.
28
Os ofcios de justia das mesmas vilas no sero dadas de propriedade, nem de
serventia, a quem no for morador nelas. Entre os seus habitantes, os que forem
casados preferiro aos solteiros para as propriedades, e serventias dos ditos ofcios;
porm os mesmos moradores solteiros sero preferidos a quaisquer outras pessoas
de qualquer prerrogativa e condio que sejam, [...] de sorte que s aos moradores
das ditas vilas se dem estes ofcios
E por mais favorecer aos outros moradores hei outrossim por bem, que no
paguem maiores emolumentos aos oficiais de justia ou fazenda, do que aqueles que
pagam os moradores dessa capital, assim pelo que toca escrita dos escrives, como
pelo que pertence as mais diligencias, que os mesmos ofcios fizerem.
Por favorecer ainda mais aos sobreditos moradores [...] hei por bem de os isentar a
todos de pagarem fintas, taxas, pedidas e quaisquer outros tributos, e isto por tempo
de doze anos, que tero principio do dia das fundaes das ditas vilas, em que se
fizerem as primeiras eleies das justias que ho de servir nelas, excetuando
somente os dzimos devidos a Deus dos frutos da terra, os quais devero pagar
sempre com os mais moradores do Estado.
E pelo muito que desejo beneficiar este novo estabelecimento, sou servido que as
pessoas, que morarem dentro nas sobreditas vilas, no possam ser executadas pelas
dividas, que tiverem contrado fora dela e de seus distritos. O que porm se
estender somente nos primeiros trs anos, contados do dia em que tais moradores se
forem estabelecer nas mesmas vilas, ou seja nas suas fundaes, ou no tempo
futuro.
39
Ocupar ofcios rgios exigia educao formal necessria execuo das tarefas
administrativas, o que despertou na gente distinta ou nobreza da terra o interesse pelo
ensino. Disto decorreria uma crescente demanda, a qual a Coroa portuguesa no foi capaz de
atender. O ltimo governador nomeado pela Coroa, Elias J os Ribeiro de Carvalho (1819-
1821), relatou sobre o ensino na cidade de Oeiras:
O que mais se deve esperar de uma cidade cujas cadeiras de primeiras letras e
Gramtica Latina esto por prover, porque no h pessoas que possua medianos
conhecimentos para as ocupar? Que se pode esperar de uma cidade onde em mais de
dois anos que governo s tenho mandado passar uma proviso para advogado, e este
mesmo tal qual Deus sabe? Que mais se deve esperar de uma cidade onde no existe
seno a ltima classe de povo e poucos empregados pblicos.
40
O contundente discurso do representante piauiense s Cortes portuguesa confirma o
discurso do governador portugus, revelando a dimenso do problema de forma ampliada para
o contexto da provncia.
Setenta mil portugueses, cidados pacficos do Piau, so setenta mil cegos que
desejam a luz da instruo pblica, para que tem concorrido, com seus irmos, de
ambos os hemisfrios, pagando o subsidio literrio, desde a sua origem, e apenas
conhecem trs escolas de primeiras letras, na distancia de sessenta lguas cada uma,
estas incertas, e quase sempre vagas, por no haver na provncia quem queira
submeter-se ao peso da educao da mocidade, pela triste quantia de sessenta mil
ris anuais, quando a um feitor de escravos, tendo cama e mesa, se arbitra no pas a
quantia de 200$000 anualmente.
41
39
COSTA, 1974, v.1, p. 144-145.
40
KNOX, 1986, p.16.
41
COSTA, 1974, v. 2, p. 263-264.
29
possvel que a cifra de 70 mil corresponda apenas ao nmero de piauienses sem
instruo, uma vez que, em 1826, apenas quatro anos depois, a estimativa da populao geral
era de 94.948 habitantes
42
. Vrios fatores urdiam contra o desenvolvimento do ensino: o clima
de insegurana no permitia que os alunos transitassem tranquilamente; a disperso da
maioria da populao pela zona rural afastava alunos e professores, estes concentrados nas
vilas e povoados e os baixos salrios pagos aos mesmos concorreram para a permanente
vacncia das cadeiras do magistrio.
Por outro lado, as atividades bsicas da economia dispensavam educao formal
como elemento necessrio a sua execuo, os mais novos aprendiam diretamente observando
as situaes de trabalho. Por isso, a maioria da populao colocava a leitura e a escrita em
plano secundrio, visto que tinha pouca importncia para sua sobrevivncia
43
. Esse contexto
determinou o surgimento do ensino alternativo, representado pelas aulas particulares de
primeiras letras, ministradas nas prprias fazendas, segundo interesse e convenincia dos
fazendeiros. No caso do ensino secundrio, os piauienses cursaram em outras provncias
como o Maranho, Bahia, Pernambuco
44
ou Rio de J aneiro. A criao do colgio Boa
Esperana, do padre Marcos de Arajo Costa, na dcada de 1820, e do Liceu Piauiense, na
dcada de 1840, contribuiu para diminuir o nmero de piauienses que deixavam a provncia
em busca do ensino secundrio. Esse contexto tornava a aprendizagem formal onerosa, apenas
a nobreza da terra estava em condies de assumir tal nus. Na falta de escolas superiores
na Colnia, as famlias de maior poder aquisitivo encaminharam seus filhos para as
faculdades da Europa, em especial para Portugal e Frana. Depois da emancipao poltica do
Brasil, para as faculdades localizadas em Olinda, depois Recife, tambm para So Paulo,
Salvador e Rio de J aneiro.
O oferecimento de ofcios rgios para aqueles que se fixassem nas vilas teve como
desdobramento o processo de luta entre as famlias distintas da terra e os oficiais da Coroa,
motivada pelo desejo de ambas as partes de manter o controle poltico e administrativo da
Capitania. As famlias piauienses perceberam a importncia de ocupar os ofcios rgios como
42
COSTA, 1974, v. 2, p. 367 e 381. As taxas de iletrados permaneceriam altas para alm do sculo XIX, segundo
FREITAS (1988, p. 94), em 1911, 90% da populao piauiense era constituda de pessoas que no dominavam
a leitura nem a escrita.
43
Mais de uma fonte indica a abundncia de frutos, caas e peixes no Piau do sculo XIX, o que permitia
populao maior tranquilidade quanto ao alimento dirio. Um documento afirma: talvez a abundncia do pas
concorra para estes males, isto , a preguia e o desleixo atribudo ao piauiense oitocentista. COSTA, 1974, v.
2, p. 227.
44
COSTA, 1974, v.2.
30
um elemento de ascenso social, embora muitos j estivessem engajados no servio da
Coroa
45
.
Vrios episdios ilustram como foi intensa essa luta. Um fato ocorrido com o quarto
governador da capitania, Dom J oo de Amorim Pereira, denota que as foras locais tentavam
comprometer os representantes da Coroa. Em dezembro de 1797, o governador encaminhou
missiva ao presidente da Cmara da vila de Parnaba com o seguinte teor:
Logo que Vossa Merc receber esta minha ordem far avisar aos vereadores e mais
oficiais dessa cmara para que se ajuntem no dia e hora que lhe determinar [...] e
quando estiverem juntos, Vossa Merc, entregar ao vereador Joaquim Barroso de
Veras as fivelas de ouro que vo nesse embrulho, que deve Vossa Merc abrir, para
que se veja e realize a sua entrega, e o repreender severa e asperamente do
temerrio e atrevido arrojo que ele teve de fazer-me semelhante presente, atacando
por um modo to escandaloso a minha independncia, a minha honra e inteireza,
devendo fazer um termo de entrega em que o mesmo se assine, e que remeter para
esta secretaria, deixando no mesmo senado por copia nos livros de registro, para que
em todo tempo conste do atentado daquele, e do meu procedimento, e finalizado que
seja o ato Vossa Merc deixar preso minha ordem at eu no mandar o contrrio
ao mesmo J oaquim Barroso de Veras na casa da mesma cmara, e no tendo esta
comodidade para ele estar preso far buscar uma casa que sirva para esse fim;
avisando ao depois a mesma cmara da tida priso para que nomeiem outro vereador
que deva substituir o seu lugar.
46
O segundo governador do Piau, Gonalo Loureno Botelho de Castro, no escapou
de ser fantoche nas mos de uma das famlias mais influentes no cenrio social piauiense do
sculo XVIII, a famlia Rego Castelo Branco
47
. Outro governador, Carlos Csar Burlamaqui,
foi preso, destitudo de suas funes reais e teve seus bens seqestrados, numa trama urdida
entre Oeiras e So Lus, envolvendo entre outras personalidades o ento governador do
Maranho, J os Toms de Menezes, o coronel Francisco da Costa Rabelo, nomeado
governador interino do Piau, por Toms de Menezes e J os Loureno de Mesquita, na poca,
oficial da administrao real
48
.
45
Sobre a importncia social dos ofcios rgios no Brasil colnia cf. WEHLING, WEHLING, 2000, p. 139-159.
Segue uma relao de piauienses que ocupavam cargos ou prestavam servios Coroa portuguesa, no perodo
de 1754 a 1776: J os Marques da Fonseca Castelo Branco (ouvidor), Jos de Abreu Bacelar (arrendatrio de
dzimos da Fazenda Real), Francisco da Cunha e Silva Castelo Branco (capito comandante de Companhia
militar), Felix J os Leite Pereira Castelo Branco (capito comandante de Companhia militar), J os da Cunha
Lustosa (capito-mor), J oo do Rego Castelo Branco (comandante militar para defesa do litoral), Felix do
Rego Castelo Branco (servios da Coroa), Marcos Francisco de Arajo Costa (juiz ordinrio) e Antnio do
Rego Castelo Branco (vereador em Oeiras), esses dados so indcios de que na segunda metade do sculo
XVIII, famlias distintas j estavam organizadas de forma a monopolizar funes administrativas na rea de
fazenda, justia e militar, cf. COSTA, 1974, v.1, p. 125-183. Observa-se que a elite ser definida, entre outros
elementos, pela posio formal ocupada na esfera da administrao real.
46
COSTA, 1974, v.1, p. 201-202.
47
COSTA, 1974, v. 1, p. 172.
48
COSTA, 1974, v. 2, p. 232-233.
31
Via de regra, a autoridade metropolitana defendia seus agentes na colnia, nesse
sentido, Burlamaqui foi posto em liberdade e lhe seriam restitudas todas as vantagens
inerentes aos cargos que exercia e penalizados aqueles que contra ele conspiraram. Esses fatos
ressaltam o campo tenso das relaes poltico-sociais na capitania do Piau, sublinhando, de
modo particular, os intensos conflitos entre uma burocracia patrimonialista, encetada pela
Coroa portuguesa e os interesses locais, comumente atrelados aos grandes proprietrios.
1.1.1. Manoel de Sousa Martins: a ascenso da elite piauiense
Considerando a virada do sculo XVIII para o XIX, a famlia Sousa Martins,
aquela que melhor ilustra o aparelhamento dos ofcios reais na capitania do Piau por parte
dos grandes fazendeiros. Acompanhar a trajetria social de Manoel de Sousa Martins (1767-
1856), um dos seus mais expressivos membros, interessante para se refletir sobre a forma de
ascenso dos proprietrios de terra. Descendente de famlias portuguesas radicadas no Piau,
piauiense de nascimento, rico fazendeiro, Sousa Martins foi distinguido cavaleiro da ordem
do Hbito de Cristo, por concesso da Coroa portuguesa. Em 1825, receberia do Imprio o
ttulo de Baro, bem como o de Visconde, em 1841. Detentor de formao militar assentou
praa como soldado raso, nas ltimas dcadas do sculo XVIII; em 1804 era alferes da 5
companhia do Regimento de Cavalaria de Milcias, sob o comando do coronel Lus Carlos
Pereira de Abreu Bacelar, foi reformado como brigadeiro, em 1820. Seu engajamento na
administrao da Capitania ocorreu quando assumiu o cargo de Tesoureiro Geral da J unta
Real da Fazenda
49
.
Na dcada de 1820 comporia a J unta de Governo que se formou em cumprimento ao
Decreto Rgio de 27.09.1821, fato que favoreceria sua participao no movimento de adeso
do Piau Independncia do Brasil. Conseguiu, estrategicamente, reunir em torno de si
lideranas da capital, bem como das vilas da Parnaba e de Campo Maior, no combate s
foras portuguesas aquarteladas aqui, o que resultaria em sua nomeao para a presidncia da
Provncia, em 1823. A partir dessa data, a famlia Sousa Martins se apoderou do aparelho
administrativo provincial, dominando o Piau por mais de duas dcadas. Ainda que houvesse
resistncias pontuais dominao dessa famlia, a nomeao de Manoel de Sousa Martins
49
Dados biogrficos sobre Manoel de Sousa Martins cf. ALENCASTRE, 1981; PINHEIRO FILHO, 1988;
FRANCO, 1983; COSTA, 1974, v. 2; BASTOS, 1994.
32
para a presidncia da provncia representou a vitria dos fazendeiros piauienses sobre as
foras dos representantes rgios, dando visibilidade e consistncia elite piauiense
50
.
Ainda assim, as divergncias entre as famlias da elite seriam atenuadas no processo
de construo do Estado Imperial, especialmente a partir de 1835, com a criao das
Assemblias Legislativas em cada provncia. Grupos familiares da elite conquistaram um
espao formal de embate, o que deslocou os conflitos para a esfera institucional, permitindo o
controle por parte do Estado. Levantamento dos deputados provinciais, entre 1835 e 1889,
confirma a presena de famlias piauienses de reconhecido prestgio social representadas na
Assemblia Provincial, registra-se: Miranda Osrio, Alves Rocha, Sousa Martins, Arajo
Costa, Coelho de Resende, Coelho Rodrigues, Rgo Monteiro, Moraes Rgo, Sousa Mendes,
Pires Ferreira, Nogueira, Castro e Silva, Ribeiro Gonalves, Burlamaqui, Ara Leo, Gaioso,
Cunha Lustosa, Aguiar, entre outras. Consultando a relao de deputados estaduais, entre
1890 e 1950, observamos que essas famlias permaneceram atuantes no cenrio da poltica
piauiense, at meados do sculo XX
51
.
Aos poucos, as famlias da elite foram se acomodando nas diferentes esferas da
administrao da provncia. Ao longo do Imprio, alm de Manoel de Sousa Martins, trs
piauienses foram nomeados presidentes da provncia: Marcos Antnio de Macedo, Polidoro
Csar Burlamaqui e Loureno Valente Figueiredo
52
. Da mesma forma, ainda que por curto
perodo de tempo, vinte e cinco piauienses, na condio de vice-presidentes da provncia,
governaram o Piau. Entre eles: Simplcio de Sousa Mendes, Ernesto J os Baptista, Antnio
Sampaio de Almendra, J os Manoel de Freitas, J os Francisco de Miranda Osrio, Augusto
da Cunha Castelo Branco, J os de Arajo Costa, Firmino de Sousa Martins, Manuel Idelfonso
de Sousa Lima e Raimundo de Ara Leo
53
. Como se observa, a partir de meados do sculo
XVIII, perodo de implantao da administrao real no Piau, famlias piauienses,
possuidoras de rico patrimnio material, monopolizaram a estrutura de governo e dela se
utilizaram para reafirmar sua autoridade ou poder.
50
A expresso elite equipara-se a expresses como pessoas distintas, nobreza da terra ou gente principal,
no Piau corresponde a uma parcela significativa de proprietrios de terras que foram contemplados com a
redistribuio de terras realizadas no sculo XVIII, pelos governadores do Maranho e Piau. Ao longo dessa
mesma centria, as pessoas distintas minaram o poder dos potentados pernambucanos e baianos, assumindo
o processo de formao da sociedade piauiense.
51
O nmero de famlias bem maior do que a relao apresentada. Destacaram-se algumas que tiveram papel
decisivo em acontecimentos memorveis da sociedade piauiense. Estudos sobre o Legislativo piauiense:
GOMES, 1985; TITO FILHO, 1980; sobre o Executivo: TITO FILHO, 1978; apontamentos genealgicos:
CARVALHO, 1988; FERRAZ, 1926.
52
RGO, 2001, p.205.
53
RGO, 2001, p. 210-211.
33
1.2. Prticas sociais rurais no Piau oitocentista
Em 1810, a capitania do Piau possua de 60 a 70 mil habitantes, vivia da criao de
gado e da agricultura de subsistncia. Exportava gado vacum e cavalar, peles de cabra e
ovelha. Do rebanho caprino e ovino retiravam o alimento, carne e leite. Perdem, porm, o
principal, que a l, porque no sabem dela fazer uso
54
. Como se observa, a criao de gado,
atividade que motivou a ocupao e povoamento do serto do Piau, no sculo XVII, era ainda
uma criao extensiva, de baixa produtividade e sem inovao do ponto de vista tecnolgico.
As famlias da elite possuam um complexo de fazendas, isto , vrias fazendas e
stios que nutriam sua autoridade ou poder, cujo centro era a casa de telha ou casa grande da
fazenda
55
, residncia do proprietrio e de sua famlia. Nesse crculo familiar so valorizados
os vnculos biolgicos e afetivos em detrimento de interesses e idias
56
Possuidor do ttulo
legal da terra, o proprietrio pretende com isso exercer o domnio pessoal sobre os habitantes
do complexo de fazenda. A predominava relaes firmadas no compromisso pessoal baseado
no direito costumeiro do lugar, cuja fonte era a vontade dos proprietrios.
Os moradores livres, assim como os escravos, integravam grupos socialmente
subalternos. Contudo, a condio de morador permitia escapar s diferentes formas de perigos
a que estavam sujeitos os pobres, inclusive aos rigores da lei
57
. Uma vez fixado na grande
propriedade, o morador podia criar algumas cabeas de gado, aves domsticas e cultivar roas
de onde tirava o sustento, em geral, com a obrigao de ceder ao fazendeiro parte da colheita.
Tinha liberdade para caar e colher frutos nativos pela extenso da propriedade. Com
regularidade, por falta de um mercado consumidor, o leite recolhido na ordenha destinava-se
ao consumo dos habitantes do complexo de fazendas, indistintamente, o mesmo acontecendo
quando abatiam uma rs ou qualquer outra criao.
Este convvio estreitava-se quando moradores, vaqueiros e at mesmo escravos,
convidavam o fazendeiro ou algum outro membro da sua famlia, para estabelecer laos de
compadrio
58
. Este tipo de convivncia no diminuiu a explorao dos fazendeiros sobre os
moradores e escravos de sua propriedade, pelo contrrio, contribuiu para a consolidao da
autoridade ou poder senhorial, dificultando entre os moradores o desenvolvimento da
conscincia de dependncia e explorao.
54
COSTA, 1974, v.2, p. 227.
55
Sobre a expresso complexo de fazenda cf. FALCI, 1995; sobre a expresso casa de telha ou casa grande
da fazenda cf. CASTELO BRANCO, 1970.
56
HOLANDA, 1975, p.47.
57
MONTEIRO, 1981, p.20.
58
Concepo de compadrio cf. VAINFAS, 2000, p.126-127.
34
No obstante o isolamento das fazendas e da populao, determinadas prticas
sociais coletivas foram se desenvolvendo conforme o carter familiar e rural da sociedade. O
exemplo a vaquejada e a farinhada
59
, prticas sociais coletivas em que trabalho e
divertimento se confundiam em uma mesma atividade. No caso da vaquejada, o gado criado
solta, era reunido, identificado e contado. Discriminado, as crias novas recebiam a ferra e as
reses doentes recebiam tratamento. A atividade envolvia os habitantes de diferentes
complexos de fazendas de uma mesma regio.
Essas atividades alteravam a rotina dos crculos familiares, implicava o deslocamento
e contato de pessoas, permitia a troca de experincias. Reunidos em uma fazenda durante
vrios dias, enquanto realizavam o trabalho, conversavam, comiam e bebiam. O alimento,
geralmente arroz, feijo, farinha e carne, era servido ali mesmo, no local de trabalho, aos
senhores, moradores e escravos que, indistintamente, se sentavam em bancos de madeira ou
mesmo pelo cho.
As redes ficavam armadas pelos alpendres e latadas
60
, noite, improvisavam versos
cantados, com acompanhamento de viola, celebrando a vida sertaneja. Vrios letrados do
sculo XIX se apropriaram do versejar rurcola, desenvolvendo a chamada poesia de temas
sertanejos. As mulheres acompanhavam os maridos, ajudavam no preparo da comida, e, com
elas, levavam as crianas, as almofadas de bilros e fusos, onde teciam o algodo. Realizada
anualmente, a vaquejada era um evento festivo esperado por todos os habitantes de uma
regio.
Nas residncias, tanto de alguns senhores como de moradores do complexo de
fazendas, era comuns as novenas, que homenageavam um santo. Abdias Neves, um dos
literatos piauienses mais renomados na passagem do sculo XIX para o XX, escreveu: Os
festejos, faziam-se fora sob uma latada, no terreiro [...] onde fora erguido o altar. Altar,
propriamente no, um dossel de cobertas sobre uma mesa e muitas flores, muitos ramos em
redor
61
, tendo ao centro a imagem do santo homenageado. Todas as noites, um grupo de
pessoas se reunia para rezar o tero ou o rosrio. Na derradeira noite, era comum a grande
afluncia de pessoas, embora no houvesse convite formal. Algumas novenas, dependendo do
prestgio do promotor, recebiam a visita do padre da freguesia. Nessa noite, alm das oraes,
59
IGLESIAS, 1952, p. 183-184; RIBEIRO, 1995, p. 344; HOLANDA, 1975, p. 30; CASTELO BRANCO, 1988,
p. 27- 66, aqui a literatura sociolgica e ficcional se encontra na forma de ver as relaes sociais.
60
Expresso nordestina que se refere a abrigos improvisados, em geral, de madeira e palmas.
61
Descrio de Abdias Neves em artigo de nov. 1907, em revistas piauienses em circulao em Teresina.
35
havia missa e festa danante, com farta distribuio de comida e bebida
62
. Fartura e
sofisticao dependiam das condies materiais do promotor da novena.
No espao das fazendas, ainda se realizava a desobriga, outro momento de
convivncia social rurcola
63
. Como a maioria da populao estava isolada e dispersa pela
zona rural, periodicamente os procos se deslocavam pelo serto, realizando batizados e
casamentos, celebrando missas, ministrando o sacramento da eucaristia queles que se
arrependessem dos pecados cometidos. Um complexo de fazenda, de mais fcil acesso aos
paroquianos, sediava essas atividades religiosas, colocando o acontecimento sob o controle
tanto da autoridade eclesistica como do fazendeiro. Esse um desenho das principais
prticas sociais coletivas que se desenvolveram na zona rural piauiense ao longo do sculo
XIX. Guardadas as devidas transformaes, esse desenho permaneceu vlido at meados do
sculo passado.
Quanto ao incipiente setor urbano, por todo o sculo XIX se apresentou vinculado ao
rural. A rusticidade do viver urbano chamou a ateno dos viajantes que passaram pelo Piau
na primeira metade dessa centria. George Gardner registrou seu contato com o presidente da
provncia, o poderoso Manoel de Sousa Martins. Impressionou-o a simplicidade do traje com
o qual a autoridade o recebeu: leve camisa branca de algodo, solta por cima de calas do
mesmo tecido e que desciam pouco abaixo dos joelhos, mostrando as pernas, calava um par
de chinelos velhos e trazia em volta do pescoo diversos rosrios, com crucifixos e outros
berloques de ouro. O viajante informou que, nos abrasadores dias de calor, no interior das
residncias, era assim que os piauienses do sexo masculino se vestiam
64
.
O ambiente das refeies e os comensais do presidente da provncia tambm
chamaram a ateno do ingls. As refeies eram servidas numa vasta sala sem
ornamentao, apenas uma mesa, cujo comprimento tomava quase todo o ambiente. Sousa
Martins tomava assento cabeceira e, nas laterais, em longos bancos de madeira, sem
encosto, se sentavam os convidados, em geral, simples vaqueiros, empregados do
presidente
65
. Considerando que os fatos se passaram no centro poltico da provncia, no
palcio do governo, possvel conjecturar o que acontecia na intimidade das fazendas, longe
de olhares estranhos, quando o fazendeiro e sua famlia se reuniam para as refeies e no se
sentiam obrigados a cumprir as formalidades necessrias ao ato.
62
AZEVDO, 1986, p. 55-66; CASTELO BRANCO, 1988, p. 67- 86.
63
IGLSIAS, 1952, p.73.
64
GARDNER, 1975, p.123-124.
65
GARDNER, 1975, p. 131.
36
Duas dcadas depois da passagem de Gardner, o presidente da provncia, J os
Ildefonso de Sousa Ramos, Baro das Trs Barras, queixava-se ao Ministro do Imprio de
como a moblia do palcio da presidncia era constituda de peas toscas, as cadeiras, por
exemplo, com assento de sola preta crivada de pregos de lato, chegavam a manchar a roupa
das pessoas. Muitas vezes, o palcio era invadido por cobras, que ameaavam seus habitantes
e empregados
66
.
No h informaes sobre movimentao pelas ruas das vilas e cidades piauienses na
primeira metade do sculo XIX. O incipiente comrcio a grosso e a varejo, se realizava a
intervalos regulares ou em lojas que funcionavam na residncia do comerciante, sem horrios
regulares de funcionamento, abertas segundo a vontade do proprietrio e do fregus. Poucos
artesos tinham tenda aberta nos centros urbanos, presume-se que, pela fora da tradio,
ofereciam seus servios, de casa em casa, de fazenda em fazenda. A utilizao dessa mo de
obra implicava despesas que a maioria da populao no podia pagar, realizando cada pessoa,
os servios de que necessitava. O complexo de fazenda, por exemplo, dispensava muitos
desses trabalhadores e seus servios, uma vez que possua trabalhadores especializados
67
.
Por mais de setenta anos, a zona urbana piauiense permaneceu igual ao perodo de
sua criao, apenas seis vilas e uma cidade, dependentes do mundo rural, infraestrutura
precria, nenhum melhoramento ou embelezamento, tudo igual ao sculo XVIII. Somente a
partir de 1832, foram criadas novas vilas, a exemplo de J aics, Piracuruca, Prncipe Imperial,
Poti, Amarante, Barras e So Raimundo Nonato
68
que, do ponto de vista urbanstico, eram
pouco atraentes.
Dois tipos de eventos quebravam a monotonia do viver urbano, as festividades
oficiais organizadas pelas autoridades administrativas e, em especial, as festividades
religiosas. As festas oficiais estavam relacionadas posse dos governantes da capitania e,
depois, provncia, ou abertura do ano legislativo, eventos bastante concorridos pelos
membros da elite, como observamos pela transcrio da crnica de posse do primeiro
governador da capitania, ainda no sculo XVIII. Algumas datas, tambm eram festejadas: a
independncia do Brasil e aniversrios de membros da famlia real, quando rezavam missas e
entoavam Te Deum, seguidas de sesses solenes no Senado da Cmara ou no Palcio de
governo. Durante as noites festivas, nos prdios das reparties administrativas e na
residncia das gentes principais se ascendiam luzes. Em maro de 1840, por ocasio do
66
NUNES, 2007, p. 24.
67
COSTA FILHO, 1992, p. 23-33.
68
FRANCO, 1977.
37
natalcio da Imperatriz D. Teresa Cristina e da princesa D. J anuria, o presidente da provncia,
J os Ildefonso de Sousa Ramos, promoveu duas festas, s quais compareceu a elite oeirense.
E todos [...] compareceram no Palcio do Governo nas noites desses dias [11 e 14 de
maro], entretendo-se com inocentes recreios at quase ao amanhecer, e formando-
se assim em ambas as noites reunies pelo crescido nmero de pessoas presentes e
distino delas, e contentamento que mostraram, so por certo as mais brilhantes que
se tem visto nesta cidade.
69
Na Igreja comeavam ou terminavam quase todas as cerimnias pblicas oficiais.
Dagoberto Carvalho J r. lembra a grandeza das cerimnias realizadas na igreja de Nossa
Senhora da Vitria, enquanto matriz da capital: Aqui outrora cantaram-se te-deums vibrantes
pela ptria lusa; rezaram-se litrgicas missas de rquiem [...] armaram-se, de orgulho,
vaidosos cavaleiros da ordem de Cristo; enterraram-se, de farda e sabre, sisudos oficiais da
guarda
70
. Nos sermes, os padres indicavam comportamentos e costumes civilizados, faziam
crtica poltica ou, simplesmente, faziam o aconselhamento espiritual
71
. A Igreja, assim como
a Coroa portuguesa, era uma instituio de disciplinamento de comportamentos, hbitos e
costumes.
Diferentemente das cerimnias oficiais, onde a elite tomava parte ativamente e a
populao mais humilde participava como espectadora, as festividades religiosas
possibilitavam a participao de pessoas de diferentes grupos sociais. O natal, a pscoa e o
festejo do padroeiro da vila, eram as principais festas religiosas que animavam os ncleos
urbanos
72
. As famlias da elite se deslocavam para a casa da vila. A cada dia, no final do ato
religioso, a populao reunia-se no adro da igreja para a quermesse, oportunidade para
conversar, consolidar alianas polticas e familiares. Os jovens aproveitavam para namorar.
No ltimo dia do festejo havia procisses pelas ruas da vila, momentos em que a eliteexibia
trajes luxuosos, jias, penteados.
Como se percebe, essas festas fundadas em antigas tradies, se repetiam a intervalos
regulares e, no restante do ano, as vilas no tinham animao. Em Oeiras no havia cafs,
bares, teatros, que pudessem lembrar o centro agitado de Paris ou Lisboa ou Rio de J aneiro ou
mesmo de Recife ou Salvador, cidades que, a partir do final do sculo XVIII, receberam
69
NUNES, 2007, p. 25.
70
CARVALHO J R, 2004, p. 68.
71
Sermes e discursos so excelentes meios de transmisso de informaes no contexto das sociedades com baixo
nvel de leitura e pouca circulao de livros e jornais, a exemplo do Piau nesse perodo. Nesse sentido, cf.
Antonio Candido MELLO E SOUZA, 2000, p.67-99.
72
Esse tipo de prtica se tornou to mais frequente quanto mais se adiantava o sculo XIX; to mais frequente
quanto mais a sociedade avanava no processo de incorporao de hbitos e costumes considerados
civilizados, em especial a elite, que demandava por eventos que rompessem com a monotonia da vida rural.
Sobre festas religiosas cf. VAINFAS, 2002, p. 267-269 e 276-278; NAPOLEO, 1986.
38
filhos da elite piauiense que iam cursar o ensino superior. Nenhuma livraria, nem lojas de
moda masculina e feminina, nada de comrcio de produtos alimentcios e bebidas finas. As
casas comerciais, em geral, ficavam no mesmo espao da residncia do comerciante, que
esperava pacientemente pelos poucos fregueses, levava dias sem realizar uma venda qualquer,
a exemplo da acanhada loja do jornalista Tibrio Csar Burlamaqui, que comercializava
gneros variados, inclusive o jornal O Eco Liberal
73
.
Sem o conforto e o luxo que o universo urbano do sculo XIX j proporcionava as
populaes da Europa, a sociedade rurcola piauiense influenciava a opo dos piauienses de
fixar residncia nas cidades onde concluam a graduao ou mesmo a Corte, onde as
possibilidades de uma vida de sucesso eram promissoras. A famlia Sousa Martins,
dominando a mquina administrativa, restringia o acesso ao limitado mercado de trabalho da
provncia, em parte representado pelos servios na administrao provincial, afastando mais
ainda os recm formados.
Na dcada de 1840, com o declnio do poder dos Sousa Martins e a diminuio do
contexto de violncia que marcou o Piau desde o sculo XVII, abriu-se a possibilidade de
retorno dos piauienses que estudavam fora da provncia
74
. Um fator de ordem externa foi
determinante para impulsionar o movimento de retorno, o grande nmero de bacharis que se
formava a cada ano nas faculdades do Imprio, era maior do que a oferta de emprego na
magistratura, menor ainda era a demanda por servios especializados, at mesmo nos centros
urbanos mais desenvolvidos
75
. Mas, a transferncia da capital de Oeiras para Teresina abriu
possibilidade de novas formas de convivncia, o que de certa forma atraia os segmentos
letrados para a nova capital.
1.3. Teresina entra em cena: o surgimento do high-life e as prticas sociais urbanas
Segundo indicao das fontes consultadas, Oeiras no apresentava condies para
sediar o governo. Localizada em meio a chapadas, distante de rios navegveis, carente de
estradas, a cidade tinha dificuldades de comunicao com os principais centros literrios,
financeiros e econmicos do Brasil, o que acabou por gerar um longo debate sobre a
73
PINHEIRO FILHO, 1972, p. 79.
74
Sobre o contexto de violncia se infere das fontes consultadas. Observa-se que a partir de meados do sculo
XIX, at meados da centria seguinte, o Piau passou por um processo de mudanas, em especial de hbitos e
costumes, desencadeado por segmentos das elites, na tentativa de adequar a regio ao modelo de vida
civilizada segundo os parmetros europeus.
75
CARVALHO, 1981, p. 51-72. Em relao a atrao das capitais de provncias sobre os indivduos com
formao superior, cf. NEEDELL, 1993, p.75.
39
necessidade da transferncia da capital para um local de mais fcil acesso e comunicao.
Esse debate recorrente, remonta ao sculo XVIII e ressurgiu com vigor em meados do
sculo XIX. A causa recebeu apoio do presidente da provncia, J os Antnio Saraiva (1850-
1853), que efetivou a mudana da capital no ano de 1852. O antigo municpio do Poti, ao
norte da provncia, na confluncia dos rios Parnaba e Poti, recebeu a honraria de sediar o
governo, contudo, problemas relativos a inundaes e salubridade na sede desse municpio,
levaram a construo de uma cidade, Teresina.
Por essa mesma poca, meados do sculo XIX, os Estados Unidos da America e
pases da Europa ocidental, destacando-se a Frana e a Inglaterra, impulsionados pela fora de
sua industrializao, ditavam os princpios de um novo modelo econmico e de novas formas
de convivncia social, com base no capitalismo moderno, racional, industrial e imperialista
76
.
Nessas reas, estava acontecendo a substituio da milenar sociedade rural e agrcola pela
sociedade urbana industrializada. O Brasil harmonizava-se com esta nova ordem social, da
mesma forma, o Piau deveria integrar o conjunto das reas que aderiam ao modelo de
urbanizao e industrializao europia, consideradas civilizadas.
Os partidrios da mudana da capital defendiam em seu discurso a necessidade de
retirar tanto a capital como a provncia do isolamento e promover a modernizao
77
da
economia. A localizao da nova capital era favorvel superao do isolamento, ficava entre
dois rios perenes, vias fluviais que seriam aproveitadas para aproximar o Piau das reas
economicamente desenvolvidas e civilizadas. Foi assim que o governo encampou projeto de
navegao como um dos meios de colocar a provncia na senda do progresso.
Quando em 1858 foi criada a Companhia de Navegao do Rio Parnaba, com sede
em Teresina, o governo provincial aparece como um dos principais acionistas da empresa. No
ano seguinte, o primeiro vapor da companhia foi recebido festivamente no porto fluvial da
capital e, por mais de meio sculo, suas embarcaes navegaram o rio Parnaba transportando
pessoas e mercadorias
78
. No sentido da melhoria da navegabilidade dos rios piauienses, o
governo provincial incentivou estudos acerca da bacia do Parnaba, do Canind e do
Gurguia.
76
HOBSBAWM, 1996.
77
Expresso utilizada para definir as transformaes das sociedades consideradas tradicionais em direo ao
modelo de civilizao europeu, cf. VAINFAS, 2002, p.537-539.
78
Embora com alguns perodos de paralisia das atividades, desse perodo at a dcada de 1940, foi intenso o
movimento de embarcaes no rio Parnaba, cf. MENSAGENS E RELATRIOS DOS GOVERNADORES
DO PIAU, APPI; BASTOS, 1994, p. 387-392.
40
Em 1867, contratado pelo governo da provncia, o jornalista David Moreira Caldas
realizou viagem de estudo pelo rio Parnaba, da qual resultou o Relatrio de viagem feita de
Teresina at a cidade de Parnaba, pelo rio do mesmo nome, inclusive todo o seu delta, por
ordem do Exm. Sr. Dr. Adelino Antnio de Luna Freire, presidente do Piau
79
. Na dcada
seguinte, entre 1870 e 1871, o engenheiro Gustavo Lus Guilherme Dodt percorreu o
Parnaba, em sentido contrrio ao de David Caldas, de Teresina at as nascentes, em viagem
de estudo organizada pelo governo da provncia
80
. Em 1872, por iniciativa do Imprio, foi
organizada a Comisso de Melhoramentos do Rio Parnaba, composta por trs engenheiros,
cujo objetivo era a desobstruo das cachoeiras que impediam a navegao, devendo o
trabalho ser feito com eliminao de uma a uma
81
. A comisso conseguiu melhorar a
navegao em vrios trechos do rio
82
.
Teresina, como capital, centralizava a administrao da navegao alm de ocupar a
posio de principal porto fluvial da provncia. Em 1874 construram uma moderna rampa de
pedra na margem piauiense do Parnaba, para melhor receber passageiros e cargas,
estabeleceram servios de barco a vapor e lanchas de reboque entre Teresina e a povoao de
So J os, hoje Timon, facilitando as relaes entre Piau e Maranho. O projeto de navegao
tambm contemplava a navegao martima. Embarcaes de empresas de Pernambuco e
Maranho faziam transporte de passageiros e mercadorias para o porto de Parnaba, em
intervalos regulares. As empresas fluviais ligavam o litoral ao interior da provncia e s
empresas martimas, o litoral do Piau ao de Pernambuco e Maranho, entre outras regies.
O projeto de vencer o isolamento da capital e da provncia contemplava a abertura de
estradas
83
. Diagnstico realizado pelo governo provincial, em 1873, sobre a situao da
viao constatou:
So pssimas as vias de comunicao e de transportes de todos os municpios da
provncia; no h neles uma s estrada, que valha a pena ser aqui mencionada como
digna desse nome, embora seja fcil e pouco dispendioso o melhoramento das
atuais. As estradas [...] so simples caminhos somente transitados pelo tempo das
79
Publicado em mensagem desse Presidente da Provncia, cf. o acervo MENSAGENS E RELATRIOS DOS
GOVERNADORES DO PIAU, APPI.
80
BASTOS, 1994, p. 190.
81
BASTOS, 1994, p. 422.
82
MENSAGENS E RELATRIOS DOS GOVERNADORES DO PIAU, APPI; BASTOS, 1994, p. 421-425.
83
Nota-se que o projeto de vencer o tradicional isolamento do Piau, implicava na abertura de vias fluviais,
terrestres e ferrovirias. Dotar a capital de equipamento urbano que indicasse civilidade e progresso, como a
construo do teatro e a instalao do relgio em praa pblica, representa mudanas que, num processo quase
imperceptvel, foram influenciando o comportamento de parcela dos habitantes da cidade. A assiduidade ao
teatro sinal de adeso a novas formas de vida social, fora das relaes restritas ao mbito privado. No caso do
relgio, na prpria citao j clara a inteno de racionalizao do tempo e disciplinamento do servio nas
reparties pblicas provinciais.
41
secas e que se deterioram completamente durante a estao invernosa, visto serem
quase todas interceptadas de rios.
84
Vrias vias terrestres foram abertas nas regies norte e sul do Piau que, na falta de
manuteno, logo foram tomadas pelo mato. A idia de progresso e sua relao com abertura
de vias que colocassem o Piau em contato com o resto do Brasil e do mundo, completa-se
com a tentativa de implantao de uma rede de estradas de ferro projetada ainda na segunda
metade do sculo XIX e, parcialmente, construda na centria seguinte
85
.
Do conjunto de medidas possvel notar que a partir desse perodo esforos foram
envidados no sentido da criao de infraestrutura para circulao de pessoas, mercadorias e,
conseqentemente, informaes. Pelas fontes consultadas, o governo provincial, atravs de
seus agentes, aparece como um dos promotores da modernizao e integrao do Piau ao
modelo urbano industrial. Voltando o foco da observao para Teresina, a assertiva parece
verdadeira. Como capital da provncia e sede do governo, os presidentes da provncia tiveram
que atender s demandas por equipamento urbano que pudesse identificar Teresina com os
centros civilizados, como se v no trecho abaixo.
Neste ano [1858] o presidente da provncia dr. Joo Jos de Oliveira J unqueira
comprou uma casa que servia para algumas representaes teatrais de uma
companhia particular, com todos os seus utenslios e decorao interior, pela quantia
de 2:500$000, como fim de aproveit-la para um teatro pblico na capital. Efetuada
a compra, mandou fazer um fronto anlogo ao fim a que se destinava, bem como
interiormente todos os melhoramentos necessrios, de forma que conseguiu preparar
economicamente um sofrvel teatro, a que deu o nome de Santa Teresa e comeou
logo a funcionar, trabalhando uma companhia dramtica.
86
Ao longo do sculo XIX, a representao teatral foi, por excelncia, a forma de
entretenimento tanto dos grupos sociais refinados e elegantes como dos letrados. A maioria
das capitais de provncia possua casa de espetculo, da Corte a Manaus, passando por Recife,
Fortaleza e So Lus, com companhias estabelecidas e temporadas determinadas, incluindo
companhias estrangeiras. No caso de Teresina, apenas seis anos depois da transferncia da
capital, a cidade ganhou sua primeira casa de espetculo, o Teatro Nacional de Santa Teresa
87
,
que esteve em funcionamento at dcada de 1870. Na dcada seguinte, foi inaugurado o
Teatro Concrdia, palco para todo tipo de manifestaes e shows variados, do carnaval aos
saraus literrios, recitais de poesias e conferncias, onde os literatos locais falavam sobre
84
COSTA, 1974, p. 522.
85
Atravs dos conjuntos documentais MENSAGENS E RELATRIOS DOS GOVERNADORES DO PIAU e
LEGISLAO PIAUIENSE, APPI, possvel acompanhar as discusses acerca da implantao de linhas
frreas no Piau.
86
COSTA, 1974, v.2, p. 482.
87
BASTOS, 1994, p. 554-556.
42
assuntos literrios e cientficos, atraindo um pblico diversificado, curioso e vido de lazer,
muito mais do que de conhecimento, como se percebe atravs das notas nos jornais. Em 1894
foi inaugurado o Teatro 4 de Setembro, em funcionamento at nossos dias
88
.
Na presidncia de Adelino Antnio de Luna Freire (1866-1867), um dos cones mais
representativos da modernizao chegou a Teresina.
Neste ano [1866] foi colocado, numa das torres da igreja matriz de N. S. do Amparo
de Teresina, um relgio para servir de regulador pblico, que o governo da provncia
mandou vir da Inglaterra, com o fim de satisfazer a uma necessidade indeclinvel,
sobretudo em relao s reparties pblicas, onde indispensvel a pontualidade
do tempo.
89
O relgio instaurou uma nova concepo de tempo para o teresinense, em especial
aqueles envolvidos com a administrao da Provncia, ainda que a idia de um tempo natural
permeasse todo o restante da sociedade confinada na zona rural.
A preocupao com o progresso e a civilidade levou o governo a intervir no setor da
instruo pblica, no sentido de remover os fatores que impediam o seu desenvolvimento. No
conjunto dos elementos que evidencia novas formas de convivncia social, a educao formal
valorizada como um elemento de conteno dos impulsos individuais e formao de uma
rede de relaes, possvel de ser internalizada atravs da aprendizagem sistematizada. Nesse
sentido, entre as dcadas de 1840 e 1870, partes das aes relacionaram-se organizao de
um corpo administrativo para gerenciar o setor e um corpo docente para o ensino primrio,
atravs da implantao do Ensino Normal, cumprindo dispositivos legislativos, de levar
ensino de primeiras letras s vilas mais densamente habitadas do Imprio. Contudo, o ensino
particular continuou dividindo espao com o ensino pblico, papel que desempenhava desde o
perodo da Colnia, tanto oferecendo aulas particulares relativas a determinadas disciplinas,
como na instalao de colgios com currculos e graus de ensino seqenciados, a exemplo do
Colgio Nossa Senhora do Amparo, para alunos do sexo masculino, que durante um perodo
foi dirigido por J esuno J os de Freitas.
Em 1859, foi criada a Diretoria Geral da Instruo, permitindo ao governo maior
controle sobre a administrao do ensino, tanto pblico como particular
90
. Vale destacar que
na dcada seguinte foi implantado o ensino profissionalizante, a exemplo do Internato
Artstico, escola profissional para meninos rfos e desvalidos. Essa modalidade de ensino
estava em fase de experimentao desde a dcada anterior, quando foi criado o
88
TITO FILHO, 1978.
89
COSTA, 1974, v. 2, p. 501.
90
COSTA FILHO, 2006; COSTA, 1974.
43
Estabelecimento dos Educandos Artfices. Observa-se que o objetivo desta modalidade de
ensino era adequar mo-de-obra para o mundo do trabalho urbano e industrial
91
, o que se
colocava em desacerto com a estrutura produtiva piauiense, uma vez que o urbano e o
industrial tinham pouca penetrao no meio local. No caso do Piau, o ensino
profissionalizante tinha um carter mais filantrpico.
O diretor-geral da instruo, na tentativa de sensibilizar os grupos sociais dominantes
a apoiar as medidas governamentais, incentivou a criao da Sociedade Promotora da
Instruo Pblica, cuja instalao aconteceu no palcio da presidncia da provncia, na
presena de pessoas gradas e cidados de todas as classes sociais
92
. Em seguida, um grupo
de senhoras, da sociedade teresinense, criou a Sociedade Protetora da Infncia Desvalida,
com o intuito de dar vesturio e material escolar necessrio para que crianas pobres
pudessem cursar o ensino primrio.
A Sociedade Promotora da Instruo Pblica, com a doao do governo da provncia
e de particulares, reuniu um acervo de 1.194 volumes e instalou a primeira biblioteca pblica
do Piau, em 1874. Com a extino da referida sociedade, em 1877, a biblioteca passou a
integrar o patrimnio provincial, ficou fechada por um perodo e foi reaberta em 1883. Em
1889, no ano da proclamao da Repblica, foi anexada ao Liceu Piauiense
93
. Todo esforo
no sentido de organizao e difuso do ensino, era parte da crena das elites letradas do
Imprio, de que a educao era o instrumento para difundir a civilizao e o progresso.
A dimenso humana desse projeto de desenvolvimento da provncia encontra sua
correspondente na formao de um segmento especial da populao que se diferenciava pelo
afastamento das formas de viver rurcola. Efetivamente, o projeto de vencer o isolamento,
modernizar a economia e civilizar hbitos e costumes uma demanda desse segmento social e
sua execuo se faz em benefcio de homens e mulheres que o integram. Nas trs dcadas
aps a fundao de Teresina, integra esse seleto grupo a famlia de Antnio Borges Leal
Castelo Branco (1817-1871), Deolindo Mendes da Silva Moura (1835-1872), Cndido Gil
Castelo Branco (1820-?), Antnio de Sampaio Almendra (1829-1871), Manuel Ildefonso de
Sousa Lima (1834-1897), Polidoro Csar Burlamaqui (1836-1894), Simplcio Coelho de Melo
Resende (1841-1915), Helvdio Clementino de Aguiar (1848-1936), Gabriel Luis Ferreira
(1848-1905), Raimundo de Ara Leo (1846-1904), Simplcio de Sousa Mendes (1823-1892),
Davi Moreira Caldas (1836-1879), Miguel de Sousa Borges Leal Castelo Branco (1836-
91
COSTA, 1974; VAINFAS, 2002, verbetes Civilizao, Indstria e Instruo sintetizam aspectos da questo
alm de fazer indicao de leitura.
92
COSTA, 1974, p. 530-533.
93
BASTOS, 1994, p. 77; TITO FILHO, 1978, p.14.
44
1887), Antonio Gentil de Sousa Mendes (1842-1892), Lvio Lopes Castelo Branco e Silva
(1811-1869), Licurgo J os Henrique de Paiva (1844-1887), poeta bomio que morreu solteiro
e os cnegos Raimundo Alves da Fonseca (1842-1884) e Toms de Morais Rego (1845-
1890)
94
.
Esses homens, com esposa e filhos, entre 1852 e 1882, constituram a elite
teresinense. Oriundos da elite rural, domiciliados em Teresina, foram se distanciando das
prticas sociais rurais. Para as camadas letradas do Imprio, e no Piau no foi diferente, a
cidade era o local apropriado para viver as pessoas ilustradas, o ponto de partida do processo
de civilizao, em oposio ao viver rurcola, smbolo do atraso. Portadores ou no de
diploma de curso superior, todos esses homens se notabilizaram pelo saber. Muitos sabiam ler
e escrever em latim, francs, ingls e alemo. Alguns escreviam poesia e discutiam mtrica,
segundo o levantamento biogrfico. Em harmonia com esse contexto social, presume-se que
possuam livros e dedicavam parte do seu tempo leitura, tanto que na dcada de 1870,
particulares liberaram parte do seu acervo bibliogrfico para composio de uma biblioteca
pblica. Enquanto pessoas ilustradas, lecionaram no Liceu Piauiense e na Escola Normal.
Com rarssimas excees, quase todos exerceram atividade na imprensa peridica,
como proprietrios e redatores de jornais. Tambm, dominaram as esferas da administrao
provincial, exercendo cargos no executivo ou mandatos no legislativo. Alguns integraram a
magistratura, como se pode acompanhar no apndice, quadros respectivos.
Residir em Teresina no implicou o abandono das antigas formas de convivncia
rural. Dados de 1885 indicam que, dos 30 mil muncipes, apenas um tero morava no
permetro urbano
95
. A rea central da cidade se constitua de trinta e trs logradouros, entre
praas e ruas, todas espaosas, bem alinhadas e cortadas em ngulos retos, formadas em
geral de boa e elegante edificao, havendo em torno de quinhentos prdios. Noventa
combustores a querosene iluminavam as ruas do centro da cidade
96
. Essa a cidade ordenada,
seguindo seu plano geogrfico inicial, a partir da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, nas
94
Foram selecionadas prioritariamente personalidades que de alguma forma esto ligadas Academia Piauiense
de Letras, entretanto, selecionaram-se, ainda alguns indivduos que ocuparam posies de destaque na
sociedade (atuao na imprensa peridica, na magistratura e no magistrio, exerccio de cargos no executivo e
mandato legislativo). Compreende-se que a elite constitui um conjunto maior e mais complexo de pessoas, a
exemplo de empresrios, militares, entre outros, aqui pouco contemplados. Levantamento biogrfico cf.
PINHEIRO FILHO, 1972; BASTOS, 1994; SANTOS, 1994; MONSENHOR CHAVES, 1998.
95
Dados de setembro de 1922 informam que o municpio possua 120 mil habitantes, apenas 50 mil residiam na
zona urbana. Os segmentos mais importantes da populao se constituam de empregados do servio pblico,
profissionais liberais, empregados do comrcio e das pouqussimas fbricas que se instalaram na cidade na
passagem do sculo XIX para o XX. Cf. COMISSO DOS FESTEJ OS DO CENTENRIO DA
INDEPENDNCIA, [1923].
96
COSTA, 1885.
45
proximidades do rio Parnaba. A cidade eleita pelos bacharis piauienses, recm formados,
como espao privilegiado para residir. Pelos arredores, dezenas e dezenas de choupanas,
habitaes precrias, ruelas, sem o mnimo de infraestrutura, a cidade desordenada, onde a
maioria da populao tem condies de vida insatisfatrias.
Dados informam que, na rea do municpio, havia 244 fazendas de criao de gado
vacum e cavalar, 263 stios de lavoura, alm de oito engenhocas que produziam rapadura e
aguardente em pequena quantidade. Cultivavam cana, algodo e fumo, tambm cereais que
eram consumidos no mercado local. O municpio exportava algodo, fumo, peles secas e
salgadas, pois no havia indstria de beneficiamento desses produtos
97
. Alguns stios, no
muito distantes do centro da cidade, onde muitos indivduos da elite preferiam morar,
formavam um conjunto de vivendas sertanejas, com curral, criao de animais e aves
domsticas, cultivo de canteiros com hortalia e roas de terra seca, que abasteciam a casa.
Alm do capinzal cultivado para alimentar o gado vacum e cavalar, que servia de transporte.
Vrios stios possuam poos que facilitavam o abastecimento de gua
98
. As atividades
econmicas do municpio ainda no haviam movimentado as ruas de Teresina, que
permaneciam vazias e sem animao, e a atividade comercial permanecia ligada residncia
dos comerciantes, numa paciente espera de consumidores.
Todo o esforo no sentido de incluir o Piau no modelo urbano-industrial resultou na
incorporao de novos hbitos e costumes por parte de uma parcela da elite rural que na
modernizao das tradicionais atividades da economia piauiense. A transferncia da capital
em 1852 e o quadro de desenvolvimento que se delineava, serviram como atrativo para o
retorno dos piauienses que estavam fora da provncia cursando o ensino superior. O
movimento de retorno, iniciado em meados do sculo XIX, intensificou-se na dcada de 1880.
Entre 1852 e 1880 observa-se uma intensa atividade no sentido de adequao econmica do
Piau ao modelo urbano-industrial europeu e instalao de equipamento urbanstico
moderno em Teresina, nas duas ltimas dcadas do sculo XIX os esforos se voltaram para
as mudanas de hbitos e costumes dos segmentos sociais privilegiados da capital.
De volta ao Piau, os bacharis traziam consigo formas de convivncia social
assimiladas nos crculos sociais que freqentaram nos locais onde cursaram a faculdade, a
97
Registros da poca informam sobre aes desenvolvidas no sentido de dinamizar o tradicional setor produtivo
piauiense, dominado pela pecuria e a agricultura. Vale destacar o empreendimento do agrnomo Francisco
Parentes, na dcada de 1870 (COSTA, 1974, v. 2, p. 527; BASTOS, 1994, p. 191 e 212215). No final do
sculo XIX e incio do XX, destaca-se o empreendimento do engenheiro industrial Antonio J os de Sampaio
(BASTOS, p. 500; DEMES, 2002, p. 123-130).
98
REGISTRO GERAL DE TERRAS, APPI; COSTA, 1885.
46
exemplo de cidades como Rio de J aneiro, Recife e Salvador
99
. Uma vez domiciliados em
Teresina, passaram a imitar esses crculos sofisticados e elegantes. o momento da formao
do high-life, expresso estampada em jornais e revistas da poca que, segundo o
entendimento deste pesquisador, designa um segmento social oriundo da elite rural, que se
formou a partir da dcada de 1880, distanciando-se das sociabilidades rurcolas
100
. Seus
integrantes se diferenciavam pelo domnio da leitura e da escrita, tanto homens como
mulheres. A maioria dos homens, portadora de diploma de curso superior, em continuidade
tradio de famlia, ocupou os quadros da magistratura e da administrao direta da provncia,
alm das cadeiras do legislativo. Ocupou espaos na imprensa peridica e no magistrio;
desenvolveu estudos, escreveu e publicou.
Os integrantes do high-life se diferenciam tambm pela forma elegante do trajo,
pelo comportamento socialmente orientado por uma etiqueta, pela criao e freqncia de
determinados espaos onde se encontravam. O domiclio na capital era requisito importante,
porm, abrangia moradores de outras cidades e vilas piauienses, o importante era comungar
das formalidades necessrias s relaes em sociedade. Nesse sentido, esse segmento social
incorporou agentes oriundos dos grupos sociais humildes que se destacavam por notvel saber
e se comportavam segundo as formas cerimoniosas do trato social. A alguns desses agentes
sociais foi oferecida uma colocao no servio pblico, como uma forma de proximidade com
o poder ou autoridade, posio socialmente reconhecida e respeitada. O high-life se instalou
no topo da hierarquia social, triunfando sobre os demais grupos sociais.
Entre os homens que fizeram o high-life teresinense entre 1880 e 1922, incluindo
mulheres e filhos, encontram-se: J oo Gabriel Batista (1851-1919), Teodoro Alves Pacheco
(1851-1891), lvaro de Assis Osrio Mendes (1853-1907), Clodoaldo Severo Conrado de
Freitas (1855-1924), Higino Ccero da Cunha (1858-1943), Ansio Auto de Abreu (1863-
1909), Agesilau Pereira da Silva (1864-1913), Areolino Antnio de Abreu (1866-1908), Elias
Firmino de Sousa Martins (1869-1936), Odilo de Moura Costa (1873-1957), Ernesto J os
Batista (1873-1965), Francisco Pires de Castro (1873-1963), Valdivino Tito de Oliveira
(1873-1925), Fenelon Ferreira Castelo Branco (1874-1925), Miguel de Paiva Rosa (1876-
1930), Abdias da Costa Neves (1876-1928), Antonino Freire da Silva (1876-1934), Eurpedes
Clementino de Aguiar (1880-1953), Pedro de Alcntara de Sousa Brito (1882-1955), Honrio
Portela Parentes (1882-1909), Cromwell Barbosa de Carvalho (1883-1974), Mario J os
99
Referncia a existncia de crculos sofisticados e elegantes nas referidas cidades cf. VAINFAS, 2002, p. 668-
670.
100
Orientam o olhar deste pesquisador: ELIAS, 1994; NEEDELL, 1993; MATTOS, 1994; CARVALHO, 1981.
47
Batista (1884-1965), Celso Pinheiro (1887-1950), Antnio Ribeiro Gonalves (1877-1928),
J oo Pinheiro (1877-1946), Benjamin de Moura Batista (1880-1940), Simplcio de Sousa
Mendes (1882-1971), Matias Olmpio de Melo (1882-1967), J natas Batista (1885-1935),
Ansio de Brito Melo (1886-1946), J os de Arimata Tito (1887-1963), Raimundo Zito
Batista (1887-1926), Pedro Borges da Silva (1890-1961), Cristino Couto Castelo Branco
(1892-1983), Lus Mendes Ribeiro Gonalves (1895-1984)
101
.
Revelando conhecimento das formas de convivncia social imposta pelos cdigos
sociais vigentes, a misso dessa pliade era moldar valores, normas e padres que
permitissem aos piauienses ingressar no mundo civilizado. Em ltima instncia, os homens
mencionados e sua respectiva famlia, seriam responsveis pela difuso do projeto civilizador
do Imprio no Piau.
Os membros do high-life introduziram na sociedade piauiense, rural e patriarcal,
hbitos e costumes que se opuseram aos hbitos e costumes do viver rurcola, como trabalhar
diariamente com o rebanho e passar o tempo livre caando e pescando. A maneira no vestir
ilustra a diferena entre antigos e novos hbitos. Para esses homens se desenvolveu um
comrcio de artigos masculinos de luxo - chapus, perfumes, gravatas, colarinhos, meias,
camisas, cuecas, pijamas, cintos, carteiras, relgios, bengalas -, necessrios a um cavalheiro,
como a Alfaiataria e Camisaria Rego ou o Centro Elegante ou a Casa Carvalho considerava
seus fregueses
102
.
O esmero no vestir era enormemente valorizado, segundo os padres da sociedade
urbana industrial europia, indicando civilidade. Alguns dos homens anteriormente citados,
muito mais que outros, contriburam efetivamente para a constituio desse segmento social
sofisticado, o high-life. O senhor Higino Cunha, com seu traje requintado, sua aptido
musical e o domnio da oratria conquistava a simpatia de mulheres e homens, novos e
velhos, logo, era figura indispensvel nos eventos sociais da elite. Sua voz se levantava nas
solenidades pblicas e nas festas particulares, em casamentos e aniversrios, o que se pode
inferir das fontes consultadas.
Abdias Neves foi um dos homens mais elegantes que circularam pelas reunies
sociais de Teresina tambm encantava a todos pelo pendor musical. J oo Pinheiro, famoso
101
Entre os integrantes do high-life, existem pais e filhos, atuando no mesmo contexto social, a exemplo de
Clodoaldo Freitas, pai de Lucdio e Alcides Freitas e Higino Cunha, pai de Edson, Ducila e Leopoldo Cunha.
Nesses casos, s o pai foi relacionado como membros do high-life, embora os filhos tenham destaque pela
prpria atuao no meio social. Agentes sociais como Ansio de Abreu e Areolino de Abreu, Celso Pinheiro e
J oo Pinheiro, irmos, considerou-se a famlia constituda por cada um.
102
Estabelecimentos comerciais localizados em Teresina, nas primeiras dcadas do sculo XX, cf. anncios em
CORREIA, LIMA, 1945; ALMANAQUE DO CARIR, 1952 e jornais da Hemeroteca do APPI.
48
contista, tinha fama de elegante, trajava sempre terno de casimira inglesa, colarinho duro e
colete. Entretanto, ningum superou o poeta Lucdio Freitas, em beleza, elegncia e encanto
pessoal. Os amigos da famlia, os intelectuais da sua poca, do desmedidos elogios ao belo
filho de Clodoaldo Freitas- bonito, elegante, amvel, alegre, educado, comunicativo, pleno
de graa, pleno de esprito, finura e distino
103
.
Recepcionar estava entre os atributos de civilidade que orientavam as relaes no
modelo de convivncia urbano industrial europeu. Rompendo os crculos familiares rurais da
antiga Oeiras ou as sociabilidades de rua, com suas festas pblicas oficiais ou religiosas, o
high-life teresinense promoveu encontros regulares de recreio na residncia de seus
integrantes. Nessas ocasies, o anfitrio enviava convites impresso ou manuscritos em cartes
cuidadosamente escolhidos
104
. Embora acontecendo na residncia de algum, essas reunies
eram organizadas por vrias pessoas, exigindo o cumprimento de determinadas formalidades.
A boa conversa garantia o sucesso do encontro, o que demandava o consumo de
informaes, valorizando assim a cultura letrada. O consumo de determinados textos escritos
e literrios tornava-se uma necessidade.
Os encontros de recreio oportunizaram a exibio das aptides artsticas. Higino
Cunha e sua filha Ducila, por exemplo, eram exmios instrumentistas. O pai tocava piano,
bandolim e flauta
105
e a filha, alm de instrumentista, era considerada uma das vozes mais
bonita da cidade. Eram comuns, nesses encontros, os recitais de poesia, onde os oradores
declamavam poetas famosos, como Olavo Bilac e Raimundo Correia, e os poetas da terra
recitavam a poesia de sua lavra. Distraam-se com jogos de cartas e de tabuleiro, igualmente,
muito apreciados pelos homens da elite teresinense
106
.
A residncia dos Freitas era uma das mais movimentadas. Clodoaldo Freitas,
elegante figura masculina, gostava de recepcionar em sua casa. A se realizaram saraus
literrios onde discutiam literatura. Os poetas Lucdio e Alcides, filhos do anfitrio, lideravam
a juventude requintada e inteligente. Aprenderam como conduzir reunies sociais circulando
por sales sofisticados do Rio de J aneiro, So Lus, Belm, Manaus, Recife, Salvador ou
Fortaleza, onde cursaram o ensino superior ou viveram temporariamente, nas infindveis
103
ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS, 1997, p. 11-42.
104
Convites para peas teatrais, para conferncias, cartes de congratulao, cartes natalinos cartes anunciando
visitas, cartes postais, etc., circularam por Teresina nas primeiras dcadas do sculo XX, no conjunto,
demonstram que mesmo as relaes pessoais assumem um carter mais formal. Observando cada carto, a
objetividade e utilizao da norma culta da lngua na elaborao do texto impresso ou manuscrito, a qualidade
do papel, os detalhes no acabamento, entre outros elementos que os distinguem, demonstram tambm o
requinte do emissor. Cf. acervo JOEL OLIVEIRA, APPI.
105
CUNHA, 1939, p.61.
106
CUNHA, 1939; MONTEIRO, 1988.
49
andanas do pai, que mudava constantemente de cidade, na luta pela sobrevivncia, mas,
sempre articulado aos crculos do poder.
Segundo a imprensa peridica, a residncia de Higino Cunha foi outro ponto de
reunio do high-life. Reunies que, segundo o prprio Higino, transcorriam num clima de
franca e sadia espiritualidade, com declamaes de poesias e prosa variada e encantadora.
Momentos de congraamento social, essas reunies contribuam para inculcar nos jovens o
gosto pela literatura, o respeito e a solidariedade ao grupo social, alm de aproxim-los,
possibilitando futuras alianas matrimoniais.
Afastando-se do clima defranca e sadia espiritualidade e dos comportados saraus
literrios, festas danantes foram organizadas para deleite de todos. Entre 1907 e 1920,
soires danantes aconteceram em residncias de conhecidos personagens do high-life:
J ugurtha Couto, Agesilau Pereira, J os Furtado Beleza e Maria Carolina, Manoel da Paz,
Tersando Paz, J oel Oliveira, J ulia Velloso, J os Pereira de Arajo, Samuel Cunha e Stiro
Pinto
107
.
Os preparativos para esses compromissos sociais so cada vez mais sofisticados.
Podemos observar no fundo J oel Oliveira, que vrios convites de casamento celebrados nesse
perodo, traziam impresso at o cardpio e as msicas a serem executadas na festa. Nessas
ocasies, as mulheres exageravam no traje, penteados e no uso de jias. Um convite que
circulou em Teresina no incio do sculo XX, para soire danante, recomendava
simplicidade e modstia na toillete das senhoritas
108
.
Essa movimentao social, est intimamente relacionada com a administrao
pblica provincial e estadual, no s porque os membros do high-life fossem membros do
executivo e legislativo provincial, mas tambm porque em algumas ocasies as portas do
prprio palcio de governo se abrem para receber o crculo sofisticado da cidade. Em 1889,
no ano da proclamao da Repblica, apesar da enorme seca que assolava a provncia, a
imprensa noticiou que o palcio do governo foi palco de banquetes e bailes concorridssimos.
Por ocasio do aniversrio do presidente da provncia, Raimundo J os Vieira da Silva, o
empresrio J oseph Mayer, patrocinou uma festa para seleto grupo de convidados, onde foram
servidos salgados, doces, vinhos finos e cerveja, tudo com profuso e realizado com toda
regularidade, como noticiou o jornal A Falange
109
.
107
No acervo JOEL OLIVEIRA, APPI, so vrios os indcios dessas festas. O contra ponto desse viver refinado
na cidade de Teresina na passagem do sculo XIX para o XX cf. ARAJ O, 1995.
108
Acervo JOEL OLIVEIRA, APPI.
109
Alguns casamentos, aniversrios e bailes, em 1889, foram noticiados pelo jornal A Falange, APPI.
50
Mas, na passagem do sculo XIX para o XX, o teatro a principal regio social que
permite perceber as sociabilidades articuladas pelo high-life. Nos dias de espetculos, era
grande a movimentao de pessoas nas imediaes do prdio, os vendedores de iguarias com
tabuleiros de bolo, doce e gua
110
. Curiosos, vidos de bisbilhotices, vinham observar a
chegada do high-life, na sua toalete luxuosa ou ver de perto as atrizes e atores, os quais
conheciam atravs dos comentrios que circulavam nos jornais que noticiavam sobre a
temporada. Aps a apresentao, havia manifestaes de apreo aos artistas, com bandas de
msica e discursos. Muitas vezes estas manifestaes ganhavam o ptio do teatro,
prolongando-se pelas ruas da cidade
111
, levando a multido.
No interior do teatro, as acomodaes apontam para a precariedade do ambiente e as
distines sociais. O high-life tomava assento nas cadeiras, que escravos e empregados
deixam no teatro antes do espetculo, um incmodo para a elite, que sonhava com o luxo e o
conforto das casas de espetculos do Rio de J aneiro, Recife, Fortaleza, So Lus e Manaus, as
quais costumam freqentar quando de passagem por essas cidades. Em bancos
desconfortveis se acomoda o restante da assistncia, diferentes tipos sociais, frequentadores
eventuais, que atravs de preos diferenciados ou burlando a vigilncia do teatro ou, ainda,
atravs de apresentaes gratuitas
112
conseguiam compor a assistncia. Muitas vezes, pessoas
assistiam ao espetculo de p.
No dia seguinte, aps um espetculo, a imprensa noticiava os acontecimentos, o
desempenho dos protagonistas e o comportamento da assistncia estavam no centro dos
comentrios da imprensa. Comportamentos fora dos padres civilizados eram criticados, a
imprensa terminava divulgando e reforando esses padres de comportamento. A Revista
Alvorada noticiou um dos atos de incivilidade ocorridos no interior do teatro.
INCIVILIDADE Realizou-se, em a noite de 7 do corrente em o nosso Quatro de
setembro... a representao do esplendido drama em quatro atos Deus e a
Natureza... O Quatro de setembro recebeu a de muitas e importantes famlias da
nossa melhor sociedade. Pena que a nossa platia inferior... seja composta ou
representada pelo que h de mais rles e estpido. Indivduos que no tem a mnima
noo de civilidade, que deveriam ser enxotados, pela policia, do nosso teatro para
as grades da priso, no tem o menor respeito pelas famlias, abusando e
perturbando tudo de uma maneira que chega a revoltar e encolerizar ao mais
indiferente. E, para provar o que afirmamos, no preciso mais do que lembrar aqui
que os perturbadores levaram a sua audcia ao ponto de espalharem, por todo o
teatro, pimenta moda, como de praxe fazerem os desordeiros nos pequeninos
bailes dos arrabaldes.
110
MONSENHOR CHAVES, 1998, p.48.
111
QUEIROZ, 2008.
112
J ornal O Semanrio, 1877, APPI.
51
Nos, com pezar dizemos, tivemos de passar pela vergonhosa contingncia de ver, no
espetculo ultimo, que diversos caxienses se retiraram, antes de terminar a
representao, incomodados com to grosseira selvageria.
E no s: - Alm do barulho ensurdecedor que se faz na platia, a ponto de quase
se no poder estabelecer uma diferena entre o nosso teatro ou uma taberna de
bbedos, tal o barulho e a gritaria que la se presencia, nos camarotes ( duro, mas a
verdade), durante as representaes, espectadores de certa ordem ou mesmo crenas
que, por qualquer motivo, no liguam interesse a pea, levam todo o tempo a passear
pelos corredores, a bater e a arrastar cadeiras, como se no tivessem o dever que lhes
impe a civilidade de no perturbar aos que vo ao espetculo para ver e ouvir e no
para incomodar.
113
Essa campanha pedaggica se dirigia a toda sociedade, at mesmos aos integrantes
da elite que resistiam s novas formas de convivncia social. A falta de interesse do pblico
pela arte teatral estava no centro desses reclames, que exigem da assistncia maior ateno ao
que se passava no palco.
A aura de progresso que se instalou com a mudana da capital, em meados do
sculo XIX, continuou por toda a primeira metade do sculo XX, como se pode acompanhar
atravs da ao do governador do estado, o engenheiro Antonino Freire. Egresso da Escola
Politcnica do Rio de J aneiro presume-se que tenha entrado em contato com as idias de
modernizao urbana que perpassavam a cidade do Rio de J aneiro e se efetivaram com as
reformas do prefeito Pereira Passos.
Na sua gesto, frente do governo do estado, realizou em Teresina uma srie de
servios que pretendiam inserir a cidade na esfera dos centros urbanos modernos, como a
ampliao da rede de abastecimento de gua encanada e a telegrfica. Iniciou os trabalhos de
instalao da rede de energia eltrica, alm de construir vrios prdios para abrigar reparties
do governo. Retomando o plano de interligar o Estado aos demais da federao, construiu
estradas de rodagem e ampliou a navegao atingindo o alto Parnaba. No mbito da educao
formal, empreendeu reforma do ensino, criou a Escola Normal que, a partir desse perodo, no
mais sofreu descontinuidade e desenvolveu a nascente rede escolar do estado
114
.
Na primeira metade do sculo XX, em Teresina, espaos de fruio de pessoas
ganharam uma dimenso social nunca vista na sociedade piauiense. Embora muitas fontes
apontem para ruas sem calamento, sujas, poeirentas, lamacentas, sem iluminao, com
animais pastando de um lado para outro
115
, em nada se assemelham aos logradouros desertos
da velha Oeiras da primeira metade da centria passada. No obstante as condies adversas,
data desse perodo a instalao dos primeiros escritrios de advocacia, consultrios mdicos e
113
Revista Alvorada, nov. 1909, APPI.
114
TITO FILHO, 1978, p. 45-46; MONSENHOR CHAVES, 1998, p. 581.
115
TITO FILHO, 1978.
52
dentrios, grficas, magazines, farmcias, alfaiatarias, bares, cafs e restaurantes no centro de
Teresina. Estabelecimentos comerciais ganham prdios prprios, separados da residncia do
comerciante, integrando uma rede comercial.
Havia uma movimentao constante de pessoas pelas ruas do centro, entre os
diferentes estabelecimentos comerciais e os diversos tipos de consultrios. Na geografia da
cidade, nenhum espao superava a Praa Rio Branco. Nas primeiras dcadas do sculo XX, o
logradouro foi equipado para maior comodidade dos seus freqentadores: jardins, pistas para
circulao de pessoas, assentos e coreto. A iluminao feita por dois lindos lampadrios,
tendo cada um trs focos de arco voltaico [...] perfazendo um total de 13.800 velas veio da
Europa, e s eram empregados aos domingos e feriados
116
.
No entorno dessa praa surgiam e desapareciam cinemas e teatros, cafs, bares e
restaurantes que, em mesas espalhadas pelas caladas, serviam comida e bebida ao pblico.
o ponto chic da cidade
117
, onde o high-life se reunia para desfilar roupas, calados, jias.
O espao denota o grau de refinamento desse segmento social. Duas vezes por semana a
banda da polcia militar ocupava o coreto para a retreta, atraindo grande nmero de pessoas.
Diferente de Oeiras, antiga capital, local de encontro da elite rural e moradia dos empregados
no servio pblico, a partir da dcada de 1880, segmentos da elite rural elegeram Teresina
como local para fixar residncia. A cidade atraa piauiense de todos os municpios procura
tanto de trabalho como de educao formal.
Nas primeiras dcadas do sculo XX, medida que a cidade cresceu em populao e
riqueza, foram surgindo outros espaos para a diverso e o entretenimento do high-life. Em
maio de 1912, Matias Olmpio, Bencio Freire e J oo M. Broxado reuniam no palacete
municipal famlias da sociedade para tratar da fundao de um clube de recreio familiar
118
.
Duas notcias indicam o sucesso da empreitada, a primeira data de novembro do mesmo ano,
quando o Grmio Literrio Abdias Neves, por ocasio do aniversrio do seu patrono, fez
circular convite para uma sesso solene a se realizar no Clube Recreativo Teresinense. Em
dezembro de 1912, o jornal Piau noticiava um passeio em embarcao a vapor, atravs do rio
Parnaba, promovido pelo Clube Recreativo Teresinense
119
, que se supe seja aquele
articulado em maio de 1912.
116
MENSAGENS E RELATRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE TERESINA, Intendente Thersandro
Gentil Pedreira Paz, 1916, APPI
117
MENSAGENS E RELATRIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE TERESINA, Intendente Anfrisio
Lobo Vras Filho, 1929, APPI.
118
Acervo JOEL OLIVEIRA, APPI.
119
J ornal Piau, 1912, APPI.
53
Das associaes recreativas criadas na primeira metade do sculo XX, o Clube dos
Dirios foi, para alm de meados do referido sculo, o que mais possibilitou momentos
alegres elite teresinense. Criado no incio da dcada de 1920, sua finalidade era organizar
festas danantes e outras diverses sadias e agradveis
120
. Admitiam dois tipos de scios:
efetivos e temporrios. Os scios temporrios residiam fora de Teresina, entretanto,
igualmente aos efetivos, estavam sujeitos a uma taxa exigida quando da admisso, embora
estivessem liberados da taxa mensal. De passagem por Teresina, utilizando os servios do
clube, pagavam uma taxa, presume-se que correspondesse a uma mensalidade, o que
possibilitava parcela das elites residentes em outros municpios, compartilhar de convvio
civilizado. Na dcada de 1950, a sede do clube tinha a seguinte estrutura:
O Edifcio [...] internamente amplo e confortvel, dispondo de vrias dependncias
assim distribudas: Salo Nobre, destinado aos bailes e reunies de carter literrio
ou recreativo; local para J AZZ; botequim; sala de jogos e ainda salas para toalete
feminina; etc. Fica isolado, recebendo, franca e constante ventilao.
121
As festas danantes realizadas no salo nobre do clube foram bastante concorridas,
destacando-se o requinte com que se vestem as damas, numa exibio multicor de belas e
ricas indumentrias, valiosos e apreciveis ornamentos em jias e outros adornos
122
. Com
certa regularidade, o clube promovia atividades em benefcio de determinadas entidades ou
causa, ganhando foros de instituio filantrpica, o que demonstra que o high-life se sentia
responsvel pelos destinos da sociedade piauiense como um todo. O clube possua uma
seco de jogos de salo, tais como xadrez, gamo, damas, ping-pong, entre outros. Os
associados poderiam freqentar o clube diariamente de 14 a 17 horas e de 19 a 23 horas. Aos
domingos e feriados, a sede do clube ficava aberta das 8 s 23 horas. Aos associados no era
permitido levar ao clube pessoas estranhas ao quadro de scios. O carter de segregao que
marcou a relao dos associados desse clube com o restante da sociedade ficou registrado na
memria de muitos contemporneos, como se pode observar no trecho que segue:
Local de reunio da gr-finagem. E, aburguesado, permaneceu at os seus ltimos
dias, quando se popularizou um pouco, em decorrncia da criao de novos clubes,
instalados nos arredores da cidade. Para se ingressar no seu quadro social, o
pretendente tinha a vida vasculhada, esmiuada, e dependia muito de sua condio
scio-econmica. Se fosse preto, no entrava, a no ser que tivesse dinheiro ou fosse
doutor, coisa rarssima na poca.
123
120
CLUBE DOS DIRIOS, 1925. Tambm, a cidade do Rio de J aneiro tinha o seu Clube dos Dirios, cf.
NEEDELL, 1993, p. 95-97.
121
A descrio corresponde a sede do clube na dcada de 1950, ALMANAQUE DO CARIR, 1952, p. 239.
122
CLUBE DOS DIRIOS, 1925.
123
GARCIA, 2000, p. 49.
54
Ao longo da primeira metade do sculo XX, surgiram outros clubes sociais, como o
J quei Clube do Piau
124
, criado em 1927, contudo, nenhum se iguala ao Clube dos Dirios.
Observa-se que uma aura associativa perpassava a sociedade piauiense desde a dcada de
1870. Primeiro foram as irmandades religiosas
125
, depois as diversas associaes culturais,
associaes laborais e esportivas que colocavam em contato direto pessoas de diferentes
grupos sociais
126
. Na rea da cultura, marcaram as primeiras dcadas do sculo XX os
grmios literrios e grmios escolares, possibilitando aos jovens interessados em literatura,
oportunidade de convivncia literria com consagrados homens de letras.
O teatro ensejou condies para as primeiras formas de associaes culturais de que
se tem notcia nessa passagem do sculo XIX para o XX, as quais congregavam artistas
amadores, teatrlogos e admiradores da arte de representar. Essas entidades trabalhavam no
sentido de difundir o gosto pelo teatro, seus membros auxiliavam as companhias que se
apresentavam na cidade ou, na falta dessas, elaboravam e encenavam peas teatrais
127
.
Surgiram outras instituies como as Unies Artsticas e os Crculos Operrios,
associaes laborais de carter beneficente, assim como instituies de carter financeiro e
bancrio
128
, indcios de que elementos da sociedade urbana industrial europia se instalavam
na sociedade piauiense. A tradicional sociedade rurcola, lentamente, abria espaos para novas
formas de organizao e convivncia social urbana.
No setor de produo, Teresina ganhou ares de cidade fabril com a instalao de
algumas fbricas, a exemplo da Fiao e Tecidos Piauienses e Cigarros Ipiranga
129
,
diversificando o mercado de trabalho, antes restrito s tradicionais atividades rurais ou ao
servio da administrao pblica. O grande comrcio era realizado, entre outras firmas
comerciais, pela Casa Almendra & Irmos Ltda, Carvalho & Carvalho Ltda., Castelo &
Companhia Ltda. e Rocha & Companhia
130
, que realizam atividades de exportao e
importao.
Se durante a segunda metade do sculo XIX, o teatro foi o principal espao de
entretenimento para o high-life, na primeira metade do sculo XX dividiu espao com o
124
A cidade Rio de J aneiro, nesse perodo, possua um clube com o mesmo nome, cf. NEEDELL, 1993, p. 98-
100.
125
LEGISLAO PIAUIENSE, APPI.
126
TITO FILHO, 1978, p.44-57; NASCIMENTO, 1988.
127
QUEIROZ, 2008.
128
Algumas dessas instituies cf. NASCIMENTO, 1988, p. 96-297; ALMANAQUE DO CARIRI, 1952.
129
A idia de cidade fabril metafrica. Dados de 1922 sobre indstria e comrcio indicam que, entre 1852 e
1922, esses setores evoluram lentamente, apesar de todo esforo no sentido da modernizao tanto da capital
como do estado. Cf. COMISSO DOS FESTEJOS DO CENTENRIO DA INDEPENDNCIA, [1923];
sobre as fabricas cf. BASTOS, 1994, p. 234 e 556-557.
130
CORREIA, LIMA, 1945.
55
cinema. Na falta mesmo de salas adequadas, a projeo de filmes aconteceu, inicialmente, no
prdio do Teatro 4 de Setembro. S na dcada de 1930, que o cinema ganharia salas
prprias e adequadas. Pela imprensa os reclames so constantes em relao s incomodas
instalaes, falta de iluminao e o excessivo calor nas salas de projeo. Reclamavam porque
no havia sala de espera onde as senhoras e senhoritas da elite pudessem desfilar sua toalete e
sisudos cavalheiros pudessem conversar sobre literatura, guerra e crise econmica, enquanto
aguardavam o incio da exibio do filme.
O cinema contribuiu para que a populao teresinense se percebesse diversa. Se
vrios fatores afastaram as crianas do espao do teatro como as apresentaes demoradas e,
em geral, noturnas, o cinema flexionava horrio, selecionava fitas e, ao longo do dia, podia
realizar diversas sesses, entretendo crianas e jovens. Ganha contornos o pblico infantil e
juvenil, com interesses, usos e costumes peculiares. Atravs das pelculas ou das colunas
especializadas em cinema, mantidas pelos jornais em circulao, atrizes e atores ditavam
moda e comportamento, que perpassavam toda a sociedade, em especial o pblico feminino,
despertando-o para que se percebesse diferenada do pblico masculino. As senhoritas
copiavam modelos de roupas e comportamentos das atrizes de sua predileo, confeccionados
por famosas costureiras da cidade.
Atravs dos jornais, possvel perceber as tenses entre antigos e novos hbitos e
costumes. Nesse contexto de mudanas, era necessrio preservar a moral e os bons costumes.
Em meio conservador e tradicionalmente religioso como o piauiense, o clero catlico e os
jornalistas simpatizantes estavam atentos para o contedo veiculado pelas fitas
cinematogrficas e a reao dos espectadores. Polmicas foram geradas a partir desses postos
da censura, possibilitando a formao de grupos que, atravs da imprensa, publicavam artigos,
expressando opinies divergentes sobre o contedo veiculado pelas pelculas e seu impacto
sobre a assistncia. O pblico leitor, embora restrito, acompanhava com interesse, discutia
opinies, tomava partido. J ornais em circulao, a exemplo de O Tempo, dedicaram
colunas especialmente ao cinema, divulgando programao e comentando contedo dos
filmes e atuao dos atores, alm do comportamento do pblico durante as sesses
131
.
Por volta dos anos de 1920, observa-se que uma segunda gerao do high-life
ocupou o cenrio social. Entre os novos integrantes: J oo Lus Ferreira (1881-1927), Artur de
Arajo Passos (1882-1977) J oaquim Vaz da Costa (1886-1972), Esmaragdo de Freitas e
Sousa (1887-1946), lvaro Alves Ferreira (1893-1963), J oo Francisco Ferry (1895-1962),
131
As observaes sobre cinema e a cidade de Teresina tomou como referncia a coluna Noticias de Cinema do
jornal O Tempo, 1935, APPI; MARTINS, 1920.
56
Felismino de Freitas Weser (1895-1984) Lenidas de Castro Melo (1897-1981), J acob
Manoel Gaioso e Almendra (1899-1976), J os Burlamaqui Auto de Abreu (1899-1978), J os
Vidal de Freitas (1901-1987), Benedito Martins Napoleo do Rego (1903-1981), Raimundo
de Brito Melo (1904-1961), Francisco da Cunha e Silva (1905-1990), Lus Lopes Sobrinho
(1905-1984), Hermnio de Moraes Brito Conde (1905-1965), J os Patrcio Franco (1906-
1989), J oel Genuno de Oliveira (1906-1969), J oo Coelho Marques (1907-1966), Antonio
Bugyja de Souza Britto (1907-1992), Cludio Pacheco Brasil (1909-1993), Raimundo de
Moura Rego (1911-1988), Clidenor Freitas Santos (1913-2000), Clemente Honrio Parentes
Fortes (1914-1974), Celso Pinheiro Filho (1914-1974), Oflio das Chagas Leito (1915-
1989), Benjamin do Rego Monteiro Neto (1915), Darci Fontenele Arajo (1916-1974),
Fabrcio de Ara Leo (1917-1982), Robert Wall de Carvalho (1918-1984), mulheres e filhos.
Essa segunda gerao vivenciou a expanso de Teresina. A cidade exigia nova
orientao urbanstica. Na dcada de 1930 estava em discusso o plano regulador da cidade.
Nesse mesmo perodo, demarcaram a cidade em duas zonas: norte e sul. Administradores,
tcnicos, intelectuais, todos os teresinenses percebiam que Teresina deixava seu traado
inicial, os arredores da margem do Parnaba, a rea das praas Deodoro e Rio Branco, para
ganhar o Alto da J urubeba, onde estava localizada a Igreja de So Benedito
132
. Isso explica
a grande reforma da atual Praa Pedro II, naquele perodo
133
. Foram construdos 2.565,90
metros quadros de passeio cimentado com ajardinamento, estampas nos canteiros originais e
variadas figuras, de desenhos caprichosos, que atraem a ateno de todos; figueiras,
palmerinhas, crtons de variado gosto, roseiras e flores diversas completavam o
embelezamento; coreto; 52 bancos de cimento; 68 postes de iluminao eltrica; escadas de
acesso ao plano superior; balaustrada. A praa passou a ser o ponto chic da cidade, a Praa
Rio Branco perdia o seu charme.
Nesse sentido, a av. Getlio Vargas, hoje Frei Serafim, foi ampliada e arborizada,
assim tambm o centro da cidade, em especial as ruas para os lados do largo de Nossa
Senhora das Dores, envolvendo as atuais ruas Coelho Rodrigues, lvaro Mendes, Teodoro
Pacheco, Paissandu, Flix Pacheco e So Pedro, que ganharam oitizeiros, o que exigiu
disciplinamento da parte da autoridade municipal. desse mesmo perodo, as dcadas de
132
Dados sobre o perodo cf. TITO FILHO, 1978.
133
Na dcada de 1930, as praas Deodoro, Rio Branco e Joo Luiz Ferreira tambm passaram por reformas. A
Praa J oo Luiz Ferreira ganha um playground, com uma escorregadeira (os famosos escorrega bunda),
campo de vlei ball, balanos, barras verticais e horizontais de madeira para exerccios fsicos, gangorra
giratria em forma de cruz, inaugurado no natal de 1941, cf. MENSAGENS E RELATRIOS DO
EXECUTIVO MUNICIPAL DE TERESINA, 1941, APPI.
57
1930 e 1940, o surgimento de tradicionais bairros da cidade. Na zona sul, vencendo o imenso
groto, surgiram: o Barroco e a Vermelha; na zona norte, o bairro Vila Operria.
A expanso da cidade exigiu um sistema de transportes urbano, a partir da dcada de
1930, tanto por iniciativa privada como pblica, em diferentes momentos, a cidade foi
beneficiada com esse servio. Antes dessa data, na dcada de 1920, ficaram registros da
existncia de bondes circulando pela cidade
134
. Em novembro de 1940, foi inaugurada a
Viao Municipal que possua trs nibus com capacidade para 24 passageiros cada
135
. A
estrada de ferro So LusTeresina foi liberada e a construo da ponte frrea sobre o rio
Parnaba possibilitou a circulao de pessoas, que transitavam a negcios ou a passeio,
deixando na elite piauiense a sensao de que, enfim, rompera o secular isolamento.
Entre 1922 e 1952, embora vrios pontos da cidade, a exemplo da Praa Pedro II,
disputassem com a Praa Rio Branco o ttulo de principal logradouro da cidade, no seu
entorno ainda se concentravam importantes casas comerciais, a Tipografia Popular, entre
outras, comercializavam livros instruo, msica, literatura, direito, medicina, romances e
novelas. Nessas lojas era possvel encontrar mquinas de pequeno e mdio porte, ferragens
em geral, material eltrico, mquinas de escrever, bicicletas, foges, mveis, artigos
fotogrficos, artigos de luxo masculino e feminino, perfumaria e automveis, o que indica um
consumo diversificado e articulado com os grandes centros desenvolvidos do pas e da
Europa. A elite teresinense no demorou a se lanar nesse mercado, no raro, importando
vrios desses produtos
136
.
Localizados no entorno da Praa Rio Branco, o Teresinense Bar (inaugurado em
1926) o Petit Bar (inaugurado em 1930) e o moderno Caf Avenida (inaugurado em
1937), j disputavam com o Bar Trianon (inaugurado em 1935), localizado na Praa J oo
Lus Ferreira, a preferncia do high-life
137
. Com a expanso da cidade, entre os anos de
1930 e 1940, essas praas foram perdendo espao para a Praa Pedro II. As elites se
deslocavam para aquele logradouro. Entre 1945 e 1947, a j se reunia um grupo de jovens
intelectuais piauienses interessados em literatura
138
.
134
NASCIMENTO, 1988; CASTELO BRANCO, 2005.
135
MENSAGENS E RELATRIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE TERESINA, Prefeito Lindolfo do Rego
Monteiro, 1940, APPI.
136
Os anncios nos jornais da poca oferecem dados para se refletir sobre o comrcio em Teresina e em outros
municpios do Piau. Nota-se atravs desses anncios que a partir da dcada de 1880 se intensificou a
comercializao de produtos alimentcios e bebidas finas, produtos de luxo como tecidos, perfumaria e
cosmticos tanto para homens como mulheres. Alm de mquinas diversas para conforto domstico e
atividades profissionais.
137
TITO FILHO, 1978.
138
SILVA, 2005, p. 24.
58
Focalizando a vida mundana da elite teresinense entre 1922 e 1952, apesar do
surgimento de vrios clubes sociais, o Clube dos Dirios continuava sediando suas
atividades sociais. Nesse clube se realizou parte das homenagens primeira miss Piau, a
senhorita Antnia de Ara Leo
139
. A partir de 1929 at a dcada de 1960, os concursos de
beleza, para escolha da miss Piau, passaram a movimentar no s o high-life teresinense,
mas a mais fina flor da sociedade piauiense, residente em diferentes municpios do estado.
Em 1927, a visita do prncipe dom Pedro de Orleans, com a esposa e uma das filhas,
cidade de Teresina, possibilitou a viso de que no seio do high-life havia um grupo mais
seleto ainda. Se todos puderam ver o prncipe e as princesas, durante a procisso do Corpo de
Deus, apenas um seleto grupo participou da recepo que o intendente municipal Anfrsio
Lobo Veras Filho ofereceu a suas altezas. Mais restrito ainda foi o grupo de convidados que
participou do banquete de 50 talheres na residncia do Sr. Vieira da Cunha em homenagem
aos membros da famlia real
140
. Mais excludente foi o jantar em palcio de Karnak, onde o
poeta Martins Napoleo encantou a todos com sua simpatia, beleza e fluente oratria,
roubando a cena dos homenageados.
1.3.1. Para alm de Teresina marcas do progresso e de civilidade
Parnaba se apresenta superior capital, pela dimenso da movimentao econmica
e financeira. Grandes empresas, como a Casa Inglesa, de J ames Frederick Clark e a Casa
Marc J acob, de Moise Marc Disir J acob, demonstram a insero do municpio na complexa
economia capitalista de escala mundial
141
. Essas, entre outras empresas investiam no
comrcio de exportao e importao e no servio de transporte. Gozavam de slido conceito
no Brasil e no exterior, alm de representar muitas firmas estrangeiras no estado.
O porto martimo de Parnaba era regularmente visitado por embarcaes do Lloyd
Brasileiro, Companhia de Navegao do Maranho, Companhia Pernambucana e Companhia
Inglesa Red Crose Line. A cidade tinha representao consular dos governos Britnico,
Portugus e Francs, alm de representante comercial do governo dos Estados Unidos da
139
TITO FILHO, 1978, p. 44-55.
140
TITO FILHO, 1978, p. 50.
141
Essas empresas possuam filiais no Piau e Maranho e representao comercial na capital da Repblica, Rio
de J aneiro. CORREIA, LIMA, 1945; ALMANAQUE DO CARIR, 1952.
59
Amrica
142
. O movimento de exportao indica a comercializao de produtos como
borracha, algodo, cera de carnaba, mamona, amndoas de babau, nozes de tucum, entre
outros produtos de origem vegetal, peles, couros e crinas de animais. Parcela significativa dos
produtos importados se destinava a suprir as necessidades de segmentos da elite: tecidos,
calados, acessrios, alimentos, bebidas, livros, revistas, jornais, entre outros.
O municpio era servido de vias ferrovirias, a se localiza a sede da Estrada de Ferro
Central do Piau
143
. Por essa mesma poca, duas linhas de auto-nibus e caminhes faziam,
semanalmente, o transporte de passageiros e cargas para Fortaleza, capital do Cear. Pelo
espao areo do municpio trafegavam os avies das empresas Cruzeiro do Sul e Panair do
Brasil. Os hotis Carneiro e Parnaba Hotel, assim como as penses Santa Teresinha, Santo
Antnio e Carioca recebiam grande nmero de pessoas de diferentes partes do Brasil e da
Europa, que transitavam pela cidade, a negcios ou passeio.
Pelo contato direto com pases da Europa ou da Amrica, Parnaba se constituiu em
uma porta de entrada no s de produtos sofisticados, mas tambm de novos hbitos e
costumes. Na dcada de 1920, em frente igreja matriz, foi construdo um jardim pblico de
quatro mil metros quadrados, tendo ao centro um coreto de ferro e cimento, um dos lugares
mais freqentados da cidade. Bares e clubes sociais complementavam essa estrutura voltada
para o lazer
144
.
Em Parnaba se formou uma elite empreendedora, diferente do high-life
teresinense, que se voltou para o servio pblico e para as profisses liberais. No obstante as
constantes reclamaes dos parnaibanos, de que o governo estadual abandonara a cidade sua
prpria sorte, empresrios, polticos e intelectuais de Paranaba sempre transitaram pelos
crculos sofisticados da capital com a maior desenvoltura, gozando da simpatia e amizade de
todos. Assim tambm membros da elite teresinense foram sempre bem recebidos nos crculos
da elite parnaibana.
O congraamento se manifesta principalmente na prtica literria, quando diferenas
desaparecem. Observando a composio do quadro de scios efetivos da Academia Piauiense
142
Dados sobre os diversos municpios piauienses em meados do sculo XX cf. CORREIA, LIMA, 1945;
ALMANAQUE DO CARIR, 1952.
143
Na primeira metade do sculo XX, a Estrada de Ferro Central do Piau e Estrada de Ferro So Lus-Teresina,
possibilitaram um considervel movimento de passageiros e produtos entre o Piau e o Maranho. Por essas
vias transitaram intelectuais e livros entre So Lus, Caxias e Teresina; essas vias serviram para aproximar a
elite caxiense e a elite teresinense, como se pode inferir das fontes hemerogrficas consultadas. Notcias sobre
estradas de ferro em outros municpios piauienses cf. COMISSO DOS FESTEJ OS DO CENTENRIO DA
INDEPENDNCIA, [1923], itens: Vias e transportes. Mais informaes sobre o tema cf. LEGISLAO
PIAUIENSE e MENSAGENS E RELATRIOS DOS GOVERNADORES DO PIAU.
144
COMISSO DOS FESTEJOS DO CENTENRIO DA INDEPENDNCIA, 1922; ALMANAQUE CARIR,
1952.
60
de Letras, excluindo os intelectuais teresinenses, entre os demais intelectuais de todo o Piau,
os parnaibanos foram os primeiros a compor o quadro desse sodalcio. A leitura das edies
do Almanaque da Parnaba ilustra bem essa relao de aproximao entre as duas elites,
com freqncia, o peridico publicava trabalho de intelectuais teresinenses
145
.
No municpio de Gilbus, beneficiado pelo extrativismo mineral, ficava a matriz da
firma Palitot & Cia aviadores e comerciantes que comercializava tecidos, chapus,
calados, perfumes, linhas, entre outros produtos. Possua trs avies para seu servio
particular, que ligavam a matriz filial, com sede na cidade de Barras, no estado da Bahia.
No obstante a precariedade das vias de trfego, no final dos anos de 1940, j era intensa a
circulao de pessoas e mercadorias por todo o Piau, como constata o grande nmero de
escritrios de representao comercial de firmas do Cear, Pernambuco, Maranho, Bahia e
Rio de J aneiro, existentes no estado. Pela primeira vez na histria do Piau, de forma
articulada, diferentes municpios, formaram uma complexa praa comercial e de servios, que
se utilizava da imprensa peridica para divulgao de servios e produtos. Alguns produtos,
ainda no disponveis para a venda no comrcio da maioria das cidades, j eram consumidos
pelos grupos sociais de maior poder aquisitivo, atravs da importao. Outro sintoma dessa
movimentao comercial foi o desenvolvimento de uma rede de penses e hotis,
confirmando o movimento de pessoas
146
.
Nem todos os municpios conseguiram o mesmo grau de progresso material que
Parnaba e Gilbus, contudo, pelas fontes consultadas, possvel concluir que, em meados do
sculo XX, parcelas significativas das elites piauienses haviam aderido s formas de
convivncia das sociedades urbano-industrial. No municpio de Campo Maior, parcela da
populao com poder aquisitivo, freqentava a Praa Rui Barbosa, em cujo, bar homnimo,
de propriedade de J onas Farias de Sousa, a populao se distraa jogando sinuca e bilhar. Os
freqentadores podiam comprar bebidas finas nacionais e estrangeiras, cigarros e charutos de
primeira qualidade. Podiam saborear doces, biscoitos e bolachas. No entorno dessa praa,
ficava o prdio do cinema, vizinho ao caf e botequim Bar Vitria, ambiente familiar, onde,
aps a exibio de filmes, a assistncia poderia se deliciar tomando refresco e caf.
145
Nas primeiras dcadas do sculo XX, um grupo de intelectuais parnaibanos estreitou relaes com intelectuais
da capital, destacando-se J onas Fontenelle da Silva (1880-1947), Alarico Jos da Cunha (1883-1965), J os
Euclides de Miranda (1885-1961), J onas de Moraes Correia (1874-1918), Lus de Moraes Correia (1881-
1934), Benedito Benu da Cunha (1885-1933), Mircles Campos Veras (1890-1978), Monsenhor Roberto
Lopes Ribeiro (1891-1980), Benedito dos Santos Lima, o Bembem (1893-1958) e Antnio Otvio de Melo
(1894-1968).
146
Informes sobre diversos municpios piauienses permitem observar essa nascente rede de penses e hotis, cf.
ALMANAQUE CARIR.
61
Na dcada de 1950, em J os de Freitas, uma parcela pequena da populao, detentora
de educao formal e poder aquisitivo, dominava o executivo e legislativo municipal, alm
dos principais empregos pblicos. Formavam a elite local, que, demonstrando um sentimento
de pertencimento a um segmento social diferenciado, criou para seu lazer o Esporte Clube
Ipiranga, na localidade Olho Dgua.
O Clube est excelentemente servido de uma piscina, medindo 9 metros de
comprimento, por 4 de largura e 270 cents. de profundidade. cercada, dispondo
de guaritas para homens e senhoras e um campo esportivo. Encontra-se tambm ali
um muito bem organizado bar, onde so servidas excelentes bebidas aos banhistas.
A sua diretoria atual est assim organizada: Presidente - Dr. Ferdinand Carvalho de
Almendra Freitas. Vice-Presidente Antonio Portela. 1 Secretrio Antonio
Craveiro de Melo. 2 Secretrio Raimundo Portela de Miranda. 1 Tesoureiro
Elger Mendes. 2 Tesoureiro J acob Sampaio Almendra.
147
A elite de J os de Freitas, assim como de outros municpios prximos a Teresina,
exercia forte influncia na sociedade teresinense, dominando setores da poltica e da
economia.
As ruas de vrios municpios se tornaram movimentadas, a exemplo do movimento
das feiras semanais ou quinzenais. Nesses dias, a populao rural aflua para a cidade com
suas cargas de cereais e legumes, animais e aves. Na feira comercializavam todo tipo de
produtos, do sabo ao perfume, tecido e calados, ferragens para o trabalho rural, ervas
medicinais e remdios laboratoriais, carnes e cereais. Poetas cantadores improvisavam versos
rimados ao som de viola, ofereciam folhetos cantando os versos de sua autoria. As pessoas
paravam em volta para ouvir, compravam os folhetos que interessavam. Entre tantas histrias
de amor, algumas de sertanejos espertos e valentes, que enganavam at o diabo. Os folhetos
eram expostos num pano estendido no cho, muitas vezes, a gravura da capa atraa o
comprador, que se informava com o vendedor sobre o contedo. Em casa, as pessoas se
reuniam envolta daqueles que sabiam ler, para ouvir as histrias. A leitura e a escrita se
disseminavam lentamente por todos os grupos sociais.
Ruas, feiras, mercados, cartrios, passaram a dividir com o adro da Igreja, o cenrio
dos acontecimentos das comunidades piauienses. Indivduos de diferentes grupos sociais
participavam cada vez mais de variados acontecimentos. Lentamente a Igreja e o complexo de
fazendas deixavam de ser o centro da vida social. Ainda na segunda metade do sculo XIX, as
manifestaes e festas cvicas reuniam pessoas que, lideradas por homens de letras e jovens
estudantes entusiastas, desfilavam pelas ruas, faziam discursos inflamados, declamavam
147
ALMANAQUE CARIR, 1952, p. 693.
62
poesias. Fizeram poca em Teresina as manifestaes de rua pela libertao dos escravos, ou
aquelas que comemoraram o natalcio de sua majestade D. Pedro II ou o Sete de Setembro.
Era o incio de vida social que envolvia cada vez mais pessoas de diferentes nveis sociais,
inimaginveis em qualquer complexo de fazenda da elite rural.
Em 1952, os convidados s festas de comemorao do centenrio de Teresina
demonstram o nvel de articulao poltica a que haviam chegado o high-life teresinense. A
Cidade J ardim SoCoPo, foi um espao que abrigou parte dos eventos. Em um mesmo dia
se reuniram na Cidade J ardim Assis Chateaubriand, diretor dos Dirios Associados e
patrono das festividades; o governador do Maranho, Eugnio Barros; o governador do Cear,
Raul Barbosa; Comandante Renato Archer, vice-governador do Maranho; Pedro Calmon,
Magnfico Reitor da Universidade do Brasil e o vice-reitor Deolindo Couto (piauiense);
Simes Filho, ministro da Educao e Sade, que representou o presidente Vargas; senador
Francisco Galloti; Hugo Napoleo do Rego (de tradicional famlia piauiense), consultor
jurdico do Banco do Brasil; senador Raimundo Ara Leo (piauiense); Paulo Cabral, prefeito
de Fortaleza; Freire de Andrade, mdico piauiense residente no Rio de J aneiro; senador Oto
Mader; J oo Calmon, diretor dos Dirios Associados do Nordeste; Otvio Passos, prefeito
de So Lus; senador Matias Olmpio (piauiense); deputados federais Lenidas de Castro
Melo (piauiense) e Vitorino Correia; os rotarianos Paulo Abreu, scio de Abreu & Rego,
firma proprietria das Lojas Rianil no Maranho; Acir Marques, comerciante em So Lus;
Cndido Atade, Governador do Distrito 117, do Rotary Clube e Carlos Macieira, mdico
maranhense. As guas verdes da piscina da Cidade J ardim foi o ponto alto do encontro, o
jornalista Assis Chateaubriand, por exemplo, deleitou-se demoradamente com os mergulhos
na grande banheira socopoense
148
.
Atravs da imprensa peridica, notas como essa, sobre piscinas em Teresina e no
interior do estado, so indcios da propagao de novos hbitos e costumes. Hbitos que
exigiam recato, como tomar banho e comer, prprios do interior das residncias, agora se
tornavam prticas pblicas, coletivas e sofisticadas. certo que em meados do sculo XX, a
elite piauiense, proprietria de terras e rebanhos, com prestgio poltico e domnio territorial
reconhecido, possua um segmento sofisticado e letrado que a representava neste e no outro
lado do Atlntico, em Teresina, Rio de J aneiro, Lisboa e Paris.
148
ALMANAQUE CARIR, 1952, p. 986.
63
CAPITULO II DE CURRALEIROS E OFICIAIS DA COROA PORTUGUESA A
NOTVEIS EM PARIS, LISBOA, RIO DE JANEIRO E TERESINA
2.1. Um olhar sobre a escrita de literatos piauienses na primeira metade do sculo
XIX
149
No Piau, na segunda metade do sculo XVIII, passada a fase mais violenta da
ocupao da terra e com a instalao do aparato administrativo da Coroa portuguesa, ocorreu
a valorizao de prticas de leitura e escrita, requisitos bsicos para preencher os quadros de
oficiais da administrao rgia. Teve incio a demanda pelo ensino que a Coroa e, depois de
1822, o Imprio, no conseguiram atender.
Na passagem do sculo XVIII para o XIX, o ensino oficial no funcionava a
contento, entre outros fatores, pela inadequao entre o estilo de vida do piauiense e os
diferentes desenhos curriculares oferecidos, o que afastava a populao do ensino oficial. Para
a sociedade piauiense da poca o ensino no era o lugar da educao; a reproduo do saber
em relao ao trabalho produtivo e transmisso das regras da vida social eram internalizadas
pelas geraes mais novas, no contato direto com as mais velhas. Aulas rgias e cadeiras de
ensino permaneciam a maior parte do tempo sem professores e alunos, em decorrncia dos
baixos salrios que no atraiam as pessoas qualificadas para o magistrio
150
.
Em face do exposto, os grupos sociais interessados em educao formal passaram a
contratar professores que ministravam aulas no espao domstico. No mbito das fazendas,
crianas e jovens da elite piauiense aprenderam a ler e escrever e tambm as meterias exigidas
pelo desenho curricular do ensino primrio e secundrio. A partir da dcada de 1830, o
Imprio legalizou os diferentes espaos alternativos de ensino. Para a passagem de um nvel
para outro, no era exigida a freqncia s aulas, nem a concluso do grau antecedente, mas a
prestao de exames que obrigatoriamente eram realizados pelas autoridades determinadas
pelo Governo Imperial. Os pais organizavam a aprendizagem dos filhos segundo suas
convenincias, recorrendo ao rgo de governo competente apenas para regularizar a situao
de aprendizado.
No caso do Piau, em geral, o ensino primrio foi ministrado na residncia do aluno
por professores particulares. No municpio de Oeiras surgiram os primeiros colgios
149
Embora o foco da pesquisa seja as geraes vivendo em Teresina entre 1852 e 1952 foi esclarecedor lanar um
olhar na ao de geraes atuando antes e depois desse perodo.
150
Pereira da COSTA, 1974, no primeiro e no segundo volume da Cronologia Histrica do Estado do Piau, faz
referncia aos baixos salrios pagos aos professores piauienses. Mais informaes sobre educao nos sculos
XIX E XX cf. MENSAGENS E RELATRIOS DOS GOVERNADORES DO PIAU.
64
particulares, a exemplo do colgio Boa Esperana, do padre Marcos de Arajo Costa, a
principal instituio de ensino particular do Piau na primeira metade do sculo XIX. Aqueles
que desejavam continuar estudos eram enviados para outras provncias para cursar o ensino
secundrio. A partir da dcada de 1840, com a criao do Liceu Piauiense, os grupos
interessados em educao formal passaram a contar com uma escola preparatria para o
ingresso na faculdade, embora as famlias de posse continuassem enviando seus filhos para
outras provncias ou mesmo para a Europa.
Observa-se que, na passagem do sculo XVIII para o XIX, apenas a elite tinha
capital suficiente para cobrir despesas com ensino primrio e secundrio. J no ensino
superior, a situao era mais difcil, pois no havia universidades na Colnia. Os interessados
nesse nvel de ensino cursavam-no na Europa, um nus elevado mesmo para as famlias da
elite.
A despeito do quadro delineado sobre o ensino no Piau, na passagem do sculo
XVIII para o XIX, piauienses j frequentavam faculdades e seminrios da Europa, entre eles:
Marcos de Arajo Costa (1780-1850) ordenado padre; Francisco de Sousa Martins (1805
1857) e Ovdio Saraiva de Carvalho e Silva (1787-1852), ambos iniciaram estudos de direito
em Coimbra e concluram em Olinda
151
. Aps a separao do Brasil de Portugal, e a
instalao das faculdades de direito em Pernambuco e So Paulo, a maioria dos piauienses
passaram a freqent-las no Brasil embora, ao longo do sculo XIX, alguns preferissem
estudar na Europa, a exemplo de Pedro Francisco da Costa Alvarenga(18261883), Marcos
Antnio de Macedo (1808-1872), Francisco Parentes (1839-1876) e Antnio J os de Sampaio
(1857-1906).
Em meados do sculo XIX, era significativo o nmero de piauienses com formao
superior. Entre outros, possvel relacionar: Antnio Borges Leal Castelo Branco (1817-
1871), Eudoro de Carvalho Castelo Branco (1839-1870), Francisco J osFurtado (1818-1870),
Antnio de Sousa Martins (1829-1896), Casimiro J os de Morais Sarmento (1813-1860),
Manoel Pereira da Silva (1816-1855), J os Coriolano de Sousa Lima (1829-1869), Manoel
Idelfonso de Sousa Lima (1834-1897), J oo Lustosa da Cunha Paranagu, marqus de
Paranagu (1821-1912), J os Mariano Lustosa do Amaral (1829-?), J os Manoel de Freitas
(1832-1887) e Frederico Leopoldo Csar Burlamaqui (1803-1866). Alguns conquistaram o
grau de doutor, como Costa Alvarenga, doutor em medicina pela Universidade de Bruxelas e
151
PINHEIRO, 1994; BASTOS, 1994.
65
Leopoldo Csar Burlamaqui, doutor em cincias matemticas e naturais pela Escola Militar
do Rio de J aneiro
152
.
A maioria dos integrantes desse grupo estabeleceu residncia fora do Piau onde as
condies apresentavam-se favorveis a uma vida de sucesso. A esse motivo somam-se
outros, a exemplo do constante deslocamento dos integrantes do grupo para diferentes pontos
do Brasil no exerccio de cargos de delegado do Imprio, como presidentes de provncia ou
magistrados. Alm da naturalidade, do diploma do curso superior e a opo por residir fora do
Piau, essa gerao de piauienses tem outras caractersticas comuns: a atividade jornalstica,
escrevendo regularmente na imprensa peridica, nos locais onde fixaram residncia ou na
imprensa piauiense, mesmo residindo fora; a maioria viveu a experincia de escrever e
publicar obras de carter pragmtico e literrio, alm de se destacar como orador sacro ou
orador poltico.
Um aspecto que sobressai ao conjunto das obras publicadas pelos componentes do
grupo acima citado, a quantidade considervel de trabalhos publicados na rea do direito:
comentrios e anotaes de obras jurdicas, pareceres, processos, projetos de lei, tradues,
entre outras. Outras publicaes referem-se a pronunciamentos e trabalhos parlamentares,
uma vez que quase todos exerceram atividades nos parlamentos provinciais ou no parlamento
geral do Imprio. Obras do marqus de Paranagu: Reforma hipotecria, Reforma da Lei
de Execuo e Eleio para um senador, servem para ilustrar e lhe garante um lugar na
galeria de polticos do seu tempo que se dedicaram escrita
153
.
Esse conjunto de obras denota preocupao em contribuir para o debate de questes
relativas ao progresso do Imprio, o que guarda estreita relao com a posio que seus
autores ocuparam no cenrio poltico e social. Marcos Antnio de Macedo esteve no Cear
como poltico e magistrado. Durante sua permanncia naquela provncia, realizou estudos e
publicou Mapa topogrfico da comarca do Crato, provncia do Cear, indicando a
possibilidade de um canal tirado do rio So Francisco, no lugar Boa Vista, para comunicar
com o rio J aguaribe, pelo riacho dos Porcos e rio Salgado; Observaes sobre secas do
Cear e meio de aumentar o volume das guas nas correntes do Cariri e Descrio dos
terrenos carbonferos da comarca do Crato.
152
Para a formao desse grupo considerou-se as informaes de PINHEIRO, 1994; BASTOS, 1994;
MONSENHOR CHAVES, 1998; ADRIO NETO, 1995.
153
Os exemplos so inmeros, no Primeiro Reinado, J os Bonifcio de Andrada e Silva, cf. CALDEIRA, 2002; no
Perodo Regencial, Diogo Antnio Feij, cf. CALDEIRA, 1999; no segundo reinado, Paulino J os Soares de
Sousa, Visconde do Uruguai, cf. CARVALHO, 2002; Joaquim Nabuco, cf. NABUCO, 1975; Rui Barbosa, cf.
BARBOSA, 2003.
66
Alguns desses bacharis realizaram e publicaram estudos fora da sua rea de
formao, o caso de Morais Sarmento com Opsculo sobre a educao fsica dos
menores. Na obra desse escritor, evidencia-se outro aspecto que marca o conjunto de obras
em apreciao, as tradues que muitos realizaram. Morais Sarmento, por exemplo, traduziu
Solido obra de George Zimmerman, tambm compndios de direito e histria sagrada,
alguns de autoria M. A. Macharel.
Esses escritores tiveram uma atuao intelectual notvel em todos os lugares
por onde passaram. Marcos Antnio de Macedo participou de expedies cientficas pela
frica, sia e Europa, residiu temporariamente na Alemanha, onde faleceu. Colaborou com o
Grande Dicionrio Internacional de Laroussee publicou em lngua estrangeira: Notice sur la
palmier Carnahube e Plerinage aux-Lieux-Saints, suivi dune excursion dans le Basse
Egypte, en Syrie et a Constantinople, entre outras obras
154
. Teve grande repercusso por toda
a Europa ocidental o trabalho de Costa Alvarenga. Doutor em medicina pela Universidade de
Bruxelas lecionou na Escola Mdica-Cirrgica de Lisboa, cidade onde passou a maior parte
de sua vida e faleceu. Desenvolveu estudos sobre a aorta, que o consagraram como mdico
pesquisador. Escreveu vasta obra na rea da medicina, traduzida para lnguas como o ingls,
francs, italiano e alemo.
Na Corte, Frederico Burlamaqui, Doutor em Cincias da Matemtica e Naturais,
construiu uma carreira de sucesso como homem dedicado s letras e como professor da
Escola Militar do Rio de J aneiro, cidade onde viveu e morreu. Entre as instituies onde
atuou, destaca-se o Instituto Histrico e Geogrfico Brasileiro - IHGB e a Sociedade
Auxiliadora da Indstria Nacional SAIN, instituies de grande penetrao na sociedade
brasileira da poca, pelo trabalho realizado no sentido da civilizao e do progresso. Escreveu
uma vasta obra articulada com os interesses dessas associaes, abrangendo, alm de temas
sociais, como a escravido, obras sobre mineralogia e agricultura. Burlamaqui pertenceu a
Ordem de So Bento de Aviz e a Ordem da Rosa.
A exceo Francisco de Sousa Martins que, no exerccio de funes polticas e
jurdicas, viveu no Rio de J aneiro, Bahia e Cear, mas fixou residncia em Oeiras, onde
advogou e lecionou francs no Liceu Piauiense. Como membro do IHGB, em 1846, publicou
na revista do Instituto Progresso do jornalismo no Brasil, estudo de histria da imprensa
peridica, onde dedicou espao para a histria do jornalismo na provncia do Piau. O escritor
faleceu em uma de suas fazendas no atual municpio de J aics.
154
PINHEIRO, 1994, p. 24-25.
67
Escritores, na condio de literatos
155
, foram os poetas Ovdio Saraiva e Manoel
Pereira da Silva, que produziram uma poesia impregnada pelo esprito ulico, revestida de
intuito louvaminheiro
156
. Sousa Lima escreveu poesia de temtica sertaneja, sua produo foi
reunida e publicada aps sua morte, segundo esforo envidado pela gerao de escritores de
sua poca. Esses poetas viveram fora da provncia do Piau, participando de diferentes
ambientes literrios.
A historiografia literria acrescenta ao rol dos poetas dessa gerao um fazendeiro
autodidata, Leonardo de Carvalho Castelo Branco (1788-1873), que nasceu e morreu no Piau,
embora temporariamente tenha morado em Lisboa e no Rio de J aneiro. Na sua obra se destaca
O Santssimo Milagre, A Criao Universal e O mpio Confundido
157
. Como quase
todo homem de letras do seu tempo, realizou e publicou estudos pragmticos, a exemplo de
Memria acerca das abelhas da provncia do Piau. Entre os escritores dessa gerao,
somente sua obra e a de Francisco de Sousa Martins do visibilidade ao Piau.
Dispersos pelas diversas regies do Imprio e mesmo pela Europa, no h indcios de
sociabilidades entre esses escritores. No conjunto, as obras que produziram quase nenhuma
relao tem com a experincia social piauiense, visto que foram impressas e circularam fora
do Piau. No caso de Leonardo Castelo Branco e Francisco de Sousa Martins, no se
encontrou sinal de que suas obras foram recepcionadas nessa provncia, apesar de aqui
residirem e de suas obras fazerem referncia ao Piau. Nesse sentido, no contriburam para
configurao do ambiente ou do sistema literrio piauiense.
A imprensa peridica que, em geral, apontada como elemento que concorre para a
formao de ambientes culturais, no Piau teve origem na ao das elites rurais e estava ligada
estrutura de governo da poca. Entre as primeiras tipografias instaladas em Oeiras, consta a
Tipografia Silveira & Cia, pertencente ao cnego Antnio Fernandes da Silveira, nascido na
regio onde hoje Sergipe. Parte de sua histria pessoal est ligada provncia do Piau, onde
viveu, entre 1824 e 1830, na condio de poltico e secretrio de governo provincial
158
. Na
tipografia por ele instalada, foi impresso o primeiro jornal da provncia, O Piauiense, jornal
de carter oficioso, redigido pelo professor Amaro Gomes dos Santos e pelo vigrio de
Oeiras, Pedro Antnio Pereira Pinto do Lago, que alm de fazendeiro foi tambm deputado
155
Antonio Candido MELLO E SOUSA (2000, p.96), utiliza a expresso literato, para designar poetas,
diferenciando-os dos publicistas, estudiosos da realidade social, doutrinadores dos problemas por ela
apresentados, escritores de forte atuao na imprensa peridica e divulgadores das idias liberais no Brasil.
156
PINHEIRO, 1994; MORAES, 1976.
157
COSTA, 1974, v. 2, p. 525; PINHEIRO, 1994, p.17-18.
158
PINHEIRO FILHO, 1972; BASTOS, 1994, p.543 e 564.
68
provincial e secretrio de governo de Manoel de Sousa Martins
159
. Na mesma tipografia foi
impresso o Dirio do Conselho Geral
160
e Correio da Assemblia Legislativa
161
, ambos
de carter definidamente oficial e destinados divulgao dos atos de governo.
Notcias sobre a instalao de novas tipografias na cidade, s a partir de 1835,
quando a Assemblia Legislativa autorizou ao governo da provncia a compra de uma, que foi
instalada no ano seguinte. Embora fosse propriedade do governo provincial, com o encargo de
publicar o expediente de governo, tambm imprimiu vrios jornais no oficiais. O
Telgrafo, impresso na referida tipografia, surgiu e desapareceu no contexto da Balaiada e
tinha como objetivo registrar as ocorrncias favorveis ao governo. Uma dcada depois, a
Tipografia Provincial estava em condies deplorveis, faltavam tinta e tipos, alguns estavam
to gastos que dificultavam a qualidade da impresso e a leitura do impresso. Foi vendida em
hasta pblica no ano de 1849
162
.
No ano de 1849 h notcia de mais duas tipografias em Oeiras. A Tipografia
Saquarema, propriedade de Francisco de Sousa Mendes, poltico influente, deputado
provincial entre 1835 e 1847, que, com a extino da Tipografia Provincial, foi contratada
para imprimir a documentao do governo, alm de imprimir peridicos favorveis situao
poltica. A outra era a Tipografia Liberal, que imprimiu vrios peridicos da oposio, a
exemplo de o Eco Liberal, semanrio poltico, redigido por Tibrio Csar Burlamaqui
(1810-1863) que, ao lado de Lvio Lopes Castelo Branco e Silva (1813-1869), marcaram o
jornalismo piauiense na primeira metade do sculo XIX, alm de movimentar as fileiras do
Partido Liberal. Lvio Castelo Branco fez oposio ferrenha dominao dos Sousa Martins,
pegando em armas contra a mesma, durante a Balaiada.
Os dados acerca da imprensa, entre 1832 e 1852, possibilitam a concluso de que a
aquisio de prelos no tinha fins comerciais, o interesse era enaltecer ou combater
determinadas pessoas ou grupos. Nesse sentido, os jornais divulgavam matrias de ataque ou
defesa, numa linguagem violenta, elitista e discriminatria. Alguns jornais foram editados,
circunstancialmente, para divulgar fatos extraordinrios, a exemplo da Balaiada e, ainda
outros, para divulgar atos do governo. Enfim, os jornais postos em circulao tinham feio
panfletria, circunstancial e oficial.
159
BASTOS, 1994, p. 274, 337 e 564.
160
Conselho Geral da Provncia, rgo de assessoramento dos presidentes de provncia, entre 1823 e 1834, quando
foi extinto e criadas as Assemblias Legislativas Provncias. Cf. BASTOS, 1994, p. 144.
161
BASTOS, 1994, p. 274.
162
COSTA, 1974, v. 2, p. 398-401.
69
Oriundos da elite, os proprietrios de jornais redigiam, imprimiam e distribuam
jornais. No havia diviso de atividades, nem jornalistas profissionais. Tibrio Csar
Burlamaqui, entre os mais destacados jornalistas da poca, para sobreviver, possua loja na
Rua do Norte, em Oeiras, onde entre outros produtos, vendia os jornais que imprimia. Os
consumidores e leitores de jornais pertenciam elite, pois ler e escrever eram prticas restritas
s classes sociais privilegiadas, isto , elite, representada pelos fazendeiros.
No h informaes de que, na primeira metade do sculo XIX, outro ncleo urbano
piauiense, alm de Oeiras, tivesse tipografia ou imprimisse jornal. Em Parnaba, desde o final
do sculo XVIII, formou um ncleo urbano em permanente contato com o exterior, o que
resultou na formao de um grupo de letrados, de forte atuao nas primeiras dcadas do
sculo XIX.
Nas trs primeiras dcadas do sculo XIX, um homem de opulentos cabedais rene
na residncia faustosa a elite da Vila. Simplcio Dias da Silva (Parnaba, 1773-
1829) Havia estado na Europa e se impregnara das idias do tempo, que dissemina
com fervor. Tendo-o como personagem central, constitui-se um grupo de homens
notveis, perfeitamente identificados uns com os outros. J oo Candido de Deus e
Silva (Par, 1773, Niteri, 1860) o grande idelogo. Formado em Direito pela
Universidade de Coimbra, inteligente e vibrtil, lidera os circunstantes. [Na sua
vasta bibliografia, da qual] apenas se conhecem tpicos escassos, no h, em rigor,
feio literria. O estilo empolado serve ao desenvolvimento de idias jurdicas,
filosficas e morais. Mas os trabalhos no apresentam valor literrio. [...] Mas h
uma figura de relevo nessa pliade. Leonardo Castelo Branco (Leonardo de Nossa
Senhora das Dores Castelo Branco, como se chamaria depois, Parnaba, 1788,
Barras, 1873), influente nas lutas polticas, que se iniciam para a
constitucionalizao do Reino de Portugal, e j estimado poeta. Sabe-se que em
Oeiras, onde se encontra como eleitor de sua parquia, inflama a sociedade local
com a recitao de uma de suas poesias
163
.
Contudo, nenhuma informao sobre tipografia ou circulao de jornais no perodo
em apreciao. A maioria dos integrantes desse grupo se destacava mais pela sofisticao na
forma de viver e como leitores do que como produtores de literatura. Todas as referncias
apontam para um acalorado debate oral, principalmente no mbito privado, embora
acontecesse tambm no mbito institucional, a exemplo das Cmaras de vereao. Sua
atuao isolada no foi capaz de agregar os diferentes escritores piauienses do perodo, nem
resultou em ao continuada, no contribuindo para a formao de um ambiente literrio.
Nesse contexto adverso ao desenvolvimento de uma imprensa livre, noticiosa e de
idias, circularam jornais com dstico literrio como A Voz da Verdade, dos quais no se
tem mais informaes. A movimentao de instalao de tipografias em Oeiras e as
caractersticas assumidas pelos primeiros jornais publicados, articulados s prticas rurcolas
163
BRANDO, 1981, p. 9-10.
70
da sociedade piauiense, com seu afastamento do universo da cultura letrada, explicam as
dificuldades para surgimento de um ambiente literrio no Piau, na primeira metade do sculo
XIX.
2.2. A formao de um ambiente literrio em Teresina
At meados do sculo XIX, os ncleos urbanos do Piau no apresentavam condies
para aglutinar os diferentes escritores. O declnio do poder dos Sousa Martins, a transferncia
da capital de Oeiras para Teresina, o projeto de incluso do Piau no conjunto das reas
urbanizadas e civilizadas e o retorno de nmero significativo de piauienses que haviam sado
da provncia para cursar o ensino superior, permitiram que em Teresina se formasse um grupo
de piauienses que se destacavam pelo papel social desempenhado nas funes de direo da
sociedade, pela prtica da leitura e da escrita, pela atuao na imprensa peridica e pelo
exerccio do magistrio, como ficou explicitado no captulo anterior, cuja ao levou a criao
de um ambiente literrio e conseqentemente, a formao do sistema literrio.
Essa pliade no formada apenas por pessoas com ensino superior, a estes se juntou
um conjunto de autodidatas, amantes das letras, que tambm se destacaram pela atuao no
cenrio cultural. Os integrantes desse grupo se originavam das camadas elevadas na
hierarquia social, constituindo a elite teresinense. Integrava o grupo entre 1852 e 1880: David
Caldas, Licurgo de Paiva, Lvio Castelo Branco, Miguel Castelo Branco, Simplcio Mendes,
Deolindo Mendes, Cndido Gil Castelo Branco, Antnio de Sampaio Almendra, Polidoro
Burlamaqui, Coelho de Resende, Raimundo de Ara Leo, Helvdio Clementino de Aguiar,
Gabriel Ferreira, o cnego Toms de Morais Rego, (1845-1890) Teodoro de Carvalho e Silva
Castelo Branco (1829-1901) e Luiza Amlia de Queiroz Brando (1838-1898)
164
.
Residindo em outras provncias do Imprio, alguns piauienses que se destacaram
pela prtica da escrita, estreitaram relaes com o grupo de letrados residentes em Teresina,
conquistando o respeito de todos. Entre eles, os poetas J os Coriolano de Sousa Lima e J os
Manoel de Freitas, o marqus de Paranagu, Antnio Castelo Branco, Antnio Coelho
Rodrigues (1846-1912) e o cnego Raimundo Alves da Fonseca (1842-1884).
164
Foram selecionadas prioritariamente personalidades ligadas Academia Piauiense de Letras, entretanto,
selecionaram-se alguns indivduos com atuao na imprensa peridica e no magistrio, espaos que
potencializavam a posio social dos sujeitos que os ocupavam, dando a estes destaques na esfera da cultura
letrada. Cf. PINHEIRO FILHO, 1972; BASTOS, 1994; SANTOS, 1994; MONSENHOR CHAVES, 1998. As
personalidades sem a indicao de nascimento e morte, j foram citadas anteriormente.
71
ilustrativo o caso da famlia de J os Manoel de Freitas que, por mais de sete
dcadas, manteve relacionamento permanente com os letrados piauienses. De famlia
tradicional do municpio de J erumenha, J os Manoel de Freitas e seus filhos J oo Alfredo de
Freitas (18621891) e Amlia Carolina de Freitas (1860-1946)
165
estavam sempre dispostos a
receber parentes e amigos do Piau. algo que conquistava os piauienses aqui residentes,
pois, no geral, no nutriam simpatia por aqueles que conquistavam xito l fora, esquecendo
os que aqui mourejavam e s se referiam ao Piau para amesquinh-los. Clodoaldo
Freitas, residente em Teresina, mediava a relao da famlia de J os Manoel de Freitas com o
ambiente literrio local. Na condio de scio fundador da Academia Piauiense de Letras e
ocupante da cadeira n.1, elegeu J os Manoel de Freitas como patrono. Posteriormente, ao
assumir uma das cadeiras nesse mesmo sodalcio, Amlia de Freitas, escolheu como patrono o
poeta Lucdio Freitas, filho de Clodoaldo.
Residindo ou no no Piau, independente de formao superior, os integrantes desse
grupo formaram a primeira gerao
166
de escritores piauienses com a conscincia de integrar
um segmento especial da sociedade, dedicado escrita e leitura, em uma sociedade
composta, na maioria, de iletrados. Foi a partir de Teresina, entre 1852 e 1880, que eles
estabeleceram uma rede de sociabilidades atpicas para a sociedade rurcola. As atividades
que desenvolveram atravs da imprensa peridica e das associaes de carter cultural que
criaram, contriburam para diferenci-los do restante da sociedade e formar um ambiente
literrio, sem precedentes na histria piauiense.
Essa primeira gerao de homens de letras atuando em Teresina modificou os
contornos da imprensa peridica. Se comparada fase oeirense, percebe-se maior
regularidade na circulao dos jornais, predominando o jornalismo poltico e noticioso, que
atenuava o carter oficioso e de ataque s famlias e aos indivduos. Os jornais apresentavam
contornos comerciais, como se percebe pelos reclames publicitrios. O prprio jornal tornou-
se objeto de comrcio, circulando com valor estipulado para assinaturas ou venda avulsa
167
.
165
Importante intelectual na passagem do sculo XIX para o XX, esposa de Clvis Bevilqua, mais conhecida
como Amlia de Freitas Bevilqua.
166
Nesse sentido, a expresso gerao refere-se a pessoas que atuaram em um mesmo contexto histrico, a
exemplo de Clodoaldo Freitas e Higino Cunha, que atuaram juntamente com os filhos no mesmo perodo e no
mesmo ambiente literrio.
167
Na relao de jornais piauienses de PINHEIRO FILHO (1972, 79-106) possvel encontrar dados sobre preo
da unidade de alguns peridicos ou mesmo assinatura.
72
Multiplicaram-se as tipografias
168
e dividiram-se as atividades, formando-se um setor
de trabalho especializado. Na fase oeirense, o dono da tipografia e do jornal participava desde
a impresso at a distribuio. Ao longo da segunda metade do sculo XIX, a tendncia foi a
formao do grupo dos proprietrios, dos redatores e dos impressores. No Piau, at o fim do
Imprio, o Partido Conservador e o Partido Liberal se destacaram como principais
proprietrios de tipografias. A regularidade de circulao dos grandes jornais, como A
Imprensa, O Amigo do Povo e A poca, contrastam com a grande quantidade de
pequenos jornais que circularam nesse perodo e tiveram vida efmera. Neles os proprietrios
ainda exerciam diferentes funes no processo de elaborao, principalmente, como redatores.
Individualmente, foram muitos os proprietrios, dos quais se destacaram David
Caldas, Miguel Castelo Branco e o cnego Toms de Morais Rego
169
. David Caldas, por
exemplo, conseguiu o sustento da famlia dos parcos recursos conseguidos atravs do trabalho
na imprensa peridica, muito embora ainda estivesse prximo do antigo modelo de
jornalismo, desenvolvendo ele mesmo as funes de redator, impressor e distribuidor.
Percebe-se a importncia do grupo de impressores pelo destaque dado a eles no
expediente dos jornais, em que os nomes apareciam estampados ao lado do nome dos
proprietrios e redatores. Nos diferentes jornais do perodo, encontram-se notas relativas
questo da remunerao dos impressores, o que permite afirmar que a atividade de impresso
ganhava carter profissionalizante. A partir das primeiras dcadas do sculo XX,
paulatinamente, os impressores foram desaparecendo do expediente dos jornais, assim como
os proprietrios
170
. Observa-se, nesse perodo, intenso movimento de compra e venda de
prelos e que a atividade tipogrfica concentrava-se cada vez mais nas mos de poucos
indivduos ou consrcios.
Entre 1853 e 1880, circularam em Teresina, sessenta e dois jornais, uma revista e um
almanaque, num total de sessenta e quatro peridicos, contudo, a maioria desapareceu logo
nos primeiros nmeros. Os grandes jornais do perodo pertencem aos partidos polticos e
apresentam maior regularidade na sua circulao. Nesse perodo, o jornal A Imprensa, que
teve entre seus redatores Deolindo Mendes e David Caldas, representava o Partido Liberal e o
168
possvel acompanhar esse movimento tipogrfico atravs das marcas impressas em acervos da poca, a
exemplo das MENSAGENS E RELATRIOS DOS GOVERNADORES DO PIAU, LEGISLAO
PIAUIENSE e o conjunto bibliogrfico em circulao no perodo. Cf. Biblioteca de Apoio a Pesquisa, APPI.
Oferece dados interessantes sobre o assunto PINHEIRO FILHO, 1972; BASTOS, 1994; COSTA 1974, v. 2.
169
Por um longo perodo ainda, proprietrios de tipografias continuaram participando de todas as etapas de edio
do jornal, da redao a impresso.
170
Em diferentes jornais da poca, encontra-se registro com nomes de impressores que trabalharam em Teresina
entre 1852 e 1920, cf. Hemeroteca do APPI; PINHEIRO FILHO, 1972, p.79-106; BASTOS, 1994, p.274-307.
73
jornal A poca, rgo do Partido Conservador, contou entre seus redatores, com Raimundo
de Ara Leo e Coelho de Resende. Uma anlise desses peridicos aponta para as
semelhanas entre o trabalho jornalstico de ambos. As acusaes pessoais ocupavam
significativo espao, denunciando as sevcias de escravos, defloramentos, agresses fsicas e
verbais e os saques aos haveres pblicos
171
.
O Amigo do Povo, propriedade de David Caldas, cuja circulao data do ano de
1868, apresenta um perfil poltico e noticioso. Como noticioso, o jornal informou sobre
acontecimentos do Brasil e do mundo. Como poltico, de tendncia liberal, em artigo
programa, de 1868, declarou no ser inimigo do Imprio nem de suas instituies, embora a
marca do peridico fosse os constantes ataques s estruturas monrquicas e seus
representantes. A partir de 1872, circulou como republicano. A poltica provincial dominava
as pginas do jornal, que tambm transcrevia matrias de alguns jornais em circulao em
outras regies do Imprio.
Em 1873, O Amigo do Povo deu lugar ao Oitenta e Nove, folha de curta
durao, marcada pelo lado mstico e introspectivo de David Caldas. As matrias veiculadas
so quase todas a pedido e responsabilidade de seus autores. Foram mantidas as transcries
de artigos de jornais de fora da provncia, a exemplo de alguns jornais em circulao na Corte.
O noticirio toma quase todo o espao do jornal e os anncios so em maior quantidade do
que no ttulo anterior.
Observa-se nos peridicos piauienses consultados que, entre 1852 e 1880, a poesia, a
crnica e o conto eram pouco divulgados, predominando o jornalismo poltico e noticioso.
Todavia, encontram-se composies poticas de carter mordaz, que ridicularizam e
censuram fatos e comportamentos relativos aos polticos locais ou uma poesia de temas
polticos ou, ainda, uma poesia lrica sentimental, contudo, no chega a configurar uma
publicao permanente e intencional dos escritores locais
172
.
Observamos atravs da imprensa peridica, que essa primeira gerao de homens de
letras atuando em Teresina se mostrou sensvel aos problemas que marcaram a sociedade
171
Em suas Memrias, Higino CUNHA (1939, p. 44) lembrar-se-ia desse tipo de jornalismo no seguinte trecho:
felizmente esses grandes acessos de polmicas jornalsticas pessoais, com descompostura desbragadas de parte
a parte foram rareando e, hoje, quando aparece algum saudosista de antanho, espectro erradio, empregando um
calo sujo, o pblico ledor o refuga como elemento antiquado e indesejvel entre gente limpa e bem educada.
172
O jornal O Amigo do Povo publicou poesias de escritores locais, a exemplo de Licurgo de Paiva. Cf. na
edio de fev. de 1871 a poesia Repblica. O trecho o seguinte: Debaixo desta epgrafe escreveu Licurgo de
Paiva uma patritica poesia, que nos enviou para ser publicada, declarando-nos que era ela sua profisso de f
nos arraiais do novo partido que to pujante se levanta nesta grande poro da Amrica do Sul, fadada aos mais
altos destinos [...] com sumo prazer que damos luz a bela poesia [...] do nosso correligionrio.... Nessa
mesma dcada, ao longo dos anos de 1878 e 1879, o jornal A poca publicava poesias de carter lrico
sentimental.
74
brasileira em meados do sculo XIX, em especial as discusses acerca da forma de governo e
a abolio da escravido. Na escassez de fontes sobre a leitura efetuada por essa gerao,
observa-se que os jornais da poca encimavam legendas com a indicao de escritores que,
presume-se, foram lidos e discutidos, servindo de base terica para enfrentamento dos
problemas. Chama-se ateno os nomes de Franois Guizot, Lord Palmerston, Tito Lvio e
Erasmo
173
. Esses escritores se ajustam preferncia de leitura dos homens de letras daquela
poca, uma vez que as questes acerca da poltica estavam entre os primeiros itens da pauta
de discusso social. A preferncia recaa sobre os escritores europeus cuja obra se relacionava
com a atividade poltica, em especial aqueles que atuaram na passagem do sculo XVIII para
o XIX
174
. H indcios da leitura de escritores do Romantismo brasileiro como Gonalves
Dias, lvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves
175
.
No perodo de 1852 a 1880, trs jornais circularam como rgo de divulgao de
sociedades culturais, a exemplo do Recreio Literrio
176
, que circulou a partir de 1875 e
pertencia a uma sociedade literria do mesmo nome, sobre a qual no se tem mais
informaes. O jornal O Propagador, em circulao entre 1858 e 1860, pertencia a uma
sociedade poltico-literria, cujo nome no indicado no jornal. As fontes analisadas
apontam para a Sociedade Propagadora de Idias e Conhecimentos teis, fundada em
dezembro de 1857 por Deolindo Mendes. Em 1860, por motivos ignorados, o jornal deixou de
circular. Dois anos depois, surgiu o jornal Liga e Progresso, rgo de divulgao dessa
mesma associao, que desapareceu em 1864. Se for possvel incluir nos quadros da referida
associao os redatores do jornal, entre seus associados possvel relacionar: Deolindo
Mendes, Lvio Castelo Branco, Cndido Gil Castelo Branco, Antnio Castelo Branco e David
Caldas
177
, nomes expressivos nas letras piauienses da poca.
Esse tipo de associao foi comum no Brasil, foram as primeiras formas de
organizao dos homens de letras. Estudando-as em outras regies do Brasil, no final do
sculo XVIII, Antonio Candido percebeu o papel que desempenharam.
Tendncia associativa que vinculava os intelectuais uns aos outros, fechado-os no
sistema de solidariedade e reconhecimento mtuo das sociedades poltico-culturais,
conferindo-lhes um timbre de exceo. No espanta que se tenha gerado um certo
sentimento de superioridade, [...] inclinada a supervalorizar o filsofo, detentor das
173
Observar legendas e seus respectivos autores na relao dos peridicos piauienses PINHEIRO FILHO, 1972.
174
Estudos introdutrios na coleo Formadores do Brasil revelam aspectos sobre a leitura dos homens de letras
do Brasil, no perodo entre 1852 e 1880. Destaque para o estudo introdutrio obra de Paulino Jos Soares de
Sousa, Visconde do Uruguai, Entre a autoridade e a liberdade de Jos Murilo de CARVALHO, 2002.
175
MENDES, ALBUQUERQUE, ROCHA, 2009; CUNHA, 1939.
176
PINHEIRO FILHO, 1972, p. 83.
177
PINHEIRO FILHO, 1972, p. 80-81.
75
luzes e capaz, por isso, de conduzir os homens ao progresso. A se encontram
porventura as razes da jactncia, reforada a seguir pelo Romantismo, que deu aos
grupos intelectuais, no Brasil, exagerada noo da prpria importncia e valia.
178
No caso do Piau, pela ausncia dessas associaes ou por sua efemeridade, as
tipografias desempenharam importante papel no desenvolvimento do ambiente literrio,
servindo de espao de encontro para os homens de letras. Quando, no final da dcada de 1860,
o poeta Licurgo de Paiva fixou residncia em Teresina, passou a freqentar a Tipografia
Liberal, onde os jornalistas Deolindo Mendes e David Caldas redigiam o jornal do Partido
Liberal, estabelecendo com eles laos fraternais. Essa amizade facilitou sua insero no
universo da imprensa peridica.
Licurgo de Paiva iniciou sua atividade literria no Recife, quando se preparava para
entrar para faculdade. Entregou-se boemia e literatura, embora tenha publicado um livro
de poesias, Flores da Noite. Malogrado o plano de cursar a faculdade, de volta a Teresina,
apresentava o livro como passaporte para ocupar um lugar no universo dos homens de letras.
Inteligente e ativo, participou dos principais eventos culturais da poca, assim como das
manifestaes de rua em defesa da abolio da escravido e da proclamao da Repblica,
idias que defendeu fervorosamente.
Licurgo de Paiva escreveu para o teatro, so de sua autoria os dramas Voos e
Quedas e Quedas Fatais, que se presume terem sido encenados no teatro da cidade. Sua
obra potica foi motivo de recitais pblicos. interessante o episdio ocorrido com a poesia
Conseqncias do Baile, censurada pelo Chefe de Polcia da Provncia, como atentado
moral e aos bons costumes e proibida de ser reapresentada publicamente, em recital
programado pela atriz Maria Henriqueta
179
.
Em janeiro de 1873, por sua atuao como redator do jornal Provncia do Piau,
peridico de oposio ao presidente da provncia, o poeta foi espancado, ficando estendido
como morto foi o amigo David Caldas quem o apanhou para os primeiros socorros
180
. Os
jornais, tanto da situao como da oposio, deram larga divulgao ao fato, criticando
duramente o ato de incivilidade. A situao ficou insustentvel quando o agredido reconheceu
que seus agressores pertenciam guarda do presidente da provncia. Logo depois, o
presidente deixava a presidncia e a provncia. Ainda assim, o poeta se entregou
desregradamente ao lcool. Sua nomeao como promotor de So Raimundo Nonato, em
178
CANDIDO, 1997, p. 222.
179
COSTA FILHO, 1997, p. 113-126.
180
MONSENHOR CHAVES, 1998, p.480-484.
76
1878, provocou veementes protestos dos membros do Partido Conservador atravs do jornal
A poca. Destitudo, voltou a Teresina. Em seguida, perambulou por outros municpios, at
encontrar a morte em J erumenha, onde foi enterrado em lugar ignorado.
A trajetria da poetisa Luiza Amlia de Queiroz Brando tambm revela a
importncia da imprensa peridica na formao do ambiente literrio. Na sociedade rurcola
de hbitos e costumes tradicionais, predominantemente masculinos, o papel social da mulher
se restringiu s funes no mbito da casa. Em um universo de iletrados, ler e escrever eram
prticas disseminadas entre homens de condio social mais elevada, em geral, utilizadas no
mbito profissional ou para gerir os negcios da famlia ou como exibio de sua autoridade
ou poder. Contudo, algumas mulheres dos grupos sociais de posio elevada na hierarquia
social tiveram acesso ao ensino, foram educadas para gerir a economia domstica e instruir os
filhos, o caso da poetisa Luiza Amlia de Queiroz Brando.
Embora se afastando do modelo de mulher da sua poca, pela prtica de fazer poesia
e, acima de tudo, public-las, a poetisa no foi arrebatada pelos arroubos do feminismo
rebelde do sculo XIX. Sua trajetria pessoal revela tranquilidade e os problemas comuns s
mulheres de sua poca e posio social, o que se observa na crtica de Clodoaldo Freitas: o
que hei de dizer de uma senhora cuja vida serena deslizou no suave aconchego do lar, sempre
feliz e descuidosa, apenas empanada pela tnue nuvem de uma saudade, velada pelo cendal da
dor pela morte ou separao de entes queridos?
181
A poetisa escreveu e publicou poesia
atravs dos jornais em circulao em Teresina, consolidando sua posio no universo das
letras com a publicao do livro Flores Incultas (1875) e do poema Georgina ou os efeitos
do amor (1893)
182
.
A rede de relaes que se estabeleceu a partir das tipografias, ultrapassa os limites do
individual, como se observa na movimentao dos homens de letras do perodo, no sentido de
publicar um livro pstumo para homenagear o poeta J os Coriolano de Sousa Lima, piauiense
de nascimento, que viveu parte de sua vida fora do Piau. Gravemente enfermo, retornou
provncia natal, onde faleceu. Em 1870, o desembargador J os Manoel de Freitas liderou um
grupo de homens de letras, que conseguiu subveno da Assemblia Legislativa Provincial,
para publicar o livro Impresses e Gemidos do referido poeta, que foi prefaciado pelo
jornalista David Caldas
183
.
181
FREITAS, 1998, p. 105.
182
Sobre a obra da poetisa cf. seleta de autores parnaibanos de ADRIO NETO, 2001; MENDES,
ALBUQUERQUE, ROCHA, 2009.
183
Revista Mensal de Literatura, Cincias e Artes, da Sociedade Unio Piauiense, Hemeroteca do APPI.
77
Entre os livros que circularam em Teresina, no perodo de 1852 a 1880, encontram-
se Flores da Noite de Licurgo de Paiva, Flores Incultas de Luiza Amlia de Queiroz
Brando e Impresses e Gemidos de J os Coriolano de Sousa Lima. Trs livros de poesias,
forma de manifestao literria predominante no ambiente literrio piauiense em formao
184
.
No caso do Piau, a poesia de temtica sertaneja foi a mais popular, destacando-se entre seus
cultores: J os Coriolano de Sousa Lima, os poetas J os Manoel de Freitas
185
e Teodoro
Castelo Branco que publicou Harpa do caador (1884). No entanto, Hermnio de Carvalho
Castelo Branco (1851-1889), sobrinho de Teodoro Castelo Branco, o mais expressivo de
todos os poetas cultores desse vis potico. Seu livro Ecos do Corao, publicado em 1881,
teve recepo singular, no norte do Brasil.
Sucederam-se pequenas edies da obra, em numero de oito, afora a primeira, que
logo iam se esgotando. Foi a nica obra de autor piauiense do sculo passado, e
qui do presente, que alcanou tamanho sucesso.
A ltima edio lanada pelo autor foi a 7, em Fortaleza, no ano de 1887, quando
mudou o titulo para Lira Sertaneja. A 8 edio foi lanada no Rio, pelo livreiro
Quaresma, em 1906; e a 9 pela Livraria Universal de So Luis, em 1938.
186
Clodoaldo Freitas, em Vultos Piauienses, oferece elementos para se entender o que
a poesia de temtica sertaneja, que ele, entre outros crticos da poca, denomina de poesia
sertaneja. No estudo sobre o poeta J os Coriolano de Sousa Lima escreveu:
As melhores poesias de Jos Coriolano so aquelas em que descreve as cenas do
serto de sua terra natal [...] Nessas cenas da vida real do sertanejo, na descrio de
seus usos e costumes, o poeta piauiense prima pela singeleza e naturalidade. por
elas que ocupar lugar saliente na nossa literatura ptria [...] quem ler os seus versos
sertanejos experimentar suave impresso pela sua cor local, pela facilidade e
sentimento com que esto escritos
187
O crtico J oo Cabral no estudo que elaborou na busca dos elementos de inspirao
potica na literatura piauiense define a poesia sertaneja como poesia original, espontnea,
dos cantadores do serto, caadores, pescadores, barqueiros e embarcadios, criadores de
emboladas, loas, desafios, libelos, romances de amores e de vituprios, de guerras e de
cangao.
188
184
No podia ser diferente, na segunda metade do sculo XIX, parcela considervel da intelectualidade brasileira
entendia como literatura apenas as intituladas belas-letras, que se restringia quase exclusivamente poesia
cf. COUTINHO, 2004, p. 2.
185
No h registro de que Jos Manoel de Freitas tenha publicado livros de poesia, contudo, em estudo biogrfico
realizado por Clodoaldo FREITAS (1998, p. 15-31) o foco a potica do referido intelectual.
186
PINHEIRO FILHO, 1988.
187
FREITAS, 1998, p. 133-134.
188
CABRAL, 1938, p. 170.
78
Em Vultos Piauienses, livro publicado nos primeiros anos do sculo XX,
Clodoaldo Freitas afirma que, por essa poca, a poesia sertaneja j havia passado, numa
clara referncia de que essa tendncia literria predominara no sculo XIX: a poca da
poesia sertaneja, de que o poeta [J os Manoel de Freitas] foi um dos corifeus e fundadores,
passou como tantas outras; devo, porem, consignar para honra nossa que tivemos trs
representantes notveis: J os Coriolano, Freitas e posteriormente Hermnio Castelo Branco.
189
Em sntese, observamos que, embora a natureza seja um elemento privilegiado pela poesia
de temtica sertaneja, a sua nfase foi na descrio do viver rurcola, seus usos e costumes,
como se observa nas obras A Harpa do Caador e Lira Sertaneja.
Alm da poesia de temtica sertaneja, registra-se uma poesia de circunstncia
190
,
elaborada para os saraus, festas cvicas ou manifestaes polticas de rua, como algumas
elaboradas por Licurgo de Paiva e David Caldas. No menos importante, circulou no
ambiente literrio piauiense, uma poesia lrica, celebrando emoes e sentimentos ntimos, a
exemplo da lrica de Luiza Amlia de Queirs e o prprio autor de Flores da Noite, Licurgo
de Paiva
191
.
necessrio realar algumas publicaes que, distanciando-se das belas letras, isto
, da poesia, movimentaram o ambiente cultural piauiense: Memria Cronolgica, Histrica
e Corogrfica da Provncia do Piau, de J os Martins Pereira de Alencastre, publicado pela
Revista do IHGB, em 1857 e o Relatrio da viagem feita de Teresina at a cidade de
Parnaba, pelo rio do mesmo nome, inclusive todo o seu delta, por ordem do Exmo. sr. dr.
Adelino de Luna Freire, presidente do Piau, no ano de 1867, elaborado por David Caldas e
publicado em anexo a mensagem desse presidente da provncia Assemblia Legislativa
Provincial
192
.
O relatrio de David Caldas faz parte do conjunto de aes para desenvolver a
navegao fluvial na bacia do Parnaba, com vistas ao progresso da provncia, retirando-a do
189
FREITAS, 1998, p. 29.
190
Poesia cuja temtica trata de eventos diversos do cotidiano, cf. PARANHOS, 2002, p.11.
191
Alguns crticos literrios encontram dificuldades em incluir os poetas piauienses dessa gerao no contexto
literrio romntico, como se v na transcrio que segue. Apesar da poca em que viveram, no ambiente
romntico brasileiro, os autores [da gerao em anlise], em rigor, no podem ser classificados como romnticos.
O romantismo, de resto, no deixa marca profunda na literatura piauiense [...] a poesia exprime a dor, o amor, a
decepo, os maus pressgios, que constituem temas fundamentais do romantismo. Mas a linguagem desses
vates no tem os cacoetes da escola. V-se, por isso, que no se impregnaram do esprito do tempo. S Licurgo
J os Henrique de Paiva [...] de formao recifense, em contacto pode se dizer intimo com os poetas de ento, [...]
se faz marcar pelo romantismo. BRANDO, 1981, p. 12-13. Na Antologia de escritoras piauienses de
MENDES, ALBUQUERQUE, ROCHA (2009), a leitura da biografia de Luiza Amlia de Queiroz sugere
enquadramento da obra da poetisa no Romantismo, posio defendida por outros crticos literrios piauienses.
192
H informaes de que esse trabalho foi publicado no Dicionrio Histrico e Geogrfico do Maranho de
Cesar Marques.
79
isolamento e do atraso secular, como foi abordado no primeiro captulo. O pice da
movimentao nesse sentido foi a vinda ao Piau do engenheiro Gustavo Lus Guilherme
Dodt, patrocinado pelo governo da provncia. Em 1868, durante vrios meses, o engenheiro
navegou o rio Parnaba at suas nascentes, numa viagem pioneira. Em 1873, publicou
circunstanciado relatrio com o titulo Descrio dos rios Parnaba e Gurupi.
Nessa mesma poca, teve grande repercusso o trabalho de pesquisa e editorao de
Miguel de Sousa Borges Leal Castelo Branco que, em 1879, publicou Apontamentos
biogrficos de alguns piauienses ilustres. Como editor, tambm publicou o Almanaque
piauiense. Esse editor, pesquisador e poeta foi professor de francs no Liceu Piauiense e
proprietrio do Colgio Nossa Senhora das Dores, uma das instituies do ensino particular
mais importantes de Teresina no final do sculo XIX, responsvel pela formao de parte da
mocidade teresinense
193
. Embora para muitos estudiosos esse tipo de publicao no
pertenam categoria do literrio, refletem a viso de mundo que nos legaram esses primeiros
estudiosos da sociedade piauiense, fica no pesquisador da historia das letras piauienses a
impresso de que esse conjunto bibliogrfico ajudou a formar o ambiente literrio,
contribuindo para despertar do sentimento de grupo entre os escritores
194
.
Entre 1852 e 1880, o livro era ainda uma raridade na sociedade piauiense, circulava
em meios restritos, destacando-se a capital da provncia, local de concentrao dos letrados.
Entretanto, as tipografias locais j imprimiam livro
195
e havia pelo menos uma livraria em
193
necessrio registrar que bem maior o volume de obras de piauienses publicadas entre 1852 e 1882. No
entanto, optou-se por um conjunto menor que permitisse tranquilidade quanto sua circulao pela provncia e,
em especial, por Teresina. A ttulo de ilustrao, data desse perodo A Criao Universal (1856) e O mpio
Confundido (1873) de Leonardo Castelo Branco; Primeiras estrofes (1875) Mrtires da vitria (1880) e
Emancipao (1881) de Joaquim Ribeiro Gonalves e O Micogrfo (1882) de Csar do Rego Monteiro com
Ansio de Abreu. No campo da fico, os contos de Francisco Gil Castelo Branco datam desse perodo, mas no
se encontraram indcios de que foram recepcionadas no Piau nesse mesmo perodo. interessante registrar mais
de oito dezenas de estudos assinados por piauienses circulando em outras provncias do Imprio, alguns de Costa
Alvarenga e Marcos Antnio de Macedo publicados na Europa, outros de Frederico L. C. Burlamaqui, Fernando
Pires Ferreira e J oaquim Sampaio Castelo Branco. Sobre a atividade de Miguel Castelo Branco cf.
MONSENHOR CHAVES, 1998, p. 466-468.
194
O objetivo mostrar as obras em circulao em cada perodo, em especial, aquelas que possam evidenciar o
Piau como territrio e a populao como sociedade produtora de uma cultura especifica. Em sua Historia
concisa da literatura brasileira Alfredo BOSI (2006, p. 83-87) analisando a literatura brasileira, produzida na
passagem do sculo XVIII para o XIX, trabalha com a idia de gneros pblicos para designar o conjunto de
textos extraliterrios: sermes, artigos, discursos, ensaio jornalstico e ensaio-poltico social, obra dos
publicitas, escritores que escreveram sobre assuntos diversos. Contudo, para Bosi, esse conjunto bibliogrfico,
colado a prxis, no influiu no despertar da conscincia literria brasileira. A idia de gneros pblicos
contribuiu para se entender o conjunto de publicao extraliterrias no contexto social piauiense, muito embora,
verifica-se que, no caso do Piau, esse mesmo conjunto teve enorme importncia tanto na formao do ambiente
literrio, como no despertar da conscincia de pertencimento a um grupo de escritores. A publicao de obras
que podemos incluir em gneros pblicos, garantiu a alguns piauienses um lugar na Academia Piauiense de
Letras.
195
O Semanrio, out. 1877, APPI.
80
Teresina, a Livraria Econmica, localizada na Rua Paissandu, n. 47
196
. Diferentes reclames
comerciais indicam que os livros eram comercializados em bazares, em meio aos mais
variados produtos.
Na primeira metade do sculo XIX, um contexto de dificuldades, apresentado no
primeiro captulo, impediu a formao de um ambiente literrio no Piau. No terceiro quarto
desse mesmo sculo, a concentrao de homens de letras em Teresina; o surgimento de uma
imprensa regular, noticiosa e de debates e o surgimento de associaes de carter cientfico e
literrio formaram um conjunto de elementos para a superao daquele contexto de
dificuldades, possibilitando o surgimento do ambiente literrio.
A poesia, mais do que qualquer outra forma de manifestao literria, triunfava entre
os piauienses letrados, sem embargar o surgimento e consolidao de uma literatura
pragmtica, orgulho de seus autores, cujo foco de estudo era o Piau. Por isso mesmo, esta
literatura deve ser mencionada ao lado das belas-letras como elemento que movimentou e
incentivou o ambiente literrio piauiense em formao. necessrio realar a importncia que
os escritores piauienses, no passado e no presente, atribuem a esse conjunto de obras
extraliterrias. Quando da criao da Academia Piauiense de Letras, alguns foram eleitos
como patronos apenas pela autoria de obras pragmticas, muito embora quase todos tenham
incursionado pelo universo da poesia.
Como se observa, foi a partir de Teresina, como centro da vida urbana da Provncia,
que se iniciou o processo de formao de um ambiente literrio piauiense. A atividade na
imprensa peridica possibilitou a agregao dos homens de letras e conseqentemente o
desenvolvimento de uma rede de sociabilidades. Contudo, a difuso do livro e da leitura entre
elementos de outros grupos sociais, a afirmao da intelectualidade
197
atravs da
institucionalizao da literatura, seria tarefa das prximas geraes.
2.3. Vitria da cultura letrada e a institucionalizao da literatura
Vrios acontecimentos indicam que uma nova gerao de homens dedicados s letras
estava surgindo no ambiente literrio piauiense: a morte de David Caldas, em 1878, indicava
que a gerao em atuao entre 1852 e 1880 estava desaparecendo de cena; a publicao do
196
MONSENHOR CHAVES, 1998, p. 467.
197
Higino Cunha denomina a si e aos companheiros de sua gerao de intelectuais, cf. CUNHA, 1939; atravs das
pginas da revista Litericultura, a expresso intelectual muito utilizada para designar os produtores de
literatura do perodo.
81
livro de poesias Trs Liras (1882), de J oaquim Ribeiro Gonalves, Antnio Rubim e Ansio
Auto de Abreu, indicava a articulao entre novos e velhos escritores que deixava o cenrio
cultural, tornando possvel a continuidade da atividade literria; as reedies de Ecos do
Corao de Hermnio Castelo Branco e sua recepo em outras provncias do norte do
Imprio infundiram positivamente no nimo dos intelectuais possibilitando a sensao de co-
participao de uma rede de escritores que extrapolava as fronteiras do Piau, ao mesmo
tempo em que, no interior da provncia, possibilitava a sensao de formar uma rede de
escritores locais, cuja prtica da escrita diferenciava-os do restante da sociedade. Esse
sentimento dos escritores tinha sua correspondncia na demonstrao de aprovao e louvor
que a populao piauiense dispensava atividade literria por eles desenvolvida.
O fluxo de piauienses iniciado em meados do sculo XIX, que aps a concluso do
curso superior retornaram ao Piau, intensificou-se na dcada de 1880. Uma leva de
destacados bacharis fixou residncia em Teresina, trata-se do mesmo grupo correspondente
primeira gerao do high-life teresinense. Pela intensa atividade cultural entre 1880 e 1922,
ressaltam-se os nomes de Clodoaldo Freitas e de seus filhos Lucdio Freitas (1894-1921) e
Alcides Freitas (1890-1913), Higino Cunha e dos filhos Edson e Leopoldo Cunha (1891-
1973), Ansio de Abreu, Elias Martins, Odlio Costa, Fenelon Castelo Branco, Abdias Neves,
Eudxio Neves, J oo Pinheiro, Benjamin Batista, Simplcio Mendes, Matias Olmpio,
Eurpedes de Aguiar, Ansio de Brito, Arimata Tito, Pedro Borges, Cristino Castelo Branco,
Lus Mendes Ribeiro Gonalves
198
.
Um grupo de intelectuais residentes em Teresina, sobre o qual no se encontrou
informao de que seus integrantes tenham concludo o ensino superior, estabeleceu uma teia
de relaes com os bacharis acima indicados, a exemplo de Zito Batista, J natas Batista,
Celso Pinheiro, Pedro Brito, Hermnio Castelo Branco, Teodoro Castelo Branco e Antonio
Diniz Chaves (1883-1938). Portadores ou no de diploma do ensino superior, estes indivduos
integravam a gerao de homens de letras, em atividade entre 1880 e 1922, que desencadeou
um processo de modificao de hbitos e costumes rurcolas como se viu no captulo anterior,
dando contornos ao ambiente literrio atravs da institucionalizao da literatura. Portadores
198
A maioria dos relacionados foi citada no primeiro captulo com data de nascimento e morte, quase todos
integram a primeira gerao do high-life teresinense. Lucdio e Alcides Freitas e Edson Cunha aparecem aqui
e no foram citados no primeiro captulo, como integrantes do high-life, porque na composio da elite se
considerou o grupo familiar (pai, me, filhos), no caso, foi citado o pai, Clodoaldo Freitas e Higino Cunha,
respectivamente. Quanto complexidade da afirmao fixaram residncia em Teresina, alguns residiram
temporariamente na cidade, o poeta Lucdio Freitas, com uma carreira profissional construda em Manaus, no
se desligava intelectualmente de Teresina, passando temporada na casa do pai; outros fixaram domiclio em
Teresina e, depois, mudaram para outros locais, mantendo relaes com o ambiente literrio piauiense.
82
ou no de diplomas de curso superior, com rarssimas excees, quase todos pertenceram ao
quadro de empregados pblicos, cujo salrio era a principal fonte de renda para sobrevivncia
da famlia de cada um desses intelectuais. Vale ressaltar que, nessa poca, o emprego pblico
conferia dignidade e proximidade com o poder.
Participou dessa teia de sociabilidades um grupo de piauienses residentes em outras
provncias do Imprio, cuja produo literria integrava o esforo de constituio de uma
literatura piauiense, entre outros, destacam-se: os irmos Freitas, J oo Alfredo e Amlia
Bevilqua, Leopoldo Damasceno Ferreira (1857-1906), Gregrio Taumaturgo de Azevedo
(1853-1921), J oaquim Sampaio Castelo Branco (1860-1892), Lenidas Bencio Mariz e S
(1867-1902), Taumaturgo Sotero Vaz (1869-1921), J oo Crisstomo da Rocha Cabral (1870-
1946), J os Flix Alves Pacheco (1879-1935), Antnio Francisco da Costa e Silva (1885-
1950) e Francisco Alves do Nascimento Filho (? -1894).
Com domiclios em outros municpios do Piau, vrios letrados se integravam ao
ambiente literrio da Capital, a exemplo de J oaquim Nogueira Paranagu (1855-1926), Isaas
Rodrigues Coelho (1890-1960) e Benedito Nogueira Tapety (1890-1918)
199
. No perodo em
apreciao, na regio do atual municpio de Altos, o poeta J os Fernandes de Carvalho (1871-
1945) o Z da Prata ou Z Caboclo encantava a populao piauiense com sua poesia de
temtica sertaneja, que continuava na preferncia dos piauienses.
Merece referncia parte o municpio de Parnaba. Como se evidenciou
anteriormente, na passagem do sculo XVIII para o XIX, a se formou um grupo de homens
dedicados s letras que participou efetivamente do movimento de independncia
200
. Com o
desaparecimento natural dessa gerao de parnaibanos, observa-se o declnio das atividades
culturais no municpio, reativadas nas ltimas dcadas do sculo XIX. Entre os intelectuais
desse perodo esto J onas de Morais Correia (1874-1915), J onas Fontenele da Silva (1880-
1947), Armando Madeira Brando (1881-1973), Luiz de Morais Correia (1881-1934), Alarico
J os da Cunha (1883-1965), J os Euclides de Miranda (1885-1961), J os Pires de Lima
Rebelo (1885-940), Benedito Benu da Cunha (1885-1933), Mircles Campos Veras (1890-
1978), Monsenhor Roberto Lopes Ribeiro (1891-1980), Benedito dos Santos Lima, o
Bembem (1893-1958), Antnio Otvio de Melo (1894-1968), Lus Torres Raposo (1898-
1930) e a poetisa Francisca Montenegro
201
.
199
Com exceo de Baurlio Mangabeira, os demais possuam diploma de curso superior.
200
A ideia de intelectuais parnaibanos, no passa pela naturalidade, mas, pela atividade cultural desenvolvida em
Parnaba.
201
Sobre a poetisa cf. MENDES, ALBUQUERQUE, ROCHA, 2009; AIRES, 1972.
83
Os intelectuais parnaibanos desse perodo estiveram em dilogo permanente com os
de Teresina, de forma que, no momento da criao da Academia Piauiense de Letras,
integrantes desse grupo foram eleitos patronos ou scios fundadores desse sodalcio. Oriundos
do municpio de maior movimentao cultural depois da Capital e de atividade comercial
mais importante do Piau, os escritores desse grupo produziram obras de carter pragmtico,
abordando as potencialidades econmicas de Parnaba
202
. Entretanto, Calope mantinha seu
manto estendido sobre o grupo, o poeta J onas Silva o mais elogiado entre os poetas
piauienses do seu tempo. Outro indcio de relao estreita entre os integrantes do grupo e os
intelectuais teresinenses possvel ver na reciprocidade de colaborao atravs dos peridicos
publicados nos dois municpios, ao longo da primeira metade do sculo XX.
A maioria dos intelectuais piauienses em atividade entre 1880 e 1922 estudou direito
na faculdade do Recife, o que possibilitou contato com o conjunto de ideias novas que
perpassaram o meio acadmico do norte do Brasil.
Essas ideias novas eram tributrias de um pensamento que, ancorado na confiana
na razo, cincia e progresso europeus, condenava a religio, a 2metafsica e o
clericarismo. Baseada na valorizao do mtodo cientfico, essa gerao iria difundir
e defender novas correntes de pensamento como o positivismo de Comte, o
biologismo de Darwin, o evolucionismo de Spencer e o determinismo de Taine. O
bando de idias novas tornou-se referencial importante para se pensar o Brasil e
seus graves problemas. [...] Um dos maiores impasses enfrentados pela Gerao de
1870 foi o de tentar conciliar os pressupostos tericos europeus, marcados pelo
racismo e pela avaliao negativa das possibilidades da civilizao em pases
perifricos, com uma realidade tropical e uma sociedade miscigenada, muito diversa
em termos sociais e tnicos. Os desafios dessa gerao no foram pequenos.
Envolveram o encaminhamento da abolio da escravido, a reorganizao do
mercado disciplinado de trabalho, a diversificao social, principalmente nas
cidades, e o estabelecimento de uma nova ordem poltica e social para a nao que
se pretendia fundar
203
.
Apesar do conjunto de ideias novas se relacionar dcada de 1870, no Piau, sua
influncia se faz notar at os anos de 1940 e serviu para reforando o status social do grupo
de intelectuais. Originrios das elites rurais entendiam como sua misso o progresso da
provncia e a civilidade dos hbitos e costumes. Animava a todos a f na juventude como
representantes do porvir e na cincia como forma de atingir o progresso social. A educao
formal era a melhor forma de treinamento da juventude e a imprensa, o veculo de propagao
202
No se quer afirmar que outros intelectuais, fora do grupo, no tenham preocupao com questes econmicas e
sociais, possvel ilustrar com a trajetria de estudo e atividades do engenheiro industrial Antnio Jos de
Sampaio, cf. BASTOS, 1994, p. 500.
203
VAINFAS, 2002, p. 309-310. Em suas memrias, Higino Cunha confirmaria que entrou em contato com todas
essas ideias e que, entre outros autores, leu Spencer e Taine.
84
de ideias e conhecimentos teis
204
. A religio, o Imprio e, depois a Repblica, a famlia e a
propriedade eram valores intocveis, que todos tinham por obrigao defender.
A educao de J oo Alfredo de Freitas, um dos mais ldimos representantes dessa
gerao de intelectuais, demonstra como essas ideias repercutiram na vida de cada indivduo.
Sua formao intelectual ocorreu no momento em que o darwinismo, o naturalismo e o
cientificismo faziam adeptos na faculdade de Direito do Recife, onde ele estudou. Aps o
bacharelado, esteve a servio do Imprio no Piau, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Apaixonado pelas cincias da natureza declarou-se adepto do Desmo e dedicou-se ao estudo
de entomologia. Estudou igualmente a sociedade, pesquisando sobre lendas e supersties do
norte do Brasil, contemplando lendas piauienses. J oo Alfredo tambm escreveu fico, com
o poeta J os Coriolano de Sousa Lima forma a dupla de contista da sua poca, reconhecida
pelos instituidores da Literatura Piauiense, muito embora, no Piau, esse gnero literrio s
tenha penetrao no ambiente literrio a partir da primeira metade da centria seguinte
205
.
Como J oo Alfredo, quase todos os intelectuais desse perodo estiveram a servio do
Imprio, seno em diferentes provncias, mas em outros municpios do Piau, como juzes e
promotores pblicos. Paralelo atividade na magistratura, muitos atuaram no magistrio. Em
Teresina, foram professores no Liceu Piauiense e na Escola Normal e, a partir da dcada de
1930, na Faculdade de Direito do Piau
206
. Como professores, clara a inteno em se
especializar em determinada rea do conhecimento, por exemplo, Ansio Brito, apesar da
formao na rea da sade, dedicou-se ao estudo de histria e o poeta autodidata, Celso
Pinheiro, literatura, ambos tornaram-se professores respeitados e autoridades nas reas de
estudos citadas.
Passamos a observar a atuao dessa gerao de intelectuais na imprensa peridica.
Entre 1880 e 1922, a imprensa passou por transformaes significativas, marcadamente no
que diz respeito modernizao tcnica e concentrao das atividades em pequenas
204
A propagao das ideias e conhecimentos teis uma empresa generosa e profcua sociedade. A boa vontade,
unio e confiana constituem a mais poderosa alavanca do progresso social Cf. PINHEIRO FILHO, 1972, p.80,
essa legenda encimava o jornal O Propagador (1858-1860), de forma lapidar, resume o pensamento das
geraes de piauienses entre 1852 a 1922, sobre a importncia do conhecimento como fator de progresso social.
205
Dados sobre Joo Alfredo cf. FREITAS, 1998, p. 55-67. Em relao ao conto no Piau cf. BRANDO, 1981.
necessrio destacar o silncio dos instituidores da Literatura Piauiense em relao a Francisco Gil Castelo
Branco, e a inteno de no inclu-lo na tradio literria piauiense. Entre 1852 e 1917, no h indcios de
recepo a sua obra no Piau, muito embora Ataliba o vaqueiro lhe tenha granjeado notoriedade por todo o
norte do Brasil. estranho que nem mesmo os membros da famlia Castelo Branco eleitos para a APL
lembraram-se de homenage-lo com um patronato. No Piau, a recepo a sua obra data da segunda metade do
sculo XX e est ligada atividade docente universitria e de ensino mdio.
206
Em relao s geraes analisadas, quase todos os integrantes dedicaram-se ao magistrio, considervel o
nmero daqueles que foram proprietrios de colgio, a exemplo de Gabriel Ferreira e Abdias Neves. A
propaganda veiculada pela imprensa peridica o melhor meio de visualizar esses colgios.
85
empresas
207
. Na ltima dcada do sculo XIX o setor tipogrfico teresinense recebia os
primeiros maquinrios modernos. Mariano Gil Castelo Branco adquiriu impressoras do tipo
minerva com tintagem por cilindros, movidas a vapor, capaz de imprimir 2.000 mil cpias por
hora, que substituram antigos prelos manuais
208
.
perceptvel que, a partir desse perodo, formaram-se consrcios de pessoas que
passaram a investir capital no setor grfico, com vistas obteno de lucros, realizando no s
a impresso de jornais mas tambm outros servios grficos alm de realizar o comrcio de
papelaria. Entre 1852 e 1880 as tipografias aparecem como propriedade de um nico
individuo, a exemplo da tipografia de David Caldas e, em geral, eram adquiridas com objetivo
de imprimir um jornal, muitas vezes para defesa de interesses prprios.
A poca, Semanrio, O Telefone, A Imprensa, A Reforma, A Falange,
O Piau, Repblica e A Noticia, esto no rol dos jornais que possuam tipografia
prpria e aceitavam a contratao de servios grficos, inclusive a impresso de outros
jornais. Na tipografia dO Piau, em 1891, foi impresso o jornal literrio Ziguezague;
nessa mesma tipografia, ainda em funcionamento em 1902, foram impressos alguns nmeros
da revista A Pena rgo da Oficina Literria J os Coriolano de Sousa Lima, que tambm se
utilizou dos servios da tipografia da Repblica, na impresso de outros nmeros da
revista
209
. As tipografias estavam desaparecendo e surgindo pequenos empreendimentos
grficos e de papelaria
210
.
Logo nos primeiros anos do sculo XX, foram instaladas em Teresina, as grficas
Libro-Papelaria Veras e a Tipografia Paz. A primeira empresa, propriedade de J . Campos
Veras possuam oficinas perfeitamente montadas, com aparelhos modernssimos para
impresso em similigravura, fototipia e zincografia, planas e em relevo, preto e em cores.
Possua ainda um setor de encadernao e fabricao de pastas de couro e outro de pautao
de livros. Um dos maiores empreendimentos comerciais da capital, no setor de papel, ainda
comercializava material escolar e de escritrio
211
.
O Governo do Estado voltou a investir no setor grfico, criando a imprensa oficial.
Em Oeiras, entre 1837 e 1849, a provncia possuiu tipografia prpria, que foi extinta nesse
ltimo ano. A partir dessa data, por mais de seis dcadas, o governo contratou servios
207
LUCA (2005, p. 136-139) percebeu fenmeno semelhante no Rio de J aneiro. Contudo, necessrio considerar a
abrangncia e resultados de tal fenmeno no contexto social piauiense para o contexto social fluminense.
208
BASTOS, 1994, p.289 e 564-565.
209
PINHEIRO FILHO, 1972, p.88; BASTOS, 1994, p. 283.
210
Assim se denominavam os novos estabelecimentos tipogrficos, com se v nos reclames comerciais veiculados
na imprensa.
211
Revista Alvorada, set. 1909, APPI.
86
grficos, at que em 1910, foi criada a imprensa oficial. Os intelectuais da poca
monopolizaram o rgo como se pode ver na composio de sua primeira diretoria: Clodoaldo
Freitas, presidente; Higino Cunha, vice-presidente; Mrio Batista e Matias Olmpio,
respectivamente, 1 e 2 secretrios e Antnio Chaves, tesoureiro, Matias Olmpio acumulava,
a funo de orador. Um diretor e um redator se encarregavam diretamente da redao e
publicao do Dirio Oficial, respectivamente, Simplcio Mendes e Ansio Brito.
Extinta em 1915, a imprensa oficial foi recriada na dcada de 1930 e se encontra em
funcionamento at hoje. No trecho abaixo, ficaram registradas as condies do maquinrio do
rgo na dcada da reinstalao.
Seu equipamento principal compunha-se de prelo Nuremberg, alemo, e mquina
de pautao Liniiraschinen, inaugurada em 11-8-1932. Sua Rotoplan Duplex,
adquirida em 1939, tinha capacidade para imprimir 6 000 mil unidades por hora,
usando papel de 176 cm para 16 pginas do Dirio Oficial ou 88 cm para 8
pginas. Posteriormente, transformou-se em Departamento Estadual de Imprensa e
Propaganda. Voltou a chamar-se Imprensa Oficial e no 1 governo de Alberto
Tavares e Silva deu origem COMEPI Cia. Editora do Piau.
212
Paralelo ao esse processo de modernizao tcnica do setor grfico de Teresina
encontrou-se indcios de que foram instaladas tipografias em vrios municpios piauienses,
presume-se que tenham adquirido o antigo maquinrio em funcionamento na Capital. Campo
Maior, Picos, Piripiri, Unio, Amarrao, J erumenha, Piracuruca, Livramento, Miguel Alves,
Pedro II, Amarante, So Raimundo Nonato, Floriano, So J oo do Piau, encontram-se no rol
dos municpios com tipografias instaladas. Os peridicos da capital saudavam com
entusiasmo cada lanamento de jornal nesses municpios. Em Parnaba, nesse mesmo perodo,
circularam vinte e oito peridicos. No conjunto, destaca-se O Nortista, em circulao entre
1901 e 1912, direo de Francisco de Morais Correia e, entre seus colaboradores, Lima
Rebelo, Armando Madeira, Antonino Freire e Lucdio Freitas, os dois ltimos, renomados
intelectuais da Capital.
Em Teresina, entre 1880 e 1922, observa-se que vrios noticiosos divulgaram a
literatura produzida pelos intelectuais locais: crnicas, contos, poesia e at romances.
Entretanto, nenhum outro gnero literrio mereceu mais ateno da imprensa do que a poesia.
At a dcada de 1940, notvel o volume de poesias veiculadas pelos jornais. O Telefone,
jornal semanal, que circulou entre 1883 e 1889, publicou o poeta Hermnio Castelo Branco e a
poetisa Luisa Amlia
213
. O Norte, em circulao entre 1899 e 1914, divulgou no s poetas
212
BASTOS, 1994, p.307.
213
PINHEIRO FILHO, 1972, p.84.
87
da capital, mas tambm de outros municpios
214
. Entretanto, nenhum jornal foi to elogiado
como o Dirio do Piau, pelo largo espao reservado aos literatos piauienses. Um
contemporneo, atravs de artigo na revista Cidade de Luz comentava:
[O Dirio Oficial] despiu a feio austera de rgo oficial, exclusivamente ao
servio de divulgao de decretos e ofcios e vestiu-se, quase todo, da forma leve,
atraente do jornal literrio, em cujas colunas se foram, aos poucos, apresentando
nomes ainda desconhecidos, que, porem ocultavam individualidades de bem regular
cultura mental [...] Foi o palco amplo e seguro onde as permutas de ideias se
comearam a fazer, bruxuleando as luzes de rgidas inteligncias.
215
Entre os poetas divulgados pelo Dirio, destacam-se: Baurlio Mangabeira, Nogueira
Tapeti, Fenelon Castelo Branco e os irmos Alcides e Lucdio Freitas e J natas e Zito
Batista
216
. Dessa forma, compreensvel o interesse dos intelectuais em administrar a
imprensa oficial, na ausncia de veculos de divulgao utilizaram o Dirio Oficial para
divulgar a literatura por eles produzida. Muito embora, os intelectuais se sentissem pouco
vontade em utilizar jornais no especializados em literatura como veculo de divulgao da
produo literria.
por essa poca, entre 1880 e 1922, que circularam com regularidade destacados
jornais e as revistas de carter literrio
217
. Alguns peridicos se designavam como literrio,
poltico e cientfico ou literrio, poltico e noticioso ou literrio e noticioso ou apenas
literrio. No quadro que segue possvel observar alguns jornais e revistas que circularam
no perodo.
214
BASTOS, 1994, p. 282; PINHEIRO FILHO, 1972, p.89.
215
Revista Cidade de Luz, APPI.
216
CELSO PINHEIRO, 1972, p.92.
217
Consultando o acervo da Hemeroteca do APPI, algumas revistas apresentam formato semelhante ao de jornal,
outras se aproximam mais do formato das revistas atuais.
88
Quadro 02 - Peridicos piauienses em circulao entre 1880 e 1922
1880-1890 Jornais: O Filomela, Sensitiva, O Rouxinol, O Crepsculo, O Cricri, O
Prometeu, O Porvir, A Idia, Sempre-Viva, O Colibri, O Melro, O Rebate, O
Gladiador, O Mundo Novo, O Fongrafo, O Escalpelo, A Reforma, A
Mocidade, A Revoluo; A Flor, A Mocidade Piauiense, A Unio, A Luta;
A Borboleta; Cidade Verde. Revista: Revista Mensal da Sociedade Unio
Piauiense.
1890-1900 Jornais: Ziguezague, A Gara, Zfiro; O Sabi, A Primavera; Revista:
Revista Piauiense.
1900-1910 Jornais: A Semana, O Correio, O Livro, O Dever, Aurora, A Palavra,
Andorinha, O Operrio, Ideal, A Idia, Liberdade, O Amigo do Povo, O
Lrio, O Aspirante, Esperana, Arrebol, O Mensageiro, O Cricri, Borboleta.
Revistas: A Pena, Alvorada.
1910-1922 Jornais: Cidade Verde, O Lince, O Lbaro, O Porvir, A Idia, Gente Nova;
Revistas: Cidade de Luz, Letra, O Lpido, Via Lucis, Kosmos, Litericultura,
Revista da Academia Piauiense de Letras.
Fonte: Hemeroteca do APPI; PINHEIRO FILHO, 1972.
As revistas so a grande novidade no ambiente literrio de Teresina, algumas
indicadas no quadro acima esto disponveis na hemeroteca do APPI e sero aqui analisadas.
Do sculo XIX restou apenas a Revista Mensal da Sociedade Unio Piauiense
218
. Na
impossibilidade de precisar com exatido o perodo de circulao do peridico, observa-se
que os nmeros consultados foram publicados entre 1887 e 1892. Em um dos editoriais ficou
explicitado que pretendia publicar todos os assuntos concernentes ao Estado do Piau.
Literatura, histria, geografia, lingstica, antropologia, e todos os demais ramos do
conhecimento humano
219
.
Em conformidade com os interesses especificados no programa da revista,
encontram-se artigos abordando temticas diversas como filosofia, arte, cincias da natureza,
literatura e histria. Entre os artigos sobre literatura, encontrou-se um estudo, assinado por
Mello Rezende, analisando a obra do poeta J os Coriolano de Sousa Lima. No campo da
histria destaca-se artigo sobre a participao do Piau na Confederao do Equador, assinado
pelo pernambucano Francisco Augusto Pereira da Costa, alm de estudo sobre folclore
piauiense, assinado por Lenidas e S. Este juntamente com Nascimento Filho aparece como
as figuras centrais da Revista Mensal. Colaboraram em diferentes nmeros da revista:
Clodoaldo Freitas, Higino Cunha, Antnio Costa e Rezende & Cabral.
Aparentemente, um peridico sintonizado com o movimento literrio, artstico e
cientfico que marcou a passagem do sculo XIX para o XX. Em uma das edies,
218
A observao privilegiou as revistas da Hemeroteca, APPI. Dois fatores motivaram a escolha: a falta de estudos
sobre o acervo e as condies dos jornais desse perodo, que no permitem manuseio.
219
Revista Mensal, APPI.
89
Nascimento Filho explica que o peridico deseja contribuir com a revoluo que se inicia.
Ele sintetiza em forma de poesia esse interesse.
Ns somos os romeiros do bem e do progresso
Queremos igualdade nas classes sociais
Lutamos pela luz que jorra da cincia
E temos muito dio das prpuras reais
(...)
Marchamos em procura de todas as reformas
Que sejam necessrias e teis a nao...
Como se observa o trecho da poesia se prope incutir um complexo de idias que se
aproximam dos ideais da Ilustrao
220
que, na segunda metade do sculo XIX, apesar do
contato com correntes de pensamento como o cientificismo e o evolucionismo darwinista,
ainda influenciavam a intelectualidade piauiense. O poeta se refira ao conjunto de
transformaes necessrias a sociedade brasileira como reformas teis nao, mas em
outra edio da revista, texto em prosa, Nascimento Filho se refere ao conjunto de
transformaes como revoluo. Contudo, para essa gerao de intelectuais, a revoluo
no ia alm das reformas eleitorais defendidas na poca, nem da abolio da escravido e da
substituio do governo monrquico, por vias pacificas. Demonstrando o conservadorismo
caracterstico das elites locais.
Em relao s revistas em circulao nas primeiras dcadas do sculo XX, foram
localizadas: Borboleta, Andorinha, Cidade Verde, Alvorada, A Letra,
Litericultura, Cidade de Luz e Revista da Academia Piauiense de Letras
221
. Vrias
revistas circularam como rgo de divulgao de associaes, a exemplo de Andorinha,
revista do Clube Literrio 12 de Outubro, que esteve em atividade entre 1904 e 1906. Chama
a ateno o numero de mulheres no quadro de scios efetivos. Ficaram registrados os nomes
de: Durcila Cunha, Maria Amlia de Sousa Duarte, Maria Alice da Cunha, Maria da
Ressurreio Leal e Elisa Couto do Nascimento. Entre os associados do sexo masculino:
Esmaragdo de Freitas e Sousa, Pedro Adalberto da Cunha, Raimundo Cunha, Pedro de
Moraes Fonteneles, J oaquim Sobreira Nunes, Francisco de Moraes Fontenele, Adalberto da
220
interessante a concepo de Antonio CANDIDO (1997, p. 41) sobre Ilustrao, conjunto das tendncias
ideolgicas prprias do sculo XVIII, de fonte inglesa e francesa na maior parte: [...] divulgao apaixonada do
saber, crena na melhoria da sociedade por seu intermdio, confiana na ao governamental para promover a
civilizao e o bem-estar coletivo. Sob o aspecto filosfico, fundem-se nela racionalismo e empirismo; nas
letras, pendor didtico e tico, visando empenh-las na propagao das Luzes.
221
Na hemeroteca do APPI, restaram de dois a trs nmeros de cada ttulo. No caso de Andorinha e Borboleta
que tm feio de jornal, os nmeros esto em uma mesma encadernao. J as revistas Alvorada e
Litericultura, em maior quantidade de exemplares, os nmeros esto avulsos, em caixa arquivo.
90
Silva Portelada, Raimundo Fernandes e Silva, Benedito Cunha, lvaro Sisifo Correia e
J oaquim de Lemos.
A revista A Letra pertencia ao Grmio Literrio Euclides da Cunha, fundado em
16 de abril de 1911. Apesar de alguns pesquisadores
222
afirmarem que pertencia aos alunos do
Liceu Piauiense, observa-se, atravs do estatuto, que se tratava de grmio independente,
organizado por jovens interessados em literatura. Entre seus objetivos se destaca o estudo da
lngua portuguesa e a formao de oradores: procuramos obter a prtica de tribuna literria,
o que ficou registrado no estatuto do grmio. Nesse sentido, as reunies ordinrias eram
pedaggicas, o presidente indicava trs associados para ocupar a tribuna e discorrer sobre
qualquer aspecto do fazer literrio ou da histria piauiense.
O quadro de associados estava dividido em trs categorias: scios fundadores,
referentes aos doze indivduos que fundaram o grmio; scios contribuintes, que no ato de
admisso estavam sujeitos ao pagamento de quantia estipulada estatutariamente, alm da
mensalidade; scios benemritos, que alm da taxa de ingresso e da mensalidade, estavam
sujeitos doao de certa quantia em dinheiro. Apesar do jornal Cidade de Teresina
223
divulgar que entre seus diretores estava Higino Cunha, Abdias Neves e Valdivino Tito,
nenhum desses intelectuais fez parte nem da primeira nem da segunda diretoria, segundo
dados da prpria revista.
O estatuto enftico na afirmao de que a agremiao era composta de jovens que
se iniciavamna careira literria. Entre os moos associados foram identificados: J os
Messias Cavalcante (1893-1941) e Luiz Mendes Ribeiro Gonalves (1895-1984) que,
posteriormente, brilharam no cenrio cultural piauiense.
As revistas Alvorada e Litericultura tambm oferecem dados para elaborao de
uma histria. Ambas apareceram no cenrio literrio como peridicos independentes.
Alvorada, revista quinzenal, lanada em julho de 1909, no editorial do primeiro nmero,
criticava o acanhado ambiente literrio piauiense: no temos um clube literrio, no temos
um jornal dirio, no temos uma biblioteca publica; no temos nada, finalmente, que facilite a
nossa educao artstica, desenvolvendo nosso gosto pelas letras. Criticava ainda os jornais
noticiosos pelo exguo espao dispensado literatura. Para preencher essa lacuna, se
propunha a publicar artigos de literatura, cincia, moda, entre outras temticas. Nas paginas
222
PINHEIRO FILHO, 1972, p. 92; BASTOS, 1994, p.286.
223
J ornal Cidade de Teresina, nov., 1911, APPI.
91
das edies consultadas, invariavelmente, foi publicado poesia, conto, crnica e, tambm,
noticirio
224
.
Um grupo de mulheres fazia parte da redao da revista Alvorada: Maria Amlia
Rubim, Maria da Ressurreio Leal e Maria Saraiva de Lemos que, possivelmente
respondiam pela Seco Elegante, especializada em dicas de moda e comportamento social,
alm de divulgar os acontecimentos do high-life. Interessante destacar a antipatia dos
homens de letras do Piau em relao misoginia. Embora, individualmente, alguns possam
considerar inferior a produo literria das mulheres, no geral, sempre incentivaram e
louvaram aquelas dedicadas as letras
225
.
possvel percebe como algumas mulheres atravs da imprensa peridica deram
contribuio valiosa para o desenvolvimento do ambiente literrio, atravs da imprensa
especializada para o pblico feminino. J no sculo XIX surgiram os primeiros peridicos
desse tipo, a exemplo de A Borboleta. Exclusivamente literrio, o lanamento desse
peridico ocorreu em setembro de 1888, no se sabe at quando circulou. Pesquisadores da
histria da imprensa
226
afirmam que entre 1904 e 1907 estava na sua segunda fase. Durante o
primeiro ano, circulou manuscrito e, depois, impresso. Entre suas redatoras, Helena
Burlamaqui, Alade Burlamaqui e Maria Amlia Rubim
227
.
Em Teresina, nos primeiros anos do sculo XX, circulou um jornal Amigo do Povo
rgo do Grmio Literrio David Caldas
228
, assim como a revista Via Lucis, rgo do
Grmio Literrio Abdias Neves
229
. Os dois peridicos foram dirigidos por moas dedicadas s
letras. Atravs dos dois peridicos, publicaram poesias Maria Clara Cunha
230
, Roslia
Sandoval
231
e Maria Naydine
232
, entre outras. As mulheres aparecem ainda, discursando em
manifestaes cvicas, festas escolares ou associaes de representao literria, nas quais
sempre tiveram participao ativa. As mulheres merecem destaquem ainda por constiturem
parcela considervel do pblico leitor ou da assistncia, no caso das famosas conferncias
literrias to comuns ao ambiente literrio teresinense.
224
Alvorada, nmeros relativos a 1909 e 1910. APPI.
225
Cf. crtica de Clodoaldo FREITAS (1998) sobre a obra de Luisa Amlia de Queirs Brando.
226
BASTOS, 1994, p.284.
227
Borboleta, nmeros relativos a 1905 e 1906, APPI.
228
Andorinha, nmero de 1904.
229
Dirio do Piau, nov. 1912. Nossa posio contrria a de Celso PINHEIRO FILHO (1972, p. 93), para ele,
Omar Campelo e Ademar Carvalho dirigiam a revista.
230
NASCIMENTO, 1988, p. 234.
231
NASCIMENTO, 1988, p. 236.
232
NASCIMENTO, 1988, p. 262.
92
Litericultura, revista mensal, reuniu um grupo de cinquenta literatos empenhados
na sua edio, destacando-se como principais redatores: J natas Batista, Baurlio Mangabeira,
Zito Batista, Abdias Neves, Alcides Freitas, Lucdio Freitas, Celso Pinheiro, Fenelon Castelo
Branco, Antonino Freire, Da Costa e Silva, Arimata Tito, Flix Pacheco, Vaz da Silveira,
Matias Olmpio, Cromwell de Carvalho, Clodoaldo Freitas, Valdivino Tito, Higino Cunha,
Simplcio Mendes, Mrio J os Batista e J oo Pinheiro. Todos intelectuais renomados, alguns
representantes polticos do Piau na esfera federal e estadual e, ainda outros, profissionais
liberais respeitados, que anunciavam seus servios atravs da revista alm de colaborar
escrevendo artigos.
No primeiro ano de circulao da revista Litericultura, 1912, observou-se que o
capital para sua edio partiu de um conglomerado de profissionais liberais, que utilizavam a
revista como espao de divulgao de seus servios. No ano seguinte, o financiamento veio
do governo do Estado, o que se depreende das pginas da revista. A partir de abril de 1913,
no aparecem mais os anncios com endereos dos consultrios e a revista que antes era
impressa na Tipografia Paz, uma empresa particular
233
, passou a ser impressa na Imprensa
Oficial
234
.
Na primeira edio ficou determinado entre seus objetivos acultura das letras, nas
suas variadas modalidades. Sendo assim, publicou desde contos e poesias at discursos e
artigos sobre determinadas atividades profissionais. Contudo, clara a preocupao em
registrar singularidades da cultura piauiense. O destaque para os textos de J oo Pinheiro,
odontlogo que se dedicou ao magistrio e vida literria, tornando-se um dos mais atuantes
intelectuais da primeira metade do sculo passado. Esse literato pesquisou sobre a produo
literria piauiense e a rea de estudo que os intelectuais da poca denominavam folclore. Uma
leitura dos exemplares disponveis de Litericultura confirma essa assero, Pinheiro
publicou uma srie de artigos com o ttulo Aspectos piauienses, atravs dos quais fixou
tipos e costumes do serto piauiense. Matias Olmpio, J oo Freitas, Lenidas S e J oaquim
Nogueira Paranagu aparecem em diferentes nmeros da Litericultura com artigos sobre
festas populares e recontando lendas piauienses. Abdias Neves e Clodoaldo Freitas
contriburam com a revista publicando estudos biogrficos de piauienses ilustres e episdios
do processo histrico.
233
BASTOS, 1994, p. 565.
234
Essa uma caracterstica marcante da vida intelectual piauiense. Nesse sentido, os programas editoriais
financiados pelo governo estadual assumiram a responsabilidade pela publicao de obras de autores piauiense, a
exemplo do Projeto Petrnio Portela e a Lei Municipal A. Tito Filho. Nesse sentido cf. PINHEIRO, 1940, p.24.
93
O teatrlogo J natas Baptista publicou o drama histrico J ovita, ou a herona de
1865, imortalizando a jovem que partiu do Piau para lutar na Guerra do Paraguai. Os poetas
Zito Batista, Da Costa e Silva e Flix Pacheco, entre outros, atravs de sua poesia, celebram
aves, insetos, rios, entre outros aspectos do Piau. Presume-se que Litericultura atuou como
um elemento gregrio da intelectualidade piauiense, dando a ela o sentido de pertencimento a
um ambiente literrio.
No conjunto, esses peridicos possuam feio de revistas de variedade e, embora
apresentassem poucas ilustraes, tinham requintado visual grfico, oferecendo leitura fcil e
agradvel. Foram editados por intelectuais reconhecidos socialmente pela atividade literria e
no por estudantes secundaristas. Publicaram poesia, conto, crnica e, tambm, noticirio do
Brasil e de outros pases; instantneos da vida mundana de Teresina; conselhos sobre moda e
regras de etiqueta, alm de passatempo. Quase todos esses peridicos tiveram circulao
efmera, ou encerraram a circulao logo nos primeiros nmeros. Revistas como Alvorada
e Litericultura, redigidas por intelectuais famosos, no facilitavam espao aos nefitos o
que justificava o esforo permanente de criao de novos peridicos. Entende-se que cada
revista lanada visava atender interesses de determinado grupo de intelectuais. O pblico
leitor continuava muito restrito, os prprios intelectuais, fora desse circulo, s o pblico
feminino, representado por mulher dos grupos sociais elevados na hierarquia social.
Nas revistas literrias como em outros peridicos no especializados, chama ateno
a quantidade de poesia publicada por intelectuais que ganharam notoriedade no como poetas,
a exemplo de Abdias Neves, Pedro Borges, Esmaragdo de Freitas, Cromwell de Carvalho,
Areolino de Abreu, Mrio J os Batista, Higino Cunha e Clodoaldo Freitas que ganharam
notoriedade como romancista, contista, cronista ou pesquisadores da sociedade piauiense.
Como quase todos os intelectuais desse perodo escreveram poesia, presume-se que divulgar a
poesia de intelectuais renomados, aumentasse as possibilidades de sada do peridico. Alm
de divulgar os poetas locais, tambm divulgaram poetas de renome nacional como Casimiro
de Abreu, Olegrio Mariano, Gonalves Crespo, Afonso Celso e Olavo Bilac.
Entre 1880 e 1922, uma questo, em especial, preocupava o ambiente literrio
piauiense, o pequeno volume de obras publicadas no correspondia avultada produo
literria. Atravs da imprensa os intelectuais discutiam a questo.
Quase todos os intelectuais piauienses, que mourejam na terra natal, tem prometido
a publicao de uma ou mais obras, sem conseguirem realizar a promessa. Revelam
com isso boa vontade. Mas parece que o meio no favorvel ecloso de livros.
Talentos de escol no nos faltam em todas as geraes. A nossa imprensa peridica
94
o atesta sobejamente. No entanto, pode-se dizer que somos todos autores inditos,
por falta de livros, escritores dispersos nas paginas do jornalismo efmero.
235
Contudo, alguns contemporneos entendiam que o problema estava em vias de
superao. Recepcionando o livro de contos toa, de J oo Pinheiro, o critico literrio da
revista Cidade de Luz escreveu:
Movimentado assim o meio, com novos elementos fortes nas lutas da imprensa
peridica, era preciso, para mais integral afirmao dessa fora de inteligncia e de
bom gosto, que passasse da vida efmera dos artigos de jornais para a forma
duradora e consagrada do livro. No tardou. Apesar do peso da publicao e o ainda
relativamente pequeno nmero de leitores, os livros surgiram firmando
definitivamente nomes de talentos e cheios de vigor, estereotipados na forma
perfeita de dulcidos versos, filiados s escolas mais recentes em que se subdividiu o
parnasianismo francs com Varlaine e Malarm frente. S at a livros de versos,
sem dvida mais fceis de concepo do que o livro de prosa.
236
O trecho claro quanto a existncia de um ambiente literrio em Teresina. A
imprensa, com novos elementos, divulgava a produo literria e se ressentia pela falta de
livros. A gerao de intelectuais atuante entre 1882 e 1922 criou peridicos especializados
para publicao da literatura, tambm a ela deve ser creditado o aumento do meio circulante
de livros no Piau e, especialmente, na Capital. Primeiro, foram os livros que os recm-
formados introduziram na provncia, circulando na forma de emprstimo; depois, o
estabelecimento de um pequeno e discreto comrcio de livros, presso desses novos
profissionais sobre os comerciantes locais.
Inicialmente os livros foram comercializados em bazares, juntamente com alimentos,
ferragens, tecidos, remdios, etc. Nas primeiras dcadas do sculo XX, surgiram espaos
apropriados com as papelarias. Em 1912, pela imprensa, a Agncia de Revistas, de Artur
Carvalho e Cia, localizada a Rua Rui Barbosa, anunciava que continuava recebendo
publicaes nacionais e internacionais
237
, indcio da existncia do comrcio de impressos e do
surgimento de espaos especficos para esse tipo de comercio. Embora sejam escassas as
fontes, certo que, em Teresina, a partir de 1870, crescente o nmero de notcia de jornais
tendo livros como objeto de notas, a publicao de um livro de piauiense, cujo lanamento
ocorreu em outra provncia; outra notcia sobre a circulao de obras em Teresina; outra
anunciando que determinado escritor estava com obra no prelo; outra sobre a venda de livros.
235
J ornal O Monitor, dez., 1906.
236
Revista Cidade de Luz, n. 11, p. 23-24, APPI.
237
J ornal Cidade Verde, fev. 1912; Jornal Dirio do Piau, ago. 1912, APPI.
95
Entre 1880 e 1922, os literatos locais publicaram um corpus de livros, ampliando
significativamente o volume em circulao
238
. Algumas dessas obras constam nos dois
quadros seguintes. O primeiro consta os romances, poesias e contos publicados na forma de
livro.
Quadro 03 - Livros de fico de escritores piauienses em circulao entre 1880 e 1922
Obra Autor Ano Forma de expresso
literria
Harpa do Caador Teodoro Castelo Branco 1884 Poesia
Via Crucis Flix Pacheco 1900 Poesia
nforas J onas da Silva 1900 Poesia
Alcione Amlia de Freitas Bevilqua 1902 Contos
Ulhanos J onas da Silva 1902 Poesia
Ano de Luto Fenelon Castelo Branco 1902 Poesia
Mors-Amor Flix Pacheco 1904 Poesia
Memrias de um velho Clodoaldo Freitas 1905/1906 Romance
Silhouettes Amlia de Freitas Bevilqua 1906 Contos
Atravs da vida Amlia de Freitas Bevilqua 1906 Romance
Solar dos sonhos J oo Pinheiro 1906 Poesia
Almas Irms Antnio Chaves, Zito Batista e
Celso Pinheiro
1907 Poesia
Ode a Sat Adalberto Peregrino 1907 Poesia
Sincelos J natas Batista 1907 Poesia
Sangue Da Costa e Silva 1908 Poesia
O Piau (canto sertanejo) Clodoaldo Freitas 1908 Poesia
Um Manicaca Abdias Neves 1909 Romance
Em roda dos fatos Clodoaldo Freitas 1911 Crnicas
Flor Incgnita Celso Pinheiro 1912 Poesia
Alexandrinos Lucdio Freitas e Alcides Freitas 1912 Poesia
Angustia Amlia de Freitas Bevilaqua 1913 Romance
toa (aspectos do Piau) J oo Pinheiro 1913 Contos
Inezita Flix Pacheco 1915 Poesia
Nebulosas Antnio Chaves 1916 Poesia
Unio por dentro Fenelon Castelo Branco 1916 Poesia
Marta Flix Pacheco 1917 Poesia
Tu s tu Flix Pacheco 1917 Poesia
Verhaeren Da Costa e Silva 1917 Poesia
Zodaco Da Costa e Silva 1917 Poesia
Vida Obscura Lucdio Freitas 1917 Poesia
238
O volume posto em circulao bem maior do que o corpus aqui apresentado. Como critrio para seleo das
obras foi considerada sua existncia material na Biblioteca de Apoio a Pesquisa do APPI, assim como, o
noticirio atravs da imprensa local, indcio de que, pelo menos, foram mencionadas no ambiente literrio.
96
No limiar do outono Flix Pacheco 1918 Poesia
Chama Extinta Zito Batista 1918 Poesia
Lrios Brancos Flix Pacheco 1919 Poesia
Poema da Mgoa Antnio Chaves 1919 Poesia
Pandora Da Costa e Silva 1919 Poesia
Estos e pausas Flix Pacheco 1920 Poesia
Minha Terra Lucdio Freitas 1921 Poesia
Em busca da luz J oo Ferry 1922 Poesia
Fonte: Biblioteca de apoio a pesquisa, APPI; PINHEIRO, 1994; NASCIMENTO, 1988.
Cotejando os dados dessa gerao com a anterior, os indcios apontam para um
corpus de mais de cinqenta livros em circulao, quando, no perodo compreendido entre
1852 e 1880 era menos de uma dezena de livros. O livro se inseria na sociedade piauiense na
forma perfeita de doces versos, como se observa no quadro acima. Reafirmando que a
poesia forma de manifestao literria dominante de meados do sculo XIX at meados do
sculo seguinte.
Segundo o desenho traado sobre a sociedade piauiense, presume-se que, somente a
partir do final do sculo XVIII, o livro foi introduzido no Piau. Livros didticos, para
instruo dos membros da elite rural. Na primeira metade do sculo XIX, com o retorno de
piauienses que estavam fora da Provncia cursando o ensino superior, que os livros se
diversificaram e surgiram as primeiras bibliotecas particulares, a exemplo da biblioteca do
padre Marcos de Arajo Costa. Embora as fontes de informaes sejam poucas, possvel
afirmar que mais bibliotecas particulares foram se constituindo ao longo da segunda metade
do sculo XIX
239
. J na dcada de 1870, foram cridas as primeiras bibliotecas pblicas do
Piau
240
. possvel afirmar que, lentamente e sem ostentao, o livro penetrou na sociedade
piauiense oitocentista.
Nas primeiras dcadas do sculo XX, algumas bibliotecas foram colocadas venda,
como a de J oo Pinheiro e do major Fontenele Burlamaque, que atravs do jornal Correio de
Teresina, anunciava a venda da sua biblioteca que continha bons romances e obras
didticas
241
. Presume-se que, no geral, as bibliotecas se constituam em algumas prateleiras
com espaos para armazenar jornais e revistas, e os livros necessrios atividade profissional,
a exemplo de cdigos de leis ou livros de anatomia.
239
Higino Cunha, em suas memrias, deixa claro que vrios contemporneos seus possuam bibliotecas, muito
embora no se possa identificar e quantificar. Observamos que na Biblioteca de Apoio a Pesquisa do APPI, em
muitos volumes, consta indcios de que parte do acervo se originou de bibliotecas particulares.
240
COSTA, 1974, v. 2.
241
MAGALHES, 1998; J ornal Correio de Teresina, 1915, APPI.
97
Mas, pelos indcios, havia livros de literatura, filosofia, religio, etc. No caso da
gerao de Higino Cunha, de leitura diversificada, possvel encontrar obras de autores
como: Spencer, Taine, Lombroso, Littr, Darwin, Haeckel, Humberto de Campos, Tobias
Barreto, Raimundo Correia, Araripe J nior, Slvio Romero, Clvis Bevilqua, Guerra
J unqueira, J os Verssimo, Faelante da Camara, entre outros. Baudelaire o poeta da
predileo de muitos intelectuais piauienses entre 1880 e 1952. clara sua influncia na obra
de Celso Pinheiro e Flix Pacheco
242
, este ltimo escreveu Baudelaire e os milagres do poder
da imaginao, ensaio literrio apresentado em uma das reunies da Academia Brasileira de
Letras. Posteriormente foi impresso e colocado em circulao no Rio de J aneiro e em
Teresina.
Na primeira metade do sculo XIX, j era considervel o nmero de piauienses que
escreviam e publicavam, em especial, estudos que desenvolveram na sua rea profissional. No
conjunto, essas obras circularam na Europa ou em outras provncias do Brasil, onde os autores
residiam. No h indcios de que tenham circulado no Piau, nem mesmo obras publicadas por
escritores como Leonardo Castelo Branco e Francisco de Sousa Martins, que residiam no
Piau.
Foi a partir de meados do sculo XIX que foram publicados os livros que deram
origem ao sistema literrio piauiense, entre os quais, o de Licurgo de Paiva, Lusa Amlia de
Queirs Brando e do poeta J os Coriolano de Sousa Lima, tendncia que se intensificou
entre 1880 e 1922. Sobrepondo-se parcialmente umas s outras, essas obras foram
configurando um sistema literrio e revelando sociabilidades entre os intelectuais.
No geral, esse corpus bibliogrfico teve recepo positiva, posio mais comum da
crtica que, apesar de fundamentada, muitas vezes trazia as marcas das relaes pessoais ou
dos grupos rivais, revelando as tenses que perpassaram o ambiente literrio. Foi ruidosa a
crtica de Esmaragdo de Freitas a Sincelos livro de poesia de J natas Batista. Recepo
acerba, recebida com a marca da antipatia que o crtico nutria pelo poeta. J natas Batista se
defendeu atravs da imprensa peridica, revivendo o episdio do ano anterior, 1906, quando
os dois se enfrentaram no centro de Teresina, ocasio em que Esmaragdo de Freitas chegou a
disparar um tiro de revlver
243
.
Muito festejado pela crtica foi Alexandrinos, de Alcides e Lucdio Freitas. Filhos
de Clodoaldo Freitas, os jovens poetas eram admirados pelo high-life teresinense, pela
242
PINHEIRO, 1939; CABRAL, 1938.
243
MAGALHES (1998) em Literatura Piauiense aborda crtica interna das obras: Solar dos Sonhos,
Sincelos, Almas Irms, Ode a Sat, Flor Incgnita, Alexandrinos, Nebulosas, Um Manicaca,
toa e Fogo de Palha.
98
educao esmerada e inteligncia precoce. Independente do talento e sensibilidade dos poetas,
o livro surgiu num contexto de acontecimentos funestos que infelicitou a famlia Freitas. Na
poca do lanamento de Alexandrinos, j era do conhecimento de parte dos intelectuais, que
o poeta Alcides estava gravemente doente. Recm-formado em medicina, tinha apenas vinte e
trs anos de idade quando faleceu, poucos meses depois da publicao do livro. Em 1917,
Lucdio Freitas publicou Vida obscura, editado na capital do Par, obra que recebeu elogios
da crtica piauiense e paraense. Quatro anos depois, em 1921, o poeta falecia vitimado pela
tuberculose. Nesse mesmo ano, ainda em vida, Clodoaldo Freitas mandou editar o livro
Minha Terra com poesias de Lucdio
244
, homenagem ao filho enfermo.
Mas, em meio a tanta poesia, a novidade era o lana lanamento de livros em prosa.
A novidade realmente o livro, uma vez que jornais e revistas j publicavam contos, crnicas
e at mesmo romances
245
. Chama ateno a publicao de um romance na forma de livro,
Um Manicaca, de Abdias Neves, livro marco na literatura piauiense. Encontra-se entre os
primeiros livros em prosa elaborado e editado no inicio do sculo XX, em Teresina,
rompendo com a prtica tradicional de publicao de poesias. Seu contedo retoma a tradio
dos romances de autores piauienses do sculo XIX, a exemplo de Francisco Gil Castelo
Branco
246
e Lenidas Bencio Mariz e S, em que o Piau aparece como cenrio onde os
personagens se movimentam. No caso do romance de Abdias Neves, ficou plasmado o espao
e costumes da sociedade teresinense.
Em 1901, o jornal O Correio informava que Abdias Neves estava concluindo um
romance que seria publicado em breve. A nota veiculada enfatizava:
A ns, os piauienses, que, principalmente, deve agradar Um Manicaca. Pea de
costumes locais, ele tem necessariamente de se impor a nossa procura porque
forosamente h de agradar-nos a reedio calma, conjunta dos nossos hbitos.
No conhecemos, certo, a nova obra; mas acreditamos que de forma alguma
arrepender-se- aquele que possu-la.
E depois, deve-se prestar gentil recepo ao romance de patrcio trabalhador...
247
244
FREITAS, 1995, p. 7-12.
245
Clodoaldo Freitas, por exemplo, publicou o romance Memrias de um velho na forma de folhetim, no jornal
Ptria, entre novembro de 1905 e fevereiro de 1906. Obra republicada na forma de livro, em 2008, pela
Professora Dra. Teresinha Queiroz, da Universidade Federal do Piau, que tem se dedicado ao estudo dos
literatos desse perodo. H noticias de que em 1893, antes do romance de Clodoaldo Freitas, Lenidas Bencio
Mariz e S publicou em Recife um romance de costumes piauienses, intitulado Bela, entretanto no se
encontrou indcios de foi recepcionado no Piau.
246
Muito embora a gerao de Abdias Neves no tenha includo esse autor na tradio literria piauiense.
247
J ornal O Correio, ago. 1901, APPI. No jornal O Norte, 19 nov. 1907, encontra-se noticiado que o romance
estava pronto para entrar no prelo e nosso pblico j o conhece em parte pela publicao que dele fez um jornal
desta capital, clara indicao de que antes da edio em livro, parte do romance j tinha circulado na forma de
folhetim. Na mesma notcia o livro do romancista piauiense comparado aos romances A Normalista, de
Adolfo Caminha e ao Ateneu, de Raul Pompia. Cf. Hemeroteca do APPI.
99
O romance marca ainda o momento da transio da forma de publicao da literatura,
das pginas dos jornais para a forma de livro, segundo um colunista do jornal O Monitor, os
escritores piauienses eram inditos e dispersos nas pginas do jornalismo efmero
248
. O
desentendimento entre Higino Cunha e Abdias Neves parece ilustrativo nesse sentido.
Concunhados e amigos, o autor de Um Manicaca submeteu o original do romance
apreciao de Higino Cunha que circulou pelas rodas literrias desdenhando da obra e do
autor
249
.
que, no incio do sculo XX, Abdias Neves j havia conquistado a simpatia da
comunidade intelectual local com a publicao de A Guerra de Fidi, estudo de histria
sobre a guerra de independncia no Piau. Higino Cunha, apesar de escrever regularmente em
quase todos os jornais em circulao no Estado, era um desses escritores dispersos pelas
pginas dos jornais, tinha apenas um livro publicado e que no alcanou o mesmo sucesso do
livro de Abdias Neves. Sua obra, na quase totalidade, foi editada entre as dcadas de 1920 e
1940. A leitura do original do romance e a possibilidade de uma boa recepo quando da sua
publicao, levou Higino Cunha a desprestigiar o romance e o autor. Em parte, o sucesso
literrio de Abdias Neves se deve escolha da sociedade piauiense como objeto de estudo. O
episdio envolvendo os dois escritores indcio da valorizao do livro como elemento
importante na construo da fama de intelectual.
No perodo em anlise, destacam-se os livros de contos de Amlia Bevilqua e J oo
Pinheiro. No Piau, as bases dessa forma de expresso literria foram lanadas em meados do
sculo XIX, quando o poeta J os Coriolano de Sousa Lima se dedicou escrita de contos
como O casamento e a mortalha no cu se talha. Contudo, somente no incio do sculo XX,
o conto se firmaria no ambiente literrio piauiense. Para Brando, os primeiros contos
piauienses apresentavam muita semelhana com a crnica, foi Clodoaldo Freitas e J oo
Pinheiro que deram a essa forma de expresso literria a feio correta e moderna
250
.
Entre os livros de contos lanados nesse perodo, toa teve recepo calorosa.
Presume-se que esteja em harmonia com a tendncia do conto brasileiro que, nas primeiras
dcadas do sculo XX, se utiliza de matrizes regionais como inspirao
251
. Brando j
percebera a importncia do livro e do autor quando afirmou que o contista no [era] um
248
J ornal O Monitor, dez. 1906, APPI.
249
PASSOS, 1966.
250
BRANDO, 1981.
251
BOSI, 2006, p. 194-217, O naturalismo e a inspirao regional: inteno fixar o momento em que, no meio
de tanta poesia, o conto e o romance surgiram na literatura piauiense, assim como, verificar a aproximao entre
as tendncias locais e as tendncias da literatura brasileira. Referncias sobre o conceito de regionalismo e a
avaliao esttica da literatura regional, cf. LAJ OLO, 1998, p. 297-327.
100
estilista, mas sua linguagem [ficava] sempre em perfeita correspondncia com o meio e os
personagens das narrativas que constri com simplicidade e maestria
252
.
Na passagem do sculo XIX para o XX, a crnica ganhou a preferncia dos leitores,
ocupando espao considervel nos jornais. No Estafeta, por exemplo, Thomaz Antnio de
Oliveira encantava os leitores com Tipos de Rua, crnicas tratando de figuras populares da
poca
253
. Essa forma de expresso literria se firmou no meio piauiense com o lanamento de
Em roda dos fatos, de Clodoaldo Freitas, reunio de crnicas que escreveu para a imprensa
peridica
254
, iniciativa singular, uma vez que a produo dos cronistas permaneceria indita
nas pginas do jornalismo efmero.
Para concluir as observaes sobre a circulao de livros, enfatiza-se um corpus
bibliogrfico ecltico, composto de discursos, conferncias, trabalhos parlamentares, teses,
escritos de carter pessoal e poltico partidrio e ensaios voltados para o conhecimento da
sociedade piauiense, publicado nesse perodo. Mesmo se afastando do campo da fico, esse
conjunto bibliogrfico contribuiu para movimentar o ambiente literrio, como possvel
acompanhar no quadro que segue.
Quadro 04 - Livros de escritores piauienses em circulao entre 1880 e 1922
Obra Autor Ano
Os fatores do coelhado Clodoaldo Freitas 1892
Vultos Piauienses Clodoaldo Freitas 1903
Do Rio de J aneiro ao Piau pelo interior
do pas
J oaquim Nogueira Paranagu 1905
Questo de Tutia Antonino Freire 1907
Guerra Sectria Elias Martins 1910
Histria de Teresina Clodoaldo Freitas 1911
O idealismo filosfico e o ideal artstico Higino Cunha 1913
Frei Serafim de Catnia Elias Martins 1917
Nossos Imortais Fenelon Castelo Branco 1918
Ansio de Abreu (sua obra, sua vida e sua
morte)
Higino Cunha 1920
O Piau Benjamin de Moura Batsita 1920
Interesses Piauienses Armando Madeira Bastos 1920
Operrio da Boa Vinha Elias Martins 1920
Fitas Elias Martins 1920
O Piau na Confederao do Equador Abdias Neves 1921
Escola Normal do Piau Ansio Brito 1921
252
BRANDO, 1981, p.14.
253
NASCIMENTO, 1988, p. 229.
254
FREITAS, 1996, p. 5-18.
101
A Questo e legislao social Ribeiro J nior 1921
Limites do Piau Antonino Freire 1921
Fonte: Biblioteca de apoio a pesquisa APPI; PINHEIRO, 1994; NASCIMENTO, 1988.
Esse conjunto bibliogrfico lana no ambiente cultural piauiense as primeiras obras,
resultado do esforo de conhecer cientificamente o Piau, nos mais diferentes aspectos, seja
geogrfico, histrico, antropolgico, sociolgico e econmico. So obras que discutem
problemas e potencialidades locais. Embora diferenciando claramente esse conjunto de
estudos das obras literrias, - romances, poesias, contos, esse escritores piauienses no as
consideram nem maiores, nem menores, e as integram sem dificuldades no que consideram o
sistema literrio piauiense em formao
255
.
Nos primeiros anos do sculo XX, a intelectualidade piauiense se articulava no
sentido de criar um instituto de representao literria, nesse sentido, Vultos Piauienses,
256
de Clodoaldo Freitas e Nossos Imortais, de Fenelon Castelo Branco, tornam-se visveis
como partes da conexo de elementos para a fundao do referido instituto, uma vez que as
duas obras se inserem no trabalho de inveno de uma tradio literria piauiense
257
.
Vultos Piauienses um livro de estudos biogrficos, oito biografias, de um total de
dez, enfatizam a atividade literria do biografado, o caso dos poetas J os Manoel de Freitas,
Leonardo Castelo Branco, Licurgo de Paiva, J os Coriolano e Teodoro Castelo Branco; da
poetisa, Luisa Amlia de Queirs Brando e dos polgrafos Miguel Castelo Branco e J oo
Alfredo de Freitas. Quando da fundao da Academia Piauiense de Letras, dos literatos
contemplados nessa obra, somente Leonardo Castelo Branco no foi escolhido como patrono,
justamente aquele que recebeu crticas contundentes. O autor do livro, Clodoaldo Freitas, foi
scio fundador da APL e seu primeiro presidente.
Considera-se que, embora o livro de Fenelon Castelo Branco tenha sido publicado no
mesmo ano em que a APL foi instalada, tambm sua inteno era contribuir para determinar
essa continuidade literria. Quando mais tarde foi publicado Literatura Piauiense (1937) de
J oo Pinheiro e Vozes Imortais (1945) de Edson Cunha fica claro que parcela considervel
255
claro que deforma a ideia de sistema literrio de Antonio Candido, contudo, infere-se dos escritos desses
intelectuais o apreo especial por essas obras extraliterrias. Por exemplo, Gabriel Ferreira, como uma
porcentagem considervel de homens de letras do seu tempo, apesar das poesias publicadas pelos jornais da
poca, tem apenas uma obra em forma de livro o ndice alfabtico das leis provinciais do Piau", sua
consagrao vem dos escritos de carter pragmtico e no potico.
256
A obra fonte de consulta para os pesquisadores da histria da literatura, foi reeditada em 1998, pela Fundao
Monsenhor Chaves, com estudo introdutrio assinado pela Professora Dra. Maria do Socorro Rios Magalhes, da
Universidade Federal do Piau.
257
A ideia de tradio cf. HOBSBAWM, RANGER, 1997; sobre tradio literria cf. MELLO E SOUZA, 2000;
REIS, 2003.
102
dos escritores piauienses, embora integrados a um movimento mais geral das letras
brasileiras, participavam de uma comunidade de escritores movida por interesses comuns,
como o de tornar o Piau um territrio com caractersticas que o diferenava dos demais
estados da federao.
Outra nota sobre esse corpus bibliogrfico se relaciona literatura produzida em
decorrncia da polmica anticlerical. Entende-se como um captulo da luta dos intelectuais
piauienses contra a Igreja Catlica, pelo controle da sociedade. Apenas a Igreja Catlica como
instituio portadora de um projeto de sociedade e, o clero, composto de indivduos letrados,
obrigados defesa desse mesmo projeto, estavam em condies de fazer oposio ao projeto
de civilizao defendido pela intelectualidade piauiense
258
.
Em 1901, a criao da diocese do Piau e, posteriormente, sua instalao,
desencadeou acirrada disputa entre o clero e os intelectuais livre-pensadores, entre outros,
Abdias Neves, Antonino Freire, Clodoaldo Freitas, Higino Cunha, Miguel de Paiva Rosa e
Matias Olmpio. Do lado da Igreja, nomes famosos do clero piauiense, Ccero Nunes,
Honrio J os Saraiva, Acilino Batista Portela Ferreira, Raimundo Gil da Silva Brito, J oaquim
Lopes e, tambm, leigos como Elias Firmino de Sousa Martins, Manuel Rodrigues de
Carvalho, Gentil Pedreira e J os Pereira Lopes
259
.
Para enfrentar os intelectuais livre-pensadores, alguns proprietrios de jornais, a
Igreja Catlica alm de organizar o Partido Catlico, financiou vrios jornais como A Cruz,
A Civilizao e O Apstolo. No acirramento da questo anticlerical, durante o governo de
Miguel Rosa, em 11 de dezembro de 1912, a cidade assistiu polcia incendiar a tipografia do
jornal O Apstolo. Atravs desse rgo de comunicao, o bacharel em direito, poltico e
intelectual cristo, Elias Firmino de Sousa Martins, defendeu o projeto de sociedade da Igreja
Catlica. Narra Higino Cunha em suas Memrias que, no governo de Antonino Freire, o
bispo diocesano ficou por vrios meses sob a proteo do governo do Estado, recolhido na
quinta Piraj, nos arredores de Teresina, em decorrncia das tenses entre os dois grupos.
Como a disputa muitas vezes resvalou para o campo pessoal, os intelectuais atacando
o clero, tentando desacredit-lo diante da opinio pblica e o clero contra-atacando, nota-se
258
Infere-se das fontes consultadas a ideia de projeto de civilizao defendido pela intelectualidade. Por exemplo,
uma leitura de Memrias, de Higino Cunha, deixa a impresso de que os bacharis estavam prontos a escalar
o poder e, como livres-pensadores, colocavam-se contrrios a orientao clerical. Para enfrentar esse problema,
enalteciam o cientificismo e o naturalismo em detrimento do pensamento religioso. Outro escrito de onde se
infere a idia desse projeto de civilizao o artigo Dr. Elias Martins de Martins Vieira, publicado no
Almanaque Piauiense, no ano de 1937, p.135-139.
259
Os dados sobre rgos de divulgao da Igreja Catlica e seus representantes cf. PINHEIRO FILHO, 1972;
BASTOS, 1994, diferentes verbetes relacionados questo.
103
que a publicao de estudos como Frei Serafim de Catnia (1917) e Operrio da Boa
Vinha (1920), ambos de autoria de Elias Martins, inserem-se muito bem no mago da
questo e visam enaltecer figuras do clero. Do lado dos intelectuais, algumas publicaes
aparecem como provocao, a exemplo do livro de poesias Ode a Sat, de Adalberto
Peregrino
260
, ou a escolha de Higino Cunha, um anticlericalista convicto, para escrever sobre
a histria da religio no Piau. Esse trabalho foi publicado em meio aos festejos
comemorativos do centenrio de adeso do Piau independncia do Brasil. possvel
acompanhar aspectos da polemica anticlerical no Piau atravs da obra O poder das trevas,
de Elias Martins, editada em 1913
261
.
O interesse nesse rol de obras e autores registrar as primeiras publicaes que,
articuladas umas s outras, foram configurando o sistema literrio piauiense. A associao
dessas obras com alguns fatos relacionados aos autores explicita a rede de sociabilidades que
envolvem os piauienses produtores de literatura, residentes ou no no Piau, se reconheciam
como membros de uma mesma comunidade de intelectuais.
Observa-se que estavam postos os elementos basilares de um sistema literrio. O
viver em Teresina, pelo menos para alguns segmentos do topo da hierarquia social, havia
alcanado patamares de civilidade. Havia um ambiente literrio movimentado, em especial,
pela circulao permanente de peridicos noticiosos abertos veiculao de ideias e da
literatura, que, posteriormente, passou a circular atravs de revistas e jornais especializados.
Mais interessante era a quantidade de livros produzidos pelos intelectuais locais, indicando
que enfim a literatura abandonava as pginas efmeras dos peridicos para circular na forma
de livros, veculos mais apropriados e menos perecveis.
Os leitores, por muito tempo ainda seriam os prprios produtores de literatura e
parcela pequena das classes privilegiadas, a exemplo das mulheres de condio social
elevada, que tiveram acesso ao ensino formal. Para melhor configurao do sistema literrio,
faltavam os institutos de representao literria que estabelecem o cnon literrio. Demanda
atendida com a criao, entre outros institutos, da Academia Piauiense de Letras, do Instituto
Histrico Antropolgico e Geogrfico Piauiense e do Cenculo Piauiense de Letras.
260
Essa polmica literria foi estudada por MAGALHES, 1998, p. 347-355.
261
Cf. PINHEIRO, 2001. Observa-se que os intelectuais desse perodo, mesmo aqueles envolvidos na questo
anticlerical, demandavam pelo sacramento do matrimnio, batizado e extrema-uno. Existem depoimentos de
que alguns se converteram no leito de morte, a exemplo de David Caldas e Abdias da Costa Neves. O
anticlericalismo se limitava disputa entre o projeto social dos intelectuais e o da Igreja, no atingia a f, nem a
alma.
104
2.4. Intelectuais piauienses imersos nos cnones literrios
A fundao da Academia Piauiense de Letras o marco da vitria da cultura letrada
sobre a cultura oral. Nesse sentido, triunfou o projeto de civilizao dos intelectuais que
atuaram em Teresina entre 1880 e 1922. Dispondo de capital cultural e de suas instituies
literrias, educacionais, polticas e, at mesmo recreativas, os intelectuais direcionaram os
destinos da sociedade piauiense. A gerao seguinte, atuando entre 1922 e 1952, consolidou a
posio social conquistada, muito embora, para alguns estudiosos da Literatura Piauiense, no
plano da produo literria tenha ocorrido um momento de brilho menos intenso se
comparado a produo literria da gerao anterior. A gerao atuando entre 1922 e 1952
defendeu os cnones literrios estabelecidos e valorizou a APL, mantendo a rotina de reunies
acadmicas, de eventos culturais repetitivos como as palestras, at que por volta do final da
dcada de 1940 emergiram elementos que indicavam uma renovao no ambiente literrio
262
.
Muitos jovens piauienses, em especial aqueles pertencentes ao high-life, tinham os
intelectuais como modelo de vida, imitando-os at mesmo na forma elegante de vestir. Muitos
jovens invejavam o poeta J natas Batista, que namorava uma das filhas do Dr. Higino
Cunha. Outros sonhavam com reunies sociais, para exibir dotes artsticos, conversar sobre
leitura, viagem, msica. Escreviam poesia envidando esforos para public-las nos jornais em
circulao como faziam os intelectuais consagrados. Ainda outros, desejavam ocupar ctedra
no Liceu Piauiense e na Escola Normal ou um lugar nas cmaras legislativas ou na chefia do
executivo.
A sociedade piauiense tinha no mais alto conceito aqueles que dominavam a escrita e
a leitura, era o reconhecimento da atividade do escritor. Ainda que a populao no pudesse
penetrar plenamente no sentido das obras literrias produzidas, sempre que possvel, estava
disposta a participar dos eventos culturais promovidos pelos institutos literrios. Os saraus
literrios foram concorridos, as pessoas ouviam com ateno os recitais de poesias, os
nmeros musicais ou a encenao de algum drama, revista ou comdia de costumes, alguns de
autoria de J natas Batista ou de J oo Ferry. A populao escutava, aplaudia, cumprimentava
com admirao e respeito os intelectuais. Observa-se uma sociedade ainda com maior
disposio para ouvir do que para ler.
262
Antonio CANDIDO (1997, p. 182), estudando a formao da literatura brasileira, nesse mesmo perodo,
percebeu fenmeno semelhante e afirma: o momento em que, sombra das normas ossificadas em
conveno, pululam escritores de toda sorte, iguais nas qualidades e defeitos, certos de corresponderem a uma
opinio acomodada pelo hbito.
105
Apesar de Higino Cunha continuar frente do movimento literrio, a maioria dos
companheiros de sua gerao estava desaparecendo naturalmente do cenrio cultural. J era
visvel que uma nova gerao estava em movimentava. Entre os novos: Artur Passos, Vaz da
Costa, J oo Ferry, Lenidas Melo, J os Auto de Abreu, lvaro Ferreira, J oel Oliveira, J acob
Gayoso, Vidal de Freitas, Martins Napoleo, Raimundo de Brito Melo, Lus Lopes Sobrinho,
Hermnio Conde, Patrcio Franco, Moura Rego, Clidenor Freitas, Clemente Fortes, Celso
Pinheiro Filho, Oflio Leito, Darci Arajo, Cunha e Silva, Wall de Carvalho, Odilon Nunes
(1899-1989), Maria Isabel Gonalves Vilhena (1896-1988) e J oo Coelho Marques (1907-
1966)
263
.
Se comparada a atividade jornalstica desenvolvida pela gerao de David Caldas e
Licurgo de Paiva ou a gerao de Higino Cunha e Clodoaldo Freitas, os integrantes dessa
nova gerao se distanciavam da imprensa peridica, embora alguns tenham sido jornalistas
dedicados, como J oel Oliveira, Bugyja Britto, Cludio Pacheco e Fabrcio de Ara Leo. Esse
afastamento deve ser entendido como sucesso de mudanas, pois muitos intelectuais ainda
colaboravam nos noticiosos de Teresina ou de outros municpios do Estado
264
, entretanto,
percebe-se que a publicao de textos literrios perdia espao nos peridicos noticiosos.
Apesar do surgimento do livro, a imprensa continuava ocupando espao significativo
no ambiente literrio piauiense, em especial a imprensa literria criada na passagem do sculo
XIX para o sculo XX. No quadro 05 possvel observar alguns jornais e revistas que
circularam entre 1922 e 1952 movimentando o ambiente literrio.
Quadro 05 - Peridicos piauienses em circulao entre 1922 e 1952
1922-1930 J ornais: Gente Nova, O Lince, O Lbaro, A Idia, Revistas: Revista do
Instituto Histrico e Geogrfico Piauiense, O Automvel, Cidade Verde, A
Revista, A Mocidade
1930-1940 J ornais: A Escola, O Ginsio, A Mocidade, Renovao, O Meio, Revistas: A
Propaganda, Garota, Gleba, O Meio, Parnaba, Revista Acadmica, Harpa, A
Granada, 4 de Outubro, Guisos, Primcias Literrias, Panorama Estudantil,
Seleta, Raios de Luz, O Obuz, Camondongo; Almanaque: Almanaque
Piauiense.
1940-1952 J ornais: O Piau Revistas: Voz de Parnaba, Zodaco, Gerao, Voz do
Estudante, Cultura Acadmica, Mocidade, Cultura, O Meridiano, O Arauto,
Panplia e Revista Carnavalesca.
Fonte: Hemeroteca do APPI; PINHEIRO FILHO, 1972.
263
Indica-se data de nascimento e morte dos intelectuais que no foram citados anteriormente.
264
Com base em PINHEIRO FILHO (1972), elaborou-se relao de pessoas que atuava na imprensa peridica entre
1922 e 1952. Observa-se que parcela significativa atuou no jornalismo como comentarista poltico ou
colaborando no noticirio. Quanto a literatura, quando muito, publicaram algumas crnicas.
106
Presume-se que o volume de peridicos em circulao foi bem maior, contudo, a
anlise privilegiara apenas sobre as revistas encontradas na hemeroteca do APPI, que foram
agrupadas segundo suas caractersticas em trs conjuntos. O primeiro conjunto se constitui
das revistas lanadas pelo perodo do carnaval, a exemplo de: Automvel, O Obuz, A
Granada, Guisos e Camondongo
265
. De fcil manuseio, contendo entre 10 e 20 pginas,
atraem pelo colorido e pelas caricaturas, assim como a forma caricatural de descrever pessoas
e questes locais, permitindo leitura coletiva e comentada, despertando risos. Esse conjunto
hemerogrfico se afasta do aspecto circunspecto das revistas especializadas em literatura, arte
e cincia que exigiam leitura individual, silenciosa, reflexiva, de difcil alcance para a
sociedade piauiense composta de iletrados.
O segundo conjunto formado pelas revistas literrias e noticiosas como: Cidade
Verde, Mocidade e Garota
266
. Esta ltima revista circulou em 1933, Moura Rgo,
Carvalho Lago, Ribamar Ramos e Tobias Duarte eram responsveis pelo peridico literrio e
social, que recebeu a colaborao de Pedro Brito, Giovani Costa, Berilo Neves, J oo Ferry,
Celso Pinheiro, Martins Napoleo e Baurlio Mangabeira.
No ano seguinte, 1934, Leopoldo Cunha lanou O Meio
267
, revista de arte,
cincia, literatura e mundanismo. Embora anunciasse periodicidade quinzenal, circulou
mensalmente. Os artigos de abertura de todos os nmeros consultados so de autoria de
Higino Cunha, pai de Leopoldo Cunha. Entre seus colaboradores Martins Napoleo, lvaro
Ferreira, Celso Pinheiro e Arimata Tito, todos membros da APL.
De periodicidade varivel, entre quinzenal e trimestral, o conjunto dessas revistas,
apresentam um aspecto grfico atraente, de fcil manuseio, poucas pginas e boa disposio
das matrias. Contriburam para veiculao de poesias, crnicas e contos, associados ao
noticirio e reclames publicitrios.
No entanto, foram as revistas de divulgao dos grmios escolares, que
movimentaram o ambiente literrio, alm de modificar aspectos do cnone literrio vigente.
Na apresentao grfica, se comparado aos dois conjuntos anteriores, so menos atraentes, em
formato de livro, volumosas, quase nenhuma ilustrao. Apresentam textos extensos, de
difcil compreenso, abordando questes de antropologia, arte, literatura, entre outras
temticas.
265
Hemeroteca do APPI.
266
Hemeroteca do APPI.
267
Hemeroteca do APPI.
107
Exigiam leitura individual, silenciosa, reflexiva, considera-se que se direcionava para
os intelectuais e os estudantes mais diretamente envolvidos com literatura. Na dcada de
1940, circularam as mais importantes revistas do perodo: Voz do Estudante, do Grmio
Literrio Da Costa e Silva, do colgio Ateneu Piauiense e da Academia de Comrcio do
Piau
268
; Zodaco
do Centro Cultural Lima Rebelo, do Ginsio Dr. Demstenes Avelino
269
e
Gerao
, do Colgio Estadual do Piau (Liceu Piauiense)
270
.
Como revistas de grmios escolares, sofreram interferncia da direo do colgio ao
qual o grmio estava atrelado. Embora publicassem poesias, contos, discursos de alunos e
professores, esses peridicos publicaram intelectuais famosos como Da Costa e Silva, Celso
Pinheiro, Martins Napoleo e Cristino Castelo Branco. Percebe-se que a iniciativa de publicar
intelectuais consagrados partiu da direo das escolas, objetivando divulgar entre os
estudantes os talentos literrios locais, apresentando-os como paradigmas literrios.
O grupo de estudantes, principalmente aqueles ligados a Zodaco e Gerao,
denunciou as interferncias e criticava as prticas literrias tradicionais
271
. Resistindo s
determinaes que tendiam modelar sua atuao, o grupo de estudantes elaborou poesia e
prosa que se distanciavam do cnon literrio. No interior de cada revista, nota-se claramente
que os jovens optaram por determinadas formas de expresso literria. Manoel Paulo Nunes,
J ess Soares Ferry, Alcebades Vieira Chaves e Ribamar Oliveira aparecem como contistas;
Hindenburg Dobal Teixeira e Celso Barros Coelho se destacam como ensastas; Vtor
Gonalves Neto e Francelino Pereira Santos como crticos literrios; Ansio de Abreu Neto,
J os Newton de Freitas, Odete Vieira da Rocha, Guadalupe Lima, Deolino Silva J nior, esto
entre os poetas. Com frequncia, outros nomes que posteriormente ganharam fama no cenrio
cultural piauiense aparecem como colaboradores, a exemplo de Itamar de Sousa Brito e J os
Camilo Filho.
268
rgo do Grmio Literrio Da Costa e Silva, do colgio Ateneu Piauiense e da Academia de Comrcio do
Piau, complexo de ensino de propriedade de Felismino Weser Freitas e Moaci R. Madeira Campos,
respectivamente, localizado a Rua Senador Pacheco, 57, fone 385. Na Hemeroteca do APPI se encontram oito
nmeros, o primeiro, corresponde primeira edio, data de dez. 1940, e o ltimo nmero encontrado data de
1951. A edio de nov. 1950 indica ano IX, nmero XXI, assim, a revista circulou por mais de uma dcada.
Inicialmente, a periodicidade era trimestral, a partir da dcada de 1950 circulou como anual.
269
rgo de divulgao do Grmio Literrio Lima Rebelo, dos alunos do Ginsio Dr. Demstenes Avelino,
fundado em dez. 1942. O grmio data de abr. 1943, com sede social na Rua Machado de Assis, 1733, fone 421.
Na Hemeroteca do APPI se encontra quatorze nmeros do peridico, o mais antigo corresponde ao nmero 6,
abr. 1944 e o ltimo encontrado corresponde ao nmero 21, ano VIII, jun. 1950. Com base nos dados, nesse ano
a revista estava no oitavo ano em circulao. Na dcada de 1950, alegando problemas financeiros, a revista
passou a ter circulao anual.
270
Revista Gerao, out. 1945, APPI.
271
Revista Gerao, out. 1945, APPI.
108
No panorama da potica piauiense ainda predominava uma poesia lrica, intimista.
Celso Pinheiro, o mais festejado dos poetas do perodo, escrevia versos segundo os ditames da
corrente literria simbolista
272
e tinha a dor como motivao de sua ao criadora. Nota-se
tambm uma poesia de celebrao da paisagem piauiense como estmulo a delimitao de um
espao territrio e cultural ou, ainda, uma poesia de carter reflexivo, que se aproximava da
poesia produzida no restante do Brasil. Na obra potica de Higino Cunha uma se destaca
exemplarmente.
O homem s homem quando se ergue
Ao ideal sublime do futuro;
No passa de suno, de epicuro,
Se alm do ventre nada mais enxergue.
A vida social um grande albergue,
Asilo tormentoso e mal seguro,
Onde sem trgua luta o palinuro
Para que a lei do bem se no postergue.
Embora o mal pompeie a coma hirsuta,
Como querendo tudo avassalar
Com fria demonaca e poluta,
A evoluo caminha sem cessar,
Lenindo a natureza fera e bruta
Conquistando o progresso e o bem-estar.
273
Alguns dos poetas ligados s revistas em apreciao cultivaram a lrica intimista e de
celebrao das coisas mais tangenciveis, bem aos moldes do cnone vigente. Contudo,
registra-se a existncia de um grupo que se rebelava contra essa forma de fazer literatura. O
crtico literrio Francelino Pereira Santos, j percebia essa diferena, em um artigo em que
criticava a poesia de Silva J nior.
Sempre me recinto ao pensar em Ansio de Abreu, jovem esperanoso de mais na
poesia, mas que descambou na trasladao de idias e atitudes, quais sejam de
cultuar uma cabeleira ondulante, de desperdiar vinho, choros e sonetos a suposta
amada tudo isso produzido pela herana extempornea do egotismo dos
romnticos. Silva J nior ao contrrio soube imunizar-se muito bem ao
enlagrimado passadismo.
274
272
HARDI FILHO, 1988; CABRAL, 1938. Segundo Alfredo BOSI (2006, p. 281-287), dois outros poetas
expressivos no meio literrio, Flix Pacheco e Da Costa e Silva, eram simbolistas, posteriormente, o poeta
amarantino involuiria para o neoparnasianismo.
273
AIRES, 1972, p. 30.
274
Cf. artigo Silva Jnior no plano de sua experimentao potica de Francelino Santos, Revista Zodaco, nov.
1944, p. 27-31. O autor o piauiense Francelino Pereira Santos que fez vida poltica e literria em Minas Gerais.
109
Parcela significativa dos poetas piauienses que atuavam entre 1880 e 1940 teve como
paradigma os poetas do Romantismo, Parnasianismo e Simbolismo
275
, modelos que s
tenderam a superao a partir da dcada de 1940 com o surgimento de movimentos de
renovao cultural. Em sua Histria concisa da Literatura Brasileira, Alfredo Bosi, oferece
alguns dados sobre a produo literria nas trs primeiras dcadas do sculo XX o que
contribui para compreender o que ocorreu no Piau.
O Parnasianismo o estilo das camadas dirigentes, da burocracia culta e semiculta,
das profisses liberais habituadas a conceber a poesia como linguagem ornada,
segundo padres j consagrados que garantam o bom gosto da imitao. H um
academicismo intimo veiculado atitude espiritual do poeta parnasiano; atitude que
tende a enrijecer-se nos epgonos, embora se dilua nas vozes mais originais. Os
mesmos temas, as mesmas palavras, os mesmos ritmos confluem para criar uma
tradio literria que age a priori ante a sensibilidade artstica, limitando ou mesmo
abolindo a sua originalidade: basta considerar, nessa poca urea da Academia
Brasileira de Letras, a voga imensa do soneto descritivo, ou descritivo-narrativo, ou
didtico-alegrico, fenmeno a que um modernista daria o nome de sonetococcus
brasiliensis.
276
O trecho se aplica bem aos intelectuais piauienses, na sua maioria, engajados na
burocracia administrativa pblica e na poltica. Aqueles considerados os nomes de maior
destaque na literatura estavam na Academia Piauiense de Letras e pontificavam defendendo a
tradio literria. Para alguns crticos, entre eles Assis Brasil, a produo desses literatos
revela preocupao com a forma, muito embora no possam ser acusados de elaborar uma
poesia despida de vida e emoo.
Alguns crticos atribuem ao poeta Martins Napoleo a introduo do modernismo no
Piau. Entretanto, falando sobre sua prpria filiao potica, Martins Napoleo afirmou: Se
me fosse possvel definir-me, diria que sou neoclssico um clssico renovado e em
permanente renovao; romntico no fundo e clssico na forma
277
. Em 1940, o presidente da
Academia Maranhense de Letras, recepcionando o livro de poesia Poemas da Terra
Selvagem do referido poeta, encontrou na sua poesia elementos que indicavam tendncias
275
Em A poesia piauiense no sculo XX de Assis BRASIL (1995), observa-se que poetas piauienses como:
Taumaturgo Vaz, Flix Pacheco, J onas da Silva, Antnio Chaves, J natas Batista, Da Costa e Silva, Zito Batista,
Celso Pinheiro, Alcides Freitas, Nogueira Tapety, Lucdio Freitas, R. Petit, J oo Ferry, Isabel Vilhena, Martins
Napoleo, Martins Vieira, Luiz Lopes Sobrinho, Oliveira Neto, Adail Coelho Maia, Hermes Vieira, Renato
Castelo Branco, Almir Fonseca e Newton de Freitas, embora pertencentes a geraes diferentes, produziram
literatura nos moldes do Romantismo, Parnasianismo e Simbolismo. O autor da antologia reconhece que vrios
dos poetas citados j manifestavam inclinao para o movimento modernista e que ocorreu uma mar tardia
dessas tendncias literrias. At a dcada de 1940, a produo potica piauiense atravessou uma fase de
transio de trs escolas literrias, Romantismo, Parnasianismo e Simbolismo. Essa anlise ajuda a entender por
que o movimento modernista paulista ou o movimento regionalista pernambucano tiveram pouca pentrao no
meio literrio piauiense e por que somente a partir dos anos de 1940 que se percebe indcios de renovao no
panorama da literatura piauiense.
276
BOSI, 2006, p. 234-235.
277
PINHEIRO, 1994, p. 162.
110
para o modernismo, principalmente pela temtica voltada para a questo da brasilidade
278
.
Merece registro que, em edio da revista da APL, esse poeta romntico e neoclssico
escreveu um dos raros manifestos em defesa da poesia moderna de que se tem notcia no
ambiente literrio piauiense
279
.
Outros crticos atribuem a J os Newton de Freitas a introduo do modernismo no
Piau, contudo, outros jovens poetas da sua gerao, pelo menos no que tange a temtica,
apresentam mais inclinao para o modernismo do que ele. Silva J nior, por exemplo, elabora
poesia provocativa e reflexiva
280
, de igual fora de expresso , tambm, a poesia de Odete
Vieira da Rocha, expressando tema e ritmos da vida moderna
281
.
Considera-se essa discusso relativa aos introdutores do modernismo no Piau de
menor importncia, certo que os jovens em volta das revistas Voz do Estudante,
Zodaco
e Gerao
, em contato com as novas idias, leituras e prticas literrias,
assumiram um fazer literrio diferenciado que renovou o cenrio da literatura piauiense. Em
meados da dcada de 1940, percebe-se a existncia de pequenos grupos de jovens
interessados em literatura formando entidades literrias e envolvendo-se em acerbas
polmicas em torno de diversos assuntos
282
.
No final dessa mesma dcada, vrios jovens secundaristas, a exemplo de Paulo
Nunes e H. Dobal ingressavam na faculdade de Direito do Piau e atuavam como membros do
Diretrio Acadmico, redigindo a revista Cultura Acadmica
283
. Outros foram cursar a
faculdade fora do Piau, como Francelino Pereira dos Santos. Concludo o curso superior,
alguns fixam residncia fora do Piau e outros voltam para assumir a direo da sociedade
local, Teresina, na condio de capital, foi o ponto de convergncia.
Observa-se que at a dcada de 1940, os jornais noticiosos e polticos ainda
disputavam com os peridicos especializados a publicao da literatura, em especial,
veicularam poesias. Nas pginas dos jornais em circulao ficaram registradas poesias de
Antnio de Neves Melo, Lvio Castelo Branco, J ugurtha Castelo Branco, assim como poetas
de renome como Raimundo Correia, Olegrio Mariano, Alberto de Oliveira e Cruz e Sousa.
278
Revista da APL, maio 1942, p.46-52.
279
Revista da APL, dez. 1943, p. 120-126.
280
Revista Zodaco, jun. 1944, p. 33.
281
Revista Zodaco, jun. 1944, p. 29. Sobre o fazer literrio diferenciado dos cnones vigentes cf. artigo Gente
moa de minha terra de Vitor Gonalves Neto, RevistaGerao, ago./1945, p. 19-20.
282
Sobre a atuao literria dessa gerao que desponta na dcada de 1940 cf. SILVA, 2005; KRUEL, 2007;
CADERNOS DE COMUNICAO, 1996.
283
Hemeroteca do APPI.
111
Nesse sentido, em Teresina, os jornais O Dia e A Imprensa se destacam como
divulgadores de poesia.
interessante observar o conjunto dos peridicos que circularam fora de Teresina,
em outros municpios do Piau. claro que os objetivos traados vo alm do literrio,
contudo, publicava a literatura produzida pelos intelectuais locais, a exemplo do jornal A
Luta, de Floriano, que circulava com poesias de Antnio Veras de Holanda (1903-1942) e
Cunha e Silva, da cidade de Amarante; em Picos, o Aviso, divulgava o poeta Lus Lopes
Sobrinho.
Em Parnaba, as revistas Gleba, Parnaba, Harpa e A Propaganda
demonstram que possvel associar literatura, noticirio e entretenimento
284
. A Propaganda,
por exemplo, divulgou novos nomes da poesia, como a poetisa Francisca Montenegro. A
cidade tambm possua suas revistas colegiais como Voz de Parnaba e Panorama
estudantil
285
. Encerrando a primeira metade do sculo XX, em maro de 1949, circulou em
Parnaba a revista O Arauto
286
, rgo da Associao Parnaibana de Letras, indcio de que
em meados do sculo passado, os intelectuais residentes em outros municpios j organizavam
institutos de representao literria.
Nessa mesma cidade, precisamente em 1924, circulou o Almanaque da Parnaba.
No seu primeiro nmero declarava-se guia de informaes teis, passatempos, curiosidades e
distraes. O peridico passou por vrias fases, mas, j na primeira, sob a direo de
Benedito dos Santos Lima, publicava poesias, contos e estudos pragmticos de intelectuais
parnaibanos e teresinenses que foram dominando as pginas do almanaque. Na dcada de
1940, em mos da famlia Torres Raposo, assumiu as caractersticas de revista literria,
embora mantivesse o ttulo de almanaque.
Em uma perspectiva poltica, os peridicos literrios piauienses desse perodo, pouco
revelam sobre o agitado universo da poltica brasileira dos anos de 1930 a 1964.
interessante lembrar que nesse agitado perodo da poltica brasileira, pelo menos, durante a
vigncia do Estado Novo (1937-1945), a imprensa de uma forma geral sofreu censura. E
como a maioria dos proprietrios, redatores e colaboradores dos peridicos eram funcionrios
do Estado, presume-se que se sentiam impossibilitados de publicar matrias de crticas ao
governo. Getlio Vargas, a mais destacada figura da poltica brasileira nesse perodo,
celebrado atravs dos peridicos como o muito digno chefe da nao, revistas e jornais
284
Hemeroteca do APPI.
285
Hemeroteca do APPI.
286
Hemeroteca do APPI.
112
estampavam seu retrato em capas ou folhas iniciais. Todavia, um fato poltico marcou o
ambiente cultural de Teresina, a passagem da Coluna Prestes, largamente noticiada nos
jornais da poca e que provocou a publicao de vrios livros.
A dcada de 1920, subsequente criao da APL e do IHAGP, chama ateno a
quantidade de estudos publicados em forma de livros.
Quadro 06 - Livros de escritores piauienses em circulao entre 1922 e 1952
Obra Autor Ano
O teatro em Teresina Higino Cunha 1922
O Ensino Normal no Piau Higino Cunha 1923
Livramento J os de Almendra Freitas 1923
A indstria pecuria piauiense R. Fernandes e Silva 1924
Histria das Religies Higino Cunha 1924
Notas sobre a geologia do estado do Piau Luiz Flores de Moraes Rego 1925
Os rebeldes no Piau F. Pires de Castro e Martins Napoleo 1926
Os revolucionrios do sul atravs dos sertes
nordestinos do Brasil
Higino Cunha 1926
Aspectos do Piau Abdias Neves 1926
O Ideal Cristo Simplcio Mendes 1926
Hidrografia e Orografia do Estado do Piau Mario J os Batista 1927
O sentimento brasileiro na poesia de Bilac Martins Napoleo 1928
Antiga Histria do Brasil Ludwing Schwennhagen 1928
Propriedade territorial no Piau Simplcio Mendes 1928
Aspectos do problema econmico piauiense Lus Mendes Ribeiro Gonalves 1929
Conchrone, falso libertador do Norte Hermnio Conde 1929
Ptria Nova Martins Napoleo 1931
Depoimentos para a histria da Revoluo no
Piau
Moiss Castelo Branco 1931
A defesa do professor Leopoldo Cunha Higino Cunha 1934
Paz Mundial Lindolfo do Rego Monteiro Nunes,
Raimundo de Brito Melo e Monsenhor
Ccero Portela
1935
O Piau na histria Odilon Nunes 1937
Literatura Piauiense (escoro histrico) J oo Pinheiro 1937
Vria fortuna dum soldado portugus Brigadeiro Fidi 1942
A civilizao do couro Renato Castelo Branco 1942
O Piau e o Nordeste Martins Napoleo 1942
O descobrimento do Piau e o documento de
Perira da Costa
J oo Pinheiro 1943
Homens que iluminam Cristino Castelo Branco 1946
O vale do rio Parnaba Gayoso e Almendra 1948
Fonte: Biblioteca de apoio a pesquisa, APPI; Hemeroteca, APPI.
113
Analisando esse corpus bibliogrfico, observa-se que discursos, palestras e
conferncias foram transformadas em livros. A APL e o IHAGP publicaram discursos de
posse e falas proferidas em algumas reunies acadmicas, prtica comum no ambiente
literrio piauiense. Flix Pacheco supera qualquer autor em quantidade de discursos
publicados, como se pode observar no rol da bibliografia seleta, destacando-se os discursos e
pronunciamentos que proferiu como ministro das Relaes Exteriores. Hoje, muitos desses
volumes so manuseados como fonte de informao e pesquisa, a exemplo de O Teatro em
Teresina e O Ensino Normal no Piau, de Higino Cunha, e Aspectos do problema
econmico piauiense, de Lus Mendes Ribeiro Gonalves.
interessante o ttulo de algumas publicaes, como Ptria Nova, de Martins
Napoleo, conferncia publicada em forma de livro e ttulo sugestivo em relao ao contesto
poltico da dcada de 1930 e, tambm, Paz Mundial, de Lindolfo do Rego Monteiro,
Raimundo de Brito Melo e Monsenhor Ccero Portela Nunes, trs conferncias sobre o
mesmo tema, reunidas em um nico volume, pronunciadas em dias e locais diferentes. A fala
dos trs intelectuais sobre a paz mundial, no contexto de 1935, demonstra que a
intelectualidade piauiense no estava alheia s questes polticas, at mesmo aquelas de
carter internacional. Indcio de que, sempre que possvel, externavam seu pensamento sobre
poltica. No contexto piauiense de um reduzido pblico leitor, uma vez que as conferncias
eram bastante concorridas, parecem um meio eficaz de manter a populao informada sobre o
clima de belicosidade entre os pases da Europa.
Observando esse corpus bibliogrfico, o Piau com seus problemas, sua histria e
seu povo, o objeto de conhecimento desses intelectuais. Essa uma produo empenhada,
necessria para o autoconhecimento e glorificao dos valores locais, necessria para impor o
Piau ao conjunto das reas civilizadas, ao conjunto dos estados da federao. A sntese dessas
preocupaes se revela na publicao de Aspectos do Piau, de Abdias Neves, um ensaio
construdo na fronteira de diferentes campos de estudo, a exemplo da Histria, Antropologia,
Geografia e Economia.
Observa-se que os intelectuais acreditam que sua misso conduzir os destinos da
sociedade piauiense e, deliberadamente, volta-se para o conhecimento de sua terra. Esse
autoconhecimento tem um vis prtico, pode estar relacionado ao exerccio do magistrio,
atividade que envolveu parte significativa dos intelectuais, determinando esse esforo de
conhecimento da realidade piauiense. Contudo, nota-se que esse esforo extrapolou o crculo
do magistrio, como se observa com a publicao de Pecuria e O Vale do Rio Parnaba,
114
de Gayoso e Almendra, A indstria pecuria piauiense, de R. Fernandes e Silva e Notas
sobre a geologia do estado do Piau, de Luiz Flores de Moraes Rego.
Por ocasio do centenrio da independncia, surgiram duas obras, ainda hoje, muito
utilizadas pelos pesquisadores. A Instruo Pblica no Piau, publicao da Sociedade
Auxiliadora da Instruo, impresso na Papelaria Piauiense em 1922. Desejando reformar o
ensino, o governador J oo Lus Ferreira formou uma comisso para estudar as causas do
atraso do ensino pblico estadual, formada por J oo Osrio P. da Motta, Pedro Borges da
Silva, Manoel Raimundo da Paz Filho e Matias Olmpio, que resultou na referida obra.
Dividida em duas partes, a primeira rene o relatrio da Comisso e os documentos que
alteram o Regulamento Geral da Instruo Pblica; a segunda parte rene estudo de Ansio de
Brito Melo sobre aspectos histricos do ensino primrio, normal e secundrio. Matias
Olmpio tambm se preocupa com aspectos da histria do ensino normal e secundrio, bem
como do ensino profissional, alm de discutir as crticas s alteraes produzidas pela nova
legislao do ensino; Pedro Borges da Silva contribui com estudo sobre a educao popular e
sobre a ao das municipalidades no ensino. Consta ainda uma parte de anexos com pessoal
docente primrio das escolas pblicas do estado nos diferentes nveis de ensino, alm de
relao das escolas de cada municpio.
A outra obra O Livro do Centenrio do Piau, quatro volumes, publicados em
1923. Uma comisso foi instituda para organizar os eventos relativos ao festejo do centenrio
da independncia do Piau, que envolveu uma exposio de produtos piauienses, conferncias,
leiles e publicaes. Nesse caso, foram publicados o Catlogo dos Produtos Piauienses na
Primeira Exposio Estadual do Piau, e O Livro do Centenrio do Piau, como s restou
no APPI o quarto volume, presume-se que dois ou trs foram destinados s informaes sobre
os municpios. A histria das religies no Piau, de Higino Cunha uma publicao dentro
dos eventos do centenrio, como o autor explicita na nota introdutria da obra, o que nos leva
concluso de que pelo menos um volume foi destinado a temticas mais gerais, a exemplo
da religio. O quarto volume consta de informaes sobre os municpios de Livramento,
Marrus, Miguel Alves, Oeiras, Parnagu, Parnaba, Patrocinio, Paulista, Pedro II, Piripiri,
Picos, Piracuruca, Porto Alegre, Regenerao, Santa Filomena, So J oo do Piau, So Pedro,
So Raimundo Nonato, Simplcio Mendes, Teresina, Unio, Uruu e Valena. Parte dos
textos est assinada por um intelectual, a exemplo do texto sobre Teresina, que foi escrito por
Clodoaldo Freitas e o de Piracuruca, por Ansio Brito.
115
A passagem da Coluna Prestes pelo Piau despertou os intelectuais, Higino Cunha
publicou Os revolucionrios do sul atravs dos sertes nordestinos do Brasil e Martins
Napoleo e F. Pires de Castro publicaram Os rebeldes no Piau (subsdios e documentos para
a histria). As duas obras foram impressas na oficina do jornal O Piau e publicadas no
mesmo ano de 1926. Em 1929, circulou um volume de poemas humorsticos A indstria da
Defesa, assinado por Garcez Dvila, pseudnimo, versando sobre as verbas enviadas pelo
governo federal ao Piau para combater a Coluna Prestes, em que o senador Flix Pacheco e o
governador Matias Olmpio de Melo so os personagens principais.
Todo acontecimento motivo para produo de livro. Ainda em vida, Higino Cunha
relaciona entre suas obras, A defesa do professor Leopoldo Cunha(produzida por seu pai Dr.
Higino Cunha, no processo movido contra aquele pelo crime de tentativa de homicdio), pea
processual impressa na Imprensa Oficial, em Teresina, em 1934. A chamada Revoluo de
1930 tambm foi motivo da produo de livros, visto que em 1931, circulou pelo ambiente
cultural Depoimento para a histria da Revoluo no Piau, de Moiss Castelo Branco,
sobre os acontecimentos polticos do ano anterior.
Entre 1922 e 1952 tambm foi publicado um corpus bibliogrfico literrio, como
se pode observa no quadro que segue:
Quadro 07 - Livros de fico de escritores piauienses em circulao entre 1922 e 1952
Obra Autor Ano Gnero literrio
Czards J onas da Silva 1923 Poesia
Ode a mendiga Alarico Cunha 1923 Poesia
Harmonia dolorosa Zito Batista 1924 Poesia
Poesias Reunidas Zito Batista 1924 Poesia
Fogo de Palha J oo Pinheiro 1925 Contos
Vernica Da Costa e Silva 1927 Poesia
Pginas de saudade Heitor Castelo Branco 1927 Poesia
J eanette Amlia de Freitas Bevilqua 1928 Romance
Crnicas e Versos Carlos Borromeu 1930 Crnica e Poesia
Poesias Flix Pacheco 1932 Poesia
A mulher e o diabo Berilo Neves 1932 Contos
Princpio de inspirao Abdoral Reis 1934 Poesia
Alma sem rumo J natas Batista 1934 Poesia
Poesias avulsas J natas Batista 1934 Poesia
Muralhas Bugyja Britto 1934 Poesia
Segredos Aluzio Napoleo 1935 Contos
Ascenso dos sonhos Moura Rego 1936 Poesia
116
Primeiros Versos Antnio Neves 1938 Poesia
Poesias Celso Pinheiro 1939 Poesia
Memrias Higino Cunha 1939 Memria
Poemas da terra selvagem Martins Napoleo 1940 Poesia
Os sertes Renato Castelo Branco 1943 Poesia
Contradio Vidal de Freitas 1943 Poesia
O prisioneiro do mundo Martins Napoleo 1943 Poesia
A libertao da Frana Alarico Cunha 1944 Poesia
As Exquias de D. Francisca Alarico Cunha 1944 Poesia
Vozes Imortais Edson Cunha 1945 Antologia
Gritos Perdidos Moura Rego 1945 Poesia
Teodoro Bicanca Renato Castelo Branco 1948 Romance
Fonte: Biblioteca de apoio a pesquisa, APPI.
No campo da fico, nenhuma outra forma de expresso literria supera a poesia
quanto ao volume posto em circulao. Aparece no final do perodo o romance Teodoro
Bicanca, de Renato Castelo Branco que, em 1948, ganhou o prmio Crculo Literrio
Brasileiro, apesar do sucesso fora do Piau, sua recepo nem de longe se assemelha a Um
Manicaca, de Abdias Neves. Registra-se que outros piauienses escreveram romances, o
caso de Permnio de Carvalho sfora, autor de romances nordestinos, quase todos publicados
nas dcadas de 1940 e 1950. Contudo, esse romancista mantm laos mais estreitos com o
movimento literrio de Pernambuco, Bahia e Rio de J aneiro.
O conto conquistou espao no ambiente literrio piauiense. J oo Pinheiro repete o
sucesso de toa, com o livro de contos Fogo de palha com temtica regional. Na dcada
de 1930, o poeta Berilo Neves, transitando entre a poesia e o conto, publicou A mulher e o
diabo um livro de contos de ataque impiedoso as mulheres
287
e Aluzio Napoleo publicou
Segredo, volume com vinte contos e vinte uma ilustraes em preto e branco assinadas por
Santa Rosa, uma inovao na apresentao grfica dos livros da poca. Contos que se afastam
da temtica de J oo Pinheiro, alguns ambientados nas cidades e abordando aspectos do viver
urbano.
Nesse perodo, a novidade so as obras do advogado Giovanni Costa, pela polmica
poltica que despertaram, agitando o meio intelectual piauiense, o que traz de volta ao cenrio
cultural piauiense o clima da antiga imprensa poltica. Outra novidade foi a publicao do
livro Memrias de Higino Cunha, modalidade de texto indita no meio cultural piauiense.
Mas, a novidade mesmo o livro, texto impresso colocado em circulao, consolidao do
287
BASTOS, 1994, p.394.
117
ambiente e do sistema literrio. Vitoria dos intelectuais piauienses que se reflete no
surgimento de instituies como a Academia Piauiense de Letras, do Instituto Histrico
Antropolgico e Geogrfico Piauiense e o Cenculo Piauiense de Letras - CPL.
2.4.1. Institutos de Representao Literria
O corpus literrio produzido entre 1882 e 1922, assim como aquilo que se
anunciava em termos de produo para o futuro, contribuiu para ir formatando, entre os
intelectuais piauienses, a necessidade de se congregarem em um instituto enquanto instncia
especfica de seleo e consagrao intelectual, lugar
288
que desse suporte pesquisa e ao
discurso literrio. As associaes criadas at o incio do sculo XX tiveram pouco tempo de
durao e tinham carter muito abrangente. Em 1901, um grupo de intelectuais de
reconhecida influncia no ambiente literrio, se reuniu para discutir a criao de uma
Academia, contudo a concretizao desse ideal s aconteceu mais de uma dcada depois
quando foi criada a Academia Piauiense de Letras - APL.
Enquanto institutos de representao literria, as academias de letras estabelecem o
cnon, que alm das regras que orientam o fazer literrio, determina o conjunto de obras e
autores fundadores do sistema literrio, estabelecendo-se desse modo uma tradio contnua
de estilos, temas, formas e preocupao.
289
Os patronos escolhidos por cada acadmico ao
ingressar na academia, representam essa linhagem literria, essa tradio, apresentam-se como
guias; suas obras aparecem como modelo literrio. interessante um olhar sobre a tradio
literria piauiense, segundo os fundadores da APL.
288
Michel de CERTEAU (1994, p.221-243) ajuda na reflexo acerca da importncia do lugar que potencializa o
sujeito, com sua concepo de lugar social; cf. ainda SCHWARC, 1993, p.65.
289
CANDIDO, 1997, p. 24-25.
118
Quadro 08 - Patronos da Academia Piauiense de Letras e sua obra literria
Cadeira Patrono Obras
01
J os Manoel de Freitas Formado pela Faculdade de Direito do Recife, escreveu
poesias de temtica sertaneja publicadas nos jornais em
circulao no Recife. Entre outras obras de carter
pragmtico publicou ndice da Legislao Brasileira.
02
Hermnio de C. Castelo
Branco
Autodidata, escreveu poesias de temtica sertaneja,
algumas reunidas e publicadas em Ecos do Corao ou
Lira Sertaneja.
03
J oaquim Sampaio Castelo
Branco
Formado em Teologia, Doutor em direito cannico,
respectivamente, estudou em Paris e Roma. Intensa
atividade cultural no Maranho, escrevendo regularmente
nos jornais da poca. Publicou O padre deve ser casado?
04
David Moreira Caldas Autodidata. J ornalista, poltico e poeta, no tm livros
publicados.
05
Areolino de Abreu Formado em medicina, Salvador, Bahia. Mdico e poltico
publicou trabalhos na rea mdica. Entre suas obras,
Discursos, livro pstumo.
06
Teodoro de C. Castelo
Branco
Autodidata. Escreveu poesias de temtica sertaneja,
algumas reunidas e publicadas em A Harpa do Caador.
07
Ansio Auto de Abreu Formado pela Faculdade de Direito do Recife. Poeta lrico
com incurso na poesia de temtica social, abolicionismo.
Obra potica dispersa nos jornais de Teresina. Publico
Trs Liras em parceria com J oaquim Ribeiro Gonalves
e Antonio Rubim.
08
J os C. de Sousa Lima Formado pela Faculdade de Direito do Recife. Contista e
poeta escreveu poesia de temtica sertaneja e lrica. Livro
pstumo Impresses e Gemidos.
09
Alcides Freitas Formado em medicina, Salvador, Bahia. Poeta lrico, em
parceria com o irmo Lucdio Freitas publicou
Alexandrinos.
10 Licurgo de Paiva Autodidata. Jornalista e poeta, publicou Flores da noite.
11
J oo Alfredo de Freitas Formado pela Faculdade de Direito do Recife. Polgrafo,
publicou pesquisa na rea da cincias da natureza; contista
publicou Contetos (contos); na rea do folclore,
publicou Lendas e superstio do norte do Brasil;
trabalhou com tradues.
12
Antnio Coelho Rodrigues Formado pela Faculdade de Direito do Recife. Extensa
publicao na rea jurdica, alm de discursos que proferiu
como poltico.
13
J oaquim Ribeiro Gonalves Formado pela Faculdade de Direito do Recife, poeta lrico
e abolicionista. Publicou os seguintes livros de poesia:
Trs Liras, Vislumbres, Rimas, Emancipao,
Mrtires da vitoria.
14
Raimundo Alves da
Fonseca
Padre. Estudou no seminrio de So Luis (MA). Intensa
vida cultural no Maranho como jornalista, professor e
orador sacro. No publicou livros. Um dos editores da
Seleta Nacional (antologia, crtica literria e estudos
sociais).
15
Antnio B. L. Castelo
Branco
Formado pela Faculdade de Direito do Recife. Publicao
na rea jurdica.
16
Taumaturgo Sotero Vaz Formado pela Faculdade de Direito do Recife. Intensa vida
cultural em Manaus, publicou Cantigas do Brasil e F,
119
Esperana e Caridade; autor de revistas teatrais, a
exemplo de Patureba e O trouxa.
17
Raimundo de Ara Leo Formado em medicina, Salvador, Bahia. Publicao na
rea mdica; poeta lrico e satrico tem publicado um livro
pstumo, . Poesias.
18
Marques de Paranagu Formado pela Faculdade de Direito de Olinda. Obra
ecltica, publicao na rea jurdica e poltica.
19
Antonio Jos Sampaio Bacharel em letras por Weisthertur, engenheiro industrial
Escola Politcnica Federal da Sua, doutor em cincias
fsicas e naturais pela Universidade de Zurique. Publicao
na rea das cincias aplicadas.
20
lvaro de A. O. Mendes Formado pela Faculdade de Direito do Recife, atuao na
imprensa peridica, no tem livros publicados.
21
Leopoldo Damasceno
Ferreira
Doutor em direito cannico, Paris. Orador sacro, jornalista
com intensa vida cultural no Maranho. Publicou
Biografia do dr. Jos da Silva Maia.
22
Miguel de S. B. L. Castelo
Branco
Sem dado sobre escolaridade. Intelectual que se destacou
em Teresina, em meados do sculo XIX. Foi poltico,
jornalista, editor e professor. Entre outras obras publicou
Apontamentos biogrficos de alguns piauienses ilustres.
23
Lucdio Freitas Formado em Direito no Rio de J aneiro. Poeta lrico,
publicou Alexandrinos, Vida Obscura, Minha Terra,
livros de poesia. Na Revista da APL escreveu Histria da
poesia piauiense.
24
J onas de Morais Correia Sem dado sobre escolaridade. Intelectual parnaibano,
publicou A exportao do sal piauiense.
25
Gabriel Luiz Ferreira Formado em Direito pela Faculdade do Recife. Poeta
lrico, com trabalhos dispersos pelos jornais de sua poca.
Publicou ndice alfabtico das leis provinciais do Piau".
26
S. Coelho de Resende Formado em Direito pela Faculdade do Recife. J ornalista e
poltico, publicao na rea jurdica.
27
Honrio P. Parentes Formado em medicina, Salvador, Bahia. Mdico e
pesquisador, publicao na rea mdica. Atuou no
jornalismo.
28
Lusa Amlia de Queirs
Brando
Poetisa lrica, publicou Flores Incultas. Obra potica
dispersa pelos jornais que circularam em Teresina.
29
Gregrio Taumaturgo de
Azevedo
Engenheiro militar, formado em Direito pela Faculdade do
Recife e bacharel em matemtica e cincias fsicas. Entre
suas obras O Acre e Limites do Brasil.
30
Deolindo Mendes da S.
Moura
Formado em Direito pela Faculdade do Recife. Poltico e
jornalista, no tem livros publicados.
Fonte: SANTOS, 1994; BASTOS, 1994; ADRIO NETO, 1995.
Observando o conjunto dos patronos, com exceo do Marqus de Paranagu e
Antnio Castelo Branco, os demais integram as duas primeiras geraes de intelectuais que
residiram em Teresina entre 1852 e 1922. Os fundadores da APL se consideravam herdeiros
literrios dos literatos piauienses a partir dessas duas geraes.
Para as primeiras dcadas do sculo XX, a presena de Lusa Amlia de Queirs
Brando e de Amlia de Freitas Bevilqua se constitui em fato inusitado na histria das
120
academias de letras do Brasil. Reafirma o que vem se configurando ao longo desse captulo, o
papel ativo que as mulheres piauienses exerceram no ambiente literrio, como jornalistas,
ficcionistas, oradoras e, em especial, leitoras.
Entre os contemplados com o patronato, intelectuais portadores de diploma de curso
superior e tambm autodidatas, entre os ltimos, alguns dominavam muito bem os contedos
de disciplinas como Histria, Geografia e Literatura, alm de dominar lnguas estrangeiras.
Em contato com pessoas de reconhecido prestgio intelectual, a todos encantavam com sua
ilustrao. Alguns so apontados como pobres
290
, contudo a pobreza no foi empecilho vida
intelectual de sucesso. O emprego no servio da administrao da provncia ou estado, em
parte, resolveu a questo. Foi assim com David Caldas e Licurgo de Paiva, at quando
comungaram com os padres de comportamento da poca; tambm com Celso Pinheiro,
intelectual conformado com os padres valorizados por seus pares.
Chama ateno o conjunto da obra dos patronos, muito embora se tenha feito recorte
da obra de cada um, o que se revela um conjunto de obras ecltico. Na rea da fico
domina a poesia, tendo em vista que quase todos os intelectuais entre 1852 e 1952,
escreveram poesias
291
. Fora da fico, muitos estudos - na rea jurdica, das cincias aplicadas
e sociais -, tambm, discursos, relatrios, escritos pessoais diversos. Como parte do cnon
literrio, denota uma viso de literatura muito abrangente.
Alguns patronos no chegaram a publicar livros, foram contemplados com o
patronato apenas pela atuao na imprensa peridica. Parcela da obra dos patronos se inclui
na sua rea de atuao profissional ou foi produzida ainda no contexto da escolaridade do
autor, com pouqussima relevncia do ponto de vista da arte e do conhecimento e quase
nenhuma relao com a sociedade piauiense. Nesses casos, o patronato aparece como um
elemento de distino social, no por mrito literrio ou contribuio ao conhecimento.
A histria da Academia Piauiense de Letras, de sua fundao em 1917 at 1952, a
de um sodalcio elitista, fechado, de pouca penetrao na sociedade. Afigura-se como mais
290
Essa questo merece estudo parte, descontada a pobreza material do prprio meio, a maioria dos intelectuais
piauienses, entre 1850 e 1950 teve uma vida de relativo sucesso. Quase todos oriundos de famlias rurais com
alguma posse, no faltou o bsico para uma vida digna: local para morar e trabalho de onde retirar o sustento
para a famlia. O emprego pblico foi o caminho para o sucesso profissional, como funcionrios pblicos de alto
escalo, como professores e como magistrados. possvel encontr-los em cargos de representao como
deputados, senadores, vereadores e governadores. Outros literatos atuaram na iniciativa privada como guarda-
livros, contadores, vendedores, jornalistas. Observa-se que, fora do Piau, os literatos piauienses frequentaram os
crculos literrios e sociais mais refinados, a exemplo da famlia de J os Manoel de Freitas em Pernambuco. No
Rio de J aneiro salta aos olhos o sucesso de Flix Pacheco, J oo Cabral e Cristino Castelo Branco. Os exemplos
podem se multiplicar, como se depreende das fontes consultadas. Da Costa e Silva, foi alto funcionrio do
Ministrio da Fazenda, com estabilidade garantida para criar seis filhos, de dois respeitveis casamentos.
291
AIRES, 1972.
121
um lugar na intrincada rede de poder estabelecida pela elite. Na sociedade rurcola, de maioria
iletrada, cada acadmico, como portador de capital intelectual, distingue-se do restante dos
seus conterrneos, cobrando tributo em honrarias.
O perodo da criao da APL seu prprio fastgio. Na reunio preparatria para a
oficializao da academia, em dezembro de 1917, estavam reunidos Lucdio Freitas, J oo
Pinheiro, Antnio Chaves, Higino Cunha, Clodoaldo Freitas, Fenelon Ferreira Castelo
Branco, J natas Batista, Edison da Paz Cunha, Benedito Aurlio de Freitas e Celso Pinheiro.
Foi apresentado um projeto de estatuto, elaborado por Lucdio Freitas, J oo Pinheiro e
Antnio Chaves, que depois de lido foi aprovado. Elegeram a primeira diretoria e
estabeleceram a data de 24 de janeiro de 1918, para a solenidade de inaugurao do instituto.
Nas dcadas seguintes, suas atividades se resumiram s reunies ordinrias que, na
falta de sede prpria, aconteciam na residncia dos acadmicos e as reunies solenes em
espaos pblicos, como o salo nobre do Pao Municipal. As reunies de recepo dos novos
scios eram disputadas pelo high-life, quase sempre contavam com a presena do
governador do estado e do bispo diocesano, entre outras autoridades.
No inicio da dcada de 1940, segundo fala do seu presidente, Higino Cunha, a APL
estava acometida pela paralisia. Tinham opinio semelhante, dois dos mais eminentes
acadmicos, J oo Pinheiro e Arimata Tito
292
. Presume-se que a composio do quadro de
scios criou situaes que dificultaram o desenvolvimento da Academia.
Na reunio de dezembro de 1917, o grupo de scios fundadores indicou os nomes de
Amlia de Freitas Bevilqua, J os Flix Alves Pacheco, Raimundo Antnio Francisco da
Costa e Silva, Zito Batista, Luiz Mendes Ribeiro Gonalves e Abdias da Costa Neves para
scios efetivos. Somando os dez scios fundadores e os seis indicados, mais de 50% das
vagas estabelecidas no estatuto j estavam preenchidas. Olhando o quadro de composio dos
scios efetivos, observa-se que trs dos indicados tinham domiclio fora do Piau, os outros
transitavam entre o Piau, Rio de J aneiro e So Paulo. Abdias Neves e Lus Mendes
desenvolviam entre outras atividades, a de representantes do Piau no Congresso Nacional
293
.
As vagas restantes foram preenchidas por J oo Cabral, J oaquim Ribeiro
294
, Armando
Madeira Brando, Lus de Moraes Correia, J onas Fontenele da Silva, Benedito Francisco
Nogueira Tapeti, Odilo Costa, Matias Olmpio, Pedro Brito, Simplcio Mendes, Benjamin
Batista, Elias de Oliveira e Silva, Arimata Tito e Antnio Bona. Dessa relao, os seis
292
PINHEIRO, 1940; Revista da APL, 1943.
293
Revista da APL, 1945.
294
Morreu em 1919, antes de tomar posse, passou a patrono da cadeira.
122
primeiros scios residiam fora de Teresina, J oaquim Ribeiro faleceu antes da posse e passou a
patrono da cadeira. No total de cinqenta acadmicos admitidos entre 1917 e 1952, nove
tinham domiclio fora do Piau; nove transitavam entre o Piau e outros estados da federao
e, de passagem por Teresina, estavam divididos entre as questes pessoais ou poltico
partidrias, restando pouco tempo para a Academia; seis moravam em outras cidades do Piau,
destacando-se Parnaba.
Pela sobrecarga de atividades, os acadmicos residentes em Teresina, colocavam a
Academia no final do rol de suas prioridades. Por exemplo, o septuagenrio Higino Cunha,
entre 1919 e 1940, presidiu a APL e o Instituto Histrico Antropolgico e Geogrfico
Piauiense - IHAGP e ainda participava da comisso de redao da revista dos dois institutos,
alm de escrever artigos para as mesmas
295
. Observa-se que nesse mesmo perodo, escrevia
regularmente para vrios jornais. Advogado no exerccio da profisso, tambm pertencia ao
quadro de professores do Liceu Piauiense, Escola Normal e Faculdade de Direito. Outro
acadmico, Cromwell de Carvalho, foi secretrio de governo, presidente do Tribunal de
J ustia e diretor da Faculdade de Direito e acumulava algumas dessas funes. Alm de
dirigir a Faculdade de Direito por mais de duas dcadas, compunha tambm o seu quadro de
professores.
Tambm contribuiu para a inconstncia das atividades acadmicas o
desaparecimento natural dos scios da Academia, em mdia, uma morte a cada ano, no
perodo de 1917 a 1952, o que desencadeou um longo processo de vacncia/ocupao das
cadeiras, que se inclinou estabilizao, para o final da dcada de 1940. Na dcada de 1920,
faleceram Lucdio Freitas, Clodoaldo Freitas, Fenelon Castelo Branco, Zito Batista, Antnio
Ribeiro Gonalves e Abdias Neves; na dcada de 1930, J natas Batista, Lus Correia, Flix
Pacheco, Baurlio Mangabeira (Benedito Aurlio de Freitas), Antnio Chaves e Cirilo
Carneviva; na dcada de 1940, Benjamin Batista, Higino Cunha, J oo Pinheiro, J oo Cabral,
Amlia de Freitas Bevilqua, J onas Silva, J os Pires de Lima Rebelo, J os Pires Rebelo,
Gonalo Castro Cavalcante e Esmaragdo de Freitas. Como se observa, nas trs dcadas aps a
criao da APL, seu quadro de scios efetivos foi renovado em mais de 50%.
As vagas da Academia eram muito disputadas gerando tenses entre os proponentes
e os scios votantes. curioso como algumas figuras de reconhecido prestgio intelectual
ficaram fora da Academia, a exemplo de Antonino Freire, Eudxio Neves e Ansio Brito. No
295
BASTOS, 1994; Revista da APL, 1939.
123
obstante o quadro de dificuldades a APL se afirmava como principal instituto de
representao literria do Piau.
Um episdio em especial merece meno, uma vez que permite visualizar a
independncia da Academia em relao as suas congneres e a fora do instituto como
representante de uma comunidade de intelectuais. Amlia de Freitas Bevilqua pertencia ao
quadro de imortais da APL desde 1917, embora no tivesse assumido a cadeira para a qual
fora eleita. Na dcada de 1930, quando sua proposta de admisso Academia Brasileira de
Letras foi recusada, a proponente decidiu oficialmente assumir sua cadeira na APL. Na
solenidade de recepo, Cristino Castelo Branco discursava.
A vossa presena nessa casa constitui, at hoje, o maior acontecimento desta
academia. Obreiros humildes e obscuros do pensamento e das letras, neste recanto
esquecido e longnquo do mundo, para ns honra insigne acolher em nossa
companhia a figura excelsa e respeitvel da mulher ilustre, que l na grande
metrpole brasileira, enaltece e sublima o nome piauiense entre os expoentes
mximos da cultura e da civilizao nacionais. [...] A festa vossa, e no minha. Os
aplausos, os louvores, so para vs e no para mim. A alegria que enche o ambiente
desta sala vem de vs, da vossa presena, tudo aqui reflete o prazer de vos ver, de
vos ouvir, de vos homenagear. Sou apenas, neste instante, uma espcie de proco de
aldeia, celebrando no altar de vossa inteligncia.
296
Amlia de Freitas Bevilqua descendia de uma das famlias mais tradicionais no
cenrio social e literrio piauiense. Parente prxima de Clodoaldo Freitas, um dos fundadores
da Academia e seu primeiro presidente, era filha de J os Manoel de Freitas e o irm de J oo
Alfredo de Freitas, respectivamente patronos das cadeiras n.1 e n.11 da APL. Longe do
discurso louvaminheiro, a recepo era um ato de desagravo, como se infere da fala do
recepcionista, desde os albores de nossa instituio, foste contemplada entre os nossos para
orgulho nosso e conclua:
No podamos compreender uma Academia Piauiense de Letras, sem que no quadro
dos nossos conscios figurasse o vosso nome [...] Nesse ponto, divergimos
profundamente do nosso paradigma, a Academia Brasileira, que iluminada pela
glria dos seus pr-homens, cerra egoisticamente as suas portas ao valor feminino,
como se o esplendor mental e o mrito literrio fossem neste pas de mulheres
inteligentes, apangio dos homens.
297
A APL saiu do episdio fortalecida, indiscutivelmente, representava uma
comunidade, a piauiense, e um sistema literrio com cnone definido e um grupo de escritores
e leitores, ainda que restrito aos grupos sociais dominantes.
296
Revista da APL, dez. 1936, APL.
297
Revista da APL, dez. 1936, APL.
124
No final da dcada de 1940, um grupo de acadmicos manifestava sua insatisfao
para com o quadro de paralisia. A reforma dos estatutos e a candidatura de lvaro Alves
Ferreira e Maria Izabel Gonalves de Vilhena proporcionaram um clima para que o grupo dos
insatisfeitos tomasse de assalto presidncia
298
. Numa reunio, onde reinou a anarquia e o
tumulto, aberrao das boas normas da convivncia social, num pandemnio infernal,
Martins Napoleo, Celso Pinheiro, Matias Olmpio, Arimata Tito, Mrio J os Batista, Pedro
Brito e J lio Martins Vieira, puseram fim ao longo perodo de Higino Cunha frente da APL,
elegendo Martins Napoleo como seu sucessor.
O Instituo Histrico Antropolgico e Geogrfico Piauiense - IHAGP foi outra
instituio cultural do perodo muito disputado pela intelectualidade piauiense, sua criao em
1918, atendeu uma demanda de meados do sculo XIX, quando da fundao do Instituto
Histrico e Geogrfico Brasileiro IHGB. O plano era instalar associaes congneres em
cada provncia do Imprio
299
. Ao contrrio do que fora planejado, a maioria s foi instalada
no sculo XX, a exemplo dos institutos do Amazonas (1917), Esprito Santo (1916), Minas
Gerais (1907), Par (1917), Paraba (1905), Rio Grande do Norte (1902), Rio Grande do Sul
(1920) e Sergipe (1912)
300
. A criao do IHAGP tambm visava atender demanda por
associaes que congregassem os intelectuais locais.
A presena de Antnio Carlos Simes da Silva, vice-presidente do IHGB e
presidente do Instituto Histrico e Geogrfico Fluminense, na solenidade de instalao do
IHAGP, demonstra a atualidade do que fora planejado e o quanto essas instituies ainda
representavam no cenrio cultural. Atravs das revistas editadas pelo IHAGP, possvel
acompanhar sua trajetria, que se divide em fase de ouro (19181928), decadncia (1928
1971) e ressurgimento (1972-1974)
301
. Segundo o estatuto, o Instituto possui associados
efetivos, benemritos, honorrios, correspondentes e protetores. Segundo o cadastro social de
1920 e 1922, constante nas revistas do rgo, possvel observar a quantidade de associados
em cada categoria. No h informaes para o perodo entre 1928 e 1952, quando a
associao viveu um perodo de paralisia de suas atividades. Observa-se que corresponde ao
mesmo perodo de paralisao da APL, o que leva a crer que a fundao desses institutos
visava apenas consagrao pessoal. comum no texto biogrfico dos piauienses que
298
Uma verso desse episdio foi apresentada por PINHEIRO (1940), integrante do grupo ligado presidncia de
Higino Cunha.
299
GUIMARAES, 1995, p.539.
300
COUTINHO, SOUZA, 2001.
301
A proposta de fases se encontra na Revista do IHAGP dez. 1974, APPI. Cf., tambm, ADRIO NETO, 1995,
p. 247. Na dcada de 1980 o Instituto passou a viver nova fase de paralisia de atividades.
125
integravam o ambiente literrio, nesse perodo, a extensa relao de sociedades as quais
pertenceram, o que indica uma forma de distino.
A literatura sobre os institutos histricos indica que seus associados pertenciam aos
grupos sociais mais elevados, alm de compor os segmentos sociais letrados e envolvidos
com a poltica. o que se examina em seguida em relao ao Piau. Assinaram o estatuto
como scios fundadores do IHAGP, Higino Cunha, Fenelon Ferreira Castelo Branco, J oo
Pinheiro, Clodoaldo Freitas, Benjamin de Moura Batista, Simplcio de Sousa Mendes, Lus
Mendes Ribeiro Gonalves, Heitor Castelo Branco, todos membros efetivos da Academia
Piauiense de Letras, ainda, Valdivino Tito de Oliveira, Antonino Freire da Silva, Eurpedes
Clementino de Aguiar, Ansio Brito de Melo, J ulio Lustosa, Antnio Celestino Franco de S
Filho, J ustino Augusto da Silva Moura, Artur Furtado de Albuquerque Cavalcante e Srgio
Moiss Tajra, destacadas figuras do cenrio social e cultural piauiense, entretanto, nenhum
com vnculo acadmico. Em 1920, foram admitidos como scios do IHAGP, o cnego Ccero
Portela Nunes, Elias Firmino de Souza Martins, Francisco Brando J nior e Francisco Portela
Parentes
302
.
Observa-se pela composio do quadro de associados do IHAGP, entre 1918 e 1920,
algumas dificuldades no sentido de atender demanda de congregar os intelectuais fora da
Academia. O regimento estabelecia trinta vagas para scios efetivos, cujo requisito bsico era
a apresentao de uma memria de sua lavra, reconhecida como valiosa em parecer da
[comisso de admisso] e [que] trate das matrias almejadas pelo Instituto.
Membros da Academia se apressaram em ocupar espaos no novo sodalcio, oito
vagas das trinta regimentais, foram ocupadas por membros da APL. Higino Cunha, Fenelon
Ferreira Castelo Branco, J oo Pinheiro, Clodoaldo Freitas, alm de acadmicos e membros do
IHAGP, ocuparam cargos na diretoria do rgo. Foram acomodados intelectuais renomados
como Valdivino Tito, Antonino Freire, Ansio Brito, cnego Ccero Portela, Elias Martins e
Francisco Portela Parentes, consagrados pesquisadores, com livros publicados. Quase todos
os scios atuavam no magistrio e escreviam para jornais e revistas sobre os mais variados
temas, em diferentes reas do conhecimento.
As demais vagas foram preenchidas por um grupo de estrelas de menor brilho no
ambiente cultural. Observa-se que at 1922 havia vagas no preenchidas, fato estranho,
quando muitos intelectuais estavam aptos a ocupar essas vagas e considervel era nmero de
estudos publicados sobre a sociedade piauiense, inclusive do ponto de vista histrico e
302
Revista do IHAGP, 1920, APPI.
126
geogrfico, Presume-se que, igualmente APL, o IHAGP manteve rigoroso critrio de
seleo de seus associados, que extrapolou o estabelecido no estatuto, para incluir fatores de
ordem social e poltica.
As mulheres se fizeram presentes no quadro do Instituto, a maioria na categoria de
scio protetor, a exemplo de: Amlia de Freitas Bevilqua, que presenteou a biblioteca do
Instituo com obras de sua autoria; Firmina Sobreira Cardoso, maranhense radicada em
Teresina, musicista muito popular pela autoria do Hino do Piau e, em especial, pela sua
atuao no magistrio; Francisca de S Vianna Montenegro, poetisa e professora parnaibana;
Da Pinheiro, Llia de Moraes Avellino, Alice de Ara Leo Castelo Branco, Ester Couto,
J osepha Ferraz e Purcina Ribeiro Fonseca, sobre as quais no se encontraram informaes. Na
relao de scios correspondentes aparece o nome de Miss. Adela Breton, residente nos
Estados Unidos.
O Instituto funcionava atravs de cinco comisses: Admisso de Scios, Redao da
Revista, Aquisio de Documentos, Estudos Americanistas e Estudos de Limites do Estado.
Observamos o trabalho da Comisso de Redao da Revista do IHAGP atravs da primeira
e segunda edio que esto dentro do marco cronolgico desse trabalho. Clodoaldo Freitas,
Fenelon Castelo Branco e J oo Pinheiro formavam a comisso responsvel pela primeira
edio da revista datada de 1920. A se encontra estudo sobre o rio Parnaba, elaborado pelo
engenheiro Gustavo Luiz Guilherme Dodt, na dcada de 1880; catlogo de sesmarias
concedidas no Piau e registradas nos livros da Diretoria de Agricultura, Terras, Viao e
Obras Pblicas, organizado por Antonino Freire. Colaboraram ainda: Ansio Brito com dois
artigos, A quem pertence a prioridade histrica do descobrimento do Piau?, Adeso do
Piau Confederao do Equador; Abdias Neves, O cerco de Oeiras em 1845; Padre
Ccero Nunes, Notas sobre a religio no Piau; F. A. Brando J nior, A lagoa da
pimenteira; F. Parentes, Ensaios sobre as entradas no Piau; Elias Martins, Operrio da
Boa Vinha: esboo biogrfico do cnego Acylino Batista Portella Ferreira 1853-1917;
Fenelon Castelo Branco, Cidade de Floriano; J os Correa Rabelo, As sete cidades do
Piau; Benjamin Batista, A mudana da capital; Antonino Freire, Minerais no Piau e
mais dois artigos cujos autores assinaram com as iniciais F. C., Contribuies para a histria
do Piau: documentos a consultar e P.C., Comando das armas do Piau.
A comisso organizadora da segunda edio, datada de 1922, homenagem ao
centenrio da independncia do Brasil, estava composta por Ansio Brito, Fenelon Castelo
Branco e J oo Pinheiro. Assinaram artigos: Higino Cunha, A independncia do Brasil e O
127
teatro em Teresina; Ansio Brito, A independncia do Piau e Os Balaios no Piau;
Clodoaldo Freitas, A mudana da capital; Fenelon Castelo Branco, Sntese da histria
administrativa e jurdica do Piau; J . M. Guimares, Notas sobre Amarante; Manoel
Raimundo da Paz Filho, Congresso sobre as municipalidades; Hugo Victor, Sesmarias
Piauienses; Alfredo de Carvalho, Atravs do Piau, artigo sobre a passagem dos viajantes
Spix e Martius pelo territrio piauiense.
A histria da Revista do IHAGP aponta para a irregularidade das edies, pois
foram publicados apenas dois nmeros entre 1920 e 1952, os demais foram publicados nas
respectivas datas, 1972, 1974 (dois nmeros) e 1975. Como as demais revistas desse tipo,
publicou textos de natureza variada: conferncias, notas de aula, discursos, informativos,
relatrios, catlogos, biografias, pesquisa documental. A figura de Ansio Brito se destaca
dentro do Instituto, ele monopolizou as duas primeiras edies da revista, publicando dois
artigos em cada uma
303
, alm de compor a comisso de redao da segunda edio. Na
diretoria eleita para o ano social de 1922-1923 ocupou o cargo de segundo secretario.
Segundo as fontes consultadas, Ansio Brito apresentado como diretor do IHAGP, contudo
no ficou especificado o perodo. Presume-se que foi depois de 1923, pois Higino Cunha foi
diretor da instituio de 1918 a 1923 e nas dcadas de 1930 e 1940
304
.
Ansio Brito um dos intelectuais mais respeitados da primeira metade do sculo
XX. Formado em odontologia, dedicou-se pesquisa histrica e ao magistrio. Foi diretor da
Instruo Pblica e da Biblioteca, Museu e Arquivo do Piau, nesse cargo foi gestor do maior
centro documental do Piau, o que lhe permitiu maior intimidade com a documentao
histrica. Desse contato, nasceu sua paixo pela pesquisa histrica. Sua obra se encontra
dispersa em jornais e revista da poca. curioso o fato de Ansio Brito no escrever para a
Revista da APL, nem ter ocupado uma de suas cadeiras.
A criao da Comisso de Estudos de Limites do Estado demonstra a pretenso de
membros do Instituto de intervir em questes limtrofes do Piau, por essa poca ainda no
estavam definidas. Antonino Freire e Luiz Mendes Ribeiro Gonalves, intelectuais e polticos,
engenheiros por formao, membros da referida comisso, transformaram-na em frum de
debates. Antes mesmo da criao do Instituto, Antonino Freire publicou Limites entre os
Estados do Piau e Maranho. Em 1921, publicou Limites do Piau, resultado do
permanente dilogo desenvolvido no interior da referida comisso. Em 1919, circulou em
Teresina a obra Limites do Maranho com o Piau com a Questo de Tutia, de J os
303
Revista do IHAGP, APPI.
304
Revista da APL, out. 1939, APPI; ADRIO NETO, 1995, p. 160.
128
Ribeiro do Amaral
305
, o que demonstra tambm preocupao dos intelectuais dos estados
vizinhos com a questo.
A histria do IHAGP entre 1928 e 1952 de uma crise profunda.
Coincidentemente, corresponde ao mesmo perodo de crise da APL, decnios de 1930 e 1940,
quando Higino Cunha presidiu as duas instituies. O que se observa que a APL, apesar das
dificuldades, consolidou sua posio no cenrio cultural, conseguindo editar sua revista e
realizar as reunies ordinrias com regularidade. Promoveu saraus literrios abertos ao
pblico, uma forma de divulgar a instituio. Alm disso, a Academia destruiu as bases do
Instituto, ao incorporar parte fundamental do seu papel, o de pesquisar e difundir
conhecimento de histria e geografia do Piau, como se observa na primeira edio da
Revista da APL.
[Tanto o estatuto da APL como a primeira edio da Revista da APL,
especificavam que entre seus objetivos estava] difundir o gosto das boas letras e dos
estudos de histria e de geografia do Piau, de que tanto carecemos. O nosso olvido
pelas cousas piauienses concorre para que sejamos esquecidos dentro do pas, de
forma que os gegrafos e historiadores cometem os erros mais grosseiros sempre
que se referem a nossa terra, to pouco amada de seus filhos
306
.
As duas instituies foram as mais importantes no cenrio cultural piauiense at os
anos de 1970, quando os intelectuais das diversas regies do Estado iniciaram um processo de
criao de institutos regionais
307
.
O Cenculo Piauiense de Letras - CPL
308
, outro importante instituto de representao
literria do perodo, foi instalado em 1927, por iniciativa de um grupo de intelectuais, ligados
ao jornal O Lbaro, semanrio literrio, que circulou em Teresina entre 1926 e 1929.
Reformado o estatuto em 1929, ficou registrado que o fim do CPL era promover o
alevantamento e unidade da mocidade intelectual piauiense. Estabelecia trinta vagas para
scios efetivos e para scios correspondentes tantas quantas forem os valores intelectuais
piauienses moos dispersos no Estado ou no Pas. Entre os critrios para concorrer a uma
vaga ficou estabelecido: naturalidade piauiense, idade acima de 18 anos, ficha criminal limpa,
305
O autor foi citado no Dicionrio Biogrfico Escritores Piauienses de todos os tempos, ADRIO NETO, 1995,
p. 23; no consta como membro da APL nem do IHAGP.
306
Revista da APL, jun. 1918, APPI.
307
Essa tendncia localista no um fenmeno novo no cenrio intelectual piauiense, ao longo do sculo XX, h
notcias sobre a criao grmios literrias no interior do Estado, associando jovens inquietos e vidos de leitura,
que tambm produziam seus primeiros escritos. Havia uma articulao entre esses jovens de diferentes partes do
Piau, em especial dos principais centros urbanos como Parnaba, Campo Maior, Amarante, Floriano e Oeiras.
ADRIO NETO (1995, p. 360) registrou a criao do Grmio Literrio Amarantino, na cidade de Amarante, em
1904.
308
MELLO, 1992, p.11-27; NASCIMENTO, 1988, p.227-297; ADRIO NETO, 1995, p.346-347; BASTOS, 1994,
p.126-127.
129
capacidade moral e, antes de qualquer outra exigncia, ter produzido e publicado trabalhos de
reconhecido mrito ou valor literrio em qualquer dos gneros da literatura.
O quadro de associados efetivos, ano de 1932, estava assim composto.
Quadro 09 - Scios efetivos do Cenculo Piauiense de Letras e respectivos patronos
Scios efetivos Patronos
J os Severiano da Costa Andrade (1906-?) Padre Cirilo Chaves
Lus Torres Raposo (1898-1930)
309
Higino Cunha
J lio A Martins Vieira (1905-1984, scio fundador) J oo Pinheiro
Wagner Cavalcante (1912-?) Cromwell de Carvalho
Souza Lima Machado (sem dados) Edison Cunha
Osris Neves de Melo (1905-1964, scio fundador) Antonio Chaves
A. Veras de Holanda (1903-1942, scio fundador) Pedro Borges
Iara Neves Borges de Melo (sem dados) J natas Batista
A. Martins Castelo Branco (1911-?, scio fundador) Celso Pinheiro
R. Moura Rego (1911-1988) Benedito Aurlio de Freitas
A. Bugyja de S. Brito (1907-1992 scio fundador) Pedro Brito
Felismino de Freitas Weser (1895-1984) Cristino Castelo Branco
Oliveira e Ferres (1902-1939) Lus Mendes Ribeiro Gonalves
J esus A de Medeiros (1906-? scio fundador) Matias Olmpio
Vaga Simplcio Mendes
Raimundo Sobreira Cardoso (1908-? scio fundador) Benjamin Batista
Eudxio da C Neves (1879-1933, scio fundador) Lus Correia
lvaro A Ferreira (1893-1963) Odilo Costa
Antnio Neves de Melo (1903-1945) Abdias Neves
Alberto Abreu (sem dados) Flix Pacheco
Slvio Carvalho
310
Gaudncio Carvalho (sem dados)
J oo Cabral
Ribeiro Gonalves
Francisco da Cunha e Silva (1905-1990)
J lia Gomes Ferreira (sem dados) Amlia Bevilqua
J oo Santos de Sousa (1903-?) Elias Oliveira
Borges Barros (sem dados) Armando Madeira
Durvalino Couto (1909-1979) Pires Rebelo
Inocncio Machado Coelho (1907-? scio fundador) J onas da Silva
Antnio de Pdua Rezende (1908-1944) Arimata Tito
Vaga Antnio Bona
Fonte: A Revista, 1932, Hemeroteca, APPI.
309
Falecido em 1930, foi substitudo por B. C. M de Melo.
310
Faleceu antes de tomar posse, no ficou registrado o substituto, nem dados de nascimento e morte.
130
Observa-se que os patronos so os scios efetivos da Academia Piauiense de Letras,
clara demonstrao de que a agremiao no pretendia romper com o cnon literrio
estabelecido, antes era mais uma forma de acomodar aqueles que ainda no tiveram
oportunidade de acender ao maior dos institutos de representao literria do Piau, a APL.
Posteriormente, Martins Vieira, Moura Rego, Bugyja Brito, Cunha e Silva, entre outros,
tiveram assento na Academia. Nota-se um apelo desde o estatuto da entidade, passando pelos
discursos de posse de seus associados, at os escritos dos colaboradores de A Revista, em
relacionar o CPL com a ala jovem da intelectualidade piauiense. No caso do patronato, os
jovens do CPL se sentiam diretamente influenciados e sob a proteo dos acadmicos.
A maioria do quadro de associados do CPL era composto de jovens entre dezenove e
vinte e cinco anos, cuja produo literria era mais latente do que manifesta, contudo,
intelectuais de reconhecido prestgio literrio e que se encontravam fora da APL, tambm
compuseram o quadro do instituto. A exemplo de: Eudxio Neves, lvaro Ferreira, Felismino
Weser e Torres Raposo, que na poca da criao da APL e do IHAGP, eram maiores de idade
e respeitados no ambiente literrio. Eudxio Neves, por exemplo, tinha uma vasta obra
potica dispersa pela imprensa peridica. estranho no constar seu nome entre os
fundadores ou entre os primeiros ocupantes das vagas na APL ou tambm entre os associados
do IHAGP. O fato refora a ideia da tenso que permeou o preenchimento de vagas nesse
instituto literrio
311
.
possvel perceber como a famlia Neves far desse sodalcio um espao de
construo de sua fama literria. Radicados nos municpios do norte do Piau, em especial
Piripiri e Teresina, fizeram parte do CPL, os irmos Osris Neves de Melo e Antnio Neves
de Melo, sobrinhos de Eudxio da Costa Neves e de Abdias da Costa Neves, pai de Iara
Neves, tambm membro do CPL. Pelo menos com o nome de famlia Melo, tem seu nome
ligado ao sodalcio, Antonio Flix de Melo e B.C.M de Melo, que no foram identificados.
Pelos discursos proferidos nas sesses e atravs das pginas de A Revista, peridico do
instituto, percebemos como Abdias da Costa Neves, irmo de Eudxio Neves, foi cultuado
como uma das inteligncias mais brilhantes da intelectualidade piauiense.
Na composio da primeira diretoria do CPL estava Antnio Neves como secretrio
e Antnio Flix de Melo como tesoureiro. Osris Neves integrava a comisso de redao de
311
necessrio lembrar o silncio em torno do nome de Leonardo Castelo Branco e de Francisco Gil Castelo
Branco. Polmica acerba, mais recente, deu-se em torno da candidatura de J . Miguel de Matos a APL, cf. SILVA
1970.
131
A Revista rgo de divulgao do instituto
312
. Em 1932, a diretoria estava assim composta:
Eudxio Neves, presidente; lvaro Ferreira, vice-presidente; Antnio Neves de Melo,
secretrio geral; Osris Neves de Melo primeiro secretrio; Veras de Holanda segundo
secretrio; Wagner Cavalcante, tesoureiro e J esus Medeiros, bibliotecrio.
A morte de Antnio Neves e Eudxio Neves, respectivamente em 1935 e 1933,
parece ter influenciado na decadncia das atividades do CPL, j que foram seus principais
articuladores. Em 1938 circulou Primeiros Versos, livro contendo dezesseis poesias da lavra
de Antnio Neves, publicado por seu pai Lino de Morais Rego e seu irmo Osris Neves. Uma
das poesias, Alma enferma, foi dedicada ao tio Eudxio. O prefcio do livro foi escrito
pelo amigo lvaro Ferreira, que considera o jornalista Antnio Neves mais genial do que o
poeta, contudo, para o crtico, o livro encerra estados e motivos de uma alma sonhadora e
tropicalmente excitada.
Na dcada de 1940, o CPL estava com suas atividades paralisadas, o que refora o
argumento de que fora criado como espao de consagrao de intelectuais da famlia Neves.
Como os outros institutos de representao literria, fundados em Teresina, o CPL facilitava e
saudava com entusiasmo a filiao de intelectuais residentes em outros municpios. Nesse
sentido, foram scios correspondentes do instituto em foco, Raimundo Petit (Parnaba),
Antnio da Costa Rosal e Acrsio Pereira Lopes (de Floriano), Possidnio Nunes de Queiroz
(Oeiras) e Messias Fontenele (Piracuruca). muito claro que, a partir das primeiras dcadas
do sculo XX, intelectuais residentes em diferentes municpios do estado passaram a ocupar
espao de destaque na vida intelectual da capital.
312
Na hemeroteca do APPI consta apenas o primeiro nmero, ano de 1932.
132
CAPTULO III REPRESENTAES IDENTITRIAS
313
NA PRODUO
LITERRIA PIAUIENSE
Para alcanar o objetivo traado para este captulo: entender a pertinncia existente
entre produo literria e representaes identitrias, procurou-se formular um panorama da
produo literria piauiense, atravs da apropriao de produtos literrios de trs geraes de
escritores que viveram em Teresina entre 1852 e 1952. Com o estudo foi possvel observar
que fatores que desfavoreciam uma cultura letrada, tais como a vida rurcola, a atividade
agropastoril e a ineficincia do sistema formal de ensino, no foram suficientes para impedir o
surgimento de intelectuais capazes de gerar um vistoso acervo composto por uma literatura de
fico, bem como por estudos diversos que tornam possvel a recomposio do palimpsesto
discursivo que foi dando significado ao Piau.
O que mais chama a ateno no referido acervo o esforo para suturar as
identidades e a existncia dos sujeitos presos terra, ao lugar, formatando uma regio e, em
seu lastro, uma piauiensidade fixa
314
. Esta piauiensidade, por sua vez, seria condicionada pela
vida do campo, pela relao dos sujeitos com uma natureza quase intocada, que precisava ser
protegida de qualquer contgio modernizante que a desagregasse e com as atividades rurais,
elementos que entram na tessitura das prprias subjetividades
315
.
Essa representao, elaborada e consolidada discursivamente ao longo da segunda
metade do sculo XIX, no Piau, encontrou na poesia de temtica sertaneja um dos principais
instrumentos de sua formulao e veiculao. Presume-se que esse estilo de poesia tenha
surgido a partir dos repentes travados pelos violeiros e trovadores que, em suas refregas,
retratavam positivamente figuras, usos e costumes da sociedade rurcola. Trata-se de uma
poesia singela, alegre, cantada com acompanhamento de instrumentos musicais, o que facilita
a sua assimilao por grupos no letrados, os quais constituem, no perodo, a maioria da
populao piauiense. Uma boa ilustrao daquilo que est sendo chamado de poesia de
temtica sertaneja aquela da lavra do poeta Z da Prata, um dos mais populares repentistas
piauienses do sculo XX.
313
Representao, nesse trabalho, est sendo utilizada no sentido atribudo por CHARTIER, 1991, segundo o qual a
representao o produto do resultado de uma prtica. A literatura, por exemplo, representao, porque o
produto de uma prtica simblica que se transforma em outras representaes.
314
Parmetro identitrio para os piauienses.
315
RABELO, 2005, p. 10.
133
J os Fernandes, meu nome,
Carvalho, paterna herana,
Da prata, por apelido,
Caboclo, por confiana.
Prata de lei no repente,
Est nisso o meu tesouro
Em muitas vezes a prata
Serve melhor que o ouro...
De Altos, sou altaneiro,
Minha terra predileta
No me faz viver a rogo...
Sou no trabalho o primeiro,
Pois com carta de poeta
No se pe panela ao fogo...
316
Embora fossem originalmente de domnio popular, os temas e rimas da poesia de
temtica sertaneja foram, a partir da segunda metade do sculo XIX, crescentemente sendo
incorporados por intelectuais letrados, a exemplo de J os Coriolano de Sousa Lima, J os
Manoel de Freitas e Hermnio Castelo Branco
317
.
Aos poetas citados acrescenta-se ainda o nome de Teodoro Castelo Branco, que no
deixou de registrar hbitos e costumes rurcolas. Sua apologia ao caador e ao ato de caar
oferece uma dimenso importante do viver do piauiense oitocentista. Teodoro tio de
Hermnio Castelo Branco, um dos mais visveis literatos piauienses no perodo em estudo.
Ambos, tio e sobrinho, publicariam livros de capital importncia para a histria do Piau, bem
como a compreenso da forma como segmentos da intelectualidade reagiam novidade e ao
progresso. Obras tais como A Harpa do Caador de Teodoro Castelo Branco e a Lira
Sertaneja, de Hermnio Castelo Branco, so exemplares tpicos daquilo que estamos
chamando de poesia de temtica sertaneja.
Fragmentos da obra desses poetas e mais o romance Ataliba, o vaqueiro, de
Francisco Gil Castelo Branco, sero apropriados por este estudo como um corpus literrio que
contribuiu significativamente para a construo de representaes identitrias do Piau na
segunda metade do sculo XIX
318
. No seu romance, Francisco Gil Castelo Branco procura
mostrar que tambm opera com poesia sertaneja. Em vrios trechos, a prosa cede espao para
316
AIRES, 1972, p. 61.
317
No conjunto literrio em anlise, so vrias as referncias sobre cantadores e violas, cf. COSTA, 1974;
CASTELO BRANCO, 1988. Informaes sobre poesia de temtica sertaneja, cf. CABRAL, 1938; FREITAS,
1998, especialmente a biografia de J os Manoel de Freitas e J os Coriolano de Sousa Lima.
318
Observa-se que o conto elaborado nesse perodo no se distancia da poesia de temtica sertaneja. Para ilustrar,
basta conferir os livros de contos que J oo Pinheiro publicou no perodo, fixando tipos piauienses. Contudo,
nosso recorte privilegiou a poesia de temtica sertaneja e o romance de Francisco Gil Castelo Branco.
134
a poesia, como se observa no excerto do canto entoado pela personagem Terezinha, o qual
transcrito a seguir:
So vivas as cores
das belas flores
do meu serto!
So vivas as dores
dos teus amores,
meu corao!
[...]
Corrente clara do meu ribeiro,
que vens de longe, da solido;
viste passando, o meu vaqueiro?
Oh! Diz... que sofre meu corao.
[...]
Nuvens douradas do cu brilhante
que a terra cobrem dos seus primores,
onde o vaqueiro, meu belo amante,
por quem, saudosa, soluo amores?
319
O trecho transcrito acima um dos que abrem o romance que, por sua vez, inaugura
a prosa regionalista, na medida em que antecede a um conjunto bibliogrfico chamado de
romance regional e do qual expoente a obra A bagaceira
320
, de J os Amrico de
Almeida. A poesia de temtica sertaneja aparece, tambm, na festa em que Ataliba se torna
noivo de Teresinha. Neste momento do romance, o africano Cassange quem puxa o verso:
Meu amo S Ataliba
meu amo do corao
vai se casa co sinh moa
rainha do serto
Ataliba
A flor do piqui branca,
do bacuri encarnada,
a flor do jambo bonita,
mais bonita minha amada
Terezinha
Dormindo estava sonhando
que me mataram meu bem,
acordei pedindo a Deus
que me matasse tambm...
321
E retorna, com alguma nfase, no momento em que Castelo Branco descreve
minuciosamente uma cena em que retirantes da seca executam tarefas com vistas abertura
319
CASTELO BRANCO, 1993, p. 42-43.
320
ALMEIDA, 1983.
321
CASTELO BRANCO, 1993, p. 63-64.
135
de uma cacimba, indispensvel obteno de gua. Enquanto trabalham, os retirantes vo
cantando:
Cava, cava, caador,
um poo para beber
o gado dessa fazenda
que da seca vai morrer.
A chuva no quer chover,
nem a desgraa parar!...
os campos ficaram secos
o riacho vai secar.
[...]
A mata ficou sem sombra,
a roa sem plantao,
a caa foge assutada
das terras do meu serto.
[...]
Aqui no posso ficar,
mais fica meu corao!
vou-me embora pra longe
das terras do meu serto.
322
Como se disse anteriormente, atravs dessas referncias literrias inaugurais no
mbito daquilo que seria um sistema literrio no Piau, torna-se possvel observar elementos
de conformao da piauiensidade, tal como a estamos concebendo.
3.1. Um Piau longnquo, tosco e inculto emerge de exemplares da literatura piauiense
No conjunto literrio elaborado pelos escritores piauienses na segunda metade do
sculo XIX, o Piau emerge territorialmente como serto. Em meados dessa mesma centria,
como estudante da Faculdade de Direito do Recife, saudoso da sua buclica J erumenha,
escreveu o poeta J os Manoel de Freitas.
Tenho um bero mui ditoso,
Pois sou filho do serto;
L nasci, cresci gozando
Os sopros da virao;
323
Poemas como este convergem temtica e esteticamente para a j citada Lira
Sertaneja, a qual nos sugere que o Piau , antes de tudo, serto. Entre outras coisas, isto se
confirma no fato de Hermnio Castelo Branco, seu autor, s se referir aos piauienses como
sertanejos. Para o poeta, ser piauiense equivale a ser sertanejo. O prprio autor declara-se um
322
CASTELO BRANCO, 1993, p. 74.
323
FREITAS, 1998, p. 22.
136
rude sertanejo, cuja potica se conformaria em um selvagem canto, inspirando-se na viola
e no em dourada lira a qual, para ele, seria o outro do selvagem canto. Para aqueles que
consideram incompreensvel sua poesia, por sua vez, Hermnio recomenda a consulta aos
dicionrios da lngua ch [...] do homem do serto, como se observa no excerto transcrito
abaixo.
Eu sou rude sertanejo:
S falo a lngua das selvas
Onde impera a natureza
No sei fazer epopias,
No entendo de poemas,
Nem choramingo pobreza.
[...]
Porm quero, em tosca frase,
Com singela liberdade,
Sem floreios, nem mentira,
Entoar selvagem canto,
Inspirado na viola
Em vez de dourada lira.
E quem no for sertanejo,
E queira compreender
A beleza da expresso,
Consulte dicionrios
Da lngua ch, verdadeira,
Do homem c do serto.
324
Outro poeta, Teodoro Castelo Branco, auto define-se como um poeta tosco,
grosseiro, brusco e selvagem, cujo canto se inspiraria nas cenas do ato de caar:
Sou filho das selvas, sou tosco, grosseiro,
Sou brusco, selvagem; no sou trovador;
Eu tenho outras lides, eu tenho outro emprego,
Que em tudo me ajusta: - eu sou caador.
Se a lira hoje empunho, se solto este canto,
No queiram tomar-me por um trovador...
325
Curiosamente, os dois poetas toscos referidos acima pertencem a uma das famlias
de maior prestgio social e econmico do Piau. Quando a grande maioria dos piauienses no
dominavam a leitura ou a escrita, estes poetas que se reivindicam toscos escreviam e
publicavam livros com poesias que cairiam no gosto da populao. A potica de ambos
converge para a impresso da rusticidade como um dos signos identitrios do Piau. O
serto/campo/mato/selva se define em oposio praa, expresso comumente usada na
324
CASTELO BRANCO, 1993, p. 30
325
PINHEIRO, 1994, p. 40.
137
literatura do perodo para designar a cidade. Entre outros, esta oposio est bem expressa na
poesia de J os Coriolano de Sousa Lima:
Nasci e criei-me nas vastas catingas,
Nas selvas umbrosas do meu Piau;
No gosto das praas, seus usos detesto,
Que males e dores no sofrem-se ai!
326
Nos dois ltimos versos do trecho transcrito acima, a cidade surge como o lugar dos
males e dores que o poeta sentiu no prprio corpo quando, em 1855, transferiu-se de Marvo
hoje municpio de Castelo do Piau, norte do Estado para Recife. Na capital da provncia
de Pernambuco, seria acometido por sarnas, bexiga e febre amarela. Zombando do seu estado
de sade, o qual atribua vida na cidade, versejava:
Oh! Que sarnas cruis! Eu que me esfregue
Sem descanso encontrar...
Tive febre amarela e por desgraa
Depois tive bexigas...
Hoje estou que pareo um surubim...
327
A cidade como lugar negativo, desarmnico, intranqilo, que estaria em oposio
benevolncia e salubridade do serto, igualmente tematizada na Lira sertaneja, j citada,
de Hermnio Castelo Branco.
Tu, leitor, se s da cidade,
Alheio felicidade,
Que se goza no serto,
Vais uma cena assistir,
Em que pode consistir
O viver do corao
D-me teu brao amistoso:
Vers quanto aventuroso
Nosso matuto roceiro,
Sentindo no rude peito,
O dulcssimo efeito
De grato amor verdadeiro
Vais notar a diferena,
Que disparidade imensa
Do casamento forjado
Pelo mais vil interesse,
Que na cidade se tece,
Quase sempre desastrado...
328
326
MOURA, 2001, p. 55, destaque nosso.
327
FREITAS, 1998, p. 130.
328
CASTELO BRANCO, 1988, p. 49.
138
Depois de mostrar a fragilidade dos sentimentos do citadino, corrompidos pelos
interesses de ordem material, o poeta passa a caracterizar negativamente e em antagonia com
o trabalho no campo, o desempenho de funes pblicas, s possvel na cidade:
V tu quanta diferena
Dos homens l da cidade!
Que nas tetas do tesouro
Te mesmo saciedade
Sugam, qual imenso polvo,
O suor do pobre povo.
E nas casas do governo,
Que se diz reparties
Nas horas de expediente
(Com dividas excees)
Recebem todas as partes,
Com tiros de bacamarte!
329
Em outro trecho do longo poema, Hermnio Castelo Branco passa a descrever os
polticos, identificado-os como tpicos habitantes da cidade. Em um trecho de O vaqueiro do
serto, uma sub-parte dA Lira Sertaneja, depois de um dia duro de trabalho nas lidas do
campo, noite, deitados em suas redes para recompor as energias, vaqueiros trocam, entre si,
as seguintes impresses:
E esta! vanc no sabe...
Da nova lei que botaram?
Diz que no nos imbilita
Para votar com os brancos,
Caboclo no se acredita!
Pela parte que me toca
(No falo com presuno)
Lhe digo, na f de Deus:
Leve o diabo a eleio...
Deixemos c destas cousas:
Ns no semo deputado
A conversa de vaqueiro
s por cima do gado...
330
Um ponto alto dessa literatura de ataque ao homem da cidade e de desqualificao
dos polticos ainda que o autor da poesia pertena a uma das famlias mais tradicionais da
poltica piauiense no perodo a poesia O drama do eleitor, que antes de ser publicada
como parte da Lira Sertaneja, circulou em Teresina atravs do jornal O Telefone. Em
oposio ao citadino, o sertanejo apresentado, entre outras coisas, como algum tranquilo,
sincero, leal e valente, como se v na escrita de J os Manoel de Freitas.
329
CASTELO BRANCO, 1988, p. 49.
330
CASTELO BRANCO, 1988, p. 34-35.
139
Os homens l dos meus matos,
No sabem o que chorar;
So livres, no so das praas
Que s servem de adular...
Liberdade l se ouve
Nos cantos do sabi,
Nas vozes dos passarinhos
E no rugir do guar.
Liberdade soa o vento
No ramo do piqui,
Onde o sofrer saudoso
Acompanha o sabi...
assim que l nos campos
L no meu belo serto
A mocidade se passa
Entoando o le-la-dro!
E eu se viver noutra terra
Viverei sem corao;
Se morrer longe da ptria
Voarei pra meu serto
331
A viso do romancista Francisco Gil Castelo Branco sobre o sertanejo no se
distancia daquela de Hermnio Castelo Branco. Para ele, o sertanejo piauiense repleto de
sentimentos generosos e inocentes aspiraes, no sofre das misrias da ambio, quando
ama, o amor puro, iluminado, calmo e misterioso
332
.
Nesse acervo literrio, se a cidade um lugar insalubre, habitado por pessoas que
apresentam tibieza de carter, o serto aparece como sntese de perfeio, a comear pelo
espao. O escritor Francisco Gil Castelo Branco, embora tenha passado a maior parte de sua
vida entre o Rio de J aneiro e a Europa, ao escrever Ataliba, o vaqueiro, contribuiria para
consolidar uma representao do Piau como lugar longnquo, tosco e inculto, mas ao mesmo
tempo de beleza fascinante, como se pode vislumbrar no trecho abaixo, no qual o autor
descreve um alvorecer no serto piauiense:
As barras do dia abriam o horizonte; o orvalho cobria as campinas [...] uma
variedade de florzinhas mimosas cobriam esses planos de matizes admirveis [...]
lindas borboletas esvoaavam por todos os lados, e uma aluvio de canrios,
cabeas-vermelhas, ou cardeais, confundidos com as nuvens de rolinhas e chicos-
pretos catavam as sementes das vassorinhas e outras ervas, enquanto os sabis, os
xexus, o corrupio ou sofrer gorjeavam entre os leques do palmeiral [...] Pela
manh e tarde o cu tingia-se de cores vivas e resplendentes, destacando-se um
fundo azul que, pouco a pouco, at ao meio dia, se tornava claro difano [...] O sol
ento brilhava com todos os seus raios e parecia derramar sobre a terra toda a
331
FREITAS, 1998, p. 22-24.
332
CASTELO BRANCO, 1988, p. 53.
140
intensidade da sua luz tropical. noite refulgiam inmeras estrelas, ou o luar
encantava com sua pureza inimitvel.
333
Na poesia de temtica sertaneja, como se pode ver, o Piau assemelhado a um
paraso terreal, no qual florzinhas mimosas de matizes admirveis so visitadas por
borboletas esvoaantes de diferentes nuances, ao mesmo tempo em que esvoaam exticas
abelhas de tom preto ou dourado. Nos ramos do piqui ou do cajueiro, bem como nos da
mangueira ou do faveiro, pipilam aves de tamanho e cores diversas: canrios, cabeas-
vermelhas, rolinhas, anuns, sabis, xexus, corrupies e guars, dividiam a copa das rvores
com os guaribas. Emas, veados, pacas, guaxinins, onas, entre outras aves e animais
quadrpedes, transitavam pelas chapadas, em busca de aguadas, fontes mimosas a correr,
engrossando o caudal, transformando-se em canoros riachos ou rios violentos nas suas
corredeiras e quedas dgua.
Todavia, esse paraso se apresenta devassado. A mo humana j havia deixado sua
marca atravs da atividade da caa, como se percebe em vrios trechos j citados. Afirmava o
poeta Teodoro Castelo Branco, em uma de suas composies que, os gozos do ato de caar,
no se comparam aos prazeres dos bailes, teatros, torneios e jogos dos homens da cidade
334
.
Hermnio Castelo Branco dedicou duas poesias da Lira Sertaneja ao ato de caar.
No Piau, at meados do sculo passado, caar tornou-se uma prtica comum aos
homens dos diferentes grupos sociais, sendo uma ao que exigia resistncia, pacincia e
coragem, para se embrenhar no mato, tendo por companhia apenas os cachorros de caa,
quando no caavam em grupos. Em geral, os caadores optavam pela noite, em especial,
com lua, quando a visibilidade era melhor. Armado com faco, cartucheira, polvorinho e
clavina, o caador instalava-se prximo a uma aguada, na rvore mais alta e frondosa, entre os
galhos mais fortes, armava sua rede e esperava o animal ou ave que vinha beber. A caa
abatida, apreciada por muitos sertanejos, complementava a alimentao.
O acervo literrio que est sendo apropriado por este trabalho favoreceu a construo
de uma imagem para o Piau na qual ele aparece como o serto da fartura, lugar onde no se
passa fome na passagem do sculo XIX para o XX. Pereira da Costa quem afirma em vrios
trechos da Cronologia do Estado do Piau. Em Ataliba, o vaqueiro, a fome apenas aparece
quando ocasionada pela seca. Mas, antes da manifestao deste fenmeno climtico, o serto
333
Em Ataliba, o vaqueiro, Francisco Gil CASTELO BRANCO (1993, p. 58-59) apresenta o serto antes e depois
da seca. Antes da seca o serto de flora verde e bela, fauna abundante e diversificada, fontes plenas de gua,
sertanejos felizes; no serto da seca a vegetao perdeu o verdor, as folhas caram, as arvores esto nuas, as
fontes secaram, os animais selvticos acuados pela sede e pela fome atacam humanos e animais domsticos,
rebanhos de gado morrem de fome e sede, sertanejos retirantes fogem da seca.
334
PINHEIRO, 1994, p. 40.
141
mato [aonde] h tanta fruta de pequi e tanta caa, que no vale a pena a gente amofinar-
se, matar-se de tanto trabalhar. Antes da seca, o serto da criao de porcos, galinhas, perus
no terreiro, at mesmo, nas casas mais pobres. Antes da seca, o serto da fartura, o serto da
festa aonde cada folgazo chega trazendo beijus, ovos, frutas. Espetos de pau com mantas de
carne assada e gamelas com piro percorrem as rodas dos convivas, restaurando as foras para
encarar o batuque
335
.
Outro aspecto a destacar no acervo literrio em estudo a apresentao da pecuria
como um dos fatores de devassamento do serto. Do conjunto de textos, o Piau emerge como
o lugar de criao de gado solto, que pasta gramnea rasteira e seca, junto com o sal da terra.
Lugar onde em menor proporo se desenvolveu tambm a atividade agrcola, uma vez que o
serto piauiense o serto da pecuria. No conjunto da poesia de temtica sertaneja, O Toro
Fusco, de J os Coriolano de Sousa Lima, uma das composies poticas que melhor
sntese elabora de um Piau da criao de gado, lugar longnquo, tosco e inculto. Para os
crticos literrios, O Toro Fusco uma epopia em 3 cantos, cada um com 17 oitavas reais,
totalizando 408 versos decasslabos. No encontrando-se nada igual em nenhuma literatura,
pela audcia de cantar em versos hericos a estria de um novilho famoso, que luta e morre
como heri, e nos deixa saudades como as figuras humanas ou semidivinas de uma epopia
homrica ou virgiliana, comenta o crtico J oo Crisstomo da Rocha Cabral
336
.
A proximidade entre as atividades agropastoris e a produo intelectual favoreceu a
absoro das sociabilidades a esta ltima e dos cdigos culturais primeira, como se
evidencia em a Lira Sertaneja. A potica de Hermnio Castelo Branco o testemunho de
um povo em seus diferentes aspectos, debatendo-se entre os valores da tradio e as
promessas da modernidade. O autor se posiciona como porta-voz dos sertanejos, aqueles que,
ligados a um modo de viver rurcola, no tm espao para suas falas. As poesias de abertura
do livro O vaqueiro do Piau e Um ajuste de casamento num sero de farinhada
descrevem dois eventos importantes do calendrio social do Piau no perodo em estudo.
Acontecendo em perodos diferentes, a vaquejada e a farinhada se desatacam por
reunirem um grande nmero de pessoas de uma regio, para a execuo de atividades de
tratamento do rebanho de gado bovino e de beneficiamento da mandioca. Nos dois casos,
durante dias, concentrados em uma mesma fazenda, ao se desincumbirem das atividades a que
se propuseram para o encontro, as pessoas trocam experincias e relatam acontecimentos;
realizam coletivamente as refeies, bebem e conversam; estabelecem relaes pessoais. O
335
CASTELO BRANCO, 1993, p.58-62.
336
CABRAL, 1938, p.180.
142
titulo da poesia Um ajuste de casamento num sero de farinhada da a dimenso da rede de
relaes que se estabelecem nesses encontros, relaes que vo dos negcios afetividade.
Em So Gonalo nos sertes, o autor descreve uma novena. Durante nove dias, na
casa do promotor da novena, familiares e vizinhos mais prximos se encontram para as rezas.
Como a vaquejada e a farinhada, a novena um dos raros eventos do modesto calendrio
social do serto, onde se passam dias na labuta pela sobrevivncia e no em festas. Estas so
peridicas, apesar de durarem vrios dias. Na ltima noite do novenrio, chegam os
familiares, amigos e conhecidos, moradores mais distantes, depois das rezas, em frente ao
altar armado na sala principal da casa, onde acontece a festa. No terreiro, primeiro acontece o
leilo, onde podem ser arrematadas frutas variadas, bolos, doces e assados diversos. Depois,
principia a festa danante. Eis, a seguir, uma descrio minuciosa dessas festas:
Isto feito, os tocadores,
As violas afinando,
Nos bancos vo se assentando
Com dois ou trs cantadores
No pense a gente da praa
Que as violas, com graa
E com mestria tocadas,
So os barulhos formados
Por instrumentos soprados,
Das bandas desafinadas.
Principia o baio,
Ou mesmo o belo chorado,
Sob a latada tocado,
Tudo dana na funo
Ao bom som da castanheta,
A matutinha espreita
O namorado danar
Com o peito palpitante,
Deseja ardente o instante
Que ele lhe venha tirar.
337
Paralelamente s danas, aconteciam os improvisos de viola, momento em que a
criatividade sertaneja posta prova e se pode perceber aspectos marcantes do imaginrio
social da poca e do lugar:
J unto s violas, sentados,
De ombros com os tocadores,
Esto os dois tocadores
Dos lugares, afamados
Bem alternativamente,
Vo cantando justamente
Ao som dos bons instrumentos,
Fazendo do derradeiro
337
CASTELO BRANCO, 1988, p. 74.
143
Verso do seu companheiro,
Gerar novos pensamentos.
Em torno deles se agrupam
Mulheres, velhos, crianas,
Que no gostando das danas
Aos cantadores escutam.
E estes entusiasmados,
Por serem apreciados
Como brilho do festim,
Entre palmas e risadas,
Pelos ouvintes rasgadas,
Comeam cantar assim...
338
E assim a noite vai se passando. A juza da festa, a anfitri pois em geral as
sertanejas so quem promove as novenas passa a noite toda rodando a cuit com uma
generosa quantidade da brasileira, aguardente que servida aos convidados. Esta muito
apreciada porque da terra, uma vez que no serto se rejeita toda bebida que feita nessas
terras estrangeiras. A anfitri controla a bebida, no passa a garrafa para nenhuma outra
pessoa, indistintamente, sorridente, serve a todos que desejam beber. Tambm servido
saboroso alu, que contribui para animar mais ainda a funo, que no linguajar sertanejo
significa festa. E quando os raios dourados do astro-rei iluminam chapadas e brejos do
serto, servida a refeio matinal.
Naquela hora o caf
Com iscas bem saborosas
por todos esperado
Na tigela, ou na cuit
Na peneira de taboca
Os beijus de tapioca
E macaxeiras gostosas,
Sem bondade se oferece
Ao povo que aparece...
339
Em toscas travessas de madeira e loua, serve-se a sobra da comida do dia anterior:
comum uma refeio composta por arroz, farofa e enormes nacos de carne assada. Cessada a
dana, os cantadores ainda cantam. Um deles puxa o improviso:
Nunca vi couro de alma,
Nem rastro de lobisome;
Sou cascavel de vereda:
Onde pico, urubu come.
Sou raio, fogo, corisco,
Onde no tem So J irome.
338
CASTELO BRANCO, 1988, p. 75.
339
CASTELO BRANCO, 1988, p. 79.
144
O outro responde:
Tu a cascavel veia;
Eu sou a cascavelinha:
Onde boto minha presa
No tem cura nem meizinha,
Nem orao de vigrio
Nem feitio de cozinha.
340
Os rsticos poetas cultores da poesia de temtica sertaneja se associaram a
romancistas letrados, tais como Francisco Gil Castelo Branco, e a obras como Ataliba, o
vaqueiro, para consolidarem a imagem de um Piau que serto, territrio distante da
civilizao, coberto de mato, com uma rica e diversificada fauna. Pouco povoado, tal espao
composto por pequenos ncleos populacionais, habitados por uma gente iletrada e
incivilizada, mas que apesar disso repleta de sentimentos generosos e inocentes aspiraes
e vive de uma agricultura de subsistncia e, principalmente, do pastoreio extensivo.
No obstante a caracterizao muito geral do piauiense, como se percebe no conjunto
literrio analisado, o vaqueiro que aparece como o tipo social representativo da sociedade,
figura que encanta desde os grupos sociais posicionados no alto da hierarquia social aos
grupos sociais de posio mais inferior. Em O vaqueiro do Piau, Hermnio Castelo Branco
grava essa imagem sedutora do vaqueiro, quando descreve a peleja da vaqueirama para
colocar o rebanho no curral:
Cada qual mais presunoso,
No limpo ptio espaoso.
Mais se mostrou corajoso,
No derribar mais ligeiro
341
Pelo terreiro e nos alpendres, em grupos, as mulheres observam as peripcias dos
vaqueiros. As moas admiram e suspiram enamoradas.
De longe os aplaudindo,
Batendo palmas, sorrindo,
Se ouviam as moas pedindo
A Deus um noivo vaqueiro.
342
Com a criao do personagem Ataliba, Francisco Gil Castelo Branco favoreceria a
constituio de uma imagem romntica e idealizada para a figura do vaqueiro, divulgando-a
atravs de sua obra.
340
CASTELO BRANCO, 1988, p. 81.
341
CASTELO BRANCO, 1988, p. 45.
342
CASTELO BRANCO, 1988, p. 45.
145
Ataliba era moo, tinha a figura atltica e a fisionomia cheia de franqueza. O seu
trajar caprichoso indicava desde logo que ele era um vaqueiro e enamorado. Com
efeito, as suas perneiras, o seu guarda-peito, o seu gibo e o seu chapu com
trancelim e borlas de fios de cor, eram de finas peles de bezerro, lavradas com
esmero por hbeis mos de mestre. Um mao de cordas de couro adunco, dobrado
em vrios crculos, passava-lhe do pescoo por sob o brao esquerdo: era a sua faixa
de honra, era o famoso lao com que prendia a rs rebelde porteira do curral ou
necessitada de algum cuidado. O bacamarte tambm lhe vinha a tiracolo e via-se lhe
cintura uma larga faca de cabo de prata metida na bainha... Empunhando a
agulhada, longa e rija vara com uma ponta de ferro aguada e enrolada em correias
[...] Ataliba firmando-a na laje, nela apoiava o corpo reclinado e em xtase
contemplava Teresinha. Os seus olhos de carbnculo chamejavam; um ar de ventura
animava o seu rosto acaboclado e o seu porte esbelto, em harmonia com o seu
vesturio, dava-lhe o aspecto de magnfica esttua fundida em bronze.
343
Idealiza tambm uma imagem feminina de sertaneja correspondente imagem
romntica do vaqueiro, atravs da personagem Terezinha, a amada de Ataliba. Neste processo
criativo idealizador Castelo Branco concebe que
as filhas do serto so como as flores campesinas; a arte no lhes reala o valor;
desabrocham e fenecem ignoradas; mas a sua singeleza arrebata, os seus perfumes
embriagam, os seus matizes deslumbram! Ai daqueles que as viu! J amais as poder
esquecer! So to lindas! To mimosas as flores dessas campinas e as filhas desses
sertes
344
No conjunto literrio em analise, a figura do vaqueiro aparece adjetivada de
diferentes maneiras, todas muito positivas: msculo, garboso, valente, trabalhador e honesto.
Pessoa simples, entregue tarefa cotidiana de cuidar do gado, atividade que necessita de
coragem para eventualmente enfrentar uma manada indmita, um boi desgarrado e bravio ou
uma ona, animal que apresentada como o mais feroz dos animais das matas do Piau.
Representao que se consolida na poesia O vaqueiro, de J os Manoel de Freitas:
No me assustam trabalhos da lida
Nem as onas me fazem chorar,
Sou valente! Que importa esta vida
Se as vaquinha no ouo berrar?
345
A imagem do vaqueiro tambm aparece, por vezes, associada de uma pessoa
ingnua, paciente, desprovida de riqueza material. Nessa caracterizao da literatura de
fico, a imagem do vaqueiro semelhante ao perfil do elemento humano do serto piauiense
da segunda metade do sculo XIX, elaborada no conjunto de estudos sobre a sociedade
343
CASTELO BRANCO, 1994, p.43-44.
344
CASTELO BRANCO, 1993, p.41.
345
FREITAS, 1998, p. 20.
146
piauiense, como se pode observar no seguinte excerto, retirado de Pereira da Costa: o
piauiense representa quase sem discrepncia, o tipo fsico: frugal, ignorante, religioso, no
raro supersticiosos e ingnuos, porm sinceros, corts de palavra e carter honesto e sisudo
[tem] boa ndole.
346
A representao do vaqueiro da leitura ficcional se aproxima daquela
veiculada pela literatura no ficcional. Um piauiense dedicado s atividades da pecuria,
desenvolvidas em fazendas isoladas umas das outras por imensos espaos de chapadas e
caatingas. Atividades cujos resultados prticos demandavam lentido e dependncia da
intemprie.
Em outros trechos da literatura de fico, a imagem do vaqueiro aparece associada a
prticas artsticas tais como a de tocador de viola. No serto, em ocasies festivas, como no
noivado de Terezinha e Ataliba personagens j citados de Francisco Gil Castelo Branco o
rstico vaqueiro se transmuta em tocador de viola.
Terezinha foi ao quarto buscar sua viola para Ataliba, e o cavaquinho para o
acompanhar; e os noivos brilhavam rememorando as suas cantigas aos sons
frenticos dos respectivos instrumentos, tambm ouvindo carpir em l bemol o
urucungo de Cassange...
347
Sozinho, no alpendre da casa de uma fazenda ou em um terreiro sempre muito limpo,
o vaqueiro toca sua viola para espantar a solido e o medo das noites escuras e silenciosas do
serto. possvel perceber na obra de J os Manoel de Freitas e Hermnio Castelo Branco
afigura de vaqueiro associada a de cantador, deitado em redes, tocando viola, comendo carne
de gado assada e bebendo leite de vaca. Em estudo sobre a obra de Hermnio Castelo Branco,
Celso Pinheiro fala do violeiro e cantador que foi o poeta.
J moleque mais taludo, no perdia uma desobriga, nem festas em latadas de palha,
passando a iniciar-se no segredo dos desafios, no que se tornou depois verdadeiro
mestre. Aprimorou-se tanto nesse mister, que chegou a desafiar e vencer cantadores
famosos de seu tempo, ao som da viola, como o afamado Raimundo Dias, a quem
faz referncia em So Gonalo no Serto.
348
Essas so algumas imagens elaboradas na segunda metade do sculo XIX,
articuladas figura do vaqueiro como tipo social prprio do piauiense. No conjunto
bibliogrfico focando o processo social, o vaqueiro apresentado como o elemento que
efetivamente deu origem ao processo de ocupao do territrio piauiense, no final do sculo
XVII, para a instalao dos currais de criao de gado vacum e cavalar. O fato, primeiro
346
COSTA, 1885, p. 243-244.
347
CASTELO BRANCO, 1993, p. 57.
348
CASTELO BRANCO, 1988.
147
narrado pela tradio oral, e depois incorporado a uma tradio escrita, tomaria ares de
epopia e alaria o vaqueiro condio de um heri a ser festejado e copiado.
At meados do sculo vinte, muitos fazendeiros, assim como seus filhos, vestiam-se
como vaqueiro e montavam e campeavam apenas por divertimento. Era comum, tambm, um
rico fazendeiro assumir a condio de vaqueiro cabea de campo
349
, comandando o
vaqueiro principal e o restante da vaqueirama. Estas atividades, para alm do diletantismo,
eram ocasies para demonstrar virilidade, fora e poder. Era comum, no perodo, recatadas
sertanejas, mesmo aquelas pertencentes a famlias abastadas, sonharem em se casar com um
vaqueiro.
Delineada a imagem do vaqueiro, possvel observ-lo em ao, como na poesia O
vaqueiro do Piau, de Hermnio Castelo Branco. A vaquejada a reunio do rebanho de gado
vacum de uma fazenda, nos ltimos meses do inverno. Trabalho coletivo, realizado pela
vaqueirama de uma regio, a convite do vaqueiro cabea de campo da fazenda ou complexo
de fazendas.
Era o ms da mutuca:
Fins dgua vinham chegando,
Quando o gado sai da mata
Na carreira, escramuando...
Avisei a vaqueirama
Toda daquelas beiradas
Para me d uma ajuda
De campo nas vaquejadas
Entre ns, estes convites,
So de alianas sagradas.
350
No dia aprazado, ocupa o terreiro, com grande rebulio e para deleite de todos, a
vaqueirama, exibindo seus arreamentos de gala:
Assim na vspera do dia
Que se havia combinado
Riscou tudo em minha porta
Quanto eu tinha convidado.
Cavalaria de fama,
Cada qual mais arreado.
351
349
A expresso indica o vaqueiro principal de uma fazenda, encarregado dos negcios da mesma.
350
CASTELO BRANCO, 1988, p. 30-31.
351
CASTELO BRANCO, 1988, p. 32.
148
Em geral, as mulheres espreitavam com alguma ansiedade a chegada dos vaqueiros,
cuja condio certamente lhes enchia de orgulho, uns eram maridos, outros noivos, alguns,
namorados.
Subindo numa levada,
Que era o ptio da fazenda,
L enxerguei minha via
Sentada, fazendo renda.
Estava mais as vizinhas,
J coos ios na estrada,
J se pisando no lombo,
Pra ver a vaquejada.
352
A vaquejada, via de regra, acontece no ptio da fazenda e o momento em que o
vaqueiro pode exibir suas habilidades. Muitas reses se mostram ferozes e resistem entrada
no curral ou mesmo ferra, e o vaqueiro tem de sujeit-las. O poeta J os Manoel de Freitas
imortalizou um desses momentos no poema Uma vaquejada no serto:
O denodo do jovem vaqueiro
A um outro cime excitou,
Que querendo mostrar-se ligeiro
Pela cauda uma rs derribou!
Uma rs, que atrevida espirrava
Sem temer os latidos do co
E que o moo valente agarrava
Como faz s quem veste o gibo
Mas o touro tambm rompe a esteira
E comea com as mos a cavar.
Os vaqueiros se armando em fileira
Do-lhe ecos que fazem-no urrar!
Mas o bicho abaixando a cabea
Corre acima do forte ferro...
Gritam bravos! Por fora obedea
A quem veste perneira e gibo!
353
Em vrios momentos o trabalho cede lugar festa, como na hora das refeies:
Apenas anoitecendo,
Puxei um couro de gado
Para fora, no terreiro,
Bem varrido e asseado,
Pra nele botar a ceia...
Fui buscar, logo nas buchas,
A panela de coalhada;
A farinha numa cuia,
No espeto, a carne assada.
352
CASTELO BRANCO, 1988, p. 44.
353
FREITAS, 1998, p. 27.
149
Venham vindo se arrastando!
- Gritei rapaziada
Cada qual com sua faca,
De cocras junto panela,
Foi tirando com a cuia
Que servia de tigela,
E despejando a farinha
Na coalhada, dentro dela.
Misturando a carne assada,
Gorda, frescal e cheirosa,
Todos ficaram contentes
Com a ceia apetitosa.
354
noite, espalhados em redes armadas pelos alpendres e latadas, os vaqueiros
aproveitam para conversar. O contedo das conversas o prprio rebanho, as caadas e, quase
sempre, a crtica gente da cidade. A vaquejada e a farinhada, na potica de Hermnio Castelo
Branco, so atividades caractersticas de uma sociedade rural, marcada pelo confinamento das
pessoas, onde entretenimento aparece associado ao trabalho. Em sntese, a poesia de temtica
sertaneja, em especial, aquela expressa por Hermnio Castelo Branco, em Lira Sertaneja,
conseguiu divulgar uma representao do ambiente material e humano piauiense, marcando a
segunda metade do sculo XIX. Uma representao muito distante do Piau urbano, desejado
pelo high-life teresinense e pela intelectualidade atuando entre 1880 e 1922.
3.2. A celebrao do espao piauiense na poesia produzida na passagem do sculo XIX
para o XX
Como se observou no segundo captulo, entre 1852 e 1952, a poesia dominou o
cenrio literrio piauiense. Na segunda metade do sculo XIX, a poesia de temtica sertaneja
teve maior penetrao na populao, entretanto, a partir de 1880, para satisfao de um
pblico letrado e urbano em formao
355
, surgiu uma poesia que, apesar de celebrar o
territrio piauiense, atravs dos seus elementos geogrficos, sua fauna e flora, distanciava-se
da forma da poesia de temtica sertaneja.
Nessa nova poesia no havia espao para a celebrao de hbitos e costumes
rurcolas, ela se aproximava das tendncias da literatura nacional, representada, nesse
momento, pelo parnasianismo e pelo simbolismo, principalmente, no que diz respeito forma
354
CASTELO BRANCO, 1988, p. 33.
355
A despeito dos esforos empreendidos pela gerao de intelectuais atuando entre 1880 e 1922, apenas parcela da
elite aderiu aos hbitos e costumes urbanos.
150
e incorporao de algumas temticas como a lrica amorosa, a reflexo sobre temas
universais, a subjetividade humana e a celebrao das coisas da ptria. No caso do Piau,
ocorreu a celebrao do territrio atravs dos seus elementos geogrficos, sua fauna e flora,
muito mais do que os usos e costumes rurcolas, foco da poesia de temtica sertaneja.
Na poesia elaborada pela gerao de intelectuais atuantes entre 1880 e 1922, a
natureza piauiense surge como motivo de inspirao, mas a forma de trabalhar a composio
potica mudou em relao poesia de temtica sertaneja. Atravs da poesia A missa da
Natureza, do parnaibano Alarico J os da Cunha, tem-se a dimenso da mudana na forma e
como a poesia piauiense desse perodo se aproxima dos exemplares da poesia elaborada nos
grandes centros culturais do Brasil.
No templo do Universo e sobre o altar do oceano,
Forrado de gua imensa e adornado de espuma,
Rezava a santa missa o criador soberano,
Acolitado pela esplendorosa bruma.
Era a festa solar, era domingo, em suma,
Ao despontar do dia, alcandorado, ufano;
Pelas praias quebrando as ondas de uma a uma
Entoavam canes ao majestoso arcano!
Mais tarde se elevava a hstia consagrada;
Era o sol todo amor, surgindo alvissareiro,
Com preces de manh e sinos de alvorada!
Que cena de esplendor! Que espetculo sem par!
O prprio ateu se curva razo verdadeira
Vendo a imagem de Deus refletida no mar!
356
Afastando-se da observao da alvorada no estreito litoral piauiense
357
, adentrando as
chapadas, um dos intelectuais pertencentes ao grupo da revista Litericultura, o poeta Luiz
Carvalho, escreveu a poesia Sertanejas, composta de trs cantos, cujo canto de abertura
tambm uma celebrao ao alvorecer sertanejo.
Vem nascendo a manh. A lavandisca
Desfere o canto a sombra das ramadas.
Tremendo, o orvalho lmpido fasca
Das paineiras nas flores desatadas.
356
AIRES, 1972, p.52.
357
Antes desse perodo, o litoral quase no aparece na produo literria piauiense. As belezas do litoral e suas
marcas aparecem em outras composies poticas, a exemplo de Pedra do Sal de Edson Cunha, cf. AIRES,
1972, p.73. interessante registrar que vrios intelectuais dessa gerao foram deputados, senadores,
governadores e prefeitos, como administradores pblicos deram incio luta pela construo do porto martimo
de Parnaba.
151
Solta, pelos capes, correndo, a arisca
Seriema as estridentes gargalhadas,
E a aurora nuvens de ouro e sangue risca,
Doira e ensanguenta a areia das estradas.
Todo o serto est desperto. O brando
E frio vento da manh sacode
O mangueiral, as mangas despencando.
Sobe da mata o aromo das resinas
E o cordoniz, assobiando, acode
Aos pios matinaes das suruminas.
358
O poeta Abdias Neves, preso a essa mesma temtica mgica do alvorecer sertanejo,
escreveu O Sangue das Rosas:
Quando sinto cantarem sobre as telhas
o ouro da luz e a voz das madrugadas,
vou ver morrer no cu as encantadas,
pequeninas e flgidas centelhas.
Inda no despertaram as abelhas
para a festa das ramas enfloradas.
Pssaros dormem. E, abertas nas estradas,
rosas pompeiam ptalas vermelhas...
Donde lhes vem aquele sangue rubro?
Chego p ante p, sigo e me encubro
por traz de moitas de onde possa v-las,
E vejo, ento, olhando o espao infindo,
aquele sangue vir do cu caindo
pelos olhos de prata das estrelas.
359
Observa-se a mesma viso ednica da poesia de temtica sertaneja celebrando o
alvorecer do serto, muito embora a expresso serto aparea timidamente na poesia
elaborada a partir de 1880. A fauna composta por aves e insetos diversos; a flora com
mangueirais, paineiras e capes de mato com ramas floradas, se manifestam sugerindo uma
correlao com o serto. a celebrao do espao piauiense, da beleza do estreito litoral,
sobre o qual a poesia sertaneja faz pouqussimas referncias, ao silncio opressor das
chapadas e brejes ensombrados ao meio-dia, como canta o mesmo poeta de Sertanejas, no
segundo canto da referida composio potica.
Meio dia. L fora um sol violento
Ca do cu, queima o p, doira as espigas.
A beira da gua o gado sonolento
Repousa, e batem roupa as raparigas.
358
Revista Litericultura, abr. 1913.
359
Revista Litericultura, maio 1913.
152
Agora a mata quieta e muda. O vento
Cessou. Cessaram todas as cantigas
Nem um leve rumor, nem um lamento
No seio bom das rvores amigas...
360
A natureza d visibilidade ao territrio, exaltando sua fauna e sua flora: urubu,
aranha, cobra, canco, boi, bambual, faveiro, jatobazeiro, tudo motivo de inspirao para as
duas geraes de intelectuais atuantes entre 1880 e 1952
361
. O poeta Luiz Carvalho conclui
sua poesia Sertanejas celebrando a noite do serto.
Agora o curvo cu resplende. O cheiro
Bom da jurema os ares embalsama.
Dorme o curral. O gnio feiticeiro
Da noite anda a sonhar de rama em rama.
Fia o luar nas rvores a trama
Da luz. Da casa grande no terreiro
Tem a viola enleios de quem ama,
Entre os dedos nervosos do vaqueiro.
Grilos... O fogo azul dos pirilampos...
O murmurar dos ninhos e do rio,
A me da lua aos gritos pelos campos...
Noite de minha terra, mansa e boa!
Deixa que eu durma ouvindo o desafio
Das cantigas dos sapos na lagoa!
362
Mas a referncia a rio e lagoa anuncia nova temtica incorporada pelos poetas
piauienses atuante entre 1880 e 1922, a exemplo da gua, pouco freqente na poesia de
temtica sertaneja. Nessa tendncia potica a seca aparece como uma estao natural do ano.
Se a vegetao perde o verdor, torna-se verde nas primeiras guas, a estao chuvosa. A
seca no causa danos materiais, perda de rebanhos, morte de pessoas, nem a fuga do local de
moradia
363
. Outra temtica que se nota na poesia do perodo a referncia a pecuria, tema
recorrente na literatura piauiense, tanto de fico como no ficcional. clara a constante
referncia ao boi e ao vaqueiro, no na forma entusistica e de celebrao da poesia de
temtica sertaneja, mas, como constatao de um elemento j arraigado a sociedade piauiense.
Na poesia elabora pelos poetas entre 1880 e 1952, a gua celebrada atravs dos rios
piauienses, a exemplo do Gurguia, Canind e Long
364
. Contudo, nenhum rio mais cantado
360
Revista Litericultura, abr. 1913.
361
Na antologia de Flix AIRES (1972) possvel perceber esses aspectos.
362
Revista Litericultura, abr. 1913.
363
J oo CABRAL (1938, p. 170-202) apresenta excerto de poesias que celebram esses aspectos.
364
AIRES, 1972; CABRAL, 1938.
153
do que o Parnaba e nenhum dos seus cantores mais entusiasmado do que o poeta Da Costa
e Silva
365
.
Saudade! o Parnaba, - velho monge
As barbas brancas alongando... e, ao longe,
O mugido dos bois de minha terra...
366
Nascido em Amarante, banhada pelos rios Mulato, Parnaba e Canind, Da Costa e
Silva viveu a maior parte da sua vida fora do Piau. A lembrana nostlgica das coisas da sua
terra perpassa a sua obra.
Na verde catedral da floresta, num coro
Triste de canto cho, pelas naves da mata,
Desce um rio a chorar o seu perptuo choro,
E o amplo e fluido lenol de lgrimas desata.
Caudaloso a rolar, desde o seu nascedouro,
Num rumor de oraes no silncio da oblata,
Ao sol lembra um rocal todo irisado de ouro,
Ao luar rendas de luz com vidrilhos de prata.
Alvas garas a piar, arrepiadas de frio,
Seguem, de absorto olhar, a vtrea correnteza;
Pendem ramos em flor sobre o espelho do rio...
o Parnaba assim, carpindo as suas mgoas,
- Rio da minha terra, ungido de tristeza,
Refletindo o meu ser, flor mvel das guas.
367
Quilmetros e quilmetros de distncia, rio e terra, espao desejado, inigualvel a
quaisquer outros espaos por onde andou, o poeta celebra a cidade amada:
A minha terra um cu, se h um cu sobre a terra:
um cu sob outro cu to lmpido e to brando,
Que eterno sonho azul parece estar sonhando
Sobre o vale natal, que o seio luz decerra...
Que encanto natural o seu aspecto encerra!
J unto paisagem verde, a igreja branca, o bando
Das casas, que se vo, pouco a pouco, apagando
Com o nevoento perfil nostlgico da serra...
Com o seu povo feliz, que ri das prprias mgoas,
Entre os trs rios, lembra uma ilha alegre e linda,
A cidade sorrindo aos sculos das guas.
365
O crtico J oo Cabral considera que, no perodo em anlise, a obra do poeta Da Costa Silva a que mais celebra
o Piau.
366
AIRES, 1972, p.60.
367
CABRAL, 1938, p. 205.
154
Terra para amar com o grande amor que eu tenho!
Terra onde tive o bero e de onde espero ainda
Sete palmos de gleba e os dois braos de um lenho.
368
Para alm do recorte cronolgico desse trabalho, muitos poetas continuaram
cantando sua cidade em poemas cujas letras ajudaram a recortar mais ainda o espao
geogrfico piauiense, a exemplo de Campo Maior, Oeiras, Picos, Piripiri, Piracuruca, Valena
e Esperantina, cidades que aparecem em suas especificidades geogrficas e histricas
369
. Mas,
o poeta Da Costa e Silva que comps o poema-sntese dessa poesia de celebrao do Piau.
Salve terra que aos cus arrebatas
Nossas almas nos dons que possuis:
A esperana nos verdes das matas,
A saudade nas terras azuis
Piau terra querida,
Filha do sol do Equador
Pertencem-te a nossa vida,
Nosso sonho, nosso amor!
As guas do Parnaba,
Rio abaixo, rio arriba,
Espalhem pelo serto
E levem pelas quebradas,
Pelas vrzeas e chapadas,
Teu canto de exaltao!...
Desbravando-te os campos distantes
Na misso do trabalho e da paz,
A aventura de dois bandeirantes
A semente da ptria nos traz.
Sob o cu de imortal claridade,
Nosso sangue vertemos por ti,
Vendo a Ptria pedir liberdade,
O primeiro que luta o Piau.
Possas tu, no trabalho fecundo
E com f, fazer sempre melhor,
Para que, no concerto do mundo,
O Brasil seja ainda melhor.
Possas tu, conservando a pureza
Do teu povo leal, progredir,
Envolvendo na mesma grandeza
O passado, o presente e o provir.
370
A Lei Estadual n 1.078, de 18 de setembro de 1923, declara essa poesia hino do
Piau. Visitando os temas da poesia de temtica sertaneja, a representao de serto
368
BRASIL, 1995, p.58
369
Na antologia de Flix AIRES (1972) possvel perceber esses aspectos.
370
BRASIL, 1995, p.62.
155
identificada com o Piau imortalizada na letra do hino. Serto de mata verde e guas
espalhadas pelas vrzeas e chapadas. A poesia do hino tambm faz referncia a dois temas
caros pesquisa histrica desenvolvida pelos intelectuais da gerao de 1880 e 1922:
primeiro, a verso da colonizao do serto para o litoral, territrio devassado pelos
bandeirantes; segundo, o destaque dado s lutas de independncia travadas no solo piauiense.
O centenrio da adeso do Piau independncia do Brasil foi motivo de grandes eventos
sociais, tendo a capital como centro das comemoraes. Na perspectiva da cultura, por
exemplo, foi publicada uma obra contendo informaes diversas sobre todos os municpios do
estado.
Por essa mesma poca, de institucionalizao do hino do Piau, o poeta Augusto de
Melo Mousinho escreveu a poesia Minha Terra o Piau:
Mundo novo de vrzeas e colinas,
Cu de turquesa resplandente e belo!
O Parnaba entoando ritornelo
terra das palmeiras e boninas!
Olhando alm, campinas e campinas...
O sol tisnando as guas de amarelo...
L no alto, longe, a altura de um castelo,
Nuvens se abrindo guisa de cortinas...
Vive o gado a pastar nos tabuleiros...
Numa algazarra, em bandos, os periquitos
A exterminar os milharais inteiros!
371
Mundo novo de vrzeas e colinas contrasta como as chapadas e matas da poesia de
temtica sertaneja? Esse novo mundo estar diretamente relacionado s aspiraes da
gerao de intelectuais atuantes em Teresina, entre 1880 e 1922, gerao que se quer diferente
da de seus pais e avs, como se observou no primeiro captulo desse trabalho? Na poesia
dessa gerao, se evidencia tambm a atividade agrcola, elemento pouco abordado pela
poesia de temtica sertaneja, como se pode acompanhar atravs da poesia Inverno:
O inverno... a chuva... e um glido torpor
A encher de tdio todo o espao ambiente!
Como bom nesse tempo ter a gente
Uma alma simples de lavrador,
Para ver o futuro atravs do presente
Para sonhar, para prever, para supor
O bem que, sabe Deus, esta nma semente!
Ser lavrador! Nos campos de lavoura
Que o inverno alaga, o lavrador bem diz
371
AIRES, 1972, p. 89.
156
A vida, na iluso consoladora
De quem espera rstico e feliz
Frutos de ouro colher na seara loura
E a fortuna encontrar num gro, numa raiz...
372
Na composio potica Outono, Da Costa e Silva segue celebrando a agricultura, o
lavrador, a semente que germina.
O outono... Como encanta esta tristeza
Em que as coisas esto!
o xtase da luz que abate a Natureza,
Estuando de emoo e de surpresa
Ante o incndio do sol que devora o serto...
E enquanto o sol de luz inunda
Vales, rechaus, florestas e montanhas,
Numa exploso fatal de beijos quentes,
Morta de amor e de prazer,
A Natureza provida e fecunda
Abre, feliz, as maternas entranhas,
Para em seu ventre recolher
A vida imperiosa das sementes.
373
J oo Gaspar Tobler e Silva, um intelectual da gerao de 1922 a1952, atravs da
poesia O Lavrador, oferece uma sntese do agricultor piauiense, que agora integra a galeria
das imagens que representaro o Piau.
Mal rompe no horizonte o nume auroreal,
Vai a vagar montado em seu cavalo pampo,
Pelas veredas e barrancos do arraial,
Rever a roa e, assim, as reses pelo campo.
Mos calosas, a tez spera e bronzeada,
Vimo-lo forte, entregue faina cotidiana...
Semeia, planta, irriga a terra calcinada
Para ganhar o po em luta ingrata e insana...
E a noite, quando a lua ideal, linda e tristonha,
Vai embrulhando num longo lenol de prata
A silhueta azul da serra, o lavrador,
Na esperana da messe, ei-lo, que dorme e sonha,
(Atleta rude de verde e opulenta mata)
O ureo sonho em lauris dos milharais em flor!
374
Observa-se que na segunda metade do sculo XIX, a poesia de temtica sertaneja
elaborou para o Piau a representao do serto da pecuria. Essa imagem veiculada pela
372
Revista Litericultura, jul.1913.
373
Revista Litericultura, set. 1913, destaque nosso.
374
AIRES, 1972, p. 119, destaque nosso.
157
literatura singularizou o Piau, dando visibilidade ao territrio e sociedade, conferindo aos
piauienses o sentimento de pertena a uma comunidade. Na virada do sculo, os poetas
continuaram celebrando o territrio piauiense como serto, mas, paralelo imagem da
pecuria tentaram infundir tambm uma imagem de serto da agricultura. Mas nessa
representao do serto da agricultura se anunciam elementos de um serto da seca, como se
observa na aluso ao sol ou luminosidade intensau nos trechos utilizados para construo
desse captulo. Versos como ante o incndio do sol que devora o serto e l fora um sol
violento cai do cu, queima o p anunciam outra representao de Piau, a de terra
calcinada, na expresso do poeta J oo Gaspar Tobler e Silva.
3.3. Letras calcinantes: a seca na produo literria piauiense
No mbito das lutas de representao em torno do papel do clima como elemento
definidor do Piau, a obra Seca seculorum constitui um marco na literatura piauiense. Sendo
a primeira obra de carter histrico que objetiva explicar a seca no Piau, expressa uma quebra
de paradigmas na relao da intelectualidade piauiense com a temtica, particularmente
revelando a insero de intelectuais de esquerda no debate sobre a apropriao da estiagem,
pelas formas dominantes de pensamento no Piau de ento
375
.
A importncia da obra no cenrio intelectual piauiense pode ser medida pela
formao, em sua decorrncia, de um corpus literrio cuja ambincia temtica contempla a
seca, como: Cotidiano e pobreza: a magia da sobrevivncia em Teresina, de Maria Mafalda
Baldoino de Arajo
376
e A representao da seca na narrativa piauiense: Sculos XIX e XX,
de Raimunda Celestina Mendes da Silva.
Ao que parece, a importncia de Seca seculorum decorre, em parte, da interlocuo
que travou com um conjunto de obras de fico, romances e poesia, que se articulam e
colaboram entre si para naturalizar o drama dos flagelados pela seca. Nesse corpus,
possvel vislumbrar reconhecidos clssicos da literatura ficcional piauiense, tais como
Ataliba, o vaqueiro, de Francisco Gil Castelo Branco
377
, Um manicaca, de Abdias
375
Manoel Domingos Neto, por exemplo, era militante do Partido Comunista do Brasil (PC do B), ento na
clandestinidade, e se tornaria deputado federal pelo partido em 1988. Geraldo Almeida Borges tambm
pertenceu aos quadros do PC do B.
376
A seca aparece nessa obra como tema secundrio.
377
CASTELO BRANCO, 1993.
158
Neves
378
, Vida gemida em Sambambaia, de Fontes Ibiapina
379
e Canto da Terra Mrtire,
de Martins Vieira
380
.
Apropria-se deste debate para, a partir da audio a essas duas sries de discursos,
refletir sobre a representao literria da seca. Em termos de amostragem, privilegiou-se a
produo literria cujo enfoque incide sobre os seguintes perodos de seca: entre os anos de
1877 e 1879, o ano de 1889, o de 1915 e os vrios perodos entre 1932 e 1950.
Entre 1878, data da publicao de Ataliba, o vaqueiro, marco inaugural da
literatura piauiense sobre a seca, e 1986, data da publicao de Vida Gemida em
Sabambaia, romance publicado na mesma dcada em que veio a lume Seca Seculorum,
formou-se um vigoroso corpus literrio ficcional, objeto da anlise, o qual se esforou para
caracterizar a seca e seus desdobramentos.
A primeira caracterstica que se percebe nesse conjunto bibliogrfico a
naturalizao da seca, sendo o fator climtico decisivo para sua manifestao. Essa viso se
articula com o conjunto bibliogrfico no-ficcional. Segundo os autores de Seca seculorum,
parcela considervel da literatura sobre a seca na regio Nordeste apresenta o clima como
elemento responsvel pela sua ocorrncia. O fator climtico tem um peso explicativo
considervel at mesmo para as anlises que veem a seca como resultante de um conjunto de
fatores.
Para Francisco Gil Castelo Branco, a seca se manifesta na mata que fenece, nas
fontes e lagoas que secam e, principalmente, na ausncia de chuvas. Essa a viso que
perpassa o romance Ataliba, o vaqueiro. Em outro romance, Um Manicaca, o autor
Abdias Neves insiste nessa viso naturista da seca, mostrando o renascimento da natureza
sertaneja logo nas primeiras guas.
Quando a primeira chuva banha a terra, ressequida por muitos meses de seca, a
mata, que estava escura, queimada, parecendo morta, sofre transformao
maravilhosa: surge uma manh coberta de brotos, e transmuda-se, logo, enfolhada,
aberta em flores. E o espetculo dos campos se estende alma do povo. Reanima-se.
Retempera na alegria da mata as suas alegrias. Readquire a abalada confiana.
Enflora os sonhos num impulso vigoroso para a vida.
381
Seis dcadas depois, o poeta Martins Vieira escreveria Canto da Terra Mrtire, que
rene poesias sobre a seca e seu flagelo, conforme enuncia desde o ttulo. Poesias como A
conjura do espao e Promessa v se articulam para apresentar a seca como um fenmeno
378
No romance tambm a seca aparece como tema secundrio.
379
IBIAPINA, 1985.
380
VIEIRA, 1983.
381
NEVES, 2001, p.205.
159
da natureza, que se anuncia ao sertanejo atravs dos sinais que aparecem no cu ao alvorecer
ou ao anoitecer, pelo pio e voo das aves. Nesses casos, alvorecer e anoitecer j no possuem
mais a beleza do serto da pecuria ou do serto agrcola nos meses de inverno. No poema
Promessa V, o poeta canta consternado a chuva anunciada que no cai, restando
somente... orar [e] sofrer. A seca a ausncia de chuvas e o domnio do invencvel
Prncipe de Fogo [o Sol] que cumprindo a deciso suprema do Destino, condena o sertanejo
morte pela fome
382
. Em outra passagem mais forte, o poeta lamenta o serto calcinado:
Imersa no claro a caatinga estremece:
nem um ramo esverdeado, ao acaso, aparece;
nem uma nuvem no alto; embaixo, nenhum vento!...
Algum, por trs de tudo, espreita o isolamento.
Fugiram para longe as nuvens caprichosas,
a descobrir no cho as vias dolorosas
por onde passaro os filhos do Nordeste.
Quando a chuva no cai, vem a fome, entra a peste,
dissipa-se a razo e predomina o instinto...
Um escrnio tremendo incha o ventre ao faminto,
Enquanto os magros bois, mugindo tristemente,
Tm soluos de agouro e gemidos de gente.
383
Um sculo depois da publicao de Ataliba, o vaqueiro, o lanamento da obra
Vida gemida em Sambambaia apresenta a mesma viso sobre a seca, a falta de chuva.
Percebe-se isso nas falas dos personagens da fazenda Sambambaia. As lembranas do prprio
autor do romance esto impregnadas dessa viso de fenmeno natural. A primeira experincia
de Fontes Ibiapina com o contexto de seca foi no transcurso da dcada de 1930, quando, pelas
terras de sua famlia, transitavam os retirantes vindos de outros estados, tangidos pela falta de
chuva
384
.
Outra caracterstica que marca o conjunto bibliogrfico constitudo pelos romances e
poemas sobre a seca o foco na questo das migraes. Presume-se que at meados do sculo
XX, a cada perodo de seca o territrio piauiense foi invadido por retirantes. Durante o
Imprio, entre as provncias do norte do Brasil, o Cear surge como o centro de irradiao de
migrantes
385
. O Cear tambm aparece entre as provncias mais castigadas pela estiagem.
Num texto de crtica sobre a obra Ataliba, o vaqueiro, Teixeira de Mello aponta como essa
provncia foi atingida pela seca de 1877/1879.
382
VIEIRA, 1977.
383
VIEIRA, 1977, p.34.
384
SILVA, 2005, p.195.
385
Observa-se no acervo do Arquivo Publico do Piau, que nas listas da Comisso de Socorros Pblicos, instaladas
em cada provncia do Brasil para combater os efeitos da seca, ficou registrado que um nmero significativo de
beneficiados era oriundo do Cear. H necessidade de um estudo sobre a relao Piau e Cear, nos perodos de
seca.
160
Com efeito [o leitor tem a impresso de estar] assistindo ao lgubre desenrolar da
horrorosa calamidade que assola as provncias setentrionais da nossa ptria,
sobretudo da pobre vtima sobre que mais pesada carrega, a mo da fatalidade,
conquanto o autor apenas pusesse na tela um dos quadros menos aflitivos de que
pudera ter-se aproveitado, pois no ousou sair da circunscrio de territrio em que
nasceu, isto , do Piau. No teve nimo de tocar na chaga viva e funda e palpitante
do Cear, que sangra ainda, e que to cedo no cicatrizar.
386
Com base no romance de Francisco Gil Castelo Branco possvel inferir que antes
de 1877/1879, o Piau j havia sofrido invaso de retirantes cearenses, provavelmente nas
secas de 1824, 1845 e 1860, perodos de chuvas irregulares nas provncias do norte do
Imprio. Registros histricos indicam que no ano de 1860, por exemplo, o Piau tambm foi
invadido por levas de baianos que fugiam da seca. O presidente da provncia mandou instalar
um estabelecimento agrcola na regio do atual municpio de Bom J esus para disciplinar e
auxiliar a populao retirante
387
. Como se observa em Cotidiano e Pobreza, a poltica de
criao de ncleos coloniais na zona rural de Teresina ou em outros municpios da provncia
tinha como objetivo ocupar os migrantes, evitando a exposio de suas mazelas pelas ruas das
cidades, em especial na capital
388
. Pois segundo Maria Mafalda B. de Arajo:
Teresina [vivia] uma poca de tentativas de ordenao do espao urbano, quando seu
ar tpico de cidade ordeira e pacata, como registra a memria oficial, se altera
com a instalao de novos habitantes migrantes nordestinos e do interior do Piau,
contribuindo para aumentar os conflitos sociais na cidade. Vimos, portanto, o
momento em que a cidade se envolve no imaginrio progressista da elite, quando se
aguavam as contradies sociais presentes numa estrutura provinciana.
389
Observa-se que o territrio piauiense no perodo em estudo, corredor de passagem
de retirantes das diversas provncias do norte, que demandam em busca de provncias como o
Maranho, o Par e o Amazonas que, embora pertenam mesma regio, apresentam-se ainda
hoje, mais ricas em recursos naturais, em especial recursos hdricos. Nesse ponto, a fico e a
literatura no-ficcional se encontram. A referncia explicitada no conjunto bibliogrfico
no-ficcional, o Piau foi uma zona de refgio, reservatrio das matrizes necessrias
recuperao dos rebanhos e territrio para preservao da mo-de-obra das reas
economicamente impossibilitadas de reproduo de sua prpria fora de trabalho
390
.
Observa-se que o Piau desempenhou papel maior, foi para muitas famlias de
retirantes uma terra para reconstruo de um novo lar, uma terra para sepultar aqueles que
386
CASTELO BRANCO, 1994, p. 37.
387
BASTOS, 1994, p. 139 e 508; BORGES, 1978.
388
ARAJ O, 1995, p. 76-83.
389
ARAJ O, 1995, p. 15.
390
DOMINGOS NETO, BORGES, 1987, p. 16 e 36.
161
sucumbiram ao suplcio da fome e falta de condies profilticas. Essa idia de pessoas
morrendo durante as migraes ficou registrada em quase todas as obras de fico. Nesse
sentido, o depoimento seguinte lapidar, segundo memria de uma retirante da seca de 1915.
Tive oito filhos, se estivessem vivos estariam grandinhos. A fome deu cabo de sete,
s escapou o Drio. [...] o Manoel, [...] deu uma agonia no caminho do Mearim,
escangotou-se e foi logo morrendo [...] Chorei muito, Carmina, e mal enxuguei as
lgrimas acabou-se o Pedro. Comeou a dar ataque, um em cima do outro, at
quando deu o ltimo suspiro. Depois foi a Maria, a barriga inchada que nem bombo.
Acabou-se botando lombrigas pela boca e pelo nariz. Depois, o J os. Passou trs
dias no cirro da morte, escangotado [...] Morreu, a boquinha aberta, esperando o de-
comer que no veio. O Antonio, to pequeno, estufou o umbigo de tanto chorar de
fome [...] o Bento, safadinho, viava barro, desarranjou a barriga, s faltou botar as
tripas para fora antes de morrer. Logo depois foi o Lus, um febro, no durou vinte
e quatro horas. A derradeira foi a Ana.
391
O poeta Martins Vieira, observando os desdobramentos dos perodos de seca entre a
dcada de 1930 e 1950, consternado e solidrio aos pais retirantes que perderam filhos,
escreveu:
Pai do Cu, dizei se l possvel nome
que represente a dor de ver morrer fome
um filho pequenino, esfarrapado e doente,
se aquele ser franzino o mesmo ser da gente,
um eu que se desdobra e fica preso ainda
ao ente original... um espelho em que se brinda
aquilo que se foi... uma esperana avante
da prole continuada...
392
Desse modo, a misria piauiense, sempre igualada seca, viria de fora da Provncia,
atravs das levas de retirantes que, fugindo s adversidades, invadem o Piau procura de
melhores condies de vida. O Piau o cenrio do trgico drama social vivido pelos sujeitos
tangidos pela seca. Segundo constataram os autores de Seca Seculorum, at o perodo de
1877/1879, a seca atingiu o Piau na forma das invases.
Consultando a Cronologia Histrica do Estado do Piau, de Pereira da Costa
393
,
no se encontra registro de que o Piau tenha sido atingido por secas, antes da dcada de 1870.
O primeiro registro data da seca de 1877/1879. Antes disso, ficou registrada a ocorrncia de
mau inverno, pouca chuva, mas no h registro de paralisia das atividades econmicas,
nem de grande sofrimento da populao. o que se pode inferir da leitura de Cotidiano e
Pobreza, em que sua autora, Mafalda Arajo
394
, registrou a presena numerosa de retirantes
391
ROCHA, 2002, p.21-22.
392
VIEIRA, 1977.
393
COSTA, 1972.
394
ARAJ O, 1995.
162
no cenrio teresinense entre 1877 e 1914. Nos registros da literatura ficcional, tais como
aqueles de Vida Gemida em Sambambaia, percebe-se que as migraes continuaram at
meados do sculo XX. Coligindo as informaes, verifica-se um perodo de mais de um
sculo de trnsito de retirantes, movidos pela seca, passando pelo Piau rumo as
provncias/estados do norte.
Outro elemento que caracteriza o conjunto de obras de fico e tambm o aproxima
do conjunto bibliogrfico no-ficcional a percepo de que a seca atinge de modo
diferenciado os diferentes segmentos da sociedade. Analisando Vida Gemida em
Sambambaia, Silva percebeu que, igualmente na vida, os personagens pertencem a grupos
sociais diferenciados e que os desdobramentos da seca no atingem a todos da mesma forma.
No conjunto literrio no-ficcional, Domingos Neto e Borges trabalham com o conceito seca
de pobre e seca de rico, para concluir:
H categorias [sociais] que no s so pouco afetadas pela crise peridica como
encontram na mesma a fora de sua reproduo e engrandecimento. Indo mais alm:
h setores e regies econmicas que, de forma direta ou indireta, tm sua lgica de
funcionamento em boa parte ligada aos efeitos do flagelo [...] Se todos perdessem
com a crise, inclusive os interesses mais evidentemente presentes no esquema de
poder regional e nacional, seria difcil crer que sua longevidade no teria sido
profundamente abalada
395
Ao que parece, a partir do contexto da seca 1877/1879, ocorreram mudanas na
maneira de conceber este fenmeno no Piau, viso que se consolida no contexto dos perodos
de seca entre aos anos de 1889 e 1915. Observou-se, como manifestao discursiva, que
durante a seca de 1877/1879, pela primeira vez o Piau foi includo no rol das provncias
atingidas diretamente. Isto , pela primeira vez a imprensa noticiou que as chuvas
escassearam, secaram as aguadas: rios, riachos e fontes; a mata feneceu; animais morreram de
fome e sede, os piauienses migraram da zona rural para a zona urbana em busca de socorro.
o fenmeno da seca na sua inteireza. O Piau deixa a condio de corredor de passagem de
retirantes para assumir a condio de rea atingida pela seca.
A atuao da imprensa piauiense tambm foi decisiva para a criao desse discurso,
seja reivindicando do Governo Imperial ateno para o estado de calamidade em que se
encontrava a Provncia, seja noticiando sobre os retirantes que invadiam os municpios mais
desenvolvidos e ricos. No contexto da seca de 1889, a imprensa foi excessiva na divulgao
do drama dos flagelados, noticiando o intenso e incessante fluxo de retirantes e as mazelas
que atingiram os diferentes municpios piauienses: um surto de doenas acometia as pessoas
395
DOMINGOS NETO, BORGES, 1987, p. 18.
163
nos municpios de Regenerao, Amarante, Picos e J aics. Em Campo Maior crescia a
criminalidade, segundo noticiava o jornal A Falange, de junho de 1889, o furto, roubo,
estelionato se desenvolveram em to grande escala [em decorrncia da situao de seca] que
j no h mais quem denuncie os criminosos, nem as autoridades se animam em instaurar
tantos processos.
Na vila de Natal, hoje cidade de Monsenhor Gil, o atraso no pagamento dos
trabalhadores nas frentes de servios, resultou numa manifestao pblica que terminou no
apedrejamento de residncias de membros da Comisso de Socorros Pblicos
396
, o delegado
de polcia colocou os soldados na rua e espancou indistintamente, crianas, velhos e mulheres,
o que foi noticiado pela imprensa da capital.
Nos jornais O Telefone e A Falange, especialmente, eram comuns as investidas
contra o Governo Imperial, pelo descaso aos apelos do Piau. O Cear, entre as provncias
assoladas pela seca, era apontado como aquele que recebeu mais deferncia do Governo.
Denunciavam que as verbas destinadas ao Piau eram menores e demoravam a ser liberadas.
Na edio de 05 de junho de 1889, um artigo no jornal A Falange conclua violentamente:
Na fartura ramos lembrados para pagar impostos, prestar servios eleitorais; agora, na
adversidade, somos lanados no esquecimento e abandono
397
. Secundando a imprensa local,
a imprensa do sul do pas divulgou entre os habitantes dessa regio o discurso sobre a seca.
No Rio de J aneiro, a publicao do romance Ataliba, o vaqueiro, de Francisco Gil
Castelo Branco, conforma-se como marco inaugural desse discurso, documento-testemunho
de um intelectual oriundo do norte, cujo objetivo era chamar ateno do pas para o problema
da seca. No Parlamento do Imprio, os deputados e senadores do norte incorporavam a seca
como mais um elemento do discurso e da barganha poltica, pressionando a interveno do
Estado. Percebe-se que a imprensa e o Parlamento configuram-se como um dos espaos de
reproduo do discurso sobre seca.
Na literatura piauiense, a partir da publicao de Seca Seculorum, a caracterizao
da seca como fenmeno natural vai cedendo espao para outro modelo explicativo que v a
seca como resultante de fatores diversos. Essa inflexo na literatura piauiense sobre este
fenmeno se observa na referida obra, a partir da anlise dos autores sobre a seca de 1915.
396
As Comisses de Socorros Pblicos que foram criadas no contexto da seca de 1877-1879 (BORGES, 1978)
foram reativadas para gerenciar as verbas destinadas s frentes de servio e comprar vveres para a populao
necessitada. No geral, eram constitudas pelo juiz de direito, vigrio, delegado, coletor e presidente da Cmara
Municipal.
397
COSTA FILHO, 1989
164
A tendncia histrica de expanso da lavoura de subsistncia no Piau, refletida nos
ndices da produo de gneros; os importantes incrementos ao crescimento da
populao; o conseqente e paralelo desenvolvimento da urbanizao (sempre
saudado como indcio de progresso pela mentalidade local), ampliando as
necessidades de excedentes agrcolas; as condies concretas em que estes
excedentes foram gerados tornaram o Piau palco dos mesmos acontecimentos que
anteriormente eram vividos pelos seus vizinhos do Oriente. No lugar de refgio para
os retirantes, o Piau v, hoje, sua populao amargar a perda de cultura, a fome, o
xodo, a seca, enfim. O antigo refrigrio, para onde, durante sculos, acudiam
os criadores vizinhos, na tentativa de salvar os rebanhos, assiste hoje perda de seu
prprio gado. De fome e de sede.
398
A nova concepo entende a seca como resultado de uma srie de fatores, destacando
as questes de ordem social e poltica, antes da questo climtica. Agora, o territrio
piauiense no apenas um corredor de passagem percorrido por levas de retirantes que
fugiam da seca, mas uma rea onde populao, rebanhos e colheita so diretamente atingidos.
A necessidade engendrou novas situaes sociais para o piauiense que, padecendo as
agruras da seca, impossibilitado de dividir com os retirantes o pouco que tinha, tem um novo
olhar sobre os retirantes. As elites piauienses, por exemplo, passam a v-los como bandos
ameaadores da ordem, na medida em que passam a disputar com as camadas mais baixas da
populao local os vveres e os parcos recursos das frentes de trabalho, agravando mais a
situao de misria dos nativos, criando condies para agitao e revolta que contrariam os
interesses desses grupos. A simpatia e a comiserao para com a populao retirante,
qualidades que haviam animado os piauienses nos diferentes contextos de seca no sculo
XIX, foram diminuindo.
Para evitar comoo, a partir de meados do sculo XX, os vizinhos flagelados pela
seca sero contidos dentro de suas fronteiras territoriais. Ao que parece, ser contido o grande
e dramtico fluxo migratrio entre as provncias/estados, com suas longas filas de
necessitados cruzando as estradas e invadindo as cidades piauienses, implorando caridade.
Agora os flagelados passaro rapidamente pelo Piau, em veculos motorizados, atravs de
rodovias controladas pelas autoridades, que controlam tambm o fluxo migratrio.
Para todo o Nordeste, a novidade do perodo de seca entre as dcadas de 1930 e1950
o aprofundamento do fluxo de retirantes para a regio sudeste do pas. A partir do final dos
anos de 1970, todo o esforo dos Poderes pblicos foi no sentido de conter os flagelados pela
seca no seu local de origem, tentando evitar a exibio das mazelas. J a manifestao da seca
tem outras caractersticas que no foram ainda fixadas pela literatura piauiense.
398
DOMINGOS NETO, BORGES, 1987, p. 49.
165
CONSIDERAES FINAIS
Ainda que recoberto por uma estereotipia que o situa e significa como rea perifrica
e intelectualmente pouco importante no mbito da nao Brasil, o Piau, a despeito disso,
ofereceu literatura brasileira exemplares fundadores, tais como o clssico romance Ataliba,
o vaqueiro, publicado nos meados do sculo XIX por Francisco Gil Castelo Branco e por
muitos considerado o primeiro romance regionalista do Brasil. Este fato a presena de
clssicos literrios no interior de uma sociedade ento marcadamente iletrada, constituiu um
dos primeiros argumentos deste trabalho: a pretexto de conhecer as condies histricas no
interior das quais foi se erigindo um sistema literrio piauiense, indagamos sobre a relao
possvel entre literatura e vida, isto , entre aquilo que os literatos criam e que acaba
derivando marcos identitrios de um povo.
No se pretendeu, de forma positiva, demonstrar a relao de pertinncia entre
literatura e identidade cultural, tampouco se desejou definir o que seria uma literatura
piauiense em contraposio a uma literatura brasileira de autores piauienses. Tomando-se
textos escritos por autores piauienses procuramos demonstrar que, ao longo da extenso do
territrio brasileiro, a modernizao implicou muito mais na vitria da cultura letrada sobre a
cultura oral e no abandono de hbitos e costumes rurcolas por parte das elites, do que na
modernizao da economia. Embora nas diferentes e muitas verses historiogrficas sobre o
processo de modernizao do Brasil o Rio de J aneiro e So Paulo apaream com protagonista
dos acontecimentos, o ideal de civilizao e de progresso foi incorporado por todas as elites e
colocado em prtica nas mais diferentes reas do Brasil, inclusive no Piau. A educao
formal viria a ser o elemento difusor desses ideais, em especial o ensino recebido nas
faculdades de Direito do Recife e de So Paulo, a partir de meados da primeira metade do
sculo XIX.
Trata-se, portanto, de um estudo sobre as elites, em especial sobre as elites
piauienses, onde se refletiu sobre suas estratgias para assumir a administrao da
capitania/provncia ou estado do Piau. Na passagem do sculo XIX para o sculo XX, um
segmento da prpria elite, domiciliado na capital da provncia, Teresina, a frente da
administrao do Piau, decidiu civilizar a roa, desencadeando um processo de transformao
de hbitos e costumes que resultou na modificao do viver de parcelas da elite rural,
incorporando-as ao mundo considerado civilizado. Em paralelo, empreendeu reformas que
166
deram provncia/estado, em especial cidade de Teresina, elementos do equipamento
urbanstico, considerados smbolos da modernizao.
As reformas empreendidas pela elite representariam o rompimento com os hbitos e
costumes rurcolas? Com os crculos familiares dominantes? Com as relaes de compadrio e
as relaes senhoriais de tutela? Observamos que o contexto das transformaes
experimentadas por segmentos da elite piauiense, no abrangeu a sociedade como um todo,
nem mesmo chegou a atingir todos os integrantes da elite rural. O que ocorreu foram
demandas historicamente determinadas, percebidas e enfrentadas primeiramente por
segmentos da elite, de forma a benefici-las. As aspiraes de se igualar s mais requintadas
elites do Brasil e da Europa se manifestavam na constituio de segmentos sociais
sofisticados, com domiclio nos principais centros urbanos, a exemplo do high-life
teresinense.
De posse do privilegio da leitura e da escrita, membros da elite piauiense iniciaram a
publicao de jornais, revistas e livros, objetos de anlise no segundo captulo. Essas prticas
incorporadas pela elite contribuiriam para consolidar sua posio de grupo social dominante e
possibilitaria a insero do Piau no universo da cultura letrada. Momento particular da
histria intelectual piauiense, quando, aps uma vitria sobre a tradio oral, os segmentos
letrados procuram se consolidar atravs da criao de associaes literrias.
Apontamos a relevncia dessas congregaes literrias enquanto instrumentos
capazes de dar a ver as condies existenciais dentro das quais a intelectualidade do Piau foi
se forjando a si mesma, enquanto rea especializada da cultura piauiense, ao mesmo tempo
em que se esforava para constituir uma piauiensidade aparentemente natural e centrada.
Estas instituies, do ponto de vista desse trabalho, revelariam no apenas um momento
bastante intenso da histria intelectual piauiense, mas o fazer-se mesmo da piauiensidade
moderna.
Conclui-se que a piauiensidade uma construo dinmica, passvel de
transformaes segundo os interesses das geraes de literatos em atuao. Observou-se que
ao longo da segunda metade do sculo XIX, foi veiculada uma representao de Piau
longnquo, tosco e inculto que emergiu da poesia de temtica sertaneja. A poesia elaborada a
partir da dcada de 1880, por sua vez, veicularia outra representao de Piau. Diferente da
poesia de temtica sertaneja, essa nova produo potica se aproxima das tendncias da
literatura nacional, no que diz respeito forma e incorporao de algumas temticas como a
lrica amorosa, a reflexo sobre temas universais, a subjetividade humana e, em especial, a
167
celebrao do territrio ptrio. Essa ltima temtica foi explorada pelos literatos piauienses
que, at a dcada de 1940, celebraram em suas composies poticas aspectos que
singularizavam o Piau, a exemplo do espao, da fauna e da flora. A partir da referida dcada,
um terceiro corpus de textos j anuncia uma nova representao de piauiensidade ligada
seca. Se esta , j, reconhecidamente, um dos marcos da identidade nordestina, o trabalho
procurou particulariz-la em relao formao da piauensidade.
De modo geral, portanto, os objetivos preconizados para o trabalho,
consubstanciados no desejo de identificar nos textos escritos por literatos piauienses indcios
de representao da piauiensidade, foram atingidos. No se trata e nem poderia se tratar de
um estudo definitivo, mas de um apenas um dentre tantos possveis contributo ao
conhecimento da histria da configurao daquilo que se reconhece hoje como a sociedade
piauiense, com suas semelhanas e diferenas em relao a si mesma, uma vez que, como se
sabe, a identidade uma celebrao mvel que se faz sobre comunidades imaginadas e
imaginveis
399
.
399
HALL, 2006.
168
BIBLIOGRAFIA E FONTES
FONTES
a) Peridicos (Arquivo Pblico do Piau)
J ornais:
A poca
A Imprensa
A Falange
A Reforma
Cidade de Teresina
Correio de Teresina
O Amigo do Povo
O Apostolo
O Correio
O Dia
O Monitor
O Norte
O Piau
O Semanrio
O Tempo
Revistas e Almanaques:
A Granada
Almanaque do Carir
Almanaque da Parnaba
Almanaque Piauiense
A Letra
Alvorada
A Propaganda
A Revista
Camondongo
Cidade de Luz
Cidade Verde
Cultura Acadmica
Cultura
Garota
Gerao
Gleba
Guisos
Harpa
Mocidade
O Arauto
O Automvel
O Meio
O Obuz
Panorama Estudantil
Parnaba
Primcias Literrias
Revista da Academia Piauiense de Letras
169
Revista do Instituto Histrico e Geogrfico do Piau
Revista Mensal da Sociedade Unio Piauiense
Seleta
Voz do Estudante
Voz de Parnaba
Zodaco
4 de Outubro
b) Livros (Arquivo Pblico do Piau)
ABREU, Areolino de. Discursos. Teresina: Imprensa oficial, 1913.
ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS. Recepo do Sr. Matias Olimpio (discurso do
recipiendario e do acadmico Higino Cunha). Teresina: Papelaria Piauiense, 1921.
_____. Discurso de recepo Odylo Costa. Teresina: Papelaria Piauiense, 1921.
_____. Jonas de Moraes Correia. Parnaba: Tip. Bastos, 1925.
_____. Recepo acadmica, Armando Madeira, Cristino Castelo Branco. Teresina: Papelaria
Piauiense, 1924.
_____. Recepo Acadmica. Alarico da Cunha e J os Pires de Lima Rebelo. Teresina:
Imprensa Oficial, 1938.
_____. Recepo ao Sr. lvaro Ferreira. Teresina: Departamento Estadual de Imprensa e
Propaganda, 1942.
_____. O patrono da cadeira n 14 (Dr. Raimundo rea Leo) Teresina: Departamento
Estadual de Imprensa e Propaganda, 1944.
ASSOCIAO COMERCIAL DE PARNAIBA. Amarrao e o comrcio de Parnaba; Pr-
Piau: campanha econmica promovida Associao Comercial de Parnaba. Cear: Editora
Eugenio Gadelha &, 1920.
BATISTA, Benjamin de Moura. O Piau. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1920.
BATISTA, C de Moura. Capurreiros do Piau. So Paulo: Livraria Editora Odeon, 1939.
BATISTA, J onatas. Sincelos. Teresina: Libro-Papelaria Veras, 1907.
_____. Poesias avulsas. So Paulo: [s. n.], 1934.
_____. Alma sem rumo. So Paulo: Grfica So Paulo, 1934.
BATISTA, Mario J os. Hidrografia e Orografia do Estado do Piau. Rio de J aneiro: Grfica
do J ornal do Comercio, 1927.
BEVILQUA, Amlia de Freitas. Angustia. Rio de J aneiro: Tip. Besnard Frres, 1913.
170
_____. A Academia Brasileira de Letras e Amlia de Freitas Bevilaqua (Documentos
histricos literrios). Rio de J aneiro: Besnard Frres, 1930.
_____. Silhoettes. Rio de J aneiro: Livraria Freitas Bastos, 1931.
_____. Divagaes sobre a conscincia. Rio de J aneiro: Oficina Grfica Mundo Medico,
BORSOI & C., 1931.
_____. Jornada pela infncia. Rio de J aneiro: Est. Grfico Mundo Mdico, J . Borsoi J r.,
1940.
BIBLIOTECA, ARQUIVO PBLICO E MUSEU HISTRICO DO ESTADO DO PIAU.
Vria fortuna dum soldado portugus pelo brigadeiro Fidi. Edio Comemorativa dos 120
anos da Guerra de Independncia no Piau, outubro, 1942.
BORROMEU, Carlos. Arcos Iris. Teresina: [s.n.], 1930.
BRITTO, Ansio. Escola Normal do Piau. Teresina: Tip. dO Piau, 1921.
BRITTO, Bugyja. Muralhas. Rio de J aneiro: Marisa Editora, 1934.
CABRAL, J oo Crisostomo da Rocha. Leitura de direito internacional por Joo C. da Rocha
Cabral. Rio de J aneiro: J ornal do Comrcio, 1923.
_____. O caminho da paz pela ordem jurdica. Rio de J aneiro: Bonsoi, 1939.
CASTELO BRANCO, Cristino. Codificao processual. Teresina: Papelaria Piauiense, 1920.
_____. Defesa de Oton Ramos de Almeida por seu advogado Dr. Cristino Castelo Branco.
Teresina: Imprensa Oficial, 1929.
_____. Homens que iluminam. Rio de J aneiro: Grfica Editora Aurora Ltda., 1946.
CASTELO BRANCO, Fenelon. Nossos Imortais (2 edio correta e aumentada). Teresina:
Tipografia Paz, 1912.
CASTELO BRANCO, Miguel de Sousa Borges Leal. Dimenso e reintegrao do
procurador fiscal do tesouro provincial do Piau Miguel de Sousa Borges Leal Castelo
Branco: a apreciao dos homens doutos do paiz. Teresina: Tip. da Imprensa, 1883.
CASTELO BRANCO, Moises. Depoimentos para a histria da Revoluo no Piau. Rio de
J aneiro: Tip. So Benedito, 1931.
CASTRO, F. Pires de, NAPOLEO, Martins. Os rebeldes no Piau (subsdios e documentos
para a histria). Teresina: Tip. d O Piau, 1926.
CATALOGO DOS PRODUTOS PIAUIENSES. Primeira Exposio Estadual do Piau.
Realizada a 24 de janeiro de 1923. Comemorativa do primeiro centenrio da sua adeso a
independncia do Brasil. Teresina: Papelaria Piauiense, 1923.
CAVALCANTI, J . Meu livro azul (Sonetos). Recife: [s.ed.], 1944.
171
CENACULO PIAUIENSE DE LETRAS. Estatutos. Teresina: Tip. Popular, 1931.
CENTRO PIAUIENSE. Oito anos de governo: a administrao Lenidas Melo no Piau. Rio
de J aneiro: Indstria Grfica Luno, 1943.
CLARK, Oscar. Da Dysppsia asthenica. Rio de J aneiro: Typ. do J ornal do Comrcio, 1913.
_____. Estado atual dos nossos conhecimentos sobre o cncer no homem. Rio de J aneiro:
Imprensa Nacional, 1921.
CLUBE DOS DIRIOS, Sociedade Annima. Estatutos e Regimento interno. Teresina:
Tipografia do Piau, 1925.
COMISSO DOS FESTEJ OS DO CENTENRIO DA INDEPENDNCIA. O Piauhy no
centenrio de sua independncia (1823-1923). Teresina: s.e, [1923].
CONDE, Hermnio. Conchrone, falso libertador do norte. So Luiz do Maranho: Tip.
Teixeira, 1929.
CONDE, Pedro. O sentido da educao (tese de concurso cadeira de Historia e Filosofia da
Educao da Escola Normal Antonino Freire). Teresina: Imprensa Oficial, 1950.
CORREIA, Benedito J onas, LIMA, Benedito dos Santos (org.). O livro do centenrio de
Parnaba. Documento da cidade. Estudo histrico, corogrfico, estatstico e social do
municpio de Parnaba. Paranaba: Grfica Americana, 1945.
COSTA, J . Vaz da. Arengas e retalhos. Bahia: Oficinas da livraria Duas Amricas, 1924.
COSTA, Giovanni. O desvario do crime. Teresina: Grfica Piauiense, 1929.
_____. O crime de Teresina: dados sobre a ao do delegado geral da policia do estado no
inqurito sobre o assassinato do Dr. Lucrecio Dantas Avelino. Teresina: Grfica Piauiense,
1928.
_____. O Estado Novo no Piau: de como se pratica o Estado Novo no Piau; o caso dos
desembargadores. Rio de J aneiro: [s.ed.], 1941.
_____. Cousas do Piau: folheto mandado publicar por um grupo de amigos de Giovanni
Costa: Teresina, [s.n.], 1942.
COSTA, F. A. Pereira da. Noticia sobre as comarcas da provncia do Piau. Piau, 1885.
[cdice].
CUNHA, Alarico. Ode a mendiga. Parnaba, PI: [s.n.], 1923.
_____. A libertao da Frana. Paranaba: [s.n.], 1944.
_____. As exquias de D. Francisca. Parnaba: Grfica Americana, 1944.
CUNHA, Edson. Vozes imortais, crestomatia da Academia Piauiense de Letras. Teresina:
[s.n.], 1945.
172
CUNHA, Higino. O idealismo filosfico e Ideal artstico. Teresina: Imprensa Oficial, 1912.
_____. Ansio de Abreu (sua obra, sua vida e sua morte). Teresina: Papelaria Piauiense, 1920.
_____. O Teatro em Teresina. Teresina: Tip. do Correio do Piau, 1922.
_____. Histria das religies no Piau. Teresina: Papelaria Piauiense, 1924.
_____. A defesa do professor Leopoldo Cunha (produzida por seu pai Dr. Higino Cunha, no
processo movido contra aquele pelo crime de tentativa de homicdio). Teresina: Imprensa
Oficial, 1934.
_____. Os revolucionrios do sul atravs dos sertes nordestinos do Brasil. Teresina:
Oficinas dO Piau, 1926.
_____. Memrias (traos autobiogrficos). Teresina: Imprensa Oficial, 1939.
FERRAZ, Antnio Lencio Pereira. Apontamentos genealgicos de D. Francisco da Cunha
Castelo Branco. Rio de J aneiro: Oficina Industrial, 1926.
FORTES, Herbert. Sobre literatura brasileira. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, 1927.
FREIRE, Antonino. Limites do Piau. Contribuio para o estudo de suas questes territoriais
com o Maranho. Rio de J aneiro: Imprensa Guanabara, 1921.
FREITAS, J os de Almendra. Livramento. Teresina: Papelaria Piauiense, 1923.
FREITAS, Alcides, FREITAS, Lucdio. Alexandrinos. Teresina: Tip. Paz, 1912.
FREITAS, Clodoaldo. Vultos piauienses, apontamentos biogrficos. Teresina: Tip. D O
Estado, 1903.
_____. Em roda dos fatos. Teresina: Tip. Paz, 1911.
FREITAS, Lucdio. Vida Obscura. Teresina: Imprensa Oficial do Estado do Par, 1917.
FREITAS, Vidal de. Contradio. Recife: J ornal do Comercio, 1943.
GAIOSO E ALMENDRA. Pecuria. Teresina: Imprensa Oficial, 1931.
_____. O vale do rio Parnaba (notas histricas e geogrficas) Descobrimento, primeiros
arraiais e freguesias, estradas e produes. Teresina: Tip. Ribeiro, 1948.
GONALVES, Luis Mendes Ribeiro. Aspectos do problema econmico piauiense. Teresina,
Imprensa Oficial: 1929.
GOVERNO DO ESTADO DO PIAU. Estatutos do Instituto Geogrfico e Histrico
Piauiense. Teresina: Tip. do Piau, 1919.
MADEIRA, Armando. Interesses piauienses. So Paulo: Tip. Sociedade Editora, 1920.
MARTINS, Elias. Guerra Sectria. Teresina: Tip. dO Apostolo, 1910.
173
_____. Frei Serafim de Catnia. Rio de J aneiro: Imprensa Oficial, 1917.
_____. Operrio da boa vinha. Teresina: Papelaria Piauiense, 1920.
_____. Fitas. Teresina: Tipografia do J ornal de Noticias, 1920.
MELLO, Yara Neves de. Cenculo Piauiense de Letras. Discurso de posse cadeira J onatas
Batista. Par: Edio especial da revista Guajarina, 1931.
MENDES, Simplcio. O Ideal Cristo. Teresina: Tip. dO Piau, 1926.
_____. Propriedade territorial no Piau. Teresina: Tip. do Piau, 1928.
MONTEIRO, Benjamin M. Repblica Modelar. Teresina: Imprensa Oficial, 1931.
MONTEIRO, Lindolfo do Rego; MELLO, Raimundo de Britto; NUNES, Monsenhor Ccero
Portela. Conferencias. Paz mundial. Teresina: Imprensa Oficial, 1935.
MONTEIRO, Lindolfo do Rego. Destruindo infmias: farta e decisiva documentao
fornecida sob certido pela Prefeitura de Teresina, na administrao do Dr. J os Martins
Leite. Teresina: [s.ed.], 1946.
NAPOLEO, Aluizio. Segredos (Contos). Rio de J aneiro: Estdio de Artes Grficas C.
Mendes J r., 1935.
NAPOLEO, Martins. Ptria Nova. [S.l.]: [s.n.], 1931.
_____. Tese a Concurso. I-Etimos incertos da lngua portuguesa; II-O sentimento brasileiro
na poesia de Bilac; III-O Piau e o nordeste (Aspectos e problemas de sua vida social).
Teresina: Grficas Piauienses Ltda., 1928.
_____. O prisioneiro do mundo. Rio de J aneiro: Grfica Olmpica, 1937.
_____. Poemas da terra selvagem. Teresina: Tipografia da Imprensa Oficial, 1940.
NEVES, Abdias. A Guerra de Fidi. Teresina: Libro-Papelaria Veras, 1907.
_____. Um Manicaca. Teresina: Libro-Papelaria Veras, 1909.
_____. Discurso oficial. Teresina: Libro-Papelaria Veras, 1909.
_____. Imunidades parlamentares. Teresina: Papelaria Veras, 1908.
_____. A elegibilidade do Marechal. Teresina: Tip. Veras, 1910.
_____. Psicologia do Cristianismo. Teresina: Papelaria Veras e Tipografia do livro, 1910.
_____. O foguete. Teresina: Imprensa Oficial, 1912.
_____. O Dr. Abdias Neves foi coligado? Teresina: Imprensa Oficial, 1914.
_____. Um caso eleitoral: trabalho lido perante a comisso de poderes, pelo senador Abdias
Neves, em maio de 1915. Teresina: [s. ed.], 1916.
174
_____. Discursos. Rio de J aneiro, Colgio Militar do Rio de J aneiro: [s.ed.]. 1916.
_____. Poltica das estradas de ferro e finanas da Republica. Rio de J aneiro: Imprensa
Oficial, 1916.
_____. O Brasil e as esferas de influencia na Conferencia de Paz. Rio de J aneiro: Imprensa
Oficial, 1919.
_____. O problema da Indstria nacional de anilinas. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do
Comercio, 1919.
_____. O Piau na Confederao do Equador. Rio de J aneiro: Imprensa Nacional, 1921.
_____. Aspectos do Piau. Teresina: Tip. DO Piau, 1926.
NEVES, Antonio. Primeiros versos. Teresina: Grfica Esperana, 1938.
NEVES, Berilo. A mulher e o diabo. Rio de J aneiro: Tip. J ornal do Comercio, 1932.
NOGUEIRA, Raimundo Lustosa. E assim veio o banditismo no estado do Piau. Bahia:
Imprensa Vitria, 1942.
NUNES, Odilon. O Piau na histria. Teresina: Tip. Popular, 1937.
PACHECO, Felix. O publicista da regncia. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio,
1899.
_____. Mors-Amor. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1904.
_____. Discursos. Recepo ao deputado federal Dr. Ansio de Abreu. Rio de J aneiro: Tip. do
J ornal do Comercio, 1904.
_____. A identificao pelas impresses digitais: o emprego da datiloscopia na Amrica do
Sul, o processo Vucetich. Rio de J aneiro: Tip. Rebello Braga, 1904.
_____. O servio da identificao. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1906.
_____. O recenseamento. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1906.
_____. Regulamentao do servio de identificao. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do
Comercio, 1907.
_____. Dois egressos da farda. O Sr. Euclides da Cunha e o Sr. Alberto Rangel. Rio de
J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1909.
_____. A independncia do Poder Judicirio e as prerrogativas do Supremo Tribunal
Federal. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1913.
_____. Discurso de recepo na Academia. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio,
1913.
175
_____. A emisso de papel moeda. Razoes de voto na comisso de finanas da Cmara dos
deputados. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1914.
_____. Pereira Passos. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1916.
_____. Tiro brasileiro da imprensa. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1917.
_____. Um francs-brasileiro Pedro Plancher, subsdios para a histria do J ornal do
Comercio. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1917.
_____. Tiro brasileiro da imprensa. Rio de J aneiro: Tip. J ornal do Comrcio, 1917.
_____. O marques de Paranagu, notas biogrficas e perfil publico. Rio de J aneiro: Tip. do
J ornal do Comercio, 1917.
_____. Marta. Rio de J aneiro: edio intima, 1917.
_____. Tu, s tu... So Paulo: Oficinas de POCAI & C., 1917.
_____. No limiar do outono. Rio de J aneiro: J acinto Ribeiro dos Santos, 1918.
_____. A defesa da ptria e a bandeira. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1918.
_____. O Brasil um s. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1919.
_____. Lrios Brancos. Rio de J aneiro: J acinto Ribeiro dos Santos, 1919.
_____. stos e pausas. Rio de J aneiro: J acinto Ribeiro dos Santos, 1920.
_____. Discurso (pronunciado no almoo oferecido pelos colegas do J ornal do Comercio, por
ocasio da eleio de Felix Pacheco para o Senado Federal). Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do
Comercio, 1921.
_____. Discurso (pronunciado na cerimnia da inaugurao do retrato do diretor do J ornal do
comrcio, Sr. A. R. Ferreira Botelho, em 10 nov. 1921). Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do
Comercio, 1921.
_____. Dispensrio de So Vicente de Paula (discurso pronunciado nesse estabelecimento por
ocasio da visita do presidente da Repblica). Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio,
1921.
_____. O eleitorado piauiense. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1921.
_____. Discurso de recepo do Sr. Constancio Alves na ABL e resposta do Sr. Felix
Pacheco. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1922.
_____. Em louvor de Paulo Barreto. Versos recitados na sesso de saudade da Academia
Brasileira de Letras em 27.10.1921. Rio de J aneiro: [s. ed.], 1922.
_____. O Brasil na Conferencia de Santiago. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio,
1923.
176
_____. Presidente Harding. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1923.
_____. Discurso. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1923.
_____. Brasil-Argentina. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1923.
_____. La voz del Itamaraty. El Brasil em La 5 Conferencia Panamericana de Santiago del
Chile. Rio de J aneiro, La Roza (Publicao Hispano-Americana), 1923.
_____. Speech delivered at a lucheon offered to Sr. Rivas Vieua, Chilian Minister to
Switzerland, on his passing through Rio de Janeiro. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do
Comercio, 1923.
_____. Speech. Pronounced at a luncheon offered to Mr. President Fletcher. Rio de J aneiro:
Tip. do J ornal do Comercio, 1923.
_____. Un Franois-Bresilien. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1924.
_____. O jubileu de Sua Eminncia o Cardeal D. Joaquim Arcoverde. Rio de J aneiro: Tip. do
J ornal do Comercio, 1924.
_____. Itlia-Brasil (saudao feita pelo ministro das Relaes Exteriores do Brasil, Sr. Felix
Pacheco, ao embaixador especial Sr.Giovanni Giuriati, no banquete realizado em 7 de abr.
1924 no Palcio do Itamarati). Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1924.
_____. A propsito da Doutrina Monroe. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1924.
_____. Dia da Amrica. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1924.
_____. APPEL andress a la Jennesse Brsilienne em faveur dela socit ds Nations. [S.l.]:
[s.n.], 1925.
_____. Discurso (agradecimento a saudao do deputado Armando Burlamaqui banquete no
J ockey Clube). Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1926.
_____. Discurso (Pronunciado em 15 nov. de 1926 no J ornal do Comrcio em resposta a
saudao de Oscar da Costa). Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1926.
_____. Discurso (ao Dr. Otavio Mangabeira). Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio,
1926.
_____. A poltica americana do Brasil. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1926.
_____. A comisso de verificao de Poderes do Senado da Repblica e aos homens de bem
do pas inteiro. Rio de J aneiro: [s. ed.], 1927.
_____. Laffaire des Emprunts Or. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1930.
_____. A Cana de Graa Aranha. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1931.
_____. Robles e Cogumelos J os do Patrocnio e os pigmeus da imprensa (escoro a carvo).
Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1931.
177
_____. A vida til e gloriosa da Academia Brasileira de Letras e o amanha da lngua
portuguesa encarada atravs da reforma ortogrfica em andamento. Rio de J aneiro: Tip. do
J ornal do Comercio, 1932.
_____. Poesias. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1932.
_____. Paul Valery e o monumento a Baudelaire em Paris, um passeio pelas colees de La
Plume. A atitude de Paul Claudel. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do Comercio, 1933.
_____. Baudelaire e os milagres do poder da imaginao. Rio de J aneiro: Tip. do J ornal do
Comercio, 1933.
_____. Guy dAuberval (Alosio de Castro). Retrato a pastel. Rio de J aneiro: Tip. J ornal do
Comrcio, 1933.
PARANAGU, J oaquim Nogueira. Do Rio de Janeiro ao Piau pelo interior do pas. Rio de
J aneiro: Imprensa Nacional, 1905.
PAZ, Daniel. Biografia do Dr. Artur Pedreira por Daniel Paz. [s.loc.], [s. ed.], 1902.
PAZ, J os Firmino. Unidade poltica, o Estado Nacional e o Presidente Vargas. Teresina:
Grfica Moderna, [s.dat.].
PINHEIRO, Celso. Poesias. Teresina, Academia Piauiense de Letras, 1939.
PINHEIRO, J oo. Literatura Piauiense (escoro histrico). Teresina: [s.ed.], 1937.
_____. Fogo de Palha. Teresina: Papelaria Piauiense, 1925.
_____. A Academia Piauiense de Letras. Teresina: Tip. Popular, 1940.
_____. O descobrimento do Piau e o documento de Pereira da Costa. Teresina: Tip. Popular,
1943.
REGO, Moura. Ascenso de Sonhos. Teresina: Tipografia O Tempo, 1936.
_____. Grito perdidos. Rio de J aneiro: Grfica Olmpica, 1945.
REGO, Luiz Flores de Moraes. Notas sobre a geologia do estado do Piau. Teresina: Tip. dO
Piau, 1925.
REIS, Abdoral. Principio de Inspiraes. Teresina: Grfica Esperana, 1934.
RIBEIRO GONALVES, Luis Mendes. Aspectos do problema econmico piauiense.
Teresina: Imprensa Oficial, 1929.
RIBEIRO J NIOR. A questo e legislao sociais. Teresina: Papelaria Piauiense, 1921.
ROCHA, J os Marques da. Sobre verminoses intestinais. Bahia: Imprensa Oficial do Estado,
1922.
178
SANTOS, Moises Pereira dos. O Infinitivo: tese de livre escolha com que o padre Moises
Pereira dos Santos concorreu a cadeira de portugus, 1 e 2 sries do Colgio Estadual do
Piau. Teresina: Tip. Popular, 1945.
SILVA, R. Fernandes e. A indstria pecuria piauiense: memria apresentada ao 3
Congresso Nacional de Agricultura e Pecuria promovido pela Sociedade Nacional de
Agricultura. Teresina: Tip. de O Piau, 1924.
SILVA, J onas da. Czardas. Manaus: Tip. da Revista C e L, 1923.
SOCIEDADE AUXILIADORA DA INSTRUO. A Instruo Pblica no Piau. Teresina:
Papelaria Piauiense, 1922.
_____. O ensino normal do Piau. Teresina: Papelaria Piauiense, 1923.
TEXEIRA, Raimundo Odorico. Os neoplasmos e o aparelho endcrino simptico. Bahia:
Estabelecimento dos dois mundos, 1919.
c) Acervos diversos (Arquivo Pblico do Piau)
Registro Geral de Terras (Sala do Poder J udicirio)
J oel Oliveira (Biblioteca de apoio a pesquisa)
Legislao Piauiense (Biblioteca de apoio a pesquisa)
Mensagens e Relatrios dos Governadores do Piau (Biblioteca de apoio a pesquisa)
Mensagens e Relatrios do Executivo Municipal de Teresina (Biblioteca de apoio a pesquisa)
BIBLIOGRAFIA
a) Livros, artigos, captulos
ABREU, Capistrano. Captulos de Histria Colonial. Rio de J aneiro: Civilizao Brasileira;
Braslia: INL, 1975.
_____. Ensaios e Estudos 1 srie. Rio de J aneiro: Civilizao Brasileira; Braslia: INL, 1975.
ABREU, J os Auto de. Terra Mater. Discursos. Teresina: Plano Editorial do Governo do
Estado do Piau, 1976.
ABREU, J os Auto de; SILVA, J eremias Abreu Pereira da. Ansio de Abreu (dois discursos).
Teresina: Imprensa Oficial, 1965.
ABREU, Mrcia (org.) Leitura, Historia e Historia da Leitura. Campina SP: Mercado de
Letras: Associao de Leitura do Brasil; So Paulo: FAPESP, 1999.
ACADEMIA PIAUIENSE DE LETRAS. Os fundadores. Teresina: Meio Norte, 1997.
179
_____. Cadeira 18. Teresina: s. e.,1980.
ADRIO NETO. Crnicas de sempre (coletnea). Teresina: Fundao Cultural Monsenhor
Chaves, 1994.
_____. A poesia parnaibana (antologia). Teresina: FUNDEC-COMEPI, 2001.
AIRES, Flix. Antologia de sonetos piauienses. Braslia: Senado Federal, Centro Grfico,
1972.
ALBUQUERQUE J R. Durval Muniz de. A inveno do nordeste e outras artes. Recife: FJ N,
Ed. Massangana; So Paulo: Cortez, 2001.
_____. De amadores a desapaixonados: eruditos e intelectuais como distintas figuras de
sujeito do conhecimento no Ocidente In: Revista de Histria UFC, Fortaleza, n.6, 2005, p.43-
66.
_____. Histria a arte de inventar o passado. Bauru, SP: EDUSC, 2007.
ALENCASTRE, J os Martins Pereira de. Memria cronolgica, histrica e corogrfica da
Provncia do Piau. Teresina: Comepi, 1981.
ALENCAR, J os de. Ubirajara. So Paulo: Martins Claret, 2002.
ALMEIDA, ngela Mendes de; ZILLY, Berthold; LIMA, Eli Napoleo de (org.). De sertes,
desertos e espaos incivilizados. Rio de J aneiro: FAPERJ , Mauad, 2001.
ALMEIDA, J os Amrico de. A bagaceira. Rio de J aneiro: J os Olympio, 1983.
ALMEIDA, J os Ricardo Pires de. Histria da instruo pblica no Brasil (1500-1889). So
Paulo: EDUC; Braslia, DF: INEP/MEC, 1989.
ARAJ O, Emanuel. A construo do livro: princpios da tcnica de editorao. Rio de
J aneiro: Nova Fronteira; Braslia: INL, 1986.
ARAJ O, Maria Mafalda Baldoino de. Cotidiano e pobreza: a magia da sobrevivncia em
Teresina. Teresina: Fundao Cultural Monsenhor Chaves, 1995.
ASSIS, Machado de. A Semana. So Paulo: Global, 1997, vol. I e II.
_____. Iracema In: ALENCAR, J os de. Iracema. Cinco Minutos. So Paulo: Martins Claret,
2005, p. 13-20.
AZEVEDO, lvares de. Noite na taverna. Macrio. So Paulo: Martins Claret, 2005.
AZEVDO, Maria Francisca. O casaro do Olho Dgua dos Azevedo. Teresina: 1986.
BADINTER, Elisabeth. As paixes intelectuais. Rio de J aneiro: Civilizao Brasileira, 2007,
vol. 1 e 2.
BARATIN, Marc; J ACOB, Christian (org.). O poder das bibliotecas: a memria dos livros no
Ocidente. Rio de J aneiro: Editora UFRJ , 2000.
180
BARBOSA, Rui. Orao aos moos. So Paulo: Martins Claret, 2003.
BARBOSA, Tnia Maria Brando. Maneiras de viver em J erumenha 1800/1813.
Cadernos de Teresina. Teresina, Fundao Cultural Monsenhor Chaves, Ano 3, n.8, ago.
1989, p. 16-19.
BARROS, J os DAssuno. Cidade e Histria. Petrpolis: RJ , Vozes, 2007.
BASTOS, Elide Rugai; RIDENTI, Marcelo; ROLLAND, Denis (org.). Intelectuais: sociedade
e poltica. So Paulo: Cortez, 2003.
BATISTA, J onatas. Poesia e Prosa. Teresina: Projeto Petrnio Portella, 1985.
BATTLES, Matthew. A conturbada histria das bibliotecas. So Paulo: Editora Planeta do
Brasil, 2003.
BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal. So Paulo: Martins Claret, 2002.
BELO, Andr. Histria & Livro e leitura. Belo Horizonte: Autentica, 2002.
BERMAN, Marshall. Tudo que slido desmancha no ar. So Paulo: Companhia das Letras,
2007.
BESSONE, Tnia Maria. Palcio de destinos cruzados. Bibliotecas, homens e livros no Rio
de J aneiro, 1870-1920. Rio de J aneiro: Arquivo Nacional, 1999.
BOBBIO, Norberto. Os intelectuais e o poder: dvidas e opes dos homens de cultura na
sociedade contempornea. So Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997.
BORGES, Geraldo Almeida (coord.). Histria poltico-administrativa da agricultura do
Piau: 1850-1930. Teresina: Fundao CEPRO, 1978.
_____. Notas sobre a literatura piauiense: na primeira Repblica In: Carta CEPRO. Teresina,
v. 11, n.1, jul./dez. 1986, p. 27-52.
BOSI, Alfredo. Histria concisa da literatura brasileira. So Paulo: Cultrix, 2006.
_____. Dialtica da colonizao. So Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gnese e estrutura do campo literrio. So Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
_____. Economia das trocas simblicas. So Paulo: Perspectiva, 2007.
_____. BRESON, Franois; CHARTIER, Roger. Prticas da leitura. So Paulo: Estao
Liberdade, 2001.
BRANDO, Carlos Rodrigues. Casa de escola: cultura camponesa e educao rural.
Campinas: Papirus, 1984.
BRANDO, Tanya Maria Pires. A elite colonial piauiense: famlia e poder. Teresina:
Fundao Cultural Monsenhor Chaves, 1995.
181
BRANDO, Wilson de Andrade. Histria do Poder Legislativo na provncia do Piau.
Teresina: Grafiset, 1997.
_____. Introduo. Evoluo do conto na literatura piauiense. In: GOVERNO DO ESTADO
DO PIAU. O conto na literatura piauiense. Teresina: COMEPI, 1981, p. 7-17.
BRASIL, Assis. A poesia piauiense no sculo XX. Rio de J aneiro: Imago, Teresina: Fundao
Cultural do Piau, 1995.
_____. Introduo In. BRASIL, Assis. A poesia piauiense no sculo XX. Rio de J aneiro:
Imago, Teresina: Fundao Cultural do Piau, 1995, p. 15-29.
BREJ ON, Moyss. O ensino secundrio no imprio brasileiro. So Paulo: USP, Grijalbo,
1972.
BURITY, J oanildo (org.). Cultura e Identidade: perspectiva interdisciplinares. Rio de J aneiro:
DP& A, 2002
BURKE, Peter (org.). Uma historia social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de
J aneiro: J orge Zahar editor, 2003.
_____. A escrita da histria. Novas perspectivas. So Paulo: Editora da Universidade
Estadual Paulista, 1992.
_____. As fortunas d O Corteso. So Paulo: Editora UNESP, 1997.
_____. A arte da conversao. So Paulo: Editora UNESP, 1995.
CABRAL, J oo C. da Rocha. A vis potica na literatura piauiense In: Revista da Academia
Piauiense de Letras. Ano XXI, n.17, Teresina: Imprensa Oficial, 1938, p. 161-241.
CADERNOS DE COMUNICAO. Vitor Gonalves Neto: o cronista maldito. Teresina:
Zodaco, v.3, ago. 1996.
CALDEIRA, J orge (organizao e introduo). Diogo Antnio Feij. So Paulo: Ed. 34,
1999. (Coleo Formadores do Brasil).
_____. Jos Bonifcio de Andrade e Silva. So Paulo: Ed. 34, 2002. (Coleo Formadores do
Brasil).
CAMPELO, Ac. Artes Cnicas do Piau, uma Reflexo. In: SANTANA, R. N. Monteiro
(org.) Apontamentos para a histria cultural do Piau. Teresina: Fundao de Apoio Cultural
do Piau FUNDAPI, 2003, p. 29-34.
CANDEIRA FILHO, Alcenor. Memorial da cidade amiga. Teresina: Projeto Petrnio
Portella, 1998.
CANDIDO, Antonio. Formao da literatura brasileira. Momentos decisivos. Belo
Horizonte, Rio de J aneiro: Editora Itatiaia Limitada, 1997.
182
CARDOSO, Elisangela Barbosa. Mltiplas e Singulares. Historia e memria de estudantes
universitrias em Teresina, 1930-1970. Teresina: Fundao Cultural Monsenhor Chaves,
2003.
CARNEIRO, Henrique. Comida e sociedade: uma histria da alimentao. Rio de J aneiro:
Campus, 2003.
CARVALHO, Abimael Clementino Ferreira. Famlia Coelho Rodrigues; passado e presente.
S.l. Imprensa Oficial do Cear, 1988.
CARVALHO J R. Dagoberto. Passeio a Oeiras. Recife: Editorial Tormes, 2004.
CARVALHO, Elmar. Aspectos da literatura parnaibana. Parnaba: Grfica & Editora
Livramento Ltda., 2003.
CARVALHO, J os Murilo. A construo da ordem. A elite poltico-imperial. Rio de J aneiro:
Campus, 1981.
_____. Visconde do Uruguai. So Paulo: Ed. 34, 2002. (Coleo Formadores do Brasil).
CASTELO BRANCO, Edwar de Alencar. Todos os dias de pauperia: Torquato Neto e a
inveno da tropiclia. So Paulo: Annablume, 2005.
CASTELO BRANCO, Fenelon. Sntese da histria administrativa do Piau. Revista do
Instituto Histrico e Geogrfico Piauiense. Teresina, n. 2, 1922, p 33-67.
CASTELO BRANCO, Francisco Gil. Ataliba o vaqueiro: Hermione e Abelardo, a mulher de
ouro. Teresina: Convnio APL/UFPI, 1993.
CASTELO BRANCO, Hermnio. Lira Sertaneja. Teresina: Academia Piauiense de Letras:
Projeto Petrnio Portela, FUNDEC, 1972.
_____. _____. Teresina, Academia Piauiense de Letras: Projeto Petrnio Portella, 1988.
CASTELO BRANCO FILHO, Moyss. A famlia rural do Piau. Ciclo do vaqueiro. Rio de
J aneiro: Companhia Brasileira de Artes Grficas, 1983.
CASTELO BRANCO, Renato. O Piau: a terra, o homem, o meio. So Paulo: Quatro Artes,
1970.
_____. Tomei um ita no norte (memrias). So Paulo: L. R, Editores Ltda, 1981.
CASTELO BRANCO, Pedro Vilarinho. Mulheres Plurais: a condio feminina em Teresina
na primeira repblica. Teresina: Fundao Cultural Monsenhor Chaves, 1996.
_____. _____. Teresina: Edies Bagao, 2005.
CELESTINO, Erasmo. Odilon Nunes: historiador e educador. Teresina: Edio Instituto Dom
Barreto, 1996.
CERTEAU, Michel de. A inveno do cotidiano: 1 artes de fazer. Petrpolis: Vozes, 1994.
183
CHARTIER, Roger. O mundo como representao. In: Estudos Avanados. Rio de J aneiro,
n.11(5), 1991.
CHARTIER, Roger. Cultura escrita, Literatura e Histria. Porto Alegre: ARTMED Editora,
2001.
_____. Formas e sentidos: cultura escrita: entre distino e apropriao. Campinas: SP,
Mercado de Letras; Associao de Leitura do Brasil (ALB), 2003.
CHIAPPINI, Ligia; BRESCIANI, Maria Stella (org.). Literatura e cultura no Brasil.
identidades e fronteiras. So Paulo: Cortez, 2002.
COELHO, Celso Barros. Trs poetas de sua terra. Braslia: Cmara dos deputados, Centro de
documentao e informao, 1984.
_____. Cristino Castelo Branco. Estilo e carter. Teresina: s. e., 1992.
_____. Academia Piauiense de Letras 75 anos. Teresina: Academia Piauiense de Letras,
1994.
_____. Perfis Paralelos. Teresina: Academia Piauiense de Letras, 2003.
COELHO NETO. Conferncias Literrias. Rio de J aneiro: H. Garnier, 1909.
CORREIA, Benedito J onas, LIMA, Benedito dos Santos (org.). O livro do centenrio de
Parnaba. Parnaba: Grfica Americana, 1945.
COSTA, F. A. Pereira da. Cronologia Histrica do Estado do Piau. Rio de J aneiro:
Artenova, 1974, 2 vols.
COSTA FILHO, Alcebades. Teresina, 1889, Ano da Repblica In: Cadernos de Teresina.
Ano 3, n.8, Teresina, ago. 1989, p. 8-10.
_____. Histria da mulher escrava no Piau In: Cadernos de Teresina. Ano 6, n.12, Teresina,
ago. 1992, p. 23-33.
_____ Oeirenses republicanos. Notas biogrficas In. Revista do Instituto Histrico de Oeiras.
Edio comemorativa do jubileu de prata, 1997, p.113-126.
_____. A escola do serto: ensino e sociedade no Piau, 1850-1889. Teresina: Fundao
Monsenhor Chaves, 2006.
CUNHA, Eneida Leal. Estampas do imaginrio: literatura, histria e identidade. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2006.
CUNHA, Euclides da. Os sertes. So Paulo: Martin Claret, 2002.
COUTINHO, Afrnio (direo). A literatura no Brasil. Preliminares. Parte I/Generalidades.
So Paulo: Global, 2004.
DA COSTANDRADE. Rosal da vida e outros poemas. Teresina: Fundao Cultural
Monsenhor Chaves, 1996.
184
DEL PRIORE, Mary. Historia do amor no Brasil. So Paulo: Contexto, 2006.
DEMES, J osefina. Floriano: sua histria, sua gente. Teresina: Halley, 2002. DEMES,
J osefina. Floriano: sua histria, sua gente. Teresina: Halley, 2002.
DIAS, Claudete Maria Miranda. Balaios e bem-te-vis: a guerrilha sertaneja. Teresina:
Fundao Monsenhor Chaves, 1996.
DIAS, Gonalves. I-Juca Pirama. Os Timbiras. Outros Poemas. So Paulo: Martins Claret,
2002.
DOMINGO NETO, Manuel, BORGES, Geraldo Almeida. Seca seculorum, flagelo e mito na
economia rural piauiense. Teresina: Fundao CEPRO, 1987.
DUMAZEDIER, J offre. A revoluo cultural do tempo livre. So Paulo: Sesc, 1994.
DUTRA, Eliana de Freitas. Rebeldes literrios da Repblica. Histria e identidade nacional
no Almanaque Brasileiro Garnier (1903-1914). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: uma introduo. So Paulo: Martins Fontes, 2006.
EAGLETON, Terry. Depois da Teoria: um olhar sobre os estudos culturais e o ps-
modernismo. Rio de J aneiro: Civilizao Brasileira, 2005.
ELIAS, Nobert. O processo civilizador. Rio de J aneiro: J orge Zahar Editor, 1994.
_____. A sociedade dos indivduos. Rio de J aneiro: J orge Zahar Ed., 1994.
_____. A sociedade de corte: investigao sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de
corte. Rio de J aneiro: J orge Zahar Ed., 2001.
FALCI, Miridan Knox. Escravos do serto: Demografia, Trabalho e Relaes sociais.
Teresina: Fundao Monsenhor Chaves, 1995.
_____. Mulheres do serto nordestino In: DEL PRIORE, Mary (org.). Histria das mulheres
no Brasil. So Paulo: Contexto, 2002, p.241-277.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formao do patronato poltico brasileiro. So
Paulo: Globo, 1995.
FERREIRA, lvaro. Da terra simples (contos e crnicas). Teresina: Edies Caderno de
Letras Meridiano, 1958.
FONSECA NETO. Lricas Porandubas do Doutor In: CARVALHO J R., Dagoberto.
Passeio a Oeiras. Recife: Tormes, 2004, p. 15-28.
FRANCO, J os Patrcio. O municpio no Piau 1767/1961. Edio comemorativa dos 125
anos da Fundao de Teresina, Teresina, 1977.
_____. Captulos da histria do Piau. Teresina: Grfica do Senado Federal, 1983.
FREITAS, Clodoaldo. Historia de Teresina. Teresina, Fundao Monsenhor Chaves, 1988.
185
_____. Em roda dos fatos (Crnicas). Teresina: Fundao Monsenhor Chaves, 1996.
_____. Vultos piauienses-Apontamentos biogrficos. Teresina: Fundao Monsenhor Chaves,
1998.
_____. O Bequimo (Esquisso de um romance). So Paulo: Siciliano, 2001.
FREITAS, Lucdio. Poesia completa. Teresina: Convenio APL\ UFPI, 1995.
FREIRE, Gilberto. Vida social no Brasil, nos meados do sculo XIX. Recife, Fundao
J oaquim Nabuco: Editora Massangana, 1985.
FREIRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: introduo sociedade patriarcal no Brasil, 2:
decadncia do patriarcado rural e desenvolvimento urbano. Rio de J aneiro: Record, 1996.
FRESNOT, Daniel. O inferno de Rimbaud. In: RIMBAUD, Arthur. Uma estadia no
inferno. Poemas escolhidos. A carta do vidente. So Paulo: Martins Claret, 2005, p. 13-16.
FURTADO, J os da Rocha. Memrias e depoimentos. Teresina: Academia Piauiense de
Letras, Governo do Estado do Piau. 1990.
GARCIA, J os Ribamar. Imagens da cidade verde. Rio de J aneiro: Litteris, 2000.
GARDNER, George. Viagem ao interior do Brasil, principalmente nas provncias do Norte e
nos distritos do ouro e do diamante durante os anos de 1836-1841. Belo Horizonte: Ed.
Itatiaia; So Paulo, Ed. da Universidade de So Paulo, 1975.
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e histria. So Paulo: Companhia
das Letras, 1989.
GOMES, ngela de Castro. Histria e historiadores. Rio de J aneiro: Editora FGV, 1996.
GOMES, J os Airton Gonalves (cord.). O legislativo Piauiense 1835-1985. Teresina,
Assemblia Legislativa do Piau, edio comemorativa do sesquicentenrio da Assemblia
Legislativa do Piau, 1985.
GONALVES, Paulo Csar. Uma saga nordestina. In: Nossa Histria. Ano 3, n. 35, So
Paulo, set. 2006, p.71-74.
GONALVES NETO, Vitor. Conversa to somente (crnicas de outrora e de agora).
Teresina: Meridiano (Caderno de letras), 1957.
GONALVES, Wilson Carvalho. Antologia da Academia Piauiense de Letras. Teresina:
edio do autor, 2000.
_____. Cho de estrelas da historia de Barras do Marataon. Teresina: Halley grfica e
editora, 2006.
GOVERNO DO ESTADO DOPIAU. Governadores do Piau: uma perspectiva histrica.
Teresina: Fundao CEPRO, 1993.
_____. Piau evoluo, realidade e desenvolvimento. Teresina: Fundao CEPRO, 2002.
186
GUIMARES, Manoel Luis Salgado. Nao e Civilizao nos trpicos: O instituto
Histrico e Geogrfico Brasileiro e o projeto de uma histria nacional. Estudos Histricos.
Rio de J aneiro, n. 1, 1988, p. 5-27.
GUIMARES, Lcia Maria Paschoal. Debaixo da imediata proteo de Sua Majestade
Imperial. In. Revista do IHGB, Rio de J aneiro, n. 388, jul/set. 1995, p. 459-613.
HALLEWELL. Laurence. O livro no Brasil. Sua histria. So Paulo: EDUSP, 2005.
HALL, Stuart. A identidade cultural na ps-modernidade. Rio de J aneiro: DP&A, 2006.
HARDI FILHO, Poesia e dor no simbolismo de Celso Pinheiro. Teresina: Projeto Petrnio
Portella, 1988.
HELLER, Agnes. O cotidiano e a histria. Rio de J aneiro: Paz e Terra, 1992.
HELENA, Lucia. Modernismo brasileiro e vanguarda. So Paulo: tica, 1986.
HOBSBAWM, Eric J . A era das revolues 1789-1848. Rio de J aneiro: Paz e Terra, 1977.
_____. A era do capital 1848-1875. Rio de J aneiro: Paz e Terra, 1996.
_____. A era dos imprios 1875-1914. Rio de J aneiro: Paz e Terra, 1988.
_____. A era dos extremos 1914-1991. So Paulo: Companhia das Letras, 1995.
_____. Pessoas extraordinrias: resistncia, rebelio e jazz. Rio de J aneiro: Paz e Terra,
1998.
_____. Revolucionrios. Rio de J aneiro: Paz e Terra, 1985.
HOBSBAWM, Eric J ; RANGER, Terence (org.). A inveno das tradies. Rio de J aneiro:
Paz e Terra, 1997.
HOLANDA, Srgio Buarque de. Razes do Brasil. Rio de J aneiro: J os Olympio, 1975.
HUNT, Lynn. A nova histria cultural. So Paulo: Martins Fontes, 1995.
IBIAPINA, Fontes. Vida gemida em Sambambaia. So Paulo: Clube do Livro, 1985.
IGLSIAS, Francisco de Assis. Caatingas e chapades. So Paulo: Nacional, 1952.
J ANCS, Istvn. Na Bahia, contra o Imprio: histria do ensaio de sedio de 1798. So
Paulo/Salvador: Editora Hucitec, 1996.
J OO DO RIO. A alma encantadora das ruas. So Paulo: Martins Claret, 2007.
LAJ OLO, Marisa. Regionalismo e Histria da Literatura: Quem o vilo da histria? In:
FREITAS, Marcos Cezar. Historiografia Brasileira em Perspectiva. So Paulo: Contexto,
1998, p. 297-327.
LEO, Fabrcio de Ara. Canto da Terra Mrtire. In: VIEIRA, Martins. Canto da Terra
Mrtire. Teresina: Publicao do Governo do Estado, 1977.
187
LE GOFF, J acques. Os intelectuais na Idade Mdia. So Paulo: Brasiliense, 1993.
LEITO, Oflio. Eurpedes de Aguiar varo de Plutarco. Teresina: COMEPI, 1980.
LEITE, Renato Lopes. Republicanos e Libertrios: pensadores radicais no Rio de J aneiro
(1822). Rio de J aneiro: Civilizao Brasileira, 2000.
LIMA, Luiz Costa. Teoria da Literatura em suas fontes. Rio de J aneiro: Civilizao
Brasileira, 2002.
LOBATO, Monteiro. Urups. So Paulo: Brasiliense, 1986.
_____. Cidades Mortas. So Paulo: Brasiliense, 1995.
LOURENZO, Helena Carvalho de; COSTA, Wilma Peres da (org.). A dcada de 1920 e as
origens do Brasil moderno. So Paulo: Editora UNESP, 1997.
LUCA, Tania Regina de. Histria dos, nos e por meio dos peridicos. In: PINSKY, Carla
Bassanezi (org.) Fontes histricas. So Paulo: Contexto, 2005.
LUCAS, Fbio. O carter social da fico do Brasil. So Paulo: tica, 1985.
LUSTOSA, Isabel. Insultos Impressos. A guerra dos jornalistas na independncia 1821-1823.
So Paulo: Companhia das Letras, 2000.
_____. O nascimento da imprensa brasileira. Rio de J aneiro: J orge Zahar Editor, 2003.
MACHADO, Paulo Henrique Couto. Trilhas da morte: extermnio e espoliao das naes
indgenas na regio da bacia hidrogrfica parnaibana piauiense. Teresina: Corisco, 2002.
MAGALHES, Maria do Socorro Rios. Literatura Piauiense: horizontes de leitura & critica
literria (1900-1930). Teresina: Fundao Monsenhor Chaves, 1998.
MARTINS, Wilson. A palavra escrita: Histria do livro, da imprensa e da biblioteca. So
Paulo: Editora tica, 2001.
_____. O modernismo (1916-1945). So Paulo: Cultrix, 1977.
_____. Histria da Inteligncia brasileira (1500-1960). 7v. So Paulo: Cultrix, 1976-1979.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema: a formao do Estado Imperial. Rio de
J aneiro: ACCESS, 1994.
MATOS, J . Miguel de, TITO FILHO. Abdias Neves. Teresina: Editora da Universidade
Federal do Piau, EDUFPI, 1984.
MATOS, Olgria C. F. O iluminismo visionrio: Benjamin, leitor de Descartes e Kant. So
Paulo: Editora Brasiliense, 1993.
MELLO E SOUZA, Antonio Candido. Literatura e Sociedade. So Paulo: T. A. Queiroz,
Publifolha, 2000.
188
MELLO, Cla Rezende Neves de. Osris Neves de Mello: Eco de momentos vividos.
Teresina: Academia Piauiense de Letras, 1992.
_____. Velhos conterrneos luminosos. Piripiri: Papelaria, Grfica e Editora Ideal, 1994.
MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos nobres contra mascates:
Pernambuco1666-1715. So Paulo: Companhia das Letras, 1995.
MELVILLE, J ean. O naturalismo como arte e documento. In: ALUISIO AZEVEDO. O
Homem. So Paulo: Martins Claret, 2003, p. 11-16.
MELLO, Teixeira de. Carta Preliminar. In: CASTELO BRANCO, Francisco Gil. Ataliba o
vaqueiro: Hermione e Abelardo, a mulher de ouro. Teresina: Convnio APL/UFPI, 1993, p.
MENCARELLI, Fernando Antonio. Cena aberta. A absolvio de um bilontra e o teatro de
revista de Artur Azevedo. Campinas, SP: Editora Unicamp; Centro de Pesquisa em Histria
Social da Cultura, 1999.
MENDES, Algemira de Macedo. A imagem da mulher na obra de Amlia Bevilqua. Rio de
J aneiro: Caets, 2004.
MENDES, Algemira de Macedo, ROCHA, Olivia Candeia Lima, ALBUQUERQUE,
Marleide Lins de. (Org.) Antologia de escritoras piauienses. Teresina: Fundao Cultural do
Piau FUNDAC; Fundao de Apoio Cultural do Piau FUNDAPI, 2009.
MERQUIOR. J os Guilherme. De Achieta a Euclides: breve histria da literatura brasileira I.
Rio de J aneiro: Topbooks, 1996.
_____. O vu e a mscara: ensaios sobre cultura e ideologia. So Paulo: T. A. Queiroz, editor,
1997.
MICELI, Sergio. Intelectuais brasileira. So Paulo: Companhia das Letras, 2001.
MONSENHOR CHAVES. Obra completa. Teresina: Fundao Cultural Monsenhor Chaves,
1998.
MONTEIRO, Hamilton de Mattos. Nordeste insurgente (1850-1890). So Paulo: Brasiliense,
1981.
MONTEIRO, Ogmar. Teresina descala, memria desta cidade para deleite dos velhos
habitantes e conhecimento dos novos. Fortaleza: s. e., 1988.
MORAES, Herculano. Viso histrica da literatura piauiense. Rio de J aneiro: Companhia
Editora Americana, 1976.
_____. Viso histrica da literatura piauiense. Teresina: H.M. Editor, 1997.
MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira 1933-1974. So Paulo: tica,
1998.
MOTA, Loureno Dantas; ABDALA J NIOR, Benjamin. Personae: grandes personagens
da literatura brasileira. So Paulo: Editora SENAC So Paulo, 2001.
189
MOTT, Luiz R. B. Piau colonial: populao, economia e sociedade. Teresina: Projeto
Petrnio Portella, 1985.
MOURA, Francisco Miguel de. Literatura do Piau, 1859-1999. Teresina: Academia
Piauiense de Letras, Banco do Nordeste, 2001.
NABUCO, J oaquim. Um estadista do Imprio. Rio de J aneiro: Nova Aguilar, 1975.
NAPOLEO, Aloizio. Meu av Jos de Freitas. Teresina: Projeto Petrnio Portela, 1986.
NAPOLEO, Martins. Opus 7 (Poemas). Rio de J aneiro: Livraria Editora Coelho Branco,
1953.
_____. Folhas soltas ao vento. Teresina: Comepi, 1980.
NASCIMENTO, Francisco Alcides do. Cronologia do Piau Republicano 1889 1930.
Teresina: Fundao CEPRO, 1988.
NAXARA, Mrcia Regina Capelari. Estrangeiro e sua prpria terra: representaes do
brasileiro 1870/1920. So Paulo: Annablume, 1998.
NEEDELL, J effrey D. Belle poque tropical: sociedade e cultura no Rio de J aneiro na virada
do sculo. So Paulo: Companhia das Letras, 1993.
NEVES, Abdias. Velrio; Poesias. Teresina: Fundao Universidade Federal do Piau, 1983.
_____. O Piau na Confederao do Equador. Teresina: EDUFPI, 1997.
_____. Um Manicaca. Teresina: Corisco, 2001.
NEVES, Lcia M. B. P. das, MACHADO, Humberto Fernandes. O Imprio do Brasil. Rio de
J aneiro: Nova Fronteira, 1999.
NIETZSCHE, F. Ecce homo: como cheguei a ser o que sou. So Paulo: Martin Claret, 2001.
NUNES, Odilon. Smula de histria do Piau. Teresina: Edies Cultura, 1963.
_____. Os primeiros currais. Teresina: Comepi, 1972.
_____. Economia e Finanas (Piau Colonial). Teresina: COMEPI, 1972.
_____. Pesquisas para a histria do Piau. v. 1 e 4, Rio de J aneiro: Artenova, 1975.
_____. _____. Teresina: FUNDAPI, Fundao Cultural Monsenhor Chaves, 2007.
NUNES, Manoel Paulo. A gerao perdida. Rio de J aneiro: Arte Nova, 1979.
_____. As solides justapostas. Teresina: Academia Piauiense de Letras, 1992.
_____. Inveno e Tradio: discursos acadmicos nova srie. Teresina: Projeto Petrnio
Portela, 1998.
_____. Modernismo & Vanguarda. Teresina: Fundao Monsenhor Chaves, 2000.
190
OLIMPIO, Matias. Falando e escrevendo. Rio de J aneiro: Servio Grfico do IBGE, 1958.
_____. Ensaios, Discursos e Conferncias. Rio de J aneiro: Servio Grfico do IBGE, 1959.
ORTEGA, Francisco. Genealogias da amizade. So Paulo: Iluminurus, 2002.
ORTIZ, Renato. Cultura e Modernidade: a Frana no sculo XIX. So Paulo: Brasiliense,
1991.
PACHECO, Felix. Poesias. Teresina: Projeto Petrnio Portella, 1985.
PARANHOS, Maria da Conceio. Castro Alves e a busca da poesia In: ALVES, Castro.
Espumas Flutuantes. So Paulo: Martins Claret, 2002, p. 11-25.
PASSOS, Artur. Abdias Neves; homens e eventos de sua poca. Teresina: s.e., 1966.
PECHMAN, Robert Moses. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. Rio de
J aneiro: Casa da Palavra, 2002.
PESAVENTO, Sandra J atahy (org.). Escrita, Linguagem, Objetos: leituras de histria
cultural. Bauru: EDUSC, 2004.
PINHEIRO, urea da Paz. As ciladas do inimigo: as tenses entre clericais e anticlericais no
Piau nas duas primeiras dcadas do sculo XX. Teresina: Fundao Monsenhor Chaves,
2001.
_____. Luzes, progresso e civilizao. Abdias Neves e a narrativa histrica no Piau do inicio
do sculo XX In: CASTELO BRANCO, Edwar de Alencar, et. al. Histria: cultura,
sociedade, cidades. Recife: Bagao, 2005, p.43-59.
PINHEIRO FILHO, Celso. Histria da imprensa no Piau. Teresina: Projeto Petrnio
Portella, 1972.
_____. A guisa de prefcio e biografia In: CASTELO BRANCO, Hermnio. Lira Sertaneja.
Teresina: Academia Piauiense de Letras\ Projeto Petrnio Portella, 1988.
PINHEIRO, J oo. Literatura Piauiense; escoro histrico. Teresina: Fundao Monsenhor
Chaves, 1994.
PRADO, Antonio Arnoni. 1922 itinerrio de uma falsa vanguarda. Os dissidentes, a
Semana e o Integralismo. So Paulo: Brasiliense, 1983.
PREFEITURA DE TERESINA. Deolindo Couto- in memoriam. Teresina: Fundao Cultural
Monsenhor Chaves, 1996.
QUEIROZ, Teresinha. A importncia da borracha de manioba na economia do Piau 1900
1920. Teresina: Editora da Universidade Federal do Piau, Academia Piauiense de Letras,
1994.
_____. Os literatos e a Repblica: Clodoaldo Freitas, Higino Cunha e as tiranias do tempo.
Teresina: Fundao Monsenhor Chaves, 1994.
191
_____. Direito e Identidades In: Cadernos de Teresina, Teresina, ano X, n. 23, p. 33 37,
ago. 1996, 33-37.
_____. Histria, literatura, sociabilidades. Teresina: Fundao Monsenhor Chaves, 1998.
_____. do Singular ao Plural. Recife: Edies Bagao, 2006.
____. As diverses civilizadas em Teresina: 1880 1930. Teresina: FUNDAPI, 2008.
_____. Histria e Literatura In: ADAD, Shara J ane H. Costa; BRANDIM, Ana Cristina M. de
Sousa; RANGEL, Maria do Socorro (org.). Entre lnguas: movimento e misturas de saberes.
Fortaleza: Edies UFC, 2008, p. 200-214.
RABELO, E. Territrios de Crispim: inscries literrias da piauiensidade. Teresina:
Departamento de Geografia e Histria, Universidade Federal do Piau, 2005 [Indita].
RAIMUNDO, Maria Antonieta Vilela. Gonalves Dias e o Indianismo. In. DIAS, Gonalves.
I-Juca Pirama. Os Timbiras. Outros Poemas. So Paulo: Martins Claret, 2002, p.13-18.
RGO, Ana Regina Barros Leal. Imprensa piauiense: atuao poltica no sculo XIX.
Teresina: Fundao Cultural Monsenhor, 2001.
RGO, J os Expedito. Vaqueiro e visconde. Teresina: Projeto Petrnio Portella, 1986.
RGO, Moura. As mamoranas esto florindo. Teresina: Projeto Petrnio Portella, 1985.
RMOND, Ren (org.). Por uma histria poltica. Rio de J aneiro: Editora FGV, 2003.
REZENDE, Antonio Paulo. Desencantos modernos. Historias da cidade do Recife na dcada
de XX. Recife: FUNDARPE, 1997.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: evoluo e sentido do Brasil. So Paulo: Companhia das
Letras, 1995.
RIMBAUD, Arthur. Uma estadia no inferno. Poemas escolhidos. A carta do vidente. So
Paulo: Martins Claret, 2005.
ROCHA, Odete Vieira da. Maranduba: memria do nordeste contada de viva voz. De me
para filho, de av para neto para que no se percam nossos comeos e tropeos. Rio de
J aneiro: Sindical, 2002.
RODRIGUES, J os Honrio. Historia e historiografia. Petrpolis, RJ : Vozes, 2008.
ROUANET, Sergio Paulo. As razes do iluminismo. So Paulo: Companhia das Letras, 1987.
SAMPAIO, Antonio. Velhas escolas grandes mestres. Esperantina: Prefeitura Municipal,
1996.
SANTOS, J os Lopes dos Santos. A Academia e a cadeira 27. Teresina: Grfica Mendes,
1994.
192
SCHORSKE, Carl E. Pensando com a histria. Indicaes na passagem para o moderno. So
Paulo: Companhia das Letras, 2000.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetculo das raas: cientistas, instituies e questo racial
no Brasil 1870 1930. So Paulo: Companhia das Letras, 1993.
_____. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trpicos. So Paulo:
Companhia das Letras, 1998.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como misso: tenses sociais e criao cultural na Primeira
Repblica. So Paulo: Brasiliense, 1983.
_____. Orfeu esttico na metrpole: So Paulo sociedade e cultura nos frementes anos 20.
So Paulo: Companhia das Letras, 1992.
_____. Introduo. O preldio republicano, astcias da ordem e iluses do progresso In.
SEVCENKO, Nicolau (org.). Historia da vida privada no Brasil. Repblica: da Belle poque
era do rdio. So Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 7-48.
SILVA, Alberto da Costa e. A literatura piauiense em curso. Da Costa e Silva. Teresina:
Corisco, 1997.
SILVA, Halan. As formas incompletas: apontamentos para uma biografia de H. Dobal.
Teresina: Oficina da palavra/Instituto Dom Barreto, 2005.
SILVA, J osias Clarence Carneiro da. Genealogia de J. Miguel de Matos, Teresina: s. e., 1970.
SILVA, Ovdio Saraiva de Carvalho. Poemas. Teresina: Universidade Federal do Piau, 1989.
SILVA, Raimunda Celestina da. A representao da seca na narrativa piauiense: sculo XIX
e XX. Rio de J aneiro: editora Caets, 2005.
SODR, Nelson Werneck. Sntese de histria da Cultura Brasileira. Rio de J aneiro:
Civilizao Brasileira, 1980.
SOUZA. Silvia Cristina Martins. As noites do Ginsio. Teatro e tenses culturais na corte
(1832-1888). Campinas, SP: Editora da Unicamp; CECULT, 2002.
TAPETY, Nogueira. Arte e Tormento. Oeiras: Instituto Histrico de Oeiras; Teresina:
Academia Piauiense de Letras, 1990.
TVORA, Franklin. Escritos do norte do Brasil. in. CASTELO BRANCO, Francisco Gil.
Ataliba o vaqueiro: Hermione e Abelardo, a mulher de ouro. Teresina: Convnio APL/UFPI,
1993.
TITO FILHO. Lima Rebelo, o Homem e a Substncia. Teresina: Companhia Editora do Piau-
COMEPI, 1972.
_____. Deus e a Natureza em Jos Coriolano. Teresina: Companhia Editora do Piau-
COMEPI, 1973.
_____. Praa Aquidab sem nmero. Rio de J aneiro: Artenova, 1975.
193
_____. Governadores do Piau. Rio de J aneiro: Artenova, 1978.
_____. A augusta casa do Piau. Teresina: COMEPI, 1978.
_____. Memorial da cidade verde. Teresina: COMEPI, 1978.
_____. O poder legislativo do Piau: sntese histrica. Teresina: COMEPI, 1980.
VIEIRA, Hermes. Piau serto. Teresina: Projeto Petrnio Portella, 1988.
_____. Nordeste. Poemas. Teresina: s.e., s/d.
VIEIRA, Martins. Canto da Terra Mrtire. Teresina: Publicao do Governo do Estado,
1977.
_____. Canto da Terra Mrtire. Teresina: COMEPI, 1983.
VILLALTA, Luis. O que se fala e o que se l: lngua, instruo e leitura In. SOUZA, Laura de
Mello e (org.) Histria da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na Amrica
portuguesa. v.1, So Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 331-385.
_____. Os leitores e os usos dos livros na Amrica portuguesa In: ABREU, Mrcia (org.).
Leitura, Histria e Histria da leitura. Campinas, SP: Mercado de Letras, Associao de
Leitura do Brasil; So Paulo: FAPESP, 1999, p. 183-212.
KATZENSTEIN, rsula Ephraim. A origem do livro: da Idade da Pedra ao advento da
impresso tipogrfica no Ocidente. So Paulo: HUCITEC; Braslia: INL, 1986.
KOTHE, Flavio R. O cnone imperial. Braslia: Editora da Universidade de Braslia, 2000.
KNOX, Miridan Brito. O Piau na primeira metade do sculo XIX. Teresina: Projeto Petrnio
Portella,1986.
KRUEL, Kenard. Gonalo Cavalcanti: o intelectual e sua poca. Teresina: Zodaco, 2005.
_____. O.G Rgo de Carvalho. Fortuna critica. Teresina: Zodaco, 2007.
WEBER, Eugen. Frana fin-de-sicle. So Paulo: Companhia das Letras, 1988.
WEHLING, Arno e WEHLING, Maria J os. O funcionrio colonial entre a sociedade e o Rei
In: DEL PRIORE, Mary. Reviso do paraso: os brasileiros e o estado em 500 anos de
histria. Rio de J aneiro: Campus, 2000, p. 139-159.
WILSON, Edmund. O Castelo de Axel: estudos sobre a literatura imaginativa de 1870 a 1930.
So Paulo: Companhia das Letras, 2004.
b) Obras de Referncia
ADRIO NETO. Dicionrio biogrfico: escritores piauienses de todos os tempos. Teresina:
Edio do autor, 1995.
194
BASTOS, Cludio. Dicionrio Histrico e Geogrfico do Estado do Piau. Teresina:
Fundao Monsenhor Chaves, 1994.
COUTINHO, Afrnio, SOUZA, J . Galante de (direo). Enciclopdia de literatura brasileira.
2 ed., So Paulo: Global Editora; Rio de J aneiro: Fundao Biblioteca Nacional, Academia
Brasileira de Letras, 2001.
DOMINGOS NETO, Manoel. Indicaes bibliogrficas sobre o Estado do Piau
(selecionadas e comentadas). Teresina: Fundao Centro de Pesquisas Econmicas e Sociais
do Piau, 1978.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Novo Dicionrio da Lngua Portuguesa. Rio de
J aneiro: Nova Fronteira, 1986.
GOMES, J os Airton Gonalves. Bibliografia piauiense. Teresina: Fundao Centro de
Pesquisas Econmicas e Sociais do Piau, 1978.
GONALVES, Wilson Carvalho. Dicionrio Enciclopdico Piauiense Ilustrado. Teresina:
Edio do autor, 2003.
MEDEIROS, J oo Bosco. Redao cientifica: a prtica de fichamentos, resumos, resenhas.
So Paulo: Atlas, 2000.
VAINFAS, Ronaldo (direo). Dicionrio do Brasil Colonial (1500-1808). Rio de J aneiro:
Objetiva, 2000.
_____. Dicionrio do Brasil Imperial (1822-1889). Rio de J aneiro: Objetiva, 2002.
Você também pode gostar
- Baixa de Inquérito PolicialDocumento1 páginaBaixa de Inquérito PolicialAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Ação Trabalhista para Reversão de Demissão por Justa CausaDocumento35 páginasAção Trabalhista para Reversão de Demissão por Justa CausaAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- A CordaoDocumento2 páginasA CordaoAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- DPGE #943 DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 Defensoria Pública Do Rio de JaneiroDocumento8 páginasDPGE #943 DE 11 DE SETEMBRO DE 2018 Defensoria Pública Do Rio de JaneiroAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Ebook Dezembro Vermelho Onde Se VacinarDocumento12 páginasEbook Dezembro Vermelho Onde Se VacinarFannyAinda não há avaliações
- Análise CriminologiaDocumento8 páginasAnálise CriminologiaAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2021Documento19 páginasTABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 2021Mateus Romano VieiraAinda não há avaliações
- Audiência trabalhista adiada por descumprimento de protocolo sanitárioDocumento1 páginaAudiência trabalhista adiada por descumprimento de protocolo sanitárioAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- 1º Ebook - CF - Direitos FundamentaisDocumento24 páginas1º Ebook - CF - Direitos FundamentaisAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- MANDADO DE SEGURANÇA - Justiça Gratuita - DORNELES MOTTA X TIMDocumento10 páginasMANDADO DE SEGURANÇA - Justiça Gratuita - DORNELES MOTTA X TIMAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Deliberação CS/DPGE sobre assistência jurídica gratuitaDocumento4 páginasDeliberação CS/DPGE sobre assistência jurídica gratuitaAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Tabela Oab Agosto 2017Documento18 páginasTabela Oab Agosto 2017Diego Patrick SalomãoAinda não há avaliações
- Circuito LegislativoDocumento65 páginasCircuito LegislativoAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Direito Tributario Analise Estrategica 19193Documento9 páginasDireito Tributario Analise Estrategica 19193Anonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Modelo CV - Caixa SeguradoraDocumento3 páginasModelo CV - Caixa SeguradoraAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Modelo de Currículo em BrancoDocumento1 páginaModelo de Currículo em BrancoJonas HonoratoAinda não há avaliações
- Edital PRRJ 02.2016 - Divulga Relacao Habilitados FalanteDocumento9 páginasEdital PRRJ 02.2016 - Divulga Relacao Habilitados FalanteAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- 922058-Oferendas para Exu e PombogiraDocumento5 páginas922058-Oferendas para Exu e PombogiraAnonymous Oqw6ZrLH5V100% (2)
- Lei Complementar 7558Documento29 páginasLei Complementar 7558Anonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Ano 08 Ed 86 Jul 2007Documento12 páginasAno 08 Ed 86 Jul 2007Anonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Semana 7 BrunoDocumento1 páginaSemana 7 BrunoAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- As linhas auxiliares espirituais na umbandaDocumento7 páginasAs linhas auxiliares espirituais na umbandaIovane LoboAinda não há avaliações
- Onde Estão Os Outros IngredientesDocumento2 páginasOnde Estão Os Outros IngredientesAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- BaianosDocumento10 páginasBaianosAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Petros VelhosDocumento3 páginasPetros VelhosAnonymous Oqw6ZrLH5VAinda não há avaliações
- Os Exus Mirins Da UmbandaDocumento12 páginasOs Exus Mirins Da UmbandaMaíra MonteiroAinda não há avaliações
- As falanges da UmbandaDocumento31 páginasAs falanges da Umbandaunimomi100% (1)
- Extensores Da Mão 01Documento27 páginasExtensores Da Mão 01Pedro SecaAinda não há avaliações
- Roteiro Camara EscuraDocumento2 páginasRoteiro Camara Escuracristavo20084412100% (1)
- Fala, Memória - Vladimir NabokovDocumento278 páginasFala, Memória - Vladimir NabokovSilvio AgendaAinda não há avaliações
- Gestão Ambiental e Energias RenováveisDocumento77 páginasGestão Ambiental e Energias RenováveisHugo CarvalhoAinda não há avaliações
- Atualização Mirror Link EvolveDocumento14 páginasAtualização Mirror Link EvolveArnaldo Rosentino Junior25% (4)
- As Pedras e as Cartas CiganasDocumento20 páginasAs Pedras e as Cartas Ciganascarmemromani100% (2)
- CLG535R: Características técnicas de hardware e softwareDocumento6 páginasCLG535R: Características técnicas de hardware e softwareHudsonAinda não há avaliações
- ABNT NBR 14951defeitos de Pintura PDFDocumento4 páginasABNT NBR 14951defeitos de Pintura PDFrenanskAinda não há avaliações
- Quesitos em Medicina LegalDocumento18 páginasQuesitos em Medicina LegalTen_SevalhoAinda não há avaliações
- Alem Dos Muros Da EscolaDocumento30 páginasAlem Dos Muros Da Escolasilvinharicci67% (3)
- FCM - Caixas - SNH - SN30 PDFDocumento38 páginasFCM - Caixas - SNH - SN30 PDFAlissonFernandes17100% (1)
- Foucault GovernabilidadeDocumento2 páginasFoucault GovernabilidadeanacandidapenaAinda não há avaliações
- Funções de Um Técnico Superior de EducaçãoDocumento1 páginaFunções de Um Técnico Superior de EducaçãoSónia FerreiraAinda não há avaliações
- Ética PastoralDocumento3 páginasÉtica PastoralGladson2010Ainda não há avaliações
- Polímeros: Conceitos BásicosDocumento31 páginasPolímeros: Conceitos BásicosFelipe PostigoAinda não há avaliações
- Princípios jurídicos das finanças públicasDocumento19 páginasPrincípios jurídicos das finanças públicasJessica Brissos100% (1)
- Recuperação Da Barragem Do Gama Por Meio de Cutoff em Jet GroutingDocumento10 páginasRecuperação Da Barragem Do Gama Por Meio de Cutoff em Jet GroutingMax Gabriel Timo BarbosaAinda não há avaliações
- Construindo uma torre de espagueteDocumento21 páginasConstruindo uma torre de espagueteBrunoAinda não há avaliações
- UFCD 7238 Terceira Idade e Velhice ÍndiceDocumento3 páginasUFCD 7238 Terceira Idade e Velhice ÍndiceMANUAIS FORMAÇÃO100% (2)
- Apostila Planejamento Estrategico de RHDocumento152 páginasApostila Planejamento Estrategico de RHEder José Miola89% (9)
- Novo Código de Obras e Edificações de TeresinaDocumento61 páginasNovo Código de Obras e Edificações de TeresinaMarcos Gabriel Coimbra FrançaAinda não há avaliações
- Parametros Da Educação EJA Pernambuco.Documento72 páginasParametros Da Educação EJA Pernambuco.Nah Costa0% (1)
- Dimensionamento Proteção Rede Primaria PDFDocumento63 páginasDimensionamento Proteção Rede Primaria PDFAdriano VianaAinda não há avaliações
- Conservação e Eficácia EnergéticaDocumento25 páginasConservação e Eficácia EnergéticaGabriel Vieira de AlmeidaAinda não há avaliações
- Laboratório de Biodiversidade e Restauração de EcossistemasDocumento3 páginasLaboratório de Biodiversidade e Restauração de EcossistemasJohn Rick Lima OliveiraAinda não há avaliações
- 63 123 1 SMDocumento18 páginas63 123 1 SMjhebetaAinda não há avaliações
- Ventosaterapia para dores muscularesDocumento15 páginasVentosaterapia para dores muscularesDaniel Da Silva LimaAinda não há avaliações
- NEOPLASIASDocumento23 páginasNEOPLASIASAsiloEspinosaAinda não há avaliações
- PfuiDocumento3 páginasPfuiLuísAlexandreStasiakAinda não há avaliações
- Como se tornar um FilósofoDocumento44 páginasComo se tornar um FilósofoEuclidesdaSilva57% (7)
- Boate AzulDocumento73 páginasBoate AzulRaphael Marques DinizAinda não há avaliações