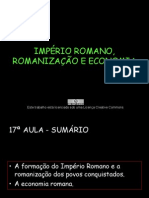Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dissertação de Mestrado (Andréa Fernanda Rodrigues Britto)
Enviado por
Andréa Fernanda Rodrigues Britto0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
36 visualizações89 páginas1) O documento trata da responsabilidade de proteger e sua evolução histórica no âmbito das Nações Unidas.
2) Aborda os fundamentos jurídicos e antecedentes do conceito, desde o direito à guerra até a proibição do uso da força.
3) Discutem o surgimento do conceito de responsabilidade de proteger após relatórios de 2001, e sua interpretação e aplicação nas Nações Unidas entre 2001-2005.
Descrição original:
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documento1) O documento trata da responsabilidade de proteger e sua evolução histórica no âmbito das Nações Unidas.
2) Aborda os fundamentos jurídicos e antecedentes do conceito, desde o direito à guerra até a proibição do uso da força.
3) Discutem o surgimento do conceito de responsabilidade de proteger após relatórios de 2001, e sua interpretação e aplicação nas Nações Unidas entre 2001-2005.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
36 visualizações89 páginasDissertação de Mestrado (Andréa Fernanda Rodrigues Britto)
Enviado por
Andréa Fernanda Rodrigues Britto1) O documento trata da responsabilidade de proteger e sua evolução histórica no âmbito das Nações Unidas.
2) Aborda os fundamentos jurídicos e antecedentes do conceito, desde o direito à guerra até a proibição do uso da força.
3) Discutem o surgimento do conceito de responsabilidade de proteger após relatórios de 2001, e sua interpretação e aplicação nas Nações Unidas entre 2001-2005.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 89
Universidade de Braslia
Instituto de Relaes Internacionais
Programa de Ps-Graduao em Relaes Internacionais
A RESPONSABILIDADE DE PROTEGER:
A QUESTO DA PROMOO DA PAZ
NO SCULO XXI
ANDRA FERNANDA RODRIGUES BRITTO
BRASLIA
2013
Universidade de Braslia
Instituto de Relaes Internacionais
Programa de Ps-Graduao em Relaes Internacionais
A RESPONSABILIDADE DE PROTEGER:
A QUESTO DA PROMOO DA PAZ
NO SCULO XXI
ANDRA FERNANDA RODRIGUES BRITTO
Dissertao apresentada como requisito
parcial para a obteno do ttulo de
Mestre em Relaes Internacionais.
rea de Concentrao: Poltica
Internacional e Comparada
Orientadora: Profa. Dra. Norma Breda dos
Santos
BRASLIA
2013
Ficha catalogrfica elaborada pela Biblioteca Central da Universidade de
Braslia. Acervo 1011270.
Br i t t o , And r a Fe r nanda Rod r i gues .
B862 r A r esponsab i l i dade de p r o t ege r : a ques t o da p r omoo
da paz no scu l o XXI / And r a Fe r nanda Rod r i gues Br i t t o . - -
2013 .
87 f . ; 30 cm.
D i sse r t ao (mes t r ado ) - Un i ve r s i dade de Br as l i a ,
I ns t i t u t o de Re l aes I n t e r nac i ona i s , Pr og r ama de
Ps -Gr aduao em Re l aes I n t e r nac i ona i s , 2013 .
I nc l u i b i b l i og r a f i a .
Or i en t ao : No rma Br eda dos San t os .
1 . Naes Un i das . 2 . D i r e i t o i n t e r nac i ona l pb l i co .
3 . I n t e r veno human i t r i a . I . San t os , No rma Br eda
dos . I I . T t u l o .
CDU 341
ANDRA FERNANDA RODRIGUES BRITTO
A RESPONSABILIDADE DE PROTEGER:
A QUESTO DA PROMOO DA PAZ
NO SCULO XXI
Dissertao de Mestrado apresentada ao
Programa de Ps-Graduao em Relaes
Internacionais do Instituto de Relaes
Internacionais da Universidade de Braslia
como requisito parcial para a obteno do
ttulo de Mestre em Relaes Internacionais
na rea de Poltica Internacional e
Comparada.
Aprovada em: ____/___________/____
Banca examinadora:
___________________________________________________
Profa. Dra. Norma Breda dos Santos
Instituto de Relaes Internacionais UnB (Orientadora)
___________________________________________________
Prof. Dr. Flvio Eduardo Fonseca
Controladoria Geral da Unio CGU
___________________________________________________
Prof. Dr. George Rodrigo Bandeira Galindo
Faculdade de Direito UnB
___________________________________________________
Profa. Dra. Danielly Ramos Silva Becard
Instituto de Relaes Internacionais UnB (Suplente)
Aos meus pais e aos meus queridos amigos.
AGRADECIMENTOS
Agradeo a Deus e espiritualidade, assim como sou grata pelo apoio
incondicional e carinho dos meus pais, Gerimar de Brito Vieira e Maria do Rozrio
Rodrigues Britto, sem os quais a confeco deste trabalho jamais seria possvel.
Tambm gostaria de agradecer a pacincia e tolerncia da minha orientadora,
Professora Norma Breda dos Santos, que me ajudou de modo a possibilitar a
concluso e defesa tanto de meu Projeto de Pesquisa quanto desta Dissertao.
Agradeo igualmente Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de
Nvel Superior (CAPES) pela bolsa de estudos recebida, a qual serviu como grande
auxlio financeiro durante o meu perodo de estada no Programa de Ps-Graduao
em Relaes Internacionais da UnB.
Meus agradecimentos tambm ao Anderson Xavier e Odalva Arajo,
membros da Secretaria de Ps-Graduao do IREL, pelo esclarecimento, orientao
e auxlio no tocante aos trmites burocrticos do Programa.
Alm disso, no poderia deixar de expressar minha gratido pelo apoio e
aconselhamento do Professor Flvio Eduardo Fonseca e da Professora Danielly
Silva Ramos Bcard, que me serviram de norte nos estgios iniciais da minha
pesquisa.
Do mesmo modo, devo mencionar o suporte fundamental que recebi dos
meus velhos e queridos amigos nos momentos difceis da caminhada no Mestrado,
Thas Queiroz e Rafael Vilela.
Por fim, no poderia deixar de agradecer pela amizade e companheirismo dos
meus colegas de curso, especialmente de Ganesh Inocalla, Alberto Francisco,
Rafael Arajo, Lvia Milanez, Antouan Monteiro, Prola Abreu Pereira, Pilar Brasil e
Bruno Hendler. Obrigada pelos momentos de alegria compartilhados, pelo apoio e
compreenso mtuos e pelas novas amizades que fiz por meio de vocs.
The way I see it, every life is a pile of good things and bad things. The good things
dont always soften the bad things, but vice-versa, the bad things dont necessarily
spoil the good things and make them unimportant.
Vincent and The Doctor (BBC/2010)
Richard Curtis
RESUMO
Esta dissertao trata do conceito de responsabilidade de proteger, seus
fundamentos e antecedentes, sua evoluo histrica, e seus desdobramentos mais
recentes, como o surgimento do conceito de responsabilidade de proteger. Tem por
objetivo mostrar como a Organizao das Naes Unidas tem reagido s graves
violaes do direito internacional humanitrio na ltima dcada. Para tal, utilizou-se
da teoria construtivista das relaes internacionais devido a sua nfase na produo
de normas e em como elas afetam o comportamento dos atores. A metodologia
utilizada foi a anlise de documentos e discursos produzidos no mbito da
organizao. A concluso principal foi a de que no houve alterao substancial no
modo como as Naes Unidas reagem s graves violaes do direito humanitrio
pelo fato de o conceito ainda se encontrar em desenvolvimento, fomentando mais
debates que resultados concretos.
Palavras-chave: Direito internacional humanitrio. Intervenes humanitrias.
Primavera rabe. Responsabilidade de proteger. Responsabilidade ao proteger.
ABSTRACT
This dissertation discusses the concept of responsibility to protect, its foundations
and background, historical evolution and latest developments, such as the
emergence of the concept of responsibility while protecting. It aims to show how the
United Nations has reacted to grave violations of International Humanitarian Law
over the last decade. The constructivist theory of International Relations was chosen
for this purpose due to its emphasis on the production of norms and how they affect
the behavior of the actors. The used methodology was the analysis of documents
and speeches produced within the organization. The main conclusion was that there
was no substantial change in the way the United Nations reacts to serious violations
of Humanitarian Law because the concept is still in development, fostering more
debate rather than concrete results.
Keywords: International humanitarian law. Humanitarian intervention. The Arab
spring. Responsibility to protect. Responsibility while protecting.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AGNU Assembleia Geral das Naes Unidas
CCG Conselho de Cooperao para os Estados rabes do Golfo
CDH- Conselho de Direitos Humanos das Naes Unidas
CICV Comit Internacional da Cruz Vermelha
CMMAD Comisso Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
CNA Congresso Nacional Africano
CNT Conselho Nacional de Transio
CSNU Conselho de Segurana das Naes Unidas
FMI Fundo Monetrio Internacional
G77 - Grupo dos 77
ICISS Comisso Internacional sobre Interveno e Soberania Estatal
MAN Misso de Alto Nvel
MANPADS Sistema de Defesa Areo Porttil
MNA Movimento dos Pases No Alinhados
PNUD Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento
ONU Organizao das Naes Unidas
OTAN Organizao do Tratado do Atlntico Norte
R2P Responsabilidade de proteger
RWP Responsabilidade ao proteger
TPI Tribunal Penal Internacional
UNPROFOR Fora de Proteo das Naes Unidas
UNSMIL Misso de Apoio das Naes Unidas para a Lbia
SUMRIO
INTRODUO .......................................................................................................... 10
CAPTULO I: FUNDAMENTOS JURDICO-NORMATIVOS E ANTECEDENTES
HISTRICOS DO CONCEITO DE RESPONSABILIDADE DE PROTEGER ............ 15
1.1 Do direito guerra renncia ao Uso da Fora .............................................. 15
1.2 A proscrio do Uso da Fora sob o arcabouo institucional das Naes
Unidas.................................................................................................................... 19
1.3 A mudana de paradigma dos anos 1990: crises, intervenes e mudanas
no conceito de soberania ....................................................................................... 21
CAPTULO II: O SURGIMENTO DA RESPONSABILIDADE DE PROTEGER E
SUA INTERPRETAO E APLICAO NO MBITO DAS NAES UNIDAS
(2001-2005) ............................................................................................................... 27
2.1 A Comisso Internacional sobre Interveno e Soberania Estatal (ICISS) ...... 27
2.1.1 Crticas ao conceito como formulado pela ICISS ...................................... 34
2.2 O caminho at a Cpula Mundial de 2005 ....................................................... 38
2.2.1 Do dissenso ao consenso ......................................................................... 40
2.3 A Cpula Mundial de 2005 ............................................................................... 45
CAPTULO III: INTERPRETAO E APLICAO DA RESPONSABILIDADE DE
PROTEGER NO MBITO DAS NAES UNIDAS (2006-2011) .............................. 53
3.1 O arrependimento do comprador: a oposio R2P aps a Cpula
Mundial de 2005 (2006-2007) ................................................................................ 53
3.2 Rumo a um novo consenso (2007-2008) ......................................................... 55
3.3 Implementando a Responsabilidade de proteger ............................................ 57
3.4 O debate da Assembleia Geral de julho de 2009 ............................................ 63
3.5 A Primavera rabe .......................................................................................... 64
3.6 A interveno na Lbia ..................................................................................... 65
3.7 Implicaes da interveno na Lbia sobre a responsabilidade de proteger .... 68
3.8 O surgimento da responsabilidade ao proteger (RWP) ................................... 71
CONCLUSO ............................................................................................................ 75
REFERNCIAS ......................................................................................................... 80
10
INTRODUO
Nos ltimos vinte anos, as questes concernentes s intervenes humanitrias
ganharam importncia nas discusses sobre a promoo da paz, o que se deu, de
certo modo, em detrimento das tradicionais preocupaes geopolticas.
Essa mudana pode ser percebida tanto como resultado de uma nova conjuntura
internacional mais favorvel cooperao internacional, a conjuntura do ps-Guerra
Fria, quanto como resultado de uma evoluo histrica maior, uma evoluo dos
fundamentos jurdicos e normativos que levaram ao surgimento do Direito
internacional humanitrio a partir da segunda metade do sculo XIX.
Sua institucionalizao no mbito da Organizao das Naes Unidas (ONU) se deu
em 1945, mas foi somente a partir da dcada de 1990 que ela teria as condies
para efetivamente implement-lo.
Feita essa contextualizao inicial, a presente dissertao tem por objetivo geral
mostrar como, pouco mais de dez anos aps a formulao do conceito de
responsabilidade de proteger, a ONU tem reagido em relao s graves violaes
do direito internacional humanitrio, em geral, e aos crimes de guerra, genocdio e
limpeza tnica, em particular.
Subsidiariamente, isso implica a elaborao de dois objetivos especficos, a saber:
O primeiro deles consiste em analisar, em perspectiva histrica, a evoluo do
conceito de responsabilidade de proteger (R2P), de 2001 a 2011.
O segundo objetivo consiste em realizar estudo analtico-conceitual da
responsabilidade ao proteger (RWP), com nfase na sua contribuio ao debate
acerca da proteo a civis.
A abordagem terica que permeou a produo desta dissertao foi a teoria
construtivista das Relaes Internacionais, com especial nfase na abordagem
11
desenvolvida por Kratochwil (1989, 1997). Para o construtivismo, o mundo no
pr-determinado, mas sim construdo medida que os atores agem. Portanto,
segundo essa tica, o mundo uma construo social.
Alm disso, as normas informam o discurso, sendo o discurso no apenas um
instrumento para a ao poltica, mas sim a prpria ao poltica. Ao entender as
regras que regem o discurso, podem-se entender as regras que regem a prpria
realidade, j que o mundo ora referido produto dos discursos que permitem referi-
lo. Por resultar de um discurso, a ao humana moldada e regida por regras,
portanto, a anlise das aes dos agentes deveria consistir no na anlise dessas
aes, mas sim na anlise das regras e normas que orientaram as suas escolhas.
Essa abordagem terica possui implicaes interessantes para o conceito de
responsabilidade de proteger.
Com efeito, esse conceito tem sido usado com o propsito de estimular aes
internacionais decisivas em relao a crises humanitrias. Isto , tem sido
empregado como uma ferramenta para galvanizar a opinio pblica a fim de gerar a
vontade poltica e o consenso necessrio para enfrentar casos extremos de violao
dos direitos humanos.
Assim sendo, a responsabilidade de proteger seria, nesse sentido, fonte de
legitimidade, assumindo carter normativo.
O cerne da questo estaria na esfera retrica, em como os atores reagem
normativa, apropriam-se dela e tentam aplic-la no caso concreto, uma vez que no
h consenso com relao s caractersticas que a definem como tal.
Em relao aos procedimentos metodolgicos adotados para a realizao desta
dissertao, procedeu-se uma anlise dos discursos e documentos produzidos no
mbito das Naes Unidas, bem como outros documentos e discursos correlatos.
12
Alm da utilizao dessas fontes primrias, foram extensivamente utilizadas fontes
secundrias, tanto de livros e peridicos especializados, quando de jornais e revistas
de ampla circulao.
A hiptese desta dissertao a de que, no curso de uma dcada desde a
concepo do conceito de responsabilidade de proteger (2001-2011), no houve
alterao substancial no modo como as Naes Unidas respondem s violaes
condenadas por esta normativa: genocdio, crimes de guerra, limpeza tnica e
crimes contra a humanidade.
A abordagem terica, os procedimentos metodolgicos e a hiptese de pesquisa
esto de acordo com um recorte metodolgico especfico. Adotar a abordagem
terica do construtivismo, com sua nfase nas normas que orientam as aes dos
atores, implica em uma abordagem discursiva da realidade, em parte por que o
discurso a prpria realidade. Da por que se deu maior nfase aos debates
ocorridos no seio das Naes Unidas mais do que nas aes, por assim dizer,
concretas dessa organizao.
Os procedimentos metodolgicos so consequncia da adoo dessa abordagem
construtivista, pois os discursos e documentos produzidos nesta organizao so a
expresso mxima dos, por assim dizer, atos de fala dos Estados na organizao.
Por fim, a hiptese de pesquisa considera que, dada a natureza discursiva da
realidade e dado que os documentos falam, uma anlise dos documentos e dos
discursos produzidos pode revelar se a organizao mudou ou no seu modo de
responder s graves violaes de direitos humanos em funo da criao do
conceito de responsabilidade de proteger.
A relevncia para o campo de estudos da elaborao de tal proposta no poderia
ser mais atual e oportuna.
Atual porque a ecloso da Primavera rabe, com seus desdobramentos particulares
nas questes lbia e sria, trouxe para a ordem do dia questes concernentes
13
responsabilidade de proteger, um conceito recente que at ento tinha tido pouca
oportunidade de ser aplicado ao caso concreto.
Oportuno por que, apesar de sua atualidade, foi um tema pouco explorado na
literatura brasileira de Relaes Internacionais, num momento em que foi justamente
o Brasil que ofereceu a contribuio mais relevante para o debate nos ltimos anos.
E isso apesar dos intensos debates que essa temtica tem motivado
internacionalmente.
Por fim, vale ressaltar que, mesmo na literatura internacional, so poucos os
trabalhos que abordam a responsabilidade de proteger combinando Direito e
Relaes Internacionais em uma evoluo histrica to abrangente quanto a
desenvolvida nesta dissertao. Alm, claro, de estar disponvel em lngua
portuguesa.
Esta dissertao se encontra dividida em trs captulos, cronologicamente
ordenados, nos quais se buscou traar a evoluo histrica do conceito.
Assim, o primeiro captulo trata da formao dos conceitos jurdicos e normativos e
de como essa evoluo, conjugada com a mudana de paradigma dos anos 1990,
desembocou no surgimento do conceito de responsabilidade de proteger.
O segundo captulo j comea com os trabalhos da Comisso Internacional sobre
Interveno e Soberania Estatal (ICISS) e termina com a Cpula Mundial de 2005.
Por fim o terceiro captulo comea com a oposio responsabilidade de proteger
no imediato ps-Cpula Mundial e termina com o surgimento do conceito de
responsabilidade ao proteger.
O surgimento do conceito de responsabilidade de proteger o tema do segundo
captulo, que comea com os trabalhos da ICISS, um painel independente de
especialistas, formado fora do mbito das Naes Unidas por iniciativa do governo
canadense e estimulado pelo ento Secretrio-Geral Kofi Annan.
14
Esse painel foi o responsvel pela primeira formulao do conceito de
responsabilidade de proteger, com seus trs pilares, a saber: responsabilidade de
prevenir, responsabilidade de reagir e responsabilidade de reconstruir.
Aps uma reao morna por parte das grandes potncias e da rejeio majoritria
por parte dos pases em desenvolvimento, uma nova comisso foi criada, tendo em
vista a Cpula Mundial de 2005. Nessa ocasio, a reao das grandes potncias
variou da no rejeio ao apoio, enquanto os pases em desenvolvimento
mostraram-se divididos, marcando de vez a entrada em cena do R2P, com sua
adoo pelas Naes Unidas.
A razo para a maior aceitao (ou menor rejeio) foi uma mudana de nfase: a
R2P deveria se preocupar no com o que fazer caso o Conselho de Segurana das
Naes Unidas (CSNU) se encontre impedido de agir (i.e., passar por cima do
CSNU), mas o que fazer para melhorar a atuao do conselho (i.e., fazer com que
ele fique menos impedido de agir).
Por fim, a interpretao e aplicao do conceito de responsabilidade de proteger o
tema do terceiro captulo, que se inicia com o arrependimento do comprador, isto ,
a preocupao de que o novo conceito legitimasse intervenes nos assuntos
domsticos dos Estados.
Esse cenrio mudaria com a eleio do novo secretrio-geral Ban Ki-Moon e suas
iniciativas para busca de um novo consenso, com foco nos trs pilares da
implementao da R2P, a saber: responsabilidade do Estado de proteger a sua
populao de crimes contra a humanidade, responsabilidade da comunidade
internacional de assistir o Estado a cumprir com seu dever e resposta decisiva e
oportuna.
A iniciativa teve boa recepo por parte dos Estados, e continuou a ter at que se
iniciou a Primavera rabe e a questo lbia, uma questo de conduo controversa,
depois da qual nunca mais se mencionou a R2P em uma resoluo do CSNU. Os
desdobramentos dessa questo levariam ao surgimento da responsabilidade ao
proteger (RWP).
15
CAPTULO I: FUNDAMENTOS JURDICO-NORMATIVOS E ANTECEDENTES
HISTRICOS DO CONCEITO DE RESPONSABILIDADE DE PROTEGER
As normas que regulam o recurso fora constituem um elemento central no Direito
Internacional e, juntamente com outros princpios como a soberania territorial e a
independncia e a igualdade dos Estados, compem a estrutura na qual se baseia a
ordem internacional (SHAW, 2010).
Em termos gerais, os sistemas jurdicos nacionais conseguem estabelecer o
monoplio do uso da fora para as instituies governamentais, reforando a
estrutura hierrquica de autoridade e controle, ao passo que o Direito Internacional
se encontra em situao distinta. Embora no seja capaz de impor sua vontade per
si, tenta minimizar e regulamentar o uso da fora pelos Estados mediante o
consentimento, o consenso, a reciprocidade e a boa-f. Ainda que existam
mecanismos para conter e punir o recurso violncia, certamente, o papel e a
manifestao da fora na comunidade internacional dependem de fatores polticos e
outras variveis no jurdicas, assim como do estado atual do Direito (SHAW, 2010).
1.1 Do direito guerra renncia ao Uso da Fora
O Direito Internacional sempre se preocupou em tentar definir as condies nas
quais podia ser considerado como lcito o uso da fora entre as naes. O direito da
guerra era ento praticamente restringido ao jus ad bellum, ou direito de se fazer a
guerra, cujo objetivo era regulamentar o direito guerra de que o Estado soberano
dispunha. Esta regulamentao da guerra lcita se referia aos procedimentos para o
uso da fora, e tinha como finalidade excluir do mbito das relaes internacionais o
recurso abusivo guerra, diminuindo a sua frequncia como meio para solucionar as
controvrsias internacionais (PEYTRIGNET, 1996; SWINARSKI, 1993).
A posio doutrinria com relao legitimidade da guerra era a de que esta
poderia ser considerada justa ou injusta. A guerra era justificada apenas por motivos
16
morais, no havendo obrigao jurdica para tal. Em contrapartida, havia a
necessidade de justificativa jurdica vlida para o emprego de represlias armadas
(QUOC DINH; DAILLER; PELLET, 2003).
No incio do sculo XX, uma utilizao abusiva das represlias armadas favoreceu
uma primeira reao. O estopim foi quando o Reino Unido empregou a fora
armada, em 1902, para obrigar a Venezuela a respeitar as suas obrigaes
contratuais. O governo venezuelano, enfrentando graves problemas financeiros, no
honrou as dvidas contradas junto a cidados estrangeiros.
Drago, Ministro dos Negcios Estrangeiros argentino, elaborou a doutrina segundo a
qual a cobrana coerciva de dvidas pblicas afrontava o direito internacional e
desrespeitava a soberania do Estado devedor. Com o auxilio de Porter, seu
homlogo americano, a doutrina se converteu em dispositivo convencional: a
Conveno Drago-Porter ou Conveno relativa limitao do emprego da fora
para recuperao de dvidas contratuais.
A principal consequncia da Conveno Drago-Porter foi a proscrio da fora
armada para a cobrana de dvidas. A despeito de ter deixado intacta a competncia
discricionria dos pases de recorrer fora armada, ela representou um primeiro
passo fundamental como ponto de partida para as tentativas feitas para proporcionar
os fundamentos objetivos ao no uso da fora e da imposio do uso de meios de
resoluo pacfica de controvrsias (QUOC DINH; DAILLER; PELLET, 2003).
Aps a Primeira Guerra Mundial, foram engendrados esforos para reconstruir as
relaes internacionais, tendo como uma base uma instituio internacional geral
capaz de supervisionar a conduta dos Estados com vistas a assegurar que a
agresso no voltaria a ocorrer. Com a criao da Liga das Naes, portanto, tem-
se pela primeira vez uma verdadeira organizao internacional com o objetivo
especfico de manter a paz atravs de mecanismos jurdicos (SHAW, 2010;
SEITENFUS, 2005).
O Pacto da Liga das Naes (1919) declarava que os membros deveriam submeter
arbitragem ou soluo judicial ou inqurito pelo Conselho da Liga as disputas
17
que pudessem conduzir a uma ruptura. Os membros no deveriam, em nenhuma
circunstncia, recorrer guerra antes de passados trs meses da sentena arbitral,
deciso judicial ou relatrio elaborado pelo Conselho.
Tal medida destinava-se a esfriar as paixes (a fim de evitar, por exemplo, situao
anloga cadeia de acontecimentos que desencadeou na Primeira Guerra Mundial).
Ademais, os membros da Liga concordavam em no recorrer guerra contra outros
membros, em obedincia sentena arbitral, deciso judicial ou relatrio unnime
por parte do Conselho
1
.
Deve-se observar, contudo, que o sistema da Liga no proibia a guerra nem o uso
da fora, mas estabelecia um procedimento elaborado com a finalidade de restringi-
lo a nveis tolerveis:
As Altas Partes Contratantes, considerando que, para o desenvolvimento da
cooperao entre as naes e para a garantia da paz e da segurana
internacionais, importa aceitar certas obrigaes de no recorrer
guerra, manter abertamente relaes internacionais fundadas sobre a
justia e a honra, observar rigorosamente as prescries do direito
internacional, reconhecidas doravante como norma efetiva de procedimento
dos governos, fazer reinar a justia e respeitar escrupulosamente todas as
obrigaes dos tratados nas relaes mtuas dos povos organizados,
adotam o presente Pacto, que institui a Liga das Naes. (prembulo do
Pacto da Liga das Naes) [grifo nosso]
O prembulo do Pacto da Liga, ento, permite a inferncia de que certas guerras
so expressamente consideradas ilcitas, ao passo que outras (de maneira implcita)
permanecem lcitas. A principal hiptese de guerra ilcita a guerra de agresso,
proscrita pelo artigo 10 do documento:
Os membros da Liga comprometem-se a respeitar e a manter contra toda
agresso externa a integridade territorial e a independncia poltica atual de
todos os membros da Liga. Em casos de agresso, o Conselho
recomendar os meios de assegurar o cumprimento dessa obrigao. (LIGA
DAS NAES, 1919).
As hipteses de guerra lcita, por seu turno, so resultado das brechas do Pacto. Por
exemplo, quando o Estado se recusa a acatar uma deciso judicial ou a se
conformar ao relatrio unnime do Conselho. Outras possibilidades de guerra lcita:
1
Mecanismo estabelecido pelo artigo 12 do Pacto da Liga das Naes.
18
no caso de no haver sucesso na adoo do relatrio, ou quando este no
adotado por unanimidade (QUOC DINH; DAILLER; PELLET, 2003).
O preenchimento das lacunas do Pacto, num esforo para obter a proibio total da
guerra no direito internacional, foi um desafio constante durante o entreguerras. Isto
resultou, por fim, na assinatura, em 1928, do Tratado Geral de Renncia Guerra,
Pacto de Paris ou Pacto Briand-Kellogg, por meio do qual os Estados signatrios
declaram que:
As altas partes contratantes declaram, solenemente, em nome de seus respectivos
povos, que condenam o recurso guerra para a soluo das controvrsias
internacionais, e a isso renunciam, como instrumento de poltica nacional, em suas
relaes recprocas (artigo 1).
As altas partes contratantes reconhecem que o regulamento ou a soluo de todas as
controvrsias ou conflitos, de quaisquer natureza ou origem que possam surgir entre
elas, jamais dever ser procurado seno por meios pacficos (artigo 2).
Houve uma tentativa de implementao do artigo 2 do Pacto de Paris por meio do
Ato Geral de Arbitragem (1928), que estabelecia a arbitragem ou a jurisdio
obrigatria como meio de soluo de controvrsias, mas houve pouca adeso por
parte dos Estados
2
. Alm disso, o Pacto Briand-Kellog nada afirmava acerca dos
processos de coao coletiva destinados a reprimir suas violaes (QUOC DINH;
DAILLER; PELLET, 2003).
Tendo em considerao sua larga aceitao, pode-se afirmar, portanto, que o Pacto
Briand-Kellogg consagra a proibio do recurso guerra como princpio vlido do
direito internacional
3
.
2
Isto ocorreu, provavelmente, em razo da limitao das opes dos Estados, acarretadas pela
adeso a um tratado deste tipo.
3
As reservas ao tratado por parte de alguns Estados evidenciaram que o direito de recorrer fora
em legtima defesa constitua ainda um princpio reconhecido no direito internacional (SHAW, 2010).
19
1.2 A proscrio do Uso da Fora sob o arcabouo institucional das Naes
Unidas
A partir de 1945, com a adoo da Carta da ONU, foi consolidada a ilicitude da
guerra, com a condenao do recurso fora. As excees que restaram regra da
ilegalidade de conflitos armados foram a legtima defesa individual, ou coletiva, no
caso de ataque armado contra um Estado-Membro das Naes Unidas, as guerras
de libertao nacional e as operaes de imposio da paz da ONU (FERNANDES,
2006; PORTELA, 2012).
O captulo VII da Carta da ONU prev situaes para as quais o Conselho de
Segurana pode decidir pelo emprego de foras armadas, na hiptese de fracasso
das tentativas de soluo pacfica das controvrsias. Dessa forma, com as
operaes de imposio da paz, a ordem imposta pela violncia, a qual
legitimada pela delegao de poder dos Estados a um rgo de caractersticas
supranacionais, que deve agir em nome de toda a comunidade internacional, sem
defender o interesse de nenhum grupo ou pas especfico (FERNANDES, 2006).
Desse modo, os pases perderam o monoplio do uso legtimo da violncia no plano
externo, a no ser em caso de serem atacados. Cabe destacar que o direito de
legtima defesa s perdura at que o Conselho de Segurana tome as medidas
necessrias manuteno ou ao restabelecimento da paz e da segurana
internacionais. Ademais, tal direito existe apenas diante de um efetivo ataque
armado, no comportando a Carta das Naes Unidas a possibilidade de uma
suposta legtima defesa preventiva, ou seja, a possibilidade de que um Estado
ataque outro quando entenda que neste reside uma ameaa sua segurana.
Portanto, com a guerra se encontrando fora do que lcito em Direito Internacional,
pode-se chegar concluso de que o jus ad bellum praticamente desapareceu,
sendo transformado em um jus contra bellum, no qual se busca evitar os conflitos
armados (PEYTRIGNET, 1996; FERNANDES, 2006; PORTELA, 2012).
Ainda sobre o Captulo VII, Eduardo Uziel (2013) afirma o seguinte:
20
O especial significado do Captulo VII que denuncia incontveis horas de negociao
por trs de cada referncia encontrado na poltica do Conselho de Segurana e no
uso que historicamente seus membros fizeram das decises do rgo. Se indagarmos o
porqu desse valor especial atribudo ao Captulo VII so dois os aspectos a levar em
conta. Em primeiro lugar, muitos advogam que o Captulo VII da Carta o nico
que confere obrigatoriedade s decises do CSNU. Assim, somente as resolues
que estejam no mbito daquele Captulo vinculam os Estados-membros das
Naes Unidas; as demais so apenas recomendaes. Em segundo lugar, criou-
se uma conexo estreita entre o Captulo VII e a autorizao para o uso da fora no
cenrio internacional. Desse modo, misses de paz ou foras multinacionais
autorizadas pelo CSNU sob o Captulo VII poderiam valer-se da fora para impor
uma soluo a conflitos sem violar a Carta. No entanto, nenhum desses dois motivos
pelo qual o Captulo VII figura de modo proeminente nos debates do Conselho pode ser
deduzido automaticamente da Carta (UZIEL, 2013, p. 108) [grifo nosso]
Nesse sentido, tem-se defendido que a interveno com o fim de proteger as vidas
de pessoas situadas em um Estado especfico, e que no so necessariamente
cidads do Estado interveniente, admissvel em situaes estreitamente definidas.
No entanto, difcil conciliar esse ponto de vista com o princpio da no interveno,
consagrado pelo artigo 2 (4) da Carta da ONU:
Os membros da Organizao, em suas relaes internacionais, abster-se-o de recorrer
ameaa ou ao uso da fora contra a integridade territorial ou a independncia poltica
de qualquer Estado, ou de qualquer outra forma incompatvel com os propsitos das
Naes Unidas. (ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS,1945).
Admite-se, entretanto, que em alguns casos a comunidade internacional possa se
abster de adotar uma postura condenatria quando uma interveno externa tenha
salvado muitas vidas em circunstncias em que um Estado exerce grave opresso
sobre seus prprios cidados (SHAW, 2010). Haveria, assim, um princpio do direito
consuetudinrio internacional que admitiria a interveno humanitria em situaes
extremas, mas tal opinio bastante controversa, tendo em vista que ainda assim a
soberania
4
, como entendida sob sua acepo tradicional, seria violada.
Cabe ressaltar, todavia, que no passado a noo de soberania confundia-se com o
poder ilimitado, mas na atualidade prevalece a premissa bsica do Estado de
Direito, pela qual o ente estatal atua dentro de certos limites estabelecidos
4
A soberania o atributo do poder estatal que confere a este poder o carter e a superioridade frente
a outros ncleos de poder que atuam dentro do Estado. o poder de declarar, em ltima instncia, a
validade do direito dentro de certo territrio (PORTELA, 2012).
21
internamente pela ordem jurdica nacional e, externamente, pelo direito
internacional
5
(PORTELA, 2012).
Ademais, embora a inteno por trs das intervenes humanitrias seja
aparentemente boa, o dilema moral notrio do recurso a elas diz respeito aos danos
inevitveis a inocentes quando se empregada fora mortal, mesmo que tal
violncia seja dirigida contra os que esto perpetrando as violaes.
, portanto, consensual a opinio de que as intervenes humanitrias deveriam
sem empregadas somente em casos extremos de emergncia humanitria, pois os
riscos envolvidos em conflitos armados so grandes o suficiente para justificar o uso
da fora para combater violaes menores. Considera-se, por exemplo, que
moralmente mais aceitvel uma interveno humanitria para combater um iminente
genocdio do que o emprego de tal recurso para intervir em um Estado que esteja
negando o direito de voto aos seus cidados (HEINZE, 2009).
Por fim, a ilicitude da guerra reiterada pela norma do Estatuto de Roma do Tribunal
Penal Internacional (TPI), que tipifica como crime internacional o crime de agresso.
Segundo a Resoluo RC 6 (2010), a qual resultou na incluso do artigo 8, bis, ao
Estatuto de Roma, o crime de agresso consiste, basicamente, no planejamento,
preparao ou execuo, por parte de uma pessoa competente para efetivamente
dirigir a ao poltica de um Estado, de um ato de agresso que, por suas
caractersticas, gravidade ou escala, constitua uma manifesta violao da Carta das
Naes Unidas (PORTELA, 2012).
1.3 A mudana de paradigma dos anos 1990: crises, intervenes e mudanas
no conceito de soberania
Ao trmino da Guerra Fria, o nmero de conflitos armados entre os Estados reduziu
de forma bastante considervel, ao passo que aumentou acentuadamente o nmero
5
A mudana no entendimento do conceito de soberania ser abordada com mais profundidade na
seo seguinte deste trabalho.
22
de guerras civis. As alteraes desses conflitos tm maior destaque nas dimenses
de espao, tempo, regulamentao e mobilizao (RODRIGUES e SOUZA, 2012).
Em relao dimenso espacial, os conflitos tinham espao mais bem definido, ao
contrrio dos conflitos contemporneos, que so caracterizados pela
transterritorialidade. A impreciso temporal tambm uma caracterstica desses
conflitos, os quais no tm um incio explcito e um final claro. A regulamentao se
diferencia pelo envolvimento tanto de elementos reconhecidos pelo Direito
Internacional como tambm pelos no reconhecidos. Por ltimo, a mobilizao
desses novos conflitos marcada pela no submisso de um comando central, ou
seja, pode ser convocada tanto por civis, militares e ex-militares, devido a um
determinado interesse (RODRIGUES e SOUZA, 2012).
De acordo com Evans (2008), a expresso interveno humanitria foi usada pela
primeira vez em 1840. Entretanto, a expresso direito de intervir ganhou fora e
concretizou-se na interveno da Somlia. Enquanto os anos 1990 avanavam,
tornava-se cada vez mais perceptvel que o direito de intervir era uma nobre e
efetiva palavra de ordem com uma particular ressonncia global do Norte, pois no
resto do mundo esta expresso apenas enfureceu as populaes. O problema
deve-se ao fato de que este conceito permaneceu intrinsecamente unilateral, mas
no reconheceu os anseios do Sul, os quais tambm tm siso os beneficirios das
misses civilizadoras no passado. Desta forma ingrence transmite no somente o
sendo de interveno como tambm de interferncia (EVANS, 2008).
Nesse sentido, devido ao carter dos conflitos despertados nos anos 1990, assim
como o seu agravamento, a questo das intervenes humanitrias ganhou
destaque no cenrio internacional, responsvel pelo desdobramento da origem da
responsabilidade de proteger (R2P). Essas intervenes ocorreram sob a
justificativa da alterao/manuteno da balana de poder, da balana ofensivo-
defensiva, ou mesmo pelo simples fato de defesa ou proteo dos direitos, os quais
estariam ameaados ou usurpados por outro Estado.
Na dcada de 1990, novos temas comearam a ser tratados nesse contexto de
segurana coletiva, com destaque para as questes de segurana, as quais foram
23
associadas exaltao das soberanias dos Estados. Portanto, o surgimento de
temas como segurana humana deslocou o eixo de defesa e proteo do objeto
das relaes internacionais, pois o objeto a ser protegido seriam os indivduos e no
mais o Estado e sua soberania (RODRIGUES e SOUZA, 2012).
Uma importante tentativa de ligar a lacuna entre a viso do Norte e a do Sul, veio do
Programa de Desenvolvimento das Naes Unidas (PNUD) do Relatrio de
Desenvolvimento Humano de 1994, com o ttulo Novas Dimenses de Segurana
Humana. O conceito de segurana humana foi amplo o bastante tanto para avanar
na liberdade do medo, como na liberdade do querer. Para os autores do PNUD esse
conceito foi a soma de seis diferentes dimenses da segurana: econmica,
alimentar, ambiental, pessoal, comunitria e poltica. Conclui-se que Sem paz, no
pode haver desenvolvimento. Mas sem desenvolvimento a paz pode estar
ameaada (EVANS, 2008, p. 35).
O principal problema do conceito de segurana humana no o fato de este ter
produzido pouco consenso, mas a dificuldade de extrair alguma prescrio sobre
como lidar com cada um dos temas abrangidos por ele (EVANS, 2008).
Em 1992, o Conselho de Segurana das Naes Unidas fez uma interveno militar
na Somlia
6
sob a gide do Captulo VII, motivado por razes humanitrias, e
desconsiderando o consentimento do governo soberano. Em 1994 h uma nova
alterao no argumento humanitrio, acrescentado da clusula da proporcionalidade
(RODRIGUES e SOUZA, 2012).
Em 1999, a Organizao do Tratado do Atlntico Norte (OTAN) bombardeou as
foras srvias, cessando a violncia contra populaes de origem albanesa no
6
A Somlia entrou em guerra civil quando o ento presidente Siad Barre foi deposto em janeiro de
1991 aps perder, com o final da Guerra Fria, a proteo obtida alternadamente dos Estados Unidos
e da Unio Sovitica. Como resultado, um milho e meio de somalis corriam risco de vida em razo
das hostilidades, da fome e das eventuais doenas. Ao final do ano de 1992, uma interveno militar
com propsitos claramente humanitrios desembarcou no pas. Em outubro de 1993, dezoito
soldados americanos foram barbaramente assassinados em Mogadishu, um episdio que causou
grande comoo junto opinio pblica americana e subsequentemente fez com que as principais
potncias ficassem receosas em comprometer-se com experincias de intervencionismo humanitrio
a partir desse momento, influenciando fortemente na inao com relao ao posterior genocdio em
Ruanda (EVANS, 2008, p. 27).
24
Kosovo. Considera-se nesse conflito que o objeto protegido no foi o Estado
iugoslavo, mas a integridade fsica da populao Kosovar (RODRIGUES e SOUZA,
2012).
O conflito no Kosovo traz para a poltica internacional no somente a prtica da
interveno humanitria, como tambm a formao de novos Estados nacionais no
ps-Guerra Fria, sendo este processo caracterizado pela instabilidade dos arranjos
poltico-territoriais e pela fragilidade das instituies desses novos Estados. Existe
nessa interveno uma violao da soberania de um Estado Iugoslvia , porm, o
direito de proteo dos kosovares foi tomado como objeto de maior importncia pela
OTAN (RODRIGUES e SOUZA, 2012).
O ex-primeiro ministro britnico Tony Blair caracterizou o conflito de Kosovo como
uma guerra justa, baseada no apenas em uma ambio territorial, mas em
valores (EVANS, 2008, p. 33). Essa descrio de guerra justa, simplesmente
baseada em valores foi garantida por agitar os anseios do mundo desenvolvido
sobre a abordagem seletiva na qual o Ocidente tem comandado os valores para
justificar suas aventuras no passado talvez, e at mesmo no futuro (EVANS, 2008).
O ento Secretrio-Geral das Naes Unidas, Kofi Annan, fez a principal tentativa de
resolver o impasse conceitual no cerne do debate soberania-interveno,
argumentando que este no era apenas um tipo de soberania em jogo, pois a
soberania nacional deveria ser pesada e balanceada contra a soberania individual,
reconhecida nos instrumentos internacionais dos direitos humanos (EVANS, 2008).
Durante a crise do Kosovo, Kofi Annan escreveu no seu artigo que os Estados
apreciavam os privilgios da soberania independente da forma como eles tratavam
seus cidados (BELLAMY, 2010).
O conceito de soberania est sendo redefinido em seu sentido mais bsico,
sobretudo pelas foras de globalizao e cooperao internacional. Os Estados so
amplamente entendidos por serem instrumentos a servio de suas pessoas, e no o
contrrio. Ao mesmo tempo, a soberania do indivduo tem sido aumentada por uma
renovada e propagada conscincia dos direitos humanos (EVANS, 2008).
25
Deng e Cohen desenvolveram Princpios Orientadores, os quais foram liberados
em 1998. Os princpios reconheceram que primeiramente a responsabilidade pelo
deslocamento de pessoas era de responsabilidade das autoridades locais, porm, o
acesso para a ajuda humanitria no deveria ser arbitrariamente negado,
especialmente quando as autoridades forem incapazes ou relutantes em fornecer a
assistncia necessria (BELLAMY, 2010).
A Soberania como Responsabilidade focada nas responsabilidades dos governos
frente sua prpria populao, mantendo-se Estados eficazes e legtimos, a
melhor maneira de proteger populaes vulnerveis (BELLAMY, 2010).
Desta forma, o conceito de soberania como responsabilidade um problema dos
Estados terem responsabilidades positivas sobre o bem estar e a assistncia de
seus cidados (DENG, 1996, apud EVANS, 2008). O conceito de Deng tornou-se,
mais do que qualquer outra contribuio dos anos 1990, o embasamento conceitual
fundamental das normas de responsabilidade de proteo (EVANS, 2008).
Como as guerras tornaram-se cada vez menos um problema entre os Estados e
houve o aumento significativo dos conflitos entre as foras dentro de um Estado, o
nmero de pessoas deslocadas internamente cresceu. Desta forma, na viso de
Deng, esses deslocamentos so paradoxalmente assumidos sob os cuidados dos
governos, apesar dos fatos desses deslocamentos serem causados pelos prprios
Estados (BELLAMY, 2010).
Durante as principais crises, os Estados problemticos deveriam escolher entre
poder trabalhar com as organizaes internacionais e outras organizaes
estrangeiras para realizar as responsabilidades de sua soberania, ou os estados
poderiam obstruir seus esforos e sacrificar sua boa reputao e legitimidade
soberana (BELLAMY, 2010).
Ao final dos anos de 1990, vrios acadmicos, tomadores de deciso e polticos na
Europa e nos EUA estenderam suas prprias concepes de soberania como
responsabilidade. Para os tomadores de deciso americanos, associados com a
administrao de Clinton e Bush, a soberania responsvel est ligada no apenas
26
aos direitos humanos, mas tambm aos imperativos de segurana, como a no
proliferao de armas nucleares e a cooperao antiterrorista. Para Haass a
soberania deveria estar condicionada aos direitos humanos, assim como ao
compromisso de no proliferao nuclear e ao combate ao terrorismo (BELLAMY,
2010).
Portanto, percebe-se que o principal obstculo para a interveno armada
humanitarismo ou outro tem sido o conceito tradicional de soberania, a qual probe
a violao da integridade territorial de outro Estado. Um dos acontecimentos
marcantes da dcada passada tem sido a eroso dessa norma de no interveno e
o surgimento de uma doutrina nascente de Soberania Contingente (PATRICK apud
BELLAMY, 2010).
27
CAPTULO II: O SURGIMENTO DA RESPONSABILIDADE DE PROTEGER E SUA
INTERPRETAO E APLICAO NO MBITO DAS NAES UNIDAS (2001-
2005)
2.1 A Comisso Internacional sobre Interveno e Soberania Estatal (ICISS)
Em setembro de 2000, o governo canadense, sob a iniciativa do ex-ministro das
Relaes Exteriores Lloyd Axworthy, reuniu um grupo de notveis com o objetivo de
trabalhar a relao entre soberania, interveno e direitos humanos.
Este painel de especialistas recebeu a denominao de Comisso Internacional
sobre Interveno e Soberania Estatal (ICISS). A comisso foi estabelecida fora do
mbito das Naes Unidas a pedido do ex-secretrio-geral Kofi Annan, o qual
acreditava que, dessa forma, esta poderia funcionar livre de interferncias polticas e
controvrsias (BELLAMY, 2011).
Liderada por Gareth Evans, prestigiado acadmico e ex-ministro das Relaes
Exteriores da Austrlia, e por Mohamed Sahnoun, experiente diplomata argelino que
trabalhara na ONU nos cargos de Conselheiro Especial em assuntos da regio do
chifre da frica e Representante Especial para a Somlia e os Grandes Lagos, a
ICISS buscou selecionar os especialistas mais representativos possveis, oriundos
das esferas militar, acadmica e diplomtica, assim como das diversas regies do
mundo, abrangendo Amrica do Norte, Europa, Rssia, frica, Sudeste Asitico, Sul
da sia e Amrica Latina
7
(KENKEL, 2008).
A comisso, entretanto, foi criticada em razo da sub-representao feminina. Dos
12 membros da ICISS, apenas um era uma mulher, a jurista canadense Gisele Ct-
Harper (BELLAMY, 2011).
7
Dentre os membros notveis da ICISS, destacam-se o ex-presidente filipino Fidel Ramos, o ex-
ministro das Relaes Exteriores da Guatemala Eduardo Stein, o ex-presidente do Comit
Internacional da Cruz Vermelha (CICV) Cornelio Sommaruga, o acadmico canadense Michael
Ignatieff, o ex-secretrio-geral do Congresso Nacional Africano (CNA) Cyril Ramaphosa e o
acadmico indiano Ramesh Thakur.
28
A comisso se reuniu cinco vezes e organizou consultas nacionais nas cidades de
Pequim, Cairo, Maputo, Nova Dlhi, Santiago, Bruxelas, Genebra, Londres, Ottawa,
Paris, So Petersburgo e Washington.
Na viso de Gareth Evans (2008), havia bastante ceticismo com relao ao trabalho
desenvolvido pela ICISS por parte de governos, acadmicos e algumas fundaes,
os quais acreditavam que nada de valor poderia ser criado a partir de uma marcha
forada. Em dezembro de 2001, foi publicado um relatrio de noventa pginas e um
suplemento contendo ensaios, bibliografia e materiais de pesquisa de cerca de
quatrocentas pginas, que receberam o ttulo de A responsabilidade de proteger.
Afirma-se no relatrio que os Estados tm a responsabilidade de proteger os seus
cidados contra o genocdio, a limpeza tnica e os assassinatos em massa, e que
quando estes se provarem incapazes ou com m vontade de cumprir com seu
dever, a responsabilidade de proteger transferida comunidade internacional
(ICISS, 2001).
Segundo Evans (2008, p. 39), no processo de confeco do relatrio, buscou-se
transmitir as mensagens principais de modo simples e direto, ao mesmo tempo em
que se procurou fornecer anlises detalhadas e bem argumentadas no restante do
corpo do texto e no suplemento, a fim de que o leitor obtivesse uma compreenso
adequada dos fundamentos expostos.
Nesse sentido, o relatrio da ICISS fez quatro contribuies duradouras poltica
internacional:
a) a criao de uma nova maneira de falar sobre intervenes humanitrias;
b) a elaborao de uma nova forma de tratar de soberania;
c) a especificao, de maneira clara, sobre o que a responsabilidade de proteger
significava na prtica; e
d) a abordagem da questo de quando a ao militar seria, enfim, apropriada.
A inveno de uma nova maneira de falar sobre intervenes humanitrias,
subverteu o debate acerca do direito de intervir ao reformul-lo como uma
discusso a respeito da responsabilidade dos Estados. O foco, portanto, no seria
29
mais aquele que intervm, mas aqueles que necessitam de ajuda. Se houvesse
algum direito em questo, era o das vitimas das violaes e crimes cometidos em
massa (EVANS, 2008).
Outro motivo para que a ICISS quisesse colocar de lado o vocabulrio da rea de
intervenes humanitrias, era que este estava irremediavelmente ligado ao uso
exclusivo da fora militar como forma de responder perpetrao presente ou
vindoura de violaes e crimes cometidos em massa.
Apesar do termo interveno humanitria igualmente descrever a atuao de
organizaes de ajuda humanitria no tratamento de situaes de calamidade, ele
indiscutivelmente ficou associado aplicao de fora militar no consensual a fim
de alcanar um objetivo humanitrio.
Assim, ao longo do relatrio, quando h referncias a aes militares, a terminologia
empregada interveno militar para a proteo humana (EVANS, 2008, p. 42).
Nesse sentido, pode-se dizer que a ICISS estava ciente da capacidade das novas
ideias, ou das ideias expressadas de uma nova forma, de influenciar o
comportamento dos atores fundamentais.
Segundo Gareth Evans (2008), a ICISS inspirou-se na Comisso Mundial sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), tambm conhecida como Comisso
Brundtland, famosa por ter introduzido o conceito de desenvolvimento sustentvel,
a fim de que a meta de criao de novos paradigmas a que se props fosse
igualmente bem sucedida.
A elaborao de uma nova forma para tratar de soberania foi a segunda grande
contribuio conceitual da ICISS.
Inspirada, inequivocamente, na formulao de Francis Deng, argumentou-se que a
essncia da soberania no residia no controle do aparato estatal (concepo
vestfaliana), mas na responsabilidade dos Estados de proteger os indivduos que ali
residem.
30
Ademais, quando o Estado for incapaz de cumprir com sua responsabilidade, a
comunidade internacional, de forma subsidiria, deve fazer com que a proteo da
pessoa humana naquele territrio seja garantida (EVANS, 2008).
A terceira contribuio da comisso foi especificar, de maneira clara, o que a
responsabilidade de proteger significava na prtica. Tentou-se esclarecer que o
conceito ia muito alm da mera interveno militar.
Havia, portanto, a responsabilidade de prevenir o surgimento de situaes de
ocorrncia de violaes de direitos humanos; a responsabilidade de reagir a elas
quando eclodissem; e a responsabilidade de reconstruir aps qualquer tipo de
interveno (EVANS, 2008).
Dos trs pilares da responsabilidade de proteger, a ICISS considerou a
responsabilidade de prevenir como o mais importante, que deveria ser exercido
mediante instrumentos que assegurassem a permanncia do estado de Direito.
Nesse sentido, a comisso tratou da preveno subdividindo-a em duas reas:
a) alerta precoce, que aborda as causas fundamentais dos conflitos; e
b) preveno direta.
A ICISS percebeu que as falhas associadas ao alerta precoce so frequentemente
exageradas pelos crticos, e que o cerne do problema no est em prever a ecloso
de um conflito violento, mas em gerar a vontade poltica para agir de acordo com as
previses. Os casos da Bsnia
8
, Ruanda
9
e Darfur
10
, por exemplo, no foram
exatamente uma surpresa (BELLAMY, 2011).
8
A desintegrao da antiga Iugoslvia tem ocupado o CSNU desde o final da Guerra Fria. Em 1992,
a Fora de Proteo das Naes Unidas (UNPROFOR) foi estabelecida como uma misso de
manuteno da paz com o consentimento dos governos envolvidos na questo, incluindo o da ento
Iugoslvia. A misso foi considerada uma catstrofe, no evitando que ocorresse o pior assassinato
em massa na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em julho de 1995, bsnios de etnia srvia
sob o comando do general Ratko Mladic cercaram Srebrenica e enganaram os soldados da
UNPROFOR ao ameaarem matar refns caso fossem bombardeados e no houvesse qualquer
rendio. Logo depois, transportaram 8 mil pessoas para florestas e campos prximos e as mataram
a sangue frio (EVANS, 2008).
9
Como consequncia direta da interveno na Somlia, as principais potncias (especialmente os
Estados Unidos) estavam relutantes a responderem aos eventos ocorridos em Ruanda em 1994. No
dia 6 de abril daquele ano, um avio transportando o presidente ruandense Juvenal Habyarimana foi
31
A comisso, todavia, argumentou que uma anlise mais precisa dos sinais de
alerta de um futuro conflito propicia oportunidades para um envolvimento mais
produtivo de atores externos. Tambm recomendou que as sedes das Naes
Unidas desenvolvessem a capacidade de coletar informaes, incluindo material
sensvel, dos Estados-membros (BELLAMY, 2011).
Alm disso, a ICISS pediu para que o Conselho de Segurana (CSNU) tivesse um
papel ativo na identificao de quatro dimenses-chave para a preveno das
causas fundamentais dos conflitos:
a) poltica (boa governana, direitos humanos e construo de confiana);
b) econmica (combate pobreza, desigualdade e gerao de oportunidades);
c) legal (transparncia); e
d) militar (desarmamento, reintegrao e reforma setorial).
As mesmas quatro dimenses igualmente se aplicam preveno direta.
Nesse caso, a dimenso poltica refere-se diplomacia preventiva do Secretrio-
Geral; a dimenso econmica est relacionada ao uso de estmulos positivos e
negativos por parte do Conselho de Segurana; a dimenso legal refere-se a
medidas que vo da mediao s sanes penais; e a dimenso militar a mais
limitada em escopo est relacionada ao desembarque preventivo de tropas.
A fim de implementar tal agenda, sugeriu-se no relatrio a criao de fundos para a
aplicao da responsabilidade de prevenir, e que a centralizao dos trabalhos
ficasse a cargo das Naes Unidas (BELLAMY, 2011).
abatido. Logo aps este acontecimento, desenrolou-se um massacre tnico de grandes propores,
resultando na morte de cerca de 800 mil tutsis e hutus moderados em menos de quatro meses, o pior
caso de genocdio desde o Holocausto (EVANS, 2008).
10
Iniciada em 2003, a crise de Darfur tem sido frequentemente analisada sob o prisma da R2P. O
governo sudans, em resposta a agitaes dentro de seu territrio, apoiou diretamente a milcia
janjaweed, a qual promoveu uma sangrenta campanha de assassinatos em massa e deslocamentos
internos, resultando na morte de mais de 250 mil pessoas e em mais de dois milhes de deslocados
internos. O caso de Darfur foi discutido luz da R2P por alguns membros do CSNU em 2004, antes
mesmo da adoo do conceito na Cpula Mundial de 2005 (BELLAMY, 2011).
32
Apesar de endossar a importncia da preveno, pode-se afirmar que a comisso
inovou pouco conceitualmente no que diz respeito ao primeiro pilar da
responsabilidade de proteger e se escusou de fazer propostas mais abrangentes, ao
focar na centralizao dos esforos de preveno de conflitos e no desenvolvimento
de sistemas de alerta precoce.
Da mesma forma, evitou traar diretrizes para a responsabilidade de prevenir,
anlogas s que foram elaboradas para o uso da fora, as quais sero analisadas a
seguir.
Do mesmo modo, evitou discutir o dilema fundamental da preveno de conflitos
armados: como transformar os sinais de alerta em compromisso e consenso em
relao a como e quando agir.
A quarta contribuio da ICISS foi tratar da questo de quando a ao militar seria,
enfim, apropriada.
Pode-se dizer que o tratamento da comisso para a responsabilidade de reagir foi
mais sofisticado, inovador e bem desenvolvido. Ela buscou identificar uma srie de
diretrizes que poderiam ser adotadas pelo Conselho de Segurana e que seriam
bastante teis para os tomadores de deciso. O primeiro critrio era legalidade.
Desse modo, a ICISS no estava procurando alternativas autoridade do Conselho,
mas trabalhando em solues para que este funcionasse de forma mais eficiente. A
comisso, todavia, no entrou em consenso no tocante questo das intervenes
no autorizadas pelas Naes Unidas (BELLAMY, 2011; EVANS, 2008).
Assim, pode-se concluir que a ICISS adotou a premissa de que a principal
autoridade legal para a realizao de intervenes era o Conselho de Segurana.
Ademais, a comisso sugeriu cinco critrios de legitimidade:
a) a gravidade do dano infligido (que necessariamente envolveria perda de vidas em
larga escala ou limpeza tnica);
b) a motivao ou objetivo principal da interveno militar proposta;
c) a disponibilidade de alternativas pacficas no caso em especfico;
33
d) a proporcionalidade da resposta; e
e) a avaliao das consequncias se a eventual ao militar resultaria em mais
nus do que bnus para os atores envolvidos (EVANS, 2008).
A comisso foi ainda alm, ao sugerir que, caso o Conselho rejeitasse uma proposta
de interveno humanitria que fosse realmente necessria no caso em especfico,
os eventuais interventores deveriam ir Assembleia Geral em busca de apoio e, na
hiptese de fracassarem, poderiam utilizar como alternativas as organizaes
regionais, ou mesmo coalizes (BELLAMY, 2011).
Finalmente, com relao responsabilidade de reconstruir, a ICISS argumentou que
os eventuais interventores deveriam ter um plano estratgico a respeito de como
pretendem reerguer as sociedades envolvidas em cenrios ps-conflito. Para tanto,
recomendou-se que os interventores levassem em considerao as seguintes reas:
segurana, justia e reconciliao, e desenvolvimento (BELLAMY, 2011).
No tocante segurana, a ICISS afirmou que os interventores tinham o dever moral
de proteger queles em seu cuidado, trabalhando no desarmamento e
desmobilizao de ex-combatentes e na implementao de foras armadas
nacionais eficientes e legtimas.
A fim de obter justia e reconciliao, os peacebuilders deveriam criar um sistema
judicirio local, estimular iniciativas locais de reconciliao e assegurar os direitos
daqueles regressados ptria.
Os interventores tambm deveriam empregar todos os meios ao alcance com a
finalidade de estimular o crescimento econmico.
Por ltimo, eles deveriam entregar o poder s lideranas locais o mais rpido
possvel (BELLAMY, 2011).
A ICISS tambm insistiu que sejam quais forem os meios escolhidos no exerccio de
quaisquer dessas responsabilidades (poltico, diplomtico, legal ou econmico), o
34
processo deveria sempre envolver a aplicao de medidas, as menos intrusivas e
coercitivas possveis (EVANS, 2008).
Uma recomendao controversa do relatrio, por fim, a de que os cinco membros
permanentes do Conselho de Segurana no deveriam aplicar o seu poder de veto a
fim de obstruir a aprovao de resolues autorizando intervenes militares cujo
propsito seja a proteo de indivduos em situao vulnervel, em uma situao de
evidente apoio da maioria dos votantes do rgo, exceo dos assuntos nos quais
seus interesses nacionais vitais estejam em jogo (BELLAMY, 2009).
2.1.1 Crticas ao conceito como formulado pela ICISS
Poucos documentos foram to analisados quanto o relatrio da ICISS. Pode-se dizer
que as crticas a este, de maneira geral, concentraram-se nestes trs aspectos: a
nfase que o relatrio deu ao papel dos interventores, a sua falta de ambio e o
fato de ainda haverem questes importantes deixadas em aberto pela comisso
(BELLAMY, 2009).
Com relao ao primeiro aspecto mencionado, os crticos argumentam que o
relatrio favorece a imposio dos valores ocidentais e a diminuio da soberania.
Dentre estes, destaca-se David Chandler, renomado acadmico britnico. Chandler
(2005) apresenta trs objees R2P.
A primeira delas a de que o conceito, na verdade, equivale a um direito de
interveno. Apesar da rejeio no documento linguagem que remeta ao direito de
interveno, a afirmao de que os indivduos tm o direito proteo resulta, por
conseguinte, no fato de que os Estados necessitam tomar medidas concretas a fim
de garanti-la. Isto, portanto, consistiria em uma forma velada de defesa do direito de
interveno.
35
A segunda objeo diz respeito ao tratamento da questo da soberania no relatrio
da ICISS. Chandler (2005) ctico acerca da soberania como responsabilidade,
considerando-a, na verdade, como uma diminuio da soberania.
O acadmico britnico, por fim, objeta que a comisso conferiu mais legitimidade s
intervenes externas ao meramente alterar a terminologia do intervencionismo com
o objetivo de torn-lo mais palatvel.
Com respeito suposta falta de ambio do relatrio, seus crticos argumentam que
ele foi excessivamente conservador, ou seja, um produto da necessidade de se
encontrar um consenso entre todos os membros da ICISS.
Em primeiro lugar, as condies estabelecidas pela comisso para a utilizao de
uma interveno militar foram muito extremas, sendo aparentemente o resultado de
um acordo entre membros da comisso que tinham posies opostas, que
desejavam, respectivamente, critrios mais amplos e mais estreitos para a
deflagrao de fora militar com propsitos humanitrios (BELLAMY, 2009).
Nesse sentido, a ICISS teria estabelecido condicionalidades maiores do que a
prtica corrente no Conselho de Segurana, ao excluir medidas para proteger
governos democrticos contra golpes de Estado, assim como para proteger civis em
situaes onde no h assassinatos em massa ou genocdio
11
.
Alm disso, a exigncia de que o CSNU atue apenas em casos de ocorrncia de
assassinatos em massa, genocdio ou limpeza tnica impediria a atuao em
circunstncias onde a ameaa a civis relativamente menor (BELLAMY, 2009).
Aparentemente, a prtica do Conselho estaria frente da responsabilidade de
proteger. Na S/RES/1265 (1999), o rgo expressou sua disposio para tomar
medidas cuja finalidade a proteo de civis em qualquer situao onde estivessem
11
Em 1993, por exemplo, o Conselho de Segurana identificou o violento golpe de Estado contra o
governo de Bertrand Aristide no Haiti como uma ameaa paz e a segurana internacionais e
autorizou uma srie de medidas com a finalidade de restaurar o governo eleito, consubstanciadas nas
Resolues 841, 867 e 873.
36
sendo deliberadamente ameaados, sem expressar que teria que ser
necessariamente uma situao de genocdio ou de larga escala.
Ademais, o relatrio pouco abordou a questo de gnero, a despeito de iniciativas
importantes por parte do CSNU acerca da identificao do papel das mulheres na
paz e na segurana internacionais (BELLAMY, 2009).
A S/RES/1325 (2000) reconheceu a importncia da participao feminina em todas
as iniciativas concernentes paz e segurana internacionais; a exigncia de que
os todos os funcionrios da ONU recebessem treinamentos em questes de gnero;
a necessidade de se proteger os direitos humanos de mulheres e meninas durante e
aps o conflito armado e, por ltimo, a necessidade de se difundir as questes de
gnero em todo o sistema Naes Unidas.
Ao longo do relatrio da ICISS, por sua vez, as mulheres so mencionadas apenas
trs vezes, e elas nunca so explicitamente includas nos mecanismos de proteo,
ou h o reconhecimento de suas necessidades diferenciadas em contextos de
conflito e ps-conflito.
A palavra estupro mencionada oito vezes e possibilita o entendimento de que
este seria um determinante para o emprego de fora militar somente se ocorresse
em contexto geral de prtica de violaes em larga escala (BELLAMY, 2009).
Do mesmo modo, o relatrio nada discorre sobre a experincia de mulheres e
meninas em conflitos armados ( exceo da prtica de estupro), sua possvel
contribuio paz e proteo ou acerca da importncia do treinamento em
questes de gnero para os interventores (BELLAMY, 2009).
No tocante ao fato de ainda haverem questes importantes deixadas em aberto pela
comisso, por seu turno, h a percepo generalizada, por parte dos crticos, de que
o relatrio falha em articular de forma conceitualmente coerente e inovadora a
responsabilidade de prevenir e a responsabilidade de reconstruir (BELLAMY, 2009).
37
Apesar de ter descrito a primeira como a dimenso mais importante da R2P, a ICISS
dedicou apenas nove pginas do total de oitenta e cinco do relatrio preveno.
De fato, foram dedicadas somente dezesseis pginas responsabilidade de prevenir
e responsabilidade de reconstruir somadas, em comparao s trinta e duas
pginas dedicadas questo da interveno.
A ICISS igualmente teria evitado especificar o significado prtico dos termos
assassinatos em massa e limpeza tnica e, na ausncia de um entendimento
claro das condicionalidades expostas pela comisso para a utilizao de fora
militar, a capacidade da comisso de criar um arcabouo moral para as intervenes
humanitrias torna-se reduzida (BELLAMY, 2009).
Alm disso, a comisso no teria feito contribuies significativas para o debate da
reforma do Conselho de Segurana.
Apesar de ter concludo que no h dvidas de que a alterao da estrutura do
rgo o tornaria mais representativo e possivelmente aumentaria a sua credibilidade
e autoridade, a ICISS argumenta que uma reforma no necessariamente implicaria
no aumento do desempenho do CSNU no exerccio de suas funes e que, alis,
este assunto estaria alm de sua alada (BELLAMY, 2009).
Do mesmo modo, o desejo da comisso para que houvesse uma unidade de
comando no mbito das tropas subestimava a relutncia das grandes potncias de
colocar as suas foras armadas sob o comando de homlogos estrangeiros; e a
despeito da ICISS ter observado a dificuldade e a importncia da coordenao entre
o pessoal civil e militar, no ofereceu nenhuma diretriz para melhor-la (BELLAMY,
2009).
Por ltimo, a comisso teria evitado discutir o papel do Banco Mundial e do Fundo
Monetrio Internacional (FMI) no processo de reconstruo dos pases afetados
pelos conflitos armados (BELLAMY, 2009).
38
Em defesa da ICISS, razovel concluir, por outro lado, que seria inevitvel que um
relatrio de extenso limitada deixasse de mencionar ou se aprofundar em diversos
aspectos pertinentes ao tema trabalhado.
2.2 O caminho at a Cpula Mundial de 2005
Segundo Gareth Evans (2008, p. 44), o relatrio A Responsabilidade de proteger
foi quase sufocado no nascimento pelo fato de ter sido publicado em dezembro de
2001, logo aps o 11 de setembro, em um contexto em que o terrorismo tinha muito
mais destaque no cenrio internacional do que as catstrofes humanitrias.
Ademais, nos primeiros dois anos aps a publicao, parecia pouco provvel que a
R2P fosse adotada em alguma declarao ou resoluo da ONU. No s vrios
pases, incluindo os cinco membros permanentes do Conselho de Segurana,
estavam cticos com relao s implicaes do relatrio da ICISS, como tambm o
uso de justificativas humanitrias para a invaso do Iraque pela coalizo liderada
pelos Estados Unidos em 2003 aumentou as desconfianas acerca das novas
concepes do conceito de soberania (BELLAMY, 2009).
Em 2002, os Estados Unidos rejeitaram a ideia da aplicao de critrios para
orientar o processo de tomada de deciso no Conselho de Segurana sob a
alegao de que o pas no se comprometeria de forma a constranger o seu direito
de decidir quando e onde usar a fora.
O governo Bush no estava disposto a endossar o contedo do relatrio ou apoiar
qualquer declarao ou resoluo da ONU a respeito dele (BELLAMY, 2009).
A China manteve-se desconfiada acerca da R2P e defendeu que todas as questes
relacionadas ao uso da fora deveriam ser referendadas pelo Conselho de
Segurana (BELLAMY, 2009).
39
A Rssia endossou o posicionamento desconfiado chins e ainda
acrescentou que a ONU j estava preparada para lidar com crises
humanitrias. O governo russo tambm apontou que, ao chancelar as
intervenes no autorizadas, a adoo da R2P poderia resultar no
enfraquecimento da Carta das Naes Unidas (BELLAMY, 2009, p. 67).
A despeito do Reino Unido e da Frana defenderem a responsabilidade de proteger
e terminantemente rejeitarem a posio de que as intervenes no autorizadas
deveriam ser proibidas em qualquer circunstncia. Os dois pases expressaram
ressalvas acerca da delimitao de critrios para a atuao do CSNU, pois
acreditavam que isto no necessariamente levaria emergncia de um rgo mais
eficiente na resposta s crises humanitrias (BELLAMY, 2009).
As opinies no estavam divididas apenas no mbito do Conselho de Segurana. O
Movimento dos Pases No Alinhados (MNA) categoricamente rejeitou a R2P. A
ndia, membro destacado do MNA, defendeu que o Conselho j tinha capacidade
suficiente para atuar em situaes de catstrofe humanitria, alm de apontar que
as falhas do rgo no passado foram ocasionadas por falta de vontade poltica, no
de autoridade (BELLAMY, 2009).
A Malsia, falando em nome do MNA, argumentou que a R2P representava uma
potencial reencarnao da interveno humanitria, para a qual no existiriam
fundamentos no Direito Internacional (BELLAMY, 2009).
O Grupo dos 77 (G77), por seu turno, sugeriu que o relatrio deveria ser revisado a
fim de serem enfatizados os princpios da integridade territorial e da soberania
(BELLAMY, 2009).
A invaso da coalizo liderada pelos norte-americanos ao Iraque em 2003
certamente contribuiu para a piora do cenrio.
Em artigo publicado no jornal The New York Times no mesmo ano, Michael Ignatieff,
importante membro da ICISS, defendeu a justificativa humanitria dada pelo governo
republicano de ento (IGNATIEFF, 2003).
40
Gareth Evans (2004), por sua vez, afirmou que a justificativa humanitria deficiente e
inconsistente dada pelos Estados Unidos quase matou o conceito de
responsabilidade de proteger. Tal ponto de vista igualmente compartilhado por Ian
Williams (2003), Richard Falk (2003) e Bruce Jentelson (2007).
No de surpreender, portanto, que as primeiras iniciativas com a finalidade de
convencer a Assembleia Geral da ONU (AGNU) no tivessem sucesso.
Em 2002, o MNA bloqueou uma proposta de resoluo do Canad que fazia com
que a AGNU se comprometesse a deliberar sobre o relatrio da ICISS. O grupo
temia que isso levasse a uma discusso aprofundada do seu contedo (BELLAMY,
2009).
Em resposta investida, o governo canadense reformulou a proposta de tal forma
que esta somente pedia para que o Secretrio-Geral facilitasse o dilogo acerca da
R2P, sendo igualmente malsucedido (BELLAMY, 2009).
Evidentemente, vrios pases se opuseram R2P antes da invaso do Iraque, o que
pode levar a se duvidar de seu impacto negativo para a evoluo e promoo do
conceito formulado pela ICISS.
Na viso de Bellamy (2009, p. 69), por outro lado, no s a controversa guerra
reforou a posio dos pases que j se opunham R2P antes de sua deflagrao,
como tambm contribuiu para fomentar as mudanas que levariam ao consenso
global em torno do conceito em 2005.
2.2.1 Do dissenso ao consenso
A adoo da R2P pelo Painel de Alto Nvel Sobre Ameaas, Desafios e Mudanas, e
seu lugar subsequente na agenda de Kofi Annan para a renovao das Naes
Unidas (a qual foi sintetizada no relatrio de 2005 que recebeu o ttulo de Um
conceito mais amplo de liberdade: desenvolvimento, segurana e direitos humanos
41
para todos), abriu o caminho para a incorporao da responsabilidade de proteger
na Cpula Mundial de 2005.
O endosso do painel possibilitou, enfim, que surgisse uma declarao consensual na
Assembleia Geral acerca da R2P, mas igualmente confirmou o afastamento do
conceito do que foi originalmente estabelecido pela ICISS.
Kofi Annan convocou o Painel de Alto Nvel Sobre Ameaas, Desafios e Mudanas
em setembro de 2003, instruindo-o a analisar os desafios paz e segurana
internacionais e a contribuio que a ONU poderia fazer a fim de enfrent-los com
mais eficincia (BELLAMY, 2009; EVANS, 2008). Em dezembro de 2004, foi lanado
seu relatrio de 130 pginas, intitulado Um mundo mais seguro: a nossa
responsabilidade comum.
Segundo Gareth Evans (2008), tambm um dos autores de Um mundo mais
seguro, o relatrio do painel foi muito mais abrangente que o da ICISS, pois
trabalhou com a perspectiva do conceito de segurana humana, relacionando
pobreza, doenas e degradao ambiental com conflitos inter e intraestatais,
terrorismo, proliferao de armas de destruio em massa e crime organizado
transnacional.
Ainda de acordo com Evans (2008), o relatrio teve muito mais substncia,
coerncia e incisividade do que os membros do painel esperavam, ao conter cento e
uma recomendaes, inclusive concernentes reforma estrutural do Conselho de
Segurana.
Nesse sentido, o objetivo no era resolver o dilema de como proceder quando o
Conselho est sob um impasse, mas faz-lo funcionar melhor.
Yevgeny Primakov, ex-primeiro-ministro da Rssia e outro membro do painel,
esclareceu que, enquanto uma minoria de Estados (especialmente os membros da
OTAN) defendia que uma interveno humanitria poderia ser realizada fora do
mbito das Naes Unidas, a esmagadora maioria acreditava que esta somente
deveria ocorrer caso fosse devidamente autorizada pelo CSNU (BELLAMY, 2009).
42
Com relao responsabilidade de proteger, a principal recomendao foi expressa
nesses termos:
O Painel aprova a norma que se est impondo no sentido de que existe
uma responsabilidade internacional coletiva de proteger, a qual o Conselho
de Segurana pode exercer autorizando a interveno militar como ltimo
recurso em caso de genocdio e outras matanas em larga escala, de
limpeza tnica ou de graves violaes do direito internacional humanitrio
que o governo soberano no foi capaz ou no demonstrou vontade de
prevenir (ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2004, p. 57, traduo
nossa).
A fim de fazer com que o Conselho de Segurana funcionasse de forma mais
eficiente, o painel fez pequenas modificaes na definio dada pela ICISS para a
R2P. Ele acrescentou o termo srias violaes do direito internacional a uma lista
que j continha genocdio, assassinatos em massa e limpeza tnica.
Tambm delimitou de modo mais claro o carter preventivo do conceito, ao insistir
que a R2P deveria ser aplicada caso a ameaa seja real ou considerada iminente,
em vez de simplesmente perceptvel, como inicialmente proposto pela ICISS
(BELLAMY, 2009).
O Painel de Alto Nvel Sobre Ameaas, Desafios e Mudanas igualmente confirmou
as quatro dimenses-chave para a preveno das causas fundamentais dos
conflitos apontadas pela ICISS, assim como recomendou que o CSNU adotasse as
diretrizes numa resoluo declaratria, mas ignorou o cdigo de conduta sugerido
aos cinco membros permanentes do Conselho pela Comisso (BELLAMY, 2009).
Em seu lugar, o painel props uma restrio mais branda concernente ao uso do
veto. Em vez de um compromisso de no vetar as propostas de emprego de ao
coletiva em resposta a crises de grave emergncia humanitria caso a maioria dos
membros do CSNU seja favorvel, com exceo das situaes onde interesses
nacionais vitais estejam em jogo, o painel sugeriu a utilizao de um sistema de
votao indicativa, por meio do qual os membros do Conselho poderiam pedir para
que os Estados se declarem publicamente ou justifiquem suas posies antes da
realizao de fato do escrutnio.
43
De forma otimista, o Painel de Alto Nvel Sobre Ameaas, Desafios e Mudanas
tinha a esperana de que os membros do CSNU relutariam em declarar
publicamente a sua oposio a aes coletivas em casos nos quais a opinio
pblica estivesse sensibilizada, e que isto, portanto, reduziria a possibilidade de veto
(BELLAMY, 2009).
Nesse sentido, Kofi Annan aceitou quase todas as recomendaes constantes em
Um mundo mais seguro, ao inclu-las em seu prprio relatrio, Um conceito mais
amplo de liberdade.
O ex-Secretrio-Geral apoiou a ideia da utilizao de critrios para orientar o
Conselho de Segurana no seu processo de tomada de deciso relacionado ao uso
da fora, considerando-os como um mecanismo que tinha potencial para evitar as
eventuais divises causadas por casos polmicos (ORGANIZAO DAS NAES
UNIDAS, 2005).
Alm disso, com a finalidade de distinguir a R2P das intervenes humanitrias e do
uso da fora em mbito geral, Annan alterou o lugar da responsabilidade de proteger
na agenda da reforma das Naes Unidas.
O Painel de Alto Nvel Sobre Ameaas, Desafios e Mudanas colocou a R2P em um
captulo sobre segurana coletiva e sob o guarda-chuva do uso da fora, em uma
tentativa de vender o conceito como um mecanismo de reestruturao das
intervenes humanitrias (BELLAMY, 2009).
Kofi Annan, por seu turno, separou o compromisso com a responsabilidade de
proteger das diretrizes para o Conselho de Segurana, colocando a R2P em uma
seo de Um conceito mais amplo de liberdade acerca do estado de Direito, e as
diretrizes, por sua vez, na seo a respeito do uso da fora, a fim de reforar a ideia
de que a R2P no se tratava somente de uma ferramenta de uso da fora, mas de
um compromisso moral e normativo de um Estado de proteger os seus prprios
cidados. O princpio moral, portanto, era enfatizado e colaborava para que
eventuais crticas fossem evitadas (BELLAMY, 2009).
44
Por fim, o pargrafo 135 de Um conceito mais amplo de liberdade sintetiza a
posio de Annan a respeito da R2P:
A Comisso Internacional sobre Interveno e Soberania Estatal e, mais
recentemente, o Painel de Alto Nvel Sobre Ameaas, Desafios e
Mudanas, cujos 16 membros procedem de vrias partes do mundo,
aprovaram o que denominaram a norma que se est impondo no sentido
de que existe uma responsabilidade internacional coletiva de proteger (veja
A/59/565, para. 203). Ainda que esteja bastante consciente de que a
questo delicada, concordo totalmente com esse ponto de vista.
Devemos adotar a responsabilidade de proteger e, quando for
necessrio, devemos atuar como consequncia desta. Essa
responsabilidade recai, primordialmente, sob cada Estado, cuja principal
razo de ser e obrigao proteger a sua populao. Mas, se as
autoridades nacionais no esto dispostas a proteger os seus cidados ou
no podem faz-lo, cabe comunidade internacional a responsabilidade de
utilizar meios diplomticos, humanitrios e outros mtodos para ajudar a
proteger os direitos humanos e o bem estar da populao civil. Quando
esses meios forem insuficientes, o Conselho de Segurana pode, caso as
circunstncias exijam, decidir adotar medidas ao amparo da Carta das
Naes Unidas, incluso, se necessrio, medidas coercitivas [...]
(ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2005a, p. 35, traduo nossa).
[grifos do autor]
Certamente, a adoo da R2P pelo Painel de Alto Nvel Sobre Ameaas, Desafios e
Mudanas e pelo Secretrio-Geral da poca contriburam para que o conceito fosse
introduzido na agenda da Cpula Mundial de 2005.
No entanto, cabe ressaltar que, desde o Relatrio Brahimi
12
(2000), a ONU tem
trabalhado para que ideias assemelhadas R2P sejam operacionalizadas pelo
CSNU e por outros rgos da instituio (BELLAMY, 2009).
12
Em maro de 2000, Kofi Annan pediu a um grupo de peritos internacionais chefiado por Lakdar
Brahimi (seu conselheiro de longa data e antigo primeiro-ministro da Arglia) que examinasse o
funcionamento das operaes de paz das Naes Unidas, a fim de identificar as reas e as misses
em que a manuteno da paz seria mais eficaz, e que apresentasse propostas no sentido de
melhorar as operaes. O Relatrio do Grupo para as Operaes de Paz da ONU conhecido como
Relatrio Brahimi apresentou sugestes sobre as condies mnimas necessrias para o xito das
misses de manuteno da paz, dentre as quais se destacam a atribuio de um mandato claro e
especfico, a obteno do consentimento das partes em conflito e recursos suficientes
(ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2000).
45
2.3 A Cpula Mundial de 2005
Em setembro de 2005, os lderes mundiais se reuniram em Nova York para celebrar
o sexagsimo aniversrio da ONU e debater as propostas de Kofi Annan. Dentre
elas, inclua-se a questo da responsabilidade de proteger.
As tratativas para a elaborao de um documento que versava sobre a reforma das
Naes Unidas, baseado em Um conceito mais amplo de liberdade, comearam no
final de 2004, quando o gabons Jean Ping, ento Presidente da Assembleia Geral,
iniciou as consultas com as delegaes permanentes (BELLAMY, 2009).
Ping esperava que a verso final do documento estivesse pronta por volta do fim do
ms de agosto de 2005, s vsperas da Cpula Mundial.
Na realidade, as negociaes foram mais prolongadas e controversas do que o
imaginado. Elas foram concludas no ltimo minuto, quando parecia que a discusso
da agenda no levaria a nenhum resultado concreto. A R2P apareceu no documento
final apesar das tentativas de ltima hora de remov-la, mas o resultado era um
conceito bastante diferente daquele previsto pela ICISS (BELLAMY, 2009).
Uma vez iniciadas as discusses, no tocante R2P, houve amplo consenso com
relao definio de parmetros altos para o uso da fora legitimado pelo conceito
e com respeito ao princpio de que o Estado tinha, acima de tudo, a
responsabilidade de proteger os seus cidados.
Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurana permaneceram
contrrios ao cdigo de conduta uma posio que recebia cada vez mais apoio
de outros pases, sendo o veto considerado como uma importante barreira contra o
intervencionismo ocidental.
Assim, nem mesmo as recomendaes do Painel de Alto Nvel Sobre Ameaas,
Desafios e Mudanas concernentes conduta dos membros do CSNU sobreviveram
s negociaes (BELLAMY, 2009).
46
Todavia, os posicionamentos discordantes permaneceram em vrios pontos
fundamentais.
Em primeiro lugar, sobre a questo acerca da autoridade exclusiva ou principal do
Conselho de Segurana para autorizar as intervenes armadas, os Estados Unidos
e o Reino Unido argumentaram que as intervenes no autorizadas no poderiam
ser definitivamente descartadas, mas a maioria dos Estados defendeu que, se um
dos objetivos da R2P era limitar o intervencionismo do Ocidente, ento a primazia
absoluta do CSNU tinha que ser reafirmada (BELLAMY, 2009).
Em segundo lugar, havia um profundo dissenso com relao ao uso de critrios para
orientar a atuao do Conselho de Segurana. Enquanto vrios Estados africanos, o
Painel de Alto Nvel Sobre Ameaas, Desafios e Mudanas e Kofi Annan
endossavam a posio de que eles eram essenciais para o propsito de tornar as
decises do CSNU mais transparentes e, portanto, mais legtimas, os Estados
Unidos, a China e a Rssia eram contrrios aplicao das diretrizes, embora
tivessem motivaes distintas.
Os Estados Unidos acreditavam que os critrios limitariam a sua liberdade de ao;
a China e a Rssia, por seu turno, temiam que ocorressem desvios na aplicao das
diretrizes, levando legitimao de intervenes no autorizadas pelo CSNU
(BELLAMY, 2009).
Havia tambm ambiguidades nos documentos anteriores que tratavam da R2P a
serem esclarecidas no eventual documento final da Cpula:
a) o ponto no qual a responsabilidade de proteger passava do Estado para a
sociedade internacional;
b) a natureza da obrigao da sociedade internacional nesta situao; e
c) o relacionamento entre a ONU e as organizaes regionais com relao ao
tratamento do tema (BELLAMY, 2009).
Ademais, vrios Estados, especialmente a ndia, mantiveram o posicionamento de
que a R2P foi elaborada a fim de legitimar a interferncia ocidental nos assuntos
internos dos pases em desenvolvimento.
47
A esses Estados, juntaram-se outros, acrescentando ainda que um compromisso
com a R2P s era possvel caso houvesse acordos a respeito dos seguintes temas:
a) assistncia ao desenvolvimento; e
b) reforma do Conselho de Segurana (BELLAMY, 2009).
Aps a publicao de Um conceito mais amplo de liberdade, por exemplo, o G77
insistiu que a prioridade deveria ser a questo do desenvolvimento e que este no
deveria ser estreitamente associado com os temas de segurana e terrorismo
13
.
Entre maro e agosto de 2005, houve um progresso considervel no tocante
elaborao do documento final da Cpula.
Com relao R2P, a despeito da relutncia inicial do G77, o grupo aceitou se
comprometer com o conceito em troca de avanos concernentes questo do
desenvolvimento (BELLAMY, 2009).
Os esforos resultaram, ento, em uma verso preliminar do documento final que
inclua o compromisso com a R2P e seus princpios fundamentais:
Concordamos que a proteo das populaes do genocdio, crimes de
guerra, limpeza tnica e crimes contra a humanidade cabem
primordialmente a cada Estado. Tambm concordamos que esta
responsabilidade de proteger resulta na preveno de tais crimes, incluindo
o seu incitamento. Aceitamos esta responsabilidade e concordamos em agir
de acordo com ela. A comunidade internacional deveria, caso seja
apropriado, encorajar e auxiliar os Estados a exercitar esta responsabilidade
e apoiar os esforos das Naes Unidas para estabelecer um sistema de
alerta. A comunidade internacional, por meio das Naes Unidas,
igualmente tem a obrigao de usar os meios diplomticos, humanitrios e
outros meios pacficos, inclusive sob os Captulos VI e VIII da Carta para
ajudar a proteger as populaes do genocdio, crimes de guerra, limpeza
tnica e crimes contra a humanidade. Nesse contexto, reconhecemos nossa
responsabilidade compartilhada de desencadear a ao coletiva, de forma
hbil e decisiva, por meio do Conselho de Segurana sob o Captulo VII da
Carta e em cooperao com as organizaes regionais relevantes, se os
meios pacficos forem inadequados e as autoridades nacionais no
estiverem dispostas a proteger as suas populaes ou no puderem faz-lo.
Enfatizamos a necessidade de continuar a discusso do conceito da
responsabilidade de proteger dentro da sexagsima sesso da Assembleia
Geral (ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2005b, p. 29, traduo
nossa).
13
Discurso do Embaixador Stafford Neil, Representante Permamente da Jamaica junto s Naes
Unidas, lder do G77, proferido em 25 de abril de 2005 em Nova York.
48
Na viso de Alex J. Bellamy (2009), o que est escrito na verso preliminar do
documento resultou de um esforo de ambiguidade criativa. Por um lado, o G77
no aceitaria a incluso de palavras que implicassem em um direito de interveno
sem a aprovao do CSNU. Por outro lado, os Estados Unidos no aceitariam uma
terminologia que denotava expressamente a proibio das intervenes no
autorizadas pelo Conselho.
A fim de solucionar este impasse, enfatizou-se na redao a responsabilidade
compartilhada e omitiu-se o problema de como proceder em casos nos quais o
Conselho esteja bloqueado.
Alm disso, manteve-se na verso preliminar a separao textual entre R2P e uso
da fora proposta por Kofi Annan.
A recomendao para o uso dos critrios foi diluda em um compromisso para se
continuar discutir o seu eventual emprego, com a finalidade de manter o apoio dos
Estados Unidos, do G77, da China e da Rssia (BELLAMY, 2009).
Entretanto, o ingresso tardio de John Bolton nas negociaes ameaou seriamente o
xito da Cpula Mundial de 2005. Embaixador norte-americano para as Naes
Unidas, recm-nomeado por George W. Bush, Bolton foi apontado quase
unanimemente como responsvel pela elaborao de centenas de emendas que
quase liquidaram o documento final (RICUPERO, 2006).
As objees dele R2P, no entanto, eram relativamente menores em comparao
aos demais temas da Cpula.
Bolton citado por Bellamy (2009) argumentou que era necessrio reelaborar os
pargrafos relativos R2P do documento preliminar a fim de se levar em
considerao trs importantes observaes:
a) em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos aceitavam que os
Estados tinham a principal responsabilidade de proteger e a sociedade
internacional tinha a responsabilidade de agir quando o Estado permitisse ou caso
este cometesse violaes de direitos humanos, era importante reconhecer que a
49
responsabilidade de outros pases na comunidade internacional no era
equivalente responsabilidade do Estado que havia cometido a violao;
b) em segundo lugar, ele argumentou que o Conselho de Segurana no era
legalmente obrigado a proteger populaes ameaadas, ao passo que os Estados
que as abrigavam eram. Bolton (2005, apud BELLAMY, 2009) tambm se
posicionou contrariamente retomada da discusso sobre os critrios,
defendendo que o CSNU deveria ter a liberdade para decidir as medidas mais
apropriadas segundo a necessidade do caso especfico;
c) por ltimo, ele acreditava que o comprometimento com a R2P no impedia a
possibilidade de se agir sem a autorizao do Conselho.
A China, por sua vez, sinalizava sua aceitao cautelosa da R2P dessa forma:
Todos os Estados assumem a responsabilidade primordial de proteger a
seus nacionais. Os conflitos internos de um pas costumam se dever a um
conjunto complexo de fatores, pelo qual imperativo tomar cautela para
julgar se um Governo tem ou no a capacidade e a vontade de proteger a
seus cidados, e no se permite a interveno temerria (CHINA, 2005,
traduo nossa).
Alm disso, na prpria Cpula Mundial de 2005, o ento presidente chins, Hu
Jintao, ao referir-se R2P, insistiu que para que todos os membros da ONU se
opusessem a atos de usurpao da soberania de outros pases, interferncia
forada nos assuntos internos dos Estados, e uso premeditado da fora militar
14
.
Bellamy (2009), no entanto, afirma que, apesar das ressalvas expressas pelo
governo da China, a R2P no era uma questo forte o suficiente para impedir
terminantemente o endosso da diplomacia chinesa ao documento final da
conferncia.
A Rssia, assim como a China, manteve postura ressabiada com relao R2P, ao
defender que a ONU j estava preparada para lidar com as crises humanitrias e
que a aplicao do conceito poderia resultar no enfraquecimento da Carta, por no
haver vedao expressa s intervenes no autorizadas. O obstrucionismo russo,
todavia, cessou ao final das negociaes, devido constatao da diplomacia russa
14
Discurso do Presidente da Repblica Popular da China, Hu Jintao, proferido em 16 de setembro de
2005 em Nova York.
50
de que, de fato, o pas no tinha reservas polticas ou filosficas profundas
concernentes R2P (BELLAMY, 2009).
Com relao ao restante do mundo em desenvolvimento, percebia-se ntida diviso
acerca do tema.
O MNA rechaava o direito interveno humanitria, observando similaridades
entre a R2P e a ltima, alm de manifestar preocupao com respeito a suas
implicaes para os princpios da no interferncia, no interveno, integridade
territorial e soberania nacional
15
.
A frica do Sul, Ruanda e Tanznia, por seu turno, demonstraram apoio R2P, ao
enfatizar que a aplicao do conceito era essencial para lidar com os problemas do
continente africano (BELLAMY, 2009).
Nesse contexto, a posio do Brasil no tocante R2P, durante as negociaes,
tambm era cautelosa, e encontra-se expressa nestes termos:
Na maioria dos conflitos contemporneos, o direito internacional humanitrio
por vezes negligenciado ou deliberadamente violado. Tendo em vista esta
situao, consideramos que uma definio de uma responsabilidade de
proteger pode ser til. A definio fornecida nessa verso preliminar pode
servir de base para seu futuro aperfeioamento. A ao coletiva, como
base deste conceito, deve ter a chancela do Conselho de Segurana e ser
implementada por ele (BRASIL, 2005, traduo nossa).
Por um lado, tem-se a percepo de que a Cpula Mundial de 2005 foi
decepcionante. Segundo Ricupero (2006), a Cpula tinha como objetivo promover
uma reforma abrangente das Naes Unidas, mas terminou mais como uma nota de
lamentao e remorso por uma oportunidade perdida do que de satisfao por uma
misso cumprida.
Por outro lado, houve um avano notvel com relao R2P, com a adoo em
definitivo no mbito das Naes Unidas do conceito mediante a sua incluso nos
15
Discurso do Embaixador Radzi Rahma, Encarregado de Negcios da Misso Permanente da
Malsia junto s Naes Unidas e lder do MNA, em nome do MNA, proferido em 21 de junho de
2005 em Nova York.
51
pargrafos 138 e 139 do documento final da conferncia, o qual foi aprovado por
consenso por chefes de Estado e de governo:
Todos os Estados tm a responsabilidade de proteger as suas populaes
do genocdio, crimes de guerra, limpeza tnica e crimes contra a
humanidade. Esta responsabilidade de proteger resulta na preveno de
tais crimes, incluindo o seu incitamento, mediante os meios adequados e
necessrios. Aceitamos esta responsabilidade e agiremos de acordo com
ela. A comunidade internacional deveria, caso seja apropriado, encorajar e
auxiliar os Estados a exercitar esta responsabilidade e apoiar os esforos
das Naes Unidas para estabelecer um sistema de alerta.
A comunidade internacional, por meio das Naes Unidas, igualmente tem a
responsabilidade de usar os meios diplomticos, humanitrios e outros
meios pacficos, de acordo com os Captulos VI e VIII da Carta para ajudar
a proteger as populaes do genocdio, crimes de guerra, limpeza tnica e
crimes contra a humanidade. Nesse contexto, estamos preparados para
desencadear a ao coletiva, de forma hbil e decisiva, por meio do
Conselho de Segurana, de acordo com a Carta, incluindo o Captulo VII,
considerando os casos especficos e em cooperao com as organizaes
regionais relevantes caso seja apropriado, se os meios pacficos forem
inadequados e as autoridades nacionais estiverem manifestamente
falhando em proteger seus cidados do genocdio, crimes de guerra,
limpeza tnica e crimes contra a humanidade e suas implicaes, tendo em
mente os princpios da Carta e do Direito Internacional. Tambm
pretendemos nos comprometer, se necessrio e apropriado, em ajudar os
Estados a construrem a capacidade de proteger suas populaes do
genocdio, crimes de guerra, limpeza tnica e crimes contra a humanidade e
em assistir aqueles que esto sob estresse antes do desencadeamento das
crises e dos conflitos (ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2005c, p.
30, traduo nossa). [grifo nosso]
H, portanto, algumas diferenas entre a verso preliminar e o documento final da
Cpula Mundial de 2005.
Inicialmente, a responsabilidade de proteger deveria ser aplicada se as autoridades
nacionais no estiverem dispostas a proteger as suas populaes ou no puderem
faz-lo, ao passo que no documento final a R2P seria empregada se as
autoridades nacionais estiverem manifestamente falhando em proteger seus
cidados um contexto mais grave do que o colocado no texto preliminar.
Acerca do papel do Conselho de Segurana, enquanto que na verso inicial os
membros das Naes Unidas reconheciam a sua responsabilidade compartilhada,
no texto revisado isto omitido, mencionando-se apenas a responsabilidade de se
usar os meios pacficos para solucionar as controvrsias.
52
Ademais, no documento final no h um reconhecimento expresso da
responsabilidade de agir alm do uso de meios pacficos, havendo somente a
reafirmao de que os Estados esto preparados para o uso de outras medidas
caso julguem cabveis.
Para Gareth Evans (2008), a nica decepo flagrante do documento final a
omisso deliberada das diretrizes para o emprego da fora militar, deixando, desse
modo, a questo para ser discutida futuramente.
Em suma, a R2P tal como consolidada pelo documento final da Cpula Mundial de
2005, foi menos ambiciosa do que a originalmente concebida pela ICISS, mas, sem
dvida, foi extremamente importante para a evoluo normativa da comunidade
internacional e ofereceu uma agenda a ser desenvolvida pelas instituies
internacionais, Estados e organizaes regionais.
53
CAPTULO III: INTERPRETAO E APLICAO DA RESPONSABILIDADE DE
PROTEGER NO MBITO DAS NAES UNIDAS (2006-2011)
3.1 O arrependimento do comprador: a oposio R2P aps a Cpula
Mundial de 2005 (2006-2007)
Apesar da adoo do conceito pelas Naes Unidas na Cpula Mundial de 2005, a
efetiva implementao da R2P ainda tem enfrentado considervel resistncia no
seio da organizao. Devido s persistentes preocupaes com relao ao seu
possvel uso a fim de legitimar interferncias nos assuntos domsticos dos Estados,
vrias naes demonstraram o que Gareth Evans citado por Bellamy (2011) e
Jennifer Welsh citado por Quinton-Brown (2012) denominaram de arrependimento
do comprador, empenhando-se, assim, para que a responsabilidade de proteger
no tivesse efeitos prticos (BELLAMY, 2011). Este movimento contrrio R2P
pode ser observado durante o debate no seio do CSNU concernente aprovao da
S/RES/1674 (2006), assim como na iniciativa bem-sucedida para evitar que o
Conselho de Direitos Humanos (CDH) condenasse o Sudo pelos atos cometidos
em Darfur, usando o conceito como parmetro.
Aps seis meses de intensa discusso, o Conselho de Segurana adotou por
unanimidade a S/RES/1674 (2006), reafirmando que as partes nos conflitos
armados tm a responsabilidade primordial de adotar todas as medidas possveis
para assegurar a proteo dos civis afetados (ORGANIZAO DAS NAES
UNIDAS, 2006, p. 2, traduo nossa). Inicialmente, Rssia, China e trs membros
no permanentes (Arglia, Filipinas e Brasil) argumentaram que o compromisso
assumido na Cpula Mundial somente obrigava a Assembleia Geral a deliberar
sobre a R2P e que, consequentemente, a abordagem do assunto pelo CSNU era
uma atitude precipitada. A esse respeito, o governo chins afirmou posteriormente
que:
H ainda entendimentos e interpretaes divergentes acerca deste conceito
entre os Estados-membros. O Conselho de Segurana deveria, portanto,
abster-se de invocar o conceito da responsabilidade de proteger. Muito
54
menos o conceito deve ser mal utilizado. O Conselho de Segurana deveria
respeitar e apoiar a Assembleia Geral para que continue a discutir o
conceito a fim de se alcanar amplo consenso (CHINA, 2007, traduo
nossa).
As mudanas na composio do Conselho de Segurana trazidas pela eleio dos
novos membros no permanentes para o mandato 2007-2008 contriburam para que
o consenso acerca da S/RES/1674 (2006) enfim fosse forjado. Nesse sentido, o
extenuante processo negociador para a aprovao do referido documento pelo
CSNU pode ter persuadido o rgo a no empregar o conceito com mais frequncia
por receio de criar oportunidades para se retroceder em relao ao acordo de 2005
(BELLAMY, 2011).
Desde ento, o Conselho referiu-se explicitamente R2P apenas em outras trs
ocasies, por meio da S/RES/1706 (2006), S/RES/1894 (2009) e S/RES/1973
(2011). Alm disso, cabe destacar que um pargrafo se referindo s provises
estabelecidas pelos pargrafos 138 e 139 do documento final da Cpula Mundial foi
suprimido da S/RES/1769 (2007) a pedido dos membros do CSNU (BELLAMY,
2011) e a S/RES/1814 (2008) fez referncias proteo de civis e S/RES/1674
(2006) sem citar o acordo de 2005.
A resistncia implementao da R2P tambm era evidente no seio do Conselho de
Direitos Humanos (CDH). Em dezembro de 2006, o CDH decidiu enviar uma Misso
de Alto Nvel (MAN) Darfur a fim de avaliar a situao concernente aos direitos
humanos no local e as eventuais necessidades do governo sudans. O relatrio
subsequente da MAN, ento, usou a R2P como referncia para julgar a performance
do Sudo em Darfur, destacando-se como o primeiro do gnero a utilizar o conceito
de R2P como estabelecido pela Cpula Mundial de 2005 e a constatar de forma
clara que um Estado havia expressamente falhado em proteger a sua populao:
A Misso ainda conclui que o governo do Sudo tem falhado
manifestamente em proteger a populao de Darfur dos crimes
internacionais cometidos em larga escala, e o mesmo tem organizado e
participado nestes crimes. Assim, a obrigao solene da comunidade
internacional de exercer a sua responsabilidade de proteger tem se tornado
evidente e urgente (ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2007, p. 25,
traduo nossa) [grifo do autor].
55
A reao no tardou a vir. A legitimidade do relatrio foi questionada por diversos
pases sob a alegao de que o uso da R2P para justificar a interferncia
internacional nos assuntos domsticos dos Estados por uma entidade (o Conselho
de Direitos Humanos) que no tinha autoridade formal para tanto era temerrio. A
controvrsia resultou, enfim, na eliminao de referncias posteriores R2P pelo
CDH ao longo do desenvolvimento da crise de Darfur (BELLAMY, 2011).
Em vista do exposto, percebe-se que era evidente a necessidade de aprimoramento
conceitual da R2P e de maior debate envolvendo os Estados a fim de se alcanar a
sua efetiva operacionalizao. Como se ver na seo a seguir, isto eventualmente
se tornou uma das principais metas do mandato do prximo Secretrio-Geral da
ONU, Ban Ki-moon.
3.2 Rumo a um novo consenso (2007-2008)
A ascenso de Ban Ki-moon, ex-ministro das Relaes Exteriores da Coreia do Sul,
ao cargo de Secretrio-Geral da ONU em 2007 contribuiu substancialmente para o
processo de implementao da responsabilidade de proteger no mbito da
organizao. Ban comprometeu-se pessoalmente com a meta de operacionalizar a
R2P assim que assumiu o posto:
[...] devemos dar os primeiros passos para que a responsabilidade de
proteger passe da retrica prtica. Este conceito foi corretamente
aclamado como um avano histrico em 2005, quando todos os Estados-
membros expressaram a sua vontade de agir coletivamente, por meio do
Conselho de Segurana, em casos onde a populao est ameaada pelo
genocdio, limpeza tnica ou crimes contra a humanidade e as autoridades
nacionais falham em tomar as medidas adequadas. Chegou a hora de
construir o consenso entre os Estados-membros a respeito de como
podemos operacionalizar esta vontade. Prometo empregar meus
melhores esforos para alcanar este objetivo (KI-MOON, 2007,
traduo nossa) [grifo nosso]
Nesse sentido, o novo Secretrio-Geral decidiu nomear Edward Luck para o cargo
de Conselheiro Especial para a Responsabilidade de proteger, o que foi criticado por
especialistas sob as alegaes de que Luck no tinha expertise na rea e de que a
nomeao de um americano para tal posto era inapropriada (THAKUR, 2009). As
56
atribuies desse novo cargo foram delimitadas no pargrafo 31 do relatrio do
Secretrio-Geral para a Assembleia Geral datado de 30 de outubro de 2007:
Para complementar o trabalho do Conselheiro Especial para a Preveno
do Genocdio e das Atrocidades em Massa, a fim de operacionalizar o
conceito e desenvolver a doutrina da responsabilidade de proteger, como
elaborado no Documento Final da Cpula Mundial de 2005 e contido nos
pargrafos 138 a 140 da resoluo da Assembleia Geral 60/1, o Secretrio-
Geral decidiu nomear um Conselheiro Especial para a Responsabilidade de
proteger em nvel de Secretrio-Geral Assistente. O Conselheiro Especial
trabalhar diretamente com o Secretrio-Geral e com o Conselheiro
Especial para a Preveno do Genocdio e das Atrocidades em Massa
para avanar e consolidar o consenso da Cpula Mundial de 2005 a
respeito da responsabilidade de proteger e fornecer conselhos e
recomendaes conforme a necessidade. Ademais, o Conselheiro
Especial ir: (a) consultar-se com os Estados-membros a respeito de
formas pelas quais as Naes Unidas poderiam auxiliar para colocar
em prtica as normas e objetivos articulados no Documento Final da
Cpula Mundial de 2005; (b) engajar outras partes do Secretariado e do
sistema das Naes Unidas assim como outros atores ao redor do
mundo em uma avaliao das formas nas quais o sistema das Naes
Unidas, outras instituies globais e regionais, e a comunidade
internacional como um todo poderia ajudar na implementao da
responsabilidade de proteger; (c) servir como um ponto focal na
promoo dessa norma; (d) aproveitar os resultados dessas consultas,
discusses e avaliaes para aconselhar o Secretrio-Geral a respeito
de como as Naes Unidas poderiam encaminhar e apoiar melhor
esses objetivos e (e) auxiliar o Secretrio-Geral na tomada de decises
nesta rea, caso necessrio (ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS,
2007, p. 12-13, traduo nossa) [grifo nosso]
No entanto, o Quinto Comit da Assembleia Geral, o qual responsvel pelos
assuntos oramentrios da organizao, implicitamente rejeitou a proposta de Ban
de criao de um escritrio conjunto para a R2P e a Preveno do Genocdio
quando adotou uma resoluo acerca do oramento para 2007/8 sem a incluso do
financiamento para tal fim (BELLAMY, 2011). Assim, Ban Ki-moon exerceu a
prerrogativa de nomear seus conselheiros, mas sem receber o apoio financeiro
esperado.
Findo o embarao burocrtico inicial, o Conselheiro Especial trabalhou ativamente
na construo de um novo consenso com relao R2P. Adotando uma abordagem
consultiva baseada em um exame detalhado do acordo de 2005, Edward Luck
engajou-se em um longo e minucioso dilogo com vrios Estados-membros, sendo
57
que muitos nunca haviam sido consultados diretamente a respeito da R2P pela
ONU
16
(BELLAMY, 2011).
Como resultado da iniciativa, reforou-se a ideia de que para a ONU e para seus
Estados-membros, o princpio de uma responsabilidade de proteger o que est
contido nos pargrafos 138 e 139 do Documento Final, nada mais e nada menos
(LUCK, 2007, apud BELLAMY, 2011).
O Secretrio-Geral, ento, convidou seu Conselheiro Especial a preparar um
relatrio sobre a implementao da responsabilidade de proteger que seria debatido
no mbito da Assembleia Geral. Pretendia-se que o documento abordasse uma
agenda ampla e apelasse para que a AGNU aprovasse uma resoluo que
assinalasse o comprometimento do rgo com o desenvolvimento conceitual em
curso (BELLAMY, 2011).
Tanto Ban quanto Luck insistiram para que a AGNU fosse o principal instrumento
para se avanar a R2P, pois era fundamental que todos os Estados-membros
tivessem a oportunidade de examin-la e comentar a respeito de sua
implementao, alm de revigorar a legitimidade do conceito (BELLAMY, 2011).
3.3 Implementando a Responsabilidade de proteger
Lanado em 2009, o relatrio do Secretrio-Geral Implementando a
Responsabilidade de proteger marcou um passo significativo na evoluo normativa
da R2P. Elaborado com base em um extenso processo de consultas com os
Estados-membros e as agncias da ONU, o documento delineou uma ampla gama
de medidas que a Assembleia Geral e os Estados poderiam considerar com respeito
implementao dos trs pilares da R2P (BELLAMY, 2011).
16
Como a Indonsia, por exemplo (BELLAMY, 2011, p. 33).
58
Ban Ki-moon visualizou seu relatrio como uma oportunidade para a Assembleia
Geral debater e definir a natureza do seu entendimento da R2P, assim como para
abordar maneiras de definir e desenvolver a parceria entre os Estados e a
comunidade internacional com relao ao tema. Nesse sentido, o Secretrio-Geral
afirmou que:
A tarefa para o futuro no consiste em reinterpretar ou renegociar as
concluses da Cpula Mundial, mas em buscar meios de colocar em prtica
as suas decises de maneira totalmente fiel e sistemtica. O presente
relatrio, ao formular algumas ideias iniciais a esse respeito, tem como
objetivo contribuir para um dilogo contnuo entre os Estados-membros,
com o apoio do Secretariado das Naes Unidas, sobre a responsabilidade
de proteger (ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2009, p. 4, traduo
nossa)
Assim, o documento comea esclarecendo a natureza e o escopo da R2P como
definidos em 2005. Reitera que o conceito respaldado pelo Direito Internacional (
a responsabilidade de proteger no altera, mas na verdade refora as obrigaes
legais dos Estados-membros de evitarem o uso da fora exceto quando em
conformidade com a Carta).
Em seguida, tendo demonstrado que a R2P tem embasamento jurdico slido, o
Secretrio-Geral apresenta o acordo de 2005 como o ponto de partida para o seu
processo de implementao. Certamente, a ideia mais importante em termos de
evoluo conceitual trazida pelo relatrio foi a noo de que a responsabilidade de
proteger compreende trs pilares. Todos os pilares tm igual importncia e no
haveria uma sequncia pr-determinada para passar de um a outro.
O primeiro pilar trata da responsabilidade do Estado de proteger a sua populao do
genocdio, crimes de guerra, limpeza tnica e crimes contra a humanidade. Este
pilar foi descrito por Ban Ki-moon como o ncleo duro da R2P, tendo sido
elaborado a partir da natureza do princpio da soberania e das obrigaes legais de
proteo dos Estados (ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2009).
Ban reconheceu que, em razo da diversidade das situaes enfrentadas, com suas
caractersticas particulares e distintos graus de complexidade, existiam mltiplas
alternativas para que os Estados melhor exercessem sua R2P (ORGANIZAO
59
DAS NAES UNIDAS, 2009). Ademais, o Secretrio-Geral sugeriu as seguintes
medidas para a implementao do primeiro pilar (ORGANIZAO DAS NAES
UNIDAS, 2009):
a) o Conselho de Direitos Humanos da ONU poderia ser usado para encorajar os
Estados a cumprir com suas obrigaes relacionadas R2P e o Mecanismo de
Reviso Peridica Universal do CDH (RPU) poderia ser utilizado a fim de
monitorar os seus desempenhos no tocante matria;
b) os Estados deveriam se tornar partes dos instrumentos relevantes de Direitos
Humanos, Direito internacional humanitrio e Direito dos Refugiados, assim como
do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI). Deveriam tambm
incorpor-los s suas jurisdies domsticas e implement-los com fidelidade;
c) alm de se tornaram partes do Estatuto de Roma, os Estados deveriam fazer
mais para ajudar o TPI e outros tribunais internacionais, empenhando-se
ativamente, por exemplo, na localizao e captura de indiciados;
d) os princpios da R2P deveriam ser localizados dentro de cada cultura e sociedade
a fim de que eles sejam encarados com naturalidade e no considerados como
imposies externas;
e) os Estados deveriam se comprometer com a criao de mecanismos nacionais
para se lidar com a irracionalidade, intolerncia, racismo e excluso.
O segundo pilar, por sua vez, trata da responsabilidade da comunidade internacional
de assistir o Estado a cumprir com seu dever de proteger os seus nacionais, ao
auxiliar na construo da capacidade de prevenir o cometimento desses crimes
(ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2009). Em termos de medidas
especficas, as quais deveriam ser tomadas com o consentimento e a cooperao
do Estado em questo, o relatrio recomendou (ORGANIZAO DAS NAES
UNIDAS, 2009):
a) encorajar os Estados a cumprir com as responsabilidades delineadas pelo
primeiro pilar:
- Os Estados que incitarem ou planejarem cometer genocdio, crimes de guerra,
limpeza tnica e crimes contra a humanidade precisam estar cientes de que
prestaro contas de seus atos.
- Incentivos deveriam ser oferecidos para estimular as partes em direo
reconciliao.
60
b) ajud-los a exercer esta responsabilidade:
- Uma reforma no setor de segurana com o objetivo de construir e sustentar
foras policiais legtimas e eficientes faria uma importante contribuio para a
manuteno da estabilidade, alm de fornecer aos Estados a capacidade de
responder de forma rpida e legtima s tenses crescentes.
c) ajud-los a construir a sua capacidade de proteger:
- Um projeto de assistncia ao desenvolvimento econmico contribuiria para a
preveno dos quatro crimes abrangidos pela R2P mediante a reduo das
desigualdades, a melhoria da educao e o aumento da participao poltica.
- A ajuda internacional deveria auxiliar os Estados e as sociedades a construrem
as capacidades especficas necessrias para a preveno do genocdio e das
atrocidades em massa.
d) auxiliar Estados sob forte estresse antes que as crises e os conflitos
irrompam:
- A ONU e as organizaes regionais e subregionais poderiam construir
rapidamente capacidades civis e policiais a fim de auxiliar os pases sob tenso.
- Em locais onde os quatro crimes forem cometidos por atores no estatais, a
assistncia militar internacional ao Estado deve ser a forma mais eficiente de
auxlio.
O terceiro pilar, por fim, aborda a questo da resposta decisiva e oportuna. Em
situaes onde um Estado tem manifestamente falhado em proteger os seus
cidados, a comunidade internacional tem a responsabilidade de agir mediante
meios pacficos (diplomticos e humanitrios) e, caso seja inadequado para o caso
em especfico, deve-se atuar de maneira consistente com os captulos VI (soluo
pacifica de controvrsias), VII (ao relativa a ameaas a paz, ruptura da paz e atos
de agresso) e VIII (acordos regionais) da Carta da ONU (ORGANIZAO DAS
NAES UNIDAS, 2009).
Nesse sentido, o documento sugeriu vrias medidas que os Estados poderiam usar
a fim de aplicar efetivamente o terceiro pilar (ORGANIZAO DAS NAES
UNIDAS, 2009):
a) o Conselho de Segurana poderia utilizar-se de sanes inteligentes, tais como
restries de viagens, transferncias financeiras e embargo de armas. Em tais
61
casos, cabe ao CSNU, s organizaes regionais relevantes e aos Estados
desenvolver a expertise, a capacidade e a vontade poltica necessria para
implementar propriamente esses regimes;
b) os membros permanentes do CSNU deveriam evitar o uso do veto em casos de
falha expressa do Estado em proteger os seus nacionais e deveriam agir de boa
f para se alcanar um consenso com relao ao exerccio da responsabilidade
do Conselho em tais situaes;
c) os Estados-membros poderiam considerar o desenvolvimento de princpios,
regras e doutrina para orientar o uso da fora para propsitos humanitrios;
d) a ONU deveria robustecer a sua capacidade para o emprego em tempo hbil de
fora militar, mediante o desenvolvimento de uma doutrina especfica para o
assunto, assim como por meio da melhoria do treinamento de pessoal e da
resoluo das questes relativas ao comando e controle das tropas;
e) a ONU deveria reforar a sua parceira com as organizaes regionais para que a
cooperao se desenvolva da maneira mais gil possvel.
Finalmente, o Secretrio-Geral reiterou o seu pedido para o estabelecimento de um
escritrio conjunto para a R2P e a Preveno do Genocdio, argumentando que este
contribuiria para reforar a capacidade das Naes Unidas na rea de alerta
precoce. Alm disso, ele daria R2P um lar institucional dentro da ONU, permitindo
que se desenvolva e reforce a agenda de implementao pelo fornecimento de uma
capacidade de gerar propostas especficas relacionadas ao assunto, assim como
conferindo um ponto focal para a normalizao da R2P dentro do sistema das
Naes Unidas. Sem este ponto focal, a implementao da agenda proposta pelo
Secretrio-Geral seria muito difcil, se no impossvel de se atingir porque a inrcia
institucional provavelmente mataria a R2P como uma agenda prtica sem mesmo
haver a necessidade dos opositores trabalharem contra o conceito (BELLAMY,
2011).
O relatrio, em termos gerais, foi bem recebido pelos Estados, como o posterior
debate acerca do tema na Assembleia Geral da ONU em 2009 atesta. Todavia, o
mesmo tratamento no foi conferido pelos especialistas no assunto.
62
Ramesh Thakur citado por Bellamy (2011), por exemplo, fez trs ressalvas com
relao ao teor do documento. Em primeiro lugar, ele argumentou que os trs
pilares no tinham igual fora e importncia. O terico defendeu que o pilar mais
importante era o primeiro (a responsabilidade dos Estados) e o menos importante
era o segundo (assistncia internacional).
Em segundo lugar, Thakur citado por Bellamy (2011) afirmou que o relatrio dilua a
caracterstica central da R2P, que no seu ponto de vista consistia no fato de
governantes brutais matarem o seu prprio povo em larga escala. Para ele, a
construo de capacidades (abordada pelo segundo pilar), embora tenha seus
mritos, diminua o valor agregado pelo conceito:
RtoPs added value is that it crystallized an emerging new norm of using
international force to prevent and halt mass killings by reconceptualizing
sovereignty as responsibility. It aims to convert a shocked international
conscience into timely and decisive collective action (THAKUR apud
BELLAMY, 2011, p. 40).
Em terceiro lugar, Thakur citado por Bellamy (2011) argumentou que o relatrio
ignorava muitas das questes chave que demandavam serem esclarecidas com
urgncia, tais como:
a) quando a R2P deveria ser ativada como uma responsabilidade internacional,
quem tomaria tal deciso e baseado em que?
b) as operaes autorizadas sob o manto da R2P requerem diretrizes prprias
acerca do uso da fora?
c) como e onde podem ser institudos avaliaes de risco sistemticas e indicadores
de alerta com a finalidade de informar precisamente o desenvolvimento de crises
abrangidas pelo conceito de R2P?
Por fim, o terico concluiu que no houve avano concreto com respeito a esses
assuntos chave e que, aparentemente, o consenso obtido em 2005 estava sendo
meramente recriado em vez de se ter dado passos significativos na
operacionalizao e implementao da responsabilidade coletiva acordada
(THAKUR apud BELLAMY, 2011).
63
Jennifer Welsh (2010), por sua vez, fez uma crtica similar de Thakur,
argumentando que o foco do relatrio na construo de capacidades talvez tenha
sido fruto de uma estratgia cautelosa, executada com o propsito de assegurar o
apoio dos Estados costumeiramente relutantes R2P, mas ao custo de desprezar
questes acerca de como os recursos sero mobilizados para proteger as
populaes vulnerveis quando os meios pacficos falharem.
Ademais, segundo Welsh (2010), o fato de o Secretrio-Geral ter claramente
favorecido no seu relatrio o primeiro pilar (preveno) em detrimento do terceiro
(reao) para que fosse mais fcil a construo de um consenso global acerca da
implementao da R2P poderia, em contrapartida, estimular reaes contrrias dos
Estados acerca de eventuais medidas preventivas que interfiram nos seus assuntos
domsticos. Isto j enfraquecera, por exemplo, a Comisso de Construo da Paz
das Naes Unidas, alm de, historicamente, dificultar a mobilizao de recursos
para a preveno de conflitos.
3.4 O debate da Assembleia Geral de julho de 2009
Muitos defensores da R2P expressaram cautela com relao abordagem do
Secretrio-Geral, temendo que um debate na Assembleia Geral pudesse dar a
oportunidade para que os pases cticos a respeito do conceito renegociassem a
norma. Uma eventual resoluo abrangendo o que foi abordado no relatrio de Ban
Ki-moon, portanto, poderia enfraquecer o acordo obtido em 2005 (BELLAMY, 2011).
No entanto, os temores revelaram-se infundados e a discusso revelou um amplo
consenso acerca do tratamento ao tema conferido pelo Secretrio-Geral. A AGNU
concordou com a interpretao dado por Ban aos elementos fundamentais do
conceito e endossaram que o Documento Final da Cpula Mundial de 2005
representava o consenso internacional sobre a R2P e que no havia necessidade de
renegociar esse texto. O desafio, portanto, era implementar a responsabilidade de
proteger, no reformul-la. A maioria dos Estados-membros tambm apoiou a
64
diviso em trs pilares e a abordagem estreita, porm profunda apresentada por
Ban Ki-moon (BELLAMY, 2011).
3.5 A Primavera rabe
Um acontecimento inesperado na poltica internacional mudaria o rumo das
discusses sobre o conceito de responsabilidade de proteger: a ecloso da
Primavera rabe. Ela se iniciou oficialmente em 17 de dezembro de 2010 quando
Tarek al-Tayeb Mohamed Bouazizi, um jovem vendedor de rua, ateou fogo ao seu
prprio corpo em protesto pelo confisco de seus bens pelas autoridades. Com efeito,
o abuso de poder por parte das autoridades e o elevado desemprego era uma
situao com a qual um tunisiano mdio podia se identificar, e em pouco tempo as
manifestaes contra o que havia acontecido com Bouazizi se transformaram em
protestos contra o autoritarismo e a crise econmica.
1718
No dia 14 de janeiro de
2011 o ento presidente da Tunsia, Zine El Abidine Ben Ali, deixa a Tunsia e parte
em direo ao exlio.
A Revoluo de Jasmim, como ficaria conhecida a revoluo tunisiana, inspirou
outras primaveras, ou seja, outras revolues. Da o nome Primavera rabe. Do
Marrocos ao Ir, da Turquia ao Imen, nenhum governo ficou indiferente em relao
a ela. Suas principais consequncias foram:
a) a queda de cinco presidentes em quatro pases
o Tunsia Ben Ali (14/01/2011)
o Egito Hosni Mubarak (11/02/2011)
o Lbia Muamar Kadafi (20/10/2011)
o Imen Ali Saleh (27/02/2012)
o Egito Mohamed Morsi (03/07/2013)
b) duas intervenes externas
o Lbia OTAN19 (19/03/2011 - 31/10/2011)
17
Polity IV.
18
Banco mundial.
19
Resoluo 1973 do Conselho de Segurana das Naes Unidas.
65
o Bahrein CCG20 (14/03/2011 - )
c) uma guerra civil em andamento
o Sria (15/03/2011 - )
3.6 A interveno na Lbia
O caso da Lbia aparece como um caso paradigmtico. De modo semelhante ao que
ocorreu na Tunsia e no Egito, protestos pacficos contra o governo comearam em
vrias cidades, a comear por Benghazi (15 de fevereiro). De modo diferente, no
entanto, o governo respondeu aos protestos com violenta represso, lanando mo
inclusive de ataques areos e franco-atiradores contra a populao civil, ao que foi
dado amplo destaque nos meios de comunicao (THE ECONOMIST, 2011).
Aps essa primeira fase de protestos pacficos e represso violenta, seguiu-se uma
segunda fase de radicalizao dos protestos; inicialmente por parte de rebeldes de
Benghazi e seus arredores, posteriormente com a adeso de milcias anti-Kadafi de
vrias partes da Lbia. Tem incio a luta armada contra o governo e a consequente
criao do Conselho Nacional de Transio (27 de fevereiro), apenas um dia aps
resoluo do CSNU (S/RES/1970) condenando o uso da fora pelo governo contra
os manifestantes. O governo central, no entanto, consegue deter o rpido avano da
oposio, retomando mesmo s reas perdidas e avanando em direo a
Benghazi.
nesse contexto que o CSNU, por iniciativa da Frana, do Lbano e do Reino Unido,
se prope a adotar uma segunda resoluo que reconhecesse a Guerra Civil em
andamento (S/RES/1973). Basicamente ela demandava um cessar-fogo imediato, a
criao de uma zona de excluso area e o uso de todos os meios necessrios para
proteger populao civil. Embora tenha sido aprovada (17 de maro), ela foi a
nica das resolues do CSNU adotadas em relao Lbia que no contou com a
20
Conselho de Cooperao para os Estados rabes do Golfo, mecanismo de integrao poltica,
econmica e militar, cuja sede se localiza no prprio Bahrein.
66
unanimidade dos presentes no conselho, contando com cinco abstenes
(Alemanha, Brasil, China, ndia e Rssia).
Com isso tem inicio a terceira fase, de interveno e avano da oposio. Com o
incio das operaes (19 de maro) as foras do governo central ficaram
praticamente sem marinha e aeronutica, alm de terem suas posies estratgicas
atacadas. Isso permite um avano da oposio em relao s foras do governo, e
vrios pases passaram a reconhecer o Conselho Nacional de Transio (CNT)
como o governo legtimo da Lbia. Depois de seguidas vitrias a oposio toma a
capital, Trpoli (28 de agosto), captura e leva morte Muamar Kadafi (20 de outubro)
e declara o pas livre (23 de outubro). Com isso o CSNU, que j tinha estabelecido a
Misso de Apoio das Naes Unidas para a Lbia, UNSMIL (S/RES/2009), declara o
fim das operaes para 31 de outubro (S/RES/2016) e suspende as restries
impostas Lbia (S/RES/2017). As resolues do CSNU sobre a Lbia so as
seguintes:
a) S/RES/1970 (26 de fevereiro de 2011)
o Assunto: Paz e segurana na frica
o Aprovada por unanimidade
o Meno ao Captulo VII da Carta das Naes Unidas
o Condena o uso de fora letal pelo regime de Kadafi
o Leva a situao ao conhecimento da Corte Penal Internacional
o Impe embargo de armas
o Proibio de viagem de pessoas envolvidas com o regime
o Congelamento de ativos no exterior de pessoas envolvidas com o regime
b) S/RES/1973 (17 de maro de 2011)
o Assunto: Guerra Civil na Lbia
o Dez votos a favor (frica do Sul, Bsnia e Herzegovina, Colmbia, Estados
Unidos, Frana, Gabo, Lbano, Nigria, Portugal, Reino Unido)
o Cinco Abstenes (Alemanha, Brasl, China, ndia e Rssia)
o Meno ao Captulo VII da Carta das Naes Unidas
o Demanda um cessar-fogo imediato
o Autoriza o uso de todos os meios necessrios para proteger populao civil,
com a exceo do uso de foras terrestres.
o Refora o embargo de armas, em particular contra a ao de mercenrios
67
o Declara uma zona de excluso area, isto , a proibio de todos os voos no
espao areo da Lbia
o Determina o banimento de todos os voos com origem ou destino Lbia, bem
como o voo de aeronaves que sejam operadas ou possudas por nacionais
lbios. Tambm determina que os pases probam o uso de seu espao areo
para esses fins.
o Congela os ativos das autoridades lbias e determina que eles seja utilizados
exclusivamente para o benefcio do povo lbio
o Estende a proibio de viagens a um nmero adicional de pessoas
o Estabelece um painel de especialistas para monitorar e promover a
implementao das sanes
c) S/RES/2009 (16 de setembro de 2011)
o Assunto: Guerra Civil na Lbia
o Adotada por unanimidade
o Meno ao Captulo VII da Carta das Naes Unidas
o Decide pelo estabelecimento da Misso de Apoio das Naes Unidas na Lbia
(UNSMIL)
o Flexibiliza o embargo para armas destinadas segurana pblica
o Flexibiliza o embargo de ativos de algumas companhias petrolferas e de
alguns ativos de autoridades lbias para benefcio exclusivo do povo lbio
o Mantm a zona de excluso area e o banimento de voos, mas flexibiliza
algumas de suas disposies
d) S/RES/2016 (27 de outubro de 2011)
o Assunto: Guerra Civil na Lbia
o Adotada por unanimidade
o Meno ao Captulo VII da Carta das Naes Unidas
o Determina do fim do mandado de proteo da OTAN na Lbia
e) S/RES/2017 (31 de outubro de 2011)
o Assunto: Situao na Lbia
o Adotada por unanimidade
o Conclama as autoridades interinas a assegurar a conter a proliferao de
armas na Lbia
f) S/RES/2022 (2 de dezembro de 2011)
o Assunto: Situao na Lbia
68
o Adotada por unanimidade
o Estende o mandato da UNSMIL at 16 de maro de 2012
o Amplia o mandato da UNSMIL para acompanhar e apoiar os esforos do
governo lbio para responder s ameaas de proliferao de todos os tipos de
armamentos, em especial dos MANPADS (sistema de defesa areo porttil)
g) S/RES/2040 (12 de maro de 2012)
o Assunto: Situao na Lbia
o Adotada por unanimidade
o Meno ao Captulo VII da Carta das Naes Unidas
o Estende o mandato da UNSMIL por 12 meses e inclui em suas atribuies:
Administrar o processo de Transio democrtica
Promover o estado de direito e os direitos humanos
Restaurar a segurana pblica
Conter a proliferao ilcita de armas
Coordenar assistncia internacional
o Autoriza o descongelamento dos ativos remanescentes, assim que seja
conveniente.
o Amplia e modifica as funes de um reduzido painel de especialistas
h) S/RES/2095 (14 de maro de 2013)
o Assunto: Situao na Lbia
o Adotada por unanimidade
o Meno ao Captulo VII da Carta das Naes Unidas
o Estende o mandato da UNSMIL por mais 12 meses
o Entende o mandato como uma misso poltica especial integrada
o Ainda mantm o embargo parcial de armamentos
o Estende o mandato do painel por mais 13 meses
3.7 Implicaes da interveno na Lbia sobre a responsabilidade de proteger
A conduo da questo lbia no foi livre de questionamentos no seio da
comunidade internacional. O primeiro indcio desses questionamentos foi a adoo
da S/RES/1973 sem a unanimidade dos membros do CSNU (cinco abstenes), o
69
que certamente no contribuiu para aumentar a legitimidade da interveno. Um
segundo indcio diz respeito s reiteradas suspeitas de que as principais potncias
interessadas (Estados Unidos, Frana e Reino Unido) no respeitaram o embargo
de armas imposto Lbia, fornecendo armas aos opositores. E o terceiro indcio diz
respeito s crticas que se fizeram quanto conduo da interveno pela OTAN,
que ao invs de meramente impor uma zona de excluso area serviu
verdadeiramente como a marinha e a aeronutica da oposio.
Esses trs indcios levaram a um questionamento maior sobre a parcialidade da
misso, que no deveria tomar parte nos conflitos, bem como sobre o
extrapolamento do mandato, que deveria se restringir proteo da populao civil
(BELLAMY, 2011). Como consequncia a comunidade internacional ficou
ressabiada quanto possiblidade de novas intervenes, devido ao temor de que se
repita o que aconteceu na Lbia. Esse certamente o caso da Sria, a qual se
encontra em estado de Guerra Civil a mais de dois anos e sobre a qual o CSNU no
conseguiu alcanar consenso.
Esses questionamentos sobre a interveno na Lbia, ou melhor, sobre o modo
como se deu essa interveno, levaram tambm a questionamentos sobre o uso da
Responsabilidade de proteger. Com efeito, as duas resolues principais sobre a
questo (S/RES/1970 e S/RES/1973) remetem explicitamente, em seus respectivos
prembulos, Responsabilidade de proteger:
Recalling the Libyan authorities responsibility to protect its population
(ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS,2011, grifo nosso).
Reiterating the responsibility of the Libyan authorities to protect the Libyan
population and reaffirming that parties to armed conflicts bear the primary
responsibility to take all feasible steps to ensure the protection of civilians
(ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS, 2011, grifo nosso).
Mais do que isso, a resoluo S/RES/1973 marked the first time the Council had
authorized the use of force for human protection purposes against the wishes of a
functioning state (BELLAMY e WILLIAMS, 2011, p. 825).
Para Alex Bellamy e Paul Williams (2011), no entanto, embora a conduo da
questo lbia tenha sido controversa, ela foi o resultado final da emergncia de uma
70
nova poltica de proteo que emergiu gradualmente ao longo da ltima dcada e
que no por acaso teria emergido justamente em 2011. Com efeito, a comunidade
internacional teria ganhado tanto a capacidade quanto a vontade de agir de intervir
por razes humanitrias. Seriam quatro as caractersticas dessa nova poltica de
proteo:
a) a primeira caracterstica dessa nova poltica de proteo o fato de que a
sociedade internacional estaria agora explicitamente voltada proteo de civis
em situao de conflito. Isso se refletiria no crescente consenso em relao
responsabilidade de proteger, tanto no plano formal quanto no plano substantivo
da prtica do CSNU em relao s operaes de paz. Tiveram um papel
particularmente importante a esse respeito tanto a atuao do Secretrio-Geral da
ONU quanto do prprio secretariado, que procuraram enquadrar s crises nos
marcos da proteo humanitria;
b) a segunda caracterstica dessa nova poltica de proteo foi o fato de o CSNU ter-
se mostrado constantemente solcito em autorizar o uso da fora militar para fins
de proteo humanitria. Com efeito, a adoo da S/RES/1973 teria eliminado o
ltimo constrangimento ao princpio da interveno humanitria, qual seja, a
aprovao formal do Estado em questo;
c) a terceira caracterstica dessa nova poltica de proteo o fato de que a relao
entre o CSNU e outros interessados, isto , a relao entre o CSNU e outros
acordos regionais, tem se mostrado crucial. Com efeito, as organizaes
regionais tm-se tornado importantes como atores de veto, influenciando tanto o
modo como as questes so moldadas quanto o escopo das opes de polticas
disponveis para o CSNU;
d) a quarta caracterstica dessa nova poltica de proteo a de que tanto os
ativistas quanto os Estados mais cautelosos tm se comprometido a utilizar tanto
o CSNU como as organizaes regionais relevantes como meio de responder s
crises de proteo humanitria.
Como ressaltado por Gelson Fonseca Jr. e Benoni Belli (2013), a viso expressa por
Alex Bellamy apresenta certo otimismo, pra no dizer mesmo certa ingenuidade.
Como veremos na prxima seo, a conduo da questo lbia pode ter na verdade
enfraquecido o princpio da responsabilidade de proteger, mostrando suas
insuficincias. Contudo, ainda dentro da perspectiva da R2P, Bellamy e Williams
71
(2011) mostram como essa nova agenda se depara com uma srie de desafios e
questes ainda no resolvidas. Esses desafios e essas questes poderiam at
mesmo impedir a formao de um consenso que respondesse a crises futuras de
proteo humanitria, alm, claro, de deixar as operaes em andamento expostas
a inmeras vulnerabilidades. So quatro as questes em aberto:
a) as diferenas remanescentes sobre como interpretar os mandatos do CSNU;
b) a relao entre proteo humanitria e outros objetivos como mudana de regime;
c) o papel das organizaes regionais como atores de veto;
d) o fato de a proteo humanitria requerer que atores externos se engajem em
guerras e polticas locais, embaando a fronteira entre proteo e outras agendas
como mudana de regime.
Um segundo questionamento seria o de que o conceito de responsabilidade de
proteger mostrou-se insuficiente quando aplicado ao caso concreto. Seria, portanto,
necessrio que o conceito fosse complementado, suplementado por outro. Esse o
tema que se prope prxima seo.
3.8 O surgimento da responsabilidade ao proteger (RWP)
Em audincia pblica realizada na Comisso de Relaes Exteriores do Senado
Federal, o atual Ministro das Relaes Exteriores do Brasil, o chanceler Antnio de
Aguiar Patriota, demonstrou os questionamentos do governo brasileiro a respeito
das intenes por trs da ao da Organizao do Tratado do Atlntico Norte
(OTAN). Segundo ele,
Isso pode representar uma ameaa integridade territorial da Lbia. Nos
perguntamos se isso deliberado, se motivado por interesses puramente
pacficos e de cooperao ou se tambm no uma maneira de dividir para
imperar, tendo em vista as riquezas petrolferas da Lbia, assim como se fez
no passado. (PATRIOTA, 2011)
Com efeito, o Brasil optou por se abster em relao S/RES/1973 no por tolerncia
diante do comportamento do ento governo lbio ou por desconsiderar as
necessidades humanitrias do caso, mas porque acredita que responsabilidade da
72
comunidade internacional no agravar situaes de tenso como a que vinha
ocorrendo naquele pas. O governo brasileiro apoiou a deciso indita de suspender
a Lbia do Conselho de Direitos Humanos das Naes Unidas, assim como foi
favorvel s medidas elencadas na S/RES/1970, adotada por consenso pelo
Conselho de Segurana (PATRIOTA, 2011).
O Brasil, no entanto, manifestou contrariedade com relao ao uso da fora para
promover a democracia em lugar do emprego de solues polticas alcanadas por
meio da aproximao ou do dilogo. Alm disso, o pas temia as consequncias de
uma interveno externa em um contexto onde os movimentos populares se
caracterizam por serem espontneos e locais (PATRIOTA, 2011). Assim, a
reticncia da diplomacia brasileira acerca da maneira como a interveno na Lbia
foi executada se agravou com o decorrer dos acontecimentos.
Ademais, o governo brasileiro cr que o texto da S/RES/1973 foi extrapolado, tendo
o seu pargrafo operativo 4, que autoriza o uso de todas as medidas necessrias
para se proteger a populao civil, se transformado em um veculo para uma ao
militar difcil de controlar, limitar ou monitorar de forma multilateral. Nesse contexto, a
presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, em seu discurso na abertura da 66 sesso da
Assembleia Geral da ONU, defendeu o emprego de intervenes militares a fim de
manter a paz e a segurana internacionais como ltimo recurso, propondo um novo
conceito complementar responsabilidade de proteger, que seria mais bem
implementado com a atuao de um Conselho de Segurana reformado. Nas
palavras de Dilma Rousseff (2011):
Muito se fala sobre a responsabilidade de proteger; pouco se fala sobre a
responsabilidade de proteger. So conceitos que precisamos amadurecer
juntos. Para isso, a atuao do Conselho de Segurana essencial, e ela
ser to mais acertada quanto mais legtimas forem suas decises. E a
legitimidade do prprio Conselho depende, cada dia mais, de sua reforma.
Aps ser mencionada pela presidenta em seu discurso, a responsabilidade ao
proteger (RWP) foi finalmente delimitada pelo Itamaraty em um documento intitulado
Responsabilidade ao proteger: elementos para o desenvolvimento e promoo de
73
um conceito, apresentado durante o debate sobre proteo de civis em conflitos
armados ocorrido no dia 9 de novembro de 2011 no Conselho de Segurana.
21
Nesse documento, o governo brasileiro argumenta que essencial distinguir entre
responsabilidade coletiva, que pode ser plenamente exercida mediante a aplicao
de medidas no coercitivas, e segurana coletiva. Ao se extrapolar o exerccio da
responsabilidade coletiva e recorrer aos mecanismos na esfera da segurana
coletiva, uma situao especfica de violncia ou ameaa de violncia contra civis
ser provavelmente caracterizada como uma ameaa paz e segurana
internacionais. Dessa forma, torna-se necessrio fazer uma diferenciao clara entre
coero militar e coero no militar, a fim de evitar que se recorra ao emprego da
fora de modo precipitado.
O Brasil, nesse sentido, manifesta a crena de que mesmo quando baseada na
justia, na legalidade e na legitimidade, uma ao militar sempre resulta em altos
custos humanos e materiais. Assim, imperativo valorizar, buscar e exaurir todas as
solues diplomticas em caso de qualquer conflito. O uso da fora, como uma
medida excepcional adotada pela comunidade internacional, deve ser precedido por
uma anlise abrangente e cuidadosa das possveis consequncias do emprego de
uma ao militar caso a caso. A diplomacia brasileira reconhece, no entanto, que o
fracasso em agir em tempo hbil por parte do Conselho de Segurana durante os
anos 1990 demonstra que h situaes em que no h alternativa a no ser intervir
militarmente, como em Ruanda (1994).
O Itamaraty, contudo, faz a ressalva de que o mundo atualmente sofre as
consequncias de intervenes que agravaram conflitos existentes, permitiram que
o terrorismo penetrasse em lugares onde antes no havia ocorrncia, fizeram surgir
novos ciclos de violncia e aumentaram a vulnerabilidade das populaes civis.
Percebe-se a uma evidente aluso, por parte do Ministrio das Relaes Exteriores,
interveno (autorizada pelas Naes Unidas) da OTAN no Afeganisto (2001)
22
e
21
O documento circulou tanto na AGNU (A/66/551) quanto no CSNU (S/2011/701)
22
Autorizada pela resoluo 1363 do Conselho do Segurana S/RES/1363 (2001). Disponvel em
<http://daccess-ods.un.org/TMP/2826606.html>. Acesso em 15 de junho de 2013.
74
interveno (no autorizada pela ONU) da coalizao liderada pelos Estados
Unidos no Iraque (2003).
O Brasil igualmente ressalta no documento que existe uma crescente percepo de
que o conceito de responsabilidade de proteger pode ser usado para propsitos que
no o de proteger civis, tais como mudana de regime. Aqui h uma referncia
velada interveno na Lbia (2011). O governo brasileiro, como antes explicitado,
acredita que o objetivo original da resoluo S/RES/1973 foi desvirtuado.
Finalmente, o Brasil reconhece a validade do conceito de responsabilidade de
proteger e sugere parmetros para a aplicao da responsabilidade ao proteger,
dentre os quais se destacam: nfase na diplomacia preventiva, uso da fora
estritamente em conformidade com o Direito Internacional (especialmente com o
Direito internacional humanitrio e Direito Internacional dos Conflitos Armados), de
acordo com o Captulo VII da Carta da ONU, elaborao de novos procedimentos do
Conselho de Segurana a fim de monitorar e avaliar o modo no qual as resolues
do rgo so interpretadas e prestao de contas por parte dos autorizados a
participar das aes militares.
Esclarecido o teor do conceito de responsabilidade ao proteger, pode-se dizer que o
reconhecimento expresso por parte do governo de Dilma Rousseff da
responsabilidade de proteger uma inovao. Durante os debates em torno da
elaborao da S/RES/1674, o Brasil no admitiu que a responsabilidade de proteger
tivesse sido incorporada pelas Naes Unidas por meio do documento final da
Cpula Mundial de 2005. O Brasil argumentou que havia apenas o compromisso da
Assembleia Geral de deliberar sobre o conceito e que era prematuro por parte do
Conselho de Segurana abordar o assunto (BELLAMY, 2011). Tradicionalmente, a
diplomacia brasileira resiste a qualquer postura ou atitude que implique em algum
grau de relativizao do princpio da no interveno em assuntos internos de outros
pases. Alm disso, o Brasil costumava manifestar fortes reservas com respeito
aplicao do Captulo VII da Carta da ONU, salientando que deveria haver, antes de
tudo, o enfrentamento das questes que geralmente constituem as causas dos
conflitos ou seja, o subdesenvolvimento, a pobreza e as desigualdades sociais e
econmicas (DINIZ, 2006).
75
CONCLUSO
Mais de duas dcadas se passaram desde o fim da Guerra Fria, e desde ento as
questes correlatas s intervenes humanitrias ganharam em extenso e
profundidade. A mudana de percepes derivada dessa mudana na conjuntura
internacional foi visvel, e mesmo aps a superao do otimismo liberal, bastante
tpico dos anos 1990, h poucas dvidas que o ambiente internacional de hoje se
apresenta mais propcio cooperao internacional depois dos anos 1990 do que
antes.
Isso se refletiu em uma mudana na posio dos pases em relao ao tema. Para a
China e para a Rssia, faz menos sentido continuarem atualmente a adotar uma
posio persistente de resistncia em relao aplicao dos direitos humanos e
humanitrios do que quando o faziam em uma ordem internacional ideologicamente
bipolar. Para os pases em desenvolvimento, faz menos sentido continuar sendo
hoje um defensor persistente da soberania do que como faziam em uma ordem
internacional marcada pelo conflito estrutural Norte-Sul.
No h aqui julgamento sobre a natureza de tal mudana poltica. O que h um
reconhecimento de uma mudana das percepes sobre aquilo que se espera e
aceita de um Estado, em uma ordem internacional marcada por uma importncia
crescente das preocupaes de natureza humanitria.
A essa mudana nas normas que regem o comportamento da sociedade
internacional, fruto de uma nova conjuntura poltica, se conjugou com um arcabouo
jurdico-normativo, fruto de um acumulado histrico, produzindo uma mudana de
paradigma nos anos 1990, o que, em conjunto com uma srie de outras
causalidades e finalidades, desembocaria no surgimento do conceito de
responsabilidade de proteger no incio dos anos 2000.
E isso leva de volta aos fundamentos tericos. A mudana de posio dos Estados
na dcada de 1990 no foi s uma mudana pragmtica de polticas externas, mas
76
foi, tambm, uma mudana na constituio de identidades, co-construdas nos foros
multilaterais, dos quais a ONU sem dvida o maior representante.
Alm disso, a mudana de paradigma dos anos 1990 no foi s uma mudana
exgena aos Estados, derivada de um novo contexto internacional, mas tambm foi
uma mudana endgena, baseada no fato de que as crenas so intersubjetivas.
Em suma, as mudanas dos anos 1990 s podem ser entendidas quando se
considera que a identidade dos Estados no um dado apriorstico, mas um dado
que se constri pela prtica social, e quando se considera que muitos Estados
procuraram mudar autenticamente sua identidade internacional.
O desenvolvimento da responsabilidade de proteger tambm pode ser visto nos
marcos do construtivismo.
Como ressaltado nesta dissertao, a responsabilidade de proteger passou a ser
reconhecida como norma, isto , passou a ser reconhecida como comportamento
esperado dos Estados, aps um processo de surgimento e adaptao social por
parte dos agentes.
No entanto, seu desenvolvimento ainda permanece inconcluso, sendo que as
questes que geram mais debates, dizem respeito sua interpretao e aplicao
no caso concreto.
O segundo captulo tratou dos primeiros momentos do conceito de responsabilidade
de proteger, da primeira elaborao do conceito at a sua maior aceitao. Um
processo, alis, que em sua estrutura no se diferencia substancialmente de outros
processos semelhantes de formao de normas no mbito das Naes Unidas.
Geralmente isso se d primeiramente pela formao de um painel de especialistas
independentes (geralmente por iniciativa do secretrio-geral); posteriormente, pela
circulao de um relatrio (acompanhado ou no de uma apresentao); e,
finalmente, pela avaliao e reao, por parte dos pases-membros, de acordo com
suas impresses mais imediatas (geralmente, porm, aps minucioso estudo).
77
A essa recepo, que corresponde a um processo mais linear e de recepo mais
individual por parte dos Estados, se segue um processo de adaptao, que
corresponde a um processo menos linear e de recepo coletiva por parte dos
Estados.
Uma concluso a que se pode chegar a respeito desse processo em especfico a
de que, num sistema de segurana coletivo onde a paz considerada como
indivisvel, e numa sociedade anrquica aonde a produo do direito nem sempre
vem acompanhada dos meios para a sua real implementao, a construo do
consenso um processo que pode ser difcil e demorado, e que essa construo,
mais do que um exerccio discursivo, um imperativo da realidade.
No existira tal coisa como um quick fix.
O terceiro captulo tratou de um segundo momento na evoluo da responsabilidade
de proteger, onde novas ressalvas quanto ao conceito surgiram, um novo consenso
foi buscado, e novamente se desfez.
Esse ciclo de euforias e desconfianas reflete as atitudes que um agente tem em
relao s normas sociais em seu surgimento, um processo de aceitao, rejeio,
reconsiderao, adaptao (do agente e da norma), nova aceitao e assim,
sucessivamente, um processo que se reconhecidamente cclico certamente no
regular, com rupturas que parecem definitivas e retomadas que parecem
inesperadas.
Uma concluso a que se pode chegar a de que, em uma cena internacional, onde
os atores deliberadamente, ou no, dramatizam suas aes, e onde as regras do
jogo como reconhecidamente a responsabilidade de proteger existem, mas
no so claramente definidas, a interpretao, mais do que o conceito em si, que
determinar o resultado final da ao.
Isso corrobora a premissa construtivista de que uma mesma norma pode produzir
efeitos distintos, e isso explica por que a interveno na Lbia, mesmo feita com
base em um conceito at ento tido como aceito, teve a recepo que teve.
78
Quanto hiptese inicial, a concluso a que se chega nesta dissertao, aps a
anlise dos discursos e documentos produzidos, a de que ela foi comprovada, ou
seja, uma dcada desde a concepo do conceito de responsabilidade de proteger e
no houve alterao substancial no modo como as Naes Unidas respondem s
graves violaes de direitos humanos.
Isso se deve ao fato de que esse conceito ainda se encontra em processo de
desenvolvimento no seio da organizao, fomentando mais debates que resultados
concretos.
A presente dissertao espera, assim, ter contribudo para o debate de um tema
atual e oportuno.
Com efeito, os acontecimentos recentes na Lbia e o surgimento do conceito de
responsabilidade ao proteger no podem ser entendidos sem uma considerao
mais ampla sobre as questes concernentes evoluo histrica do direito
internacional e s mudanas na Poltica Internacional nas duas ltimas dcadas.
O caso lbio demonstra como a aplicao de um conceito recm-criado a um caso
concreto se constituiu, na viso de vrios atores internacionais, em um cheque em
branco: seu uso, nessa viso, teria confirmado os temores de que o conceito fosse
utilizado para promover fins outros, como mudana de regime.
O surgimento de outro conceito como o de responsabilidade ao proteger pode ser
visto, assim, como uma resposta ausncia de procedimentos que norteiem a sua
devida interpretao.
Nessa viso, a existncia de critrios de interpretao vista menos como algo que
impea a ao em casos de graves violaes de direitos humanos e mais como algo
que impea seu uso indevido.
As perspectivas que se colocam para a evoluo do direito internacional
humanitrio, quanto responsabilidade de proteger, vo depender da soluo de
79
outra questo, relacionada poltica internacional, qual seja, a soluo ou no
da questo sria num futuro prximo.
esse o contexto, o cenrio, o pano de fundo sob o qual se processam os debates
sobre e entre as duas responsabilidades, a de proteger e a ao proteger.
Mesmo aceitando a atualidade do debate, vivel identificar algumas linhas de
fissura.
A primeira delas a de que, considerando a atuao do CSNU desde 2011, o
surgimento da responsabilidade ao proteger no teria alterado sua dinmica de
funcionamento e, portanto, pouco teria contribudo para a soluo da questo. Uma
rplica possvel a esse questionamento a de que, como conceito recente, ele ainda
no teve as mesmas condies de contribuir para atuao do CSNU: basta lembrar
que a responsabilidade de proteger quase foi sufocada em seus primrdios pelo 11
de setembro.
A segunda linha de fissura seria a de que, a incapacidade do CSNU de oferecer uma
resposta rpida e eficiente questo sria (o terceiro e decisivo pilar da R2P)
23
, teria
o surgimento da responsabilidade ao proteger como uma de suas causas. Ao que se
responde que a responsabilidade ao proteger no teria surgido como algo para
obstruir uma interveno na Sria, mas que teria surgido como consequncia da
extrapolao do mandato na Lbia. Seria preciso, segundo essa perspectiva, evitar
que se repita o que ocorreu em territrio lbio, que teria tido como consequncias o
bombardeamento de outros civis, spill over sobre o Mali e o fortalecimento da Al-
Qaeda no Magreb.
23
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42806&Cr=responsibility+to+protect&Cr1=#.Ufa4S
CqF9PB
80
REFERNCIAS
Documentos:
BRASIL, Repblica Federativa do (2005), Informal Meeting of the Plenary on the
High-Level Plenary Meeting of the General Assembly of September 2005,
Statement by Ambassador Henrique Valle, Acting Permanent Representative of
Brazil to the UN, 22 de junho. Disponvel em: <http://www.un.int/brazil/speech/005d-
hv-Informal-Meeting-2206.html>. Acesso em: 05 ago. 2013.
BRASIL, Repblica Federativa do (2011). Discurso de S. E. A Senhora Dilma
Rousseff, Presidenta da Repblica Federativa do Brasil, na abertura do debate
geral da 66 sesso da Assembleia Geral das Naes Unidas, 21 de setembro.
Disponvel em: <http://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/66/BR_pt.
pdf>. Acesso em: 28 jan. 2013.
BRASIL, Senado Federal (2011), Pronunciamento do Ministro de Estado das
Relaes Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, na 11 Reunio Extraordinria
da Comisso de Relaes Exteriores e Defesa Nacional da 1 Sesso
Legislativa Ordinria da 54 Legislatura, 27 de abril. Disponvel em:
<http://migre.me/8Mn1x>. Acesso em: 28 jan. 2013.
CHINA, Repblica Popular da (2005), Position Paper of the Peoples Republic of
China on the United Nations Reforms, 7 de junho. Disponvel em:
<http://goo.gl/fhr47c>. Acesso em: 05 ago. 2013.
CHINA, Repblica Popular da (2005), Written Speech by H.E Hu Jintao President
of the Peoples Republic of China at the High-level Plenary Meeting of the
United Nations 60
th
session, 16 de setembro. Disponvel em:
<http://goo.gl/b6AcPy>. Acesso em: 01 ago. 2013.
CHINA, Repblica Popular da (2007), Statement by Ambassador Li Junhua at the
5703rd meeting of the United Nations Security Council, 22 de junho. Disponvel
em: <http://goo.gl/LwFOMR>. Acesso em: 05 ago. 2013.
COMISSO INTERNACIONAL DE INTERVENO E SOBERANIA ESTATAL
(ICISS) (2001), The Responsibility to Protect, Report of the International
Commission on Intervention and State Sovereignty. Disponvel em:
<http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2013.
81
GRUPO DOS 77 (G77) (2005), Statement by Ambassador Stafford Neil,
Permanent Representative of Jamaica to the United Nations, Chairman of the
Group of 77, on Cluster I (freedom from want) of the Secretary-Generals
Report In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights
for All, 25 de abril. Disponvel em: <http://www.g77.org/Speeches/042505.htm>.
Acesso em: 05 ago. 2013.
KI-MOON, Ban (2007), Speech to the Center for Strategic and International
Studies in Washington, DC, 16 de janeiro. Disponvel em: <http://goo.gl/gv5Nf5>.
Acesso em: 03 ago. 2013.
LIGA DAS NAES (1919). Pacto da Sociedade das Naes. Disponvel em:
<http://goo.gl/qyRJQW>. Acesso em: 06 ago. 2013.
MOVIMENTO DOS NO ALINHADOS (MNA) (2005), Statement by the Chairman
of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement, on behalf of the
Non-Aligned Movement, at the informal meeting of the plenary of the General
Assembly concerning the draft outcome document of the High-Level Plenary of
the General Assembly, delivered by H.E. Ambassador Radzi Rahman, charge
daffaires A.I. of the Permanent Mission of Malaysia to the United Nations, 21 de
junho. Disponvel em: <http://www.un.int/malaysia/GA/59th%20GA/59GA21JUNE05
.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (1945). Carta das Naes Unidas
e Estatuto da Corte Internacional de Justia. Disponvel em:
<http://goo.gl/XTY9bv>. Acesso em: 06 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (1993). Resolution 841, 16 de
junho. Disponvel em: <http://goo.gl/VXC2Fz>. Acesso em: 03 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (1993). Resolution 867, 23 de
setembro. Disponvel em: <http://goo.gl/3psUg7>. Acesso em: 03 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (1993). Resolution 873. Disponvel
em: <http://goo.gl/waIiyX>. Acesso em: 03 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (1999). Resolution 1265, 17 de
setembro. Disponvel em: <http://goo.gl/AFGyZF>. Acesso em: 04 ago. 2013.
82
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2000). Report of the Panel on
United Nations Peace Operations. Disponvel em: <http://www.unrol.org/files/
brahimi%20report%20peacekeeping.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2000). Resolution 1325, 31 de
outubro. Disponvel em: <http://goo.gl/aIWPoR>. Acesso em: 04 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2001). Resolution 1363, 30 de
julho. Disponvel em: <http://goo.gl/AoA1cp>. Acesso em: 04 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2004). A more secure world: our
shared responsibility, Report of the Secretary-Generals High Level Panel on
Threats, Challenges and Change. Disponvel em: <http://www.un.org/secureworld/>.
Acesso em: 28 jan. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2005). In Larger Freedom:
Towards Security, Development and Human Rights for All, Report of the
Secretary-General of the United Nations for decision by Heads of State and
Government in September 2005. Disponvel em: <http://www.un.org/largerfreedom/>.
Acesso em: 28 jan. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2005). 2005 World Summit
Outcome, 24 de outubro. Disponvel em: <http://migre.me/8QgiB>. Acesso em: 28
jan. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2006). Resolution 1674, 28 de
abril. Disponvel em: <http://migre.me/8QgA0>. Acesso em: 28 jan. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2007). Report of the High Level
Mission on the situation of human rights in Darfur pursuant to Human Rights
Council decisions S-4/101, 7 de maro. Disponvel em: <http://goo.gl/nqlLAS>.
Acesso em: 03 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2007). Estimates in respect of
special political missions, good offices and other political initiatives authorized
by the General Assembly and/or the Security Council: Report of the Secretary-
General, 30 de outubro. Disponvel em: <http://www.unelections.org/files/GA_62512
add1_30Oct07.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2009). Resolution 1894, 11 de
novembro. Disponvel em: <http://migre.me/8QgCE>. Acesso em: 28 jan. 2013.
83
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2009). Implementing the
Responsibility to Protect, Report of the Secretary-General distributed in the
General Assembly on 12 January 2009. Disponvel em: <http://globalr2p.org/pdf/SGR
2PEng.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2011). Resolution 1970, 26 de
fevereiro. Disponvel em: <http://migre.me/8QgoM>. Acesso em: 28 jan. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2011). Resolution 1973, 17 de
maro. Disponvel em: <http://migre.me/8QgvD>. Acesso em: 28 jan. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2011). Resolution 2009, 16 de
setembro. Disponvel em: <http://goo.gl/gY0v92>. Acesso em: 03 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2011). Resolution 2016, 27 de
outubro. Disponvel em: <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES
/2016(2011)>. Acesso em: 03 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2011). Responsabilidade de
proteger: elementos para o desenvolvimento e promoo de um conceito,
Annex to the letter dated 9 November 2011 from the Permanent Representative of
Brazil to the United Nations addressed to the Secretary-General. Disponvel em:
<http://www.un.int/brazil/speech/Concept-Paper-%20RwP.pdf>. Acesso em: 28 JAN.
2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2011). Resolution 2022, 2 de
dezembro. Disponvel em: <http://goo.gl/GIVcbh>. Acesso em: 03 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2012). Resolution 2040, 12 de
maro. Disponvel em: <http://goo.gl/lC8fTG>. Acesso em: 04 ago. 2013.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU) (2013). Resolution 2095, 14 de
maro. Disponvel em: <http://goo.gl/kb8HyP>. Acesso em: 04 ago. 2013.
84
Livros, captulos de livros e artigos:
BENNER, Thorsten. O Brasil como um empreendedor normativo: a
Responsabilidade de proteger, Poltica Externa, v. 21, n. 4, p. 35-46, 2013.
BELLAMY, Alex J. Responsibility to protect: the global effort to end mass
atrocities. Cambridge: Polity Press, 2009.
BELLAMY, Alex J. The Responsibility to Protect Five Years On, Ethics and
International Affairs, v. 24, n. 2, p. 143-169, 2010.
BELLAMY, Alex J. Libya and the Responsibility to Protect: the Exception and the
Norm, Ethics and International Affairs, v. 25, n. 3, p. 263-269, 2011.
BELLAMY, Alex J. Global politics and the responsibility to protect: from words to
deeds. Nova Iorque: Routledge, 2011.
BELLAMY, Alex J. e WILLIAMS, Paul D. On the limits of moral hazard: the
responsibility to protect, armed conflicts and mass atrocities, European Journal of
International Relations, v. 18(3), p. 539-571, 2011.
BELLAMY, Alex J. e WILLIAMS, Paul D. The new politics of protection? Cte
dIvoire, Libya and the responsibility to protect. Ethics and International Affairs, v.
87, n. 4, p. 825-850, 2011.
CANADO TRINDADE, Antnio Augusto; PEYTRIGNET, Grard; RUIZ DE
SANTIAGO, Jaime. As trs vertentes da proteo internacional dos direitos da
pessoa humana. Braslia: Instituto Interamericano de Direitos Humanos, Comit
Internacional da Cruz Vermelha e Alto Comissariado das Naes Unidas para os
Refugiados, 1996.
CHANDLER, David. The Responsibility to Protect: Imposing the liberal peace. In:
BELLAMY, Alex J. e WILLIAWS, Paul D. (orgs). Peace operations and global
order. Londres: Routledge, 2005.
DINIZ, Eugenio. O Brasil e as operaes de paz. In: OLIVEIRA, Henrique Altemani
de e LESSA, Antnio Carlos (orgs). Relaes Internacionais do Brasil: temas e
agendas. v. 2. So Paulo: Saraiva, 2006.
85
EVANS, Gareth. When is it right to fight?, Survival, n. 46 (3), p. 59-82, 2004.
EVANS, Gareth. The responsibility to protect: ending mass atrocities once and
for all. Washington: Brookings Institution Press, 2008.
FALK, Richard. Humanitarian intervention: a forum, Nation, 14 jul. 2003.
FERNANDES, Jean Marcel. A promoo da paz pelo Direito Internacional
Humanitrio. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2006.
FONSECA JR, Gelson e BELLI, Benoni. Desafios da Responsabilidade de proteger,
Poltica Externa, v. 21, n. 4, p. 11-26, 2013.
HEINZE, Eric A. Waging humanitarian war: the ethics, the law, and politics of
humanitarian intervention. New York: State University of New York Press, 2009.
IGNATIEFF, Michael. Why Are We in Iraq? (And Liberia? And Afghanistan?). The
New York Times, Nova Iorque, 7 set. 2003.
JENTELSON, Bruce. A responsibility to protect: The defining challenge for global
community, Ethnic Conflict, n. 28 (4), 2007.
KRATOCHWIL, Friedrich Von. Rules, norms and decisions: on the conditions of
practical and legal reasoning in international relations and domestic affairs.
Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
KRATOCHWIL, Friedrich Von. Constructivism as an Approach to Interdisciplinary
Study. In: FIERKE, Karin M e KNUD, Erik Jorgensen (orgs.). Constructing
International Relations: the next generation (international relations in a constructed
world). Nova Iorque: M. E. Sharpe, 1997.
KENKEL, Kai Michael. Global Player ou Espectador nas Margens? A
responsabilidade de proteger: definio e implicaes para o Brasil, Revista da
Escola de Guerra Naval, n. 12, p. 6-57, 2008.
LUCK, Edward. The Responsibility to Protect: Growing Pains or Early Promise?.
Ethics & International Affairs, v. 24.4, p. 349-365, 2010.
86
QUOC DINH, Nguyen; DAILLIER, Patrick e PELLET, Alain. Direito Internacional
Pblico. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2003.
PATRIOTA, Antonio de Aguiar. Tempos de mudana no mundo rabe. Poltica
Externa, v. 20, n. 1, p. 13-17, 2011.
PORTELA, Paulo Henrique Gonalves. Direito Internacional Pblico e Privado.
Salvador: Editora JusPodium, 2012.
QUINTON-BROWN, Patrick. Neutralizing dissent: Brazils responsibility while
protecting proposal, 2012. No prelo.
RICUPERO, Rubens. A dificuldade de construir consenso em uma era de extremos,
Economia Poltica Internacional: Anlise Estratgica, n. 9, p. 4-28, 2006.
RODRIGUES, Thiago e SOUZA, Graziene Carneiro de. Responsabilidade de
proteger e sua responsabilidade de reagir: ultima ratio de um novo dispositivo global
de segurana, Pensamiento Propio, v. 35, p. 29-44, 2012.
SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizaes Internacionais. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2005.
SHAW, Malcolm N. Direito Internacional. So Paulo: Livraria Martins Fontes
Editora, 2010.
SWINARSKI, Christophe. Introduo ao Direito Internacional Humanitrio.
Comit Internacional da Cruz Vermelha e Instituto Interamericano de Direitos
Humanos, 1993.
THAKUR, Ramesh. Ban a Champion of the UNs Role to Protect, The Daily Yomiuri,
Tquio, 10 mar. 2009.
THE ECONOMIST (2011), Endgame in Tripoli. Disponvel em: <http://www.
economist.com/node/18239888>. Acesso em: 18 out. 2012.
UZIEL, Eduardo. O Captulo VII da Carta das Naes Unidas e as decises do
Conselho de Segurana, Poltica Externa, v. 21, n. 4, p. 107-123, 2013.
87
WELSH, Jennifer. Turning Word into Deeds? The Implementation of the
Responsibility to Protect, Global Responsibility to Protect, v. 2, n. 1-2, p. 149-154
(6), 2010.
WILLIAMS, Ian. Intervene with caution, In These Times, 28 jun. 2003.
Você também pode gostar
- O Que Tem Na Mironga de Zé PelintraDocumento9 páginasO Que Tem Na Mironga de Zé PelintraGlaucia Ervano100% (1)
- Protecao Internacional Meio AmbienteDocumento302 páginasProtecao Internacional Meio AmbienteMessias Rafael BatistaAinda não há avaliações
- Conflitos Etnicos Na Caxemira.Documento11 páginasConflitos Etnicos Na Caxemira.Rodolfo MonteiroAinda não há avaliações
- Guia de Formação em Alternativas Penais V Medidas Protetivas de Urgência e Demais Ações - EletronicoDocumento60 páginasGuia de Formação em Alternativas Penais V Medidas Protetivas de Urgência e Demais Ações - EletronicoErica RibeiroAinda não há avaliações
- Guia de Formação em Alternativas Penais IIIDocumento40 páginasGuia de Formação em Alternativas Penais IIIErik AlmeidaAinda não há avaliações
- CLAUDIO ABRAMO Imperio Dos SentidosDocumento27 páginasCLAUDIO ABRAMO Imperio Dos SentidosLetícia SallorenzoAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e Desenvolvimento: O Caso de Belo MonteNo EverandDireitos Humanos e Desenvolvimento: O Caso de Belo MonteNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Direitos Humanos e Relações InternacionaisDocumento254 páginasDireitos Humanos e Relações InternacionaisJohnny DanielAinda não há avaliações
- DUSSEL. A Colonialidade Do Saber. Eurocentrismo e Ciências SociaisDocumento130 páginasDUSSEL. A Colonialidade Do Saber. Eurocentrismo e Ciências SociaisMarcelle RodriguesAinda não há avaliações
- O Ator Invisivel - Yoshi OidaDocumento911 páginasO Ator Invisivel - Yoshi OidaVictor Santana100% (1)
- Prova de Policia Comunitária 2016 SENASPDocumento3 páginasProva de Policia Comunitária 2016 SENASPRIbeiroenzzo89% (9)
- Monica Herz and Andrea Hoffman (Auth.) - Organizações Internacionais (2004)Documento265 páginasMonica Herz and Andrea Hoffman (Auth.) - Organizações Internacionais (2004)Bruno Gama100% (1)
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Filosofia E Ciências Humanas Programa de Pós-Graduação em Relações InternacionaisDocumento66 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Filosofia E Ciências Humanas Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionaiskaroenne greyce ferreira bastosAinda não há avaliações
- 2018 LuizGustavoAversaFrancoDocumento311 páginas2018 LuizGustavoAversaFrancoSolange OliveiraAinda não há avaliações
- Segurança Humana: Avanços e Desafios Na Política InternacionalDocumento164 páginasSegurança Humana: Avanços e Desafios Na Política InternacionalAriana BazzanoAinda não há avaliações
- Ufrgsmundi 2014 - Guia de Estudos FinalDocumento210 páginasUfrgsmundi 2014 - Guia de Estudos Finalufrgsmundi100% (4)
- Org. Internacionais (Herz e Hoffman) - Capítulo 1Documento37 páginasOrg. Internacionais (Herz e Hoffman) - Capítulo 1ZacMAinda não há avaliações
- Herz e Hoffman OI Cap. 1Documento37 páginasHerz e Hoffman OI Cap. 1thayaneAinda não há avaliações
- SabrinaDocumento123 páginasSabrinanemiasAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs Curso de Pós-Graduação em Direito InternacionalDocumento60 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs Curso de Pós-Graduação em Direito InternacionalMaiAinda não há avaliações
- Peacekeeping - Actores, Estratégias e DinâmicasDocumento160 páginasPeacekeeping - Actores, Estratégias e Dinâmicasana__rioAinda não há avaliações
- Herz Hoffmann TabakDocumento222 páginasHerz Hoffmann TabakRenato SilvaAinda não há avaliações
- MurielDocumento63 páginasMurielArmando António InácioAinda não há avaliações
- Anotaçoes de Aula Relaçoes InterDocumento2 páginasAnotaçoes de Aula Relaçoes Interisabellamartins111Ainda não há avaliações
- Monografia Do Gustavo VieiraDocumento79 páginasMonografia Do Gustavo VieiraMANHECHE JOSE BAPTISTAAinda não há avaliações
- 2018 ThaisBarbosaCorreaDeSousa TCCDocumento66 páginas2018 ThaisBarbosaCorreaDeSousa TCCRicardo FantiAinda não há avaliações
- SILVA, Jorde Da. Violência e Identidade Social: Um Estudo Comparativo Sobre A Atuação Policial em Duas Comunidades No Rio de JaneiroDocumento430 páginasSILVA, Jorde Da. Violência e Identidade Social: Um Estudo Comparativo Sobre A Atuação Policial em Duas Comunidades No Rio de JaneiroKarl MichaelAinda não há avaliações
- Universidade Candido Mendes Pós-Graduação "Lato Sensu" Projeto A Vez Do MestreDocumento68 páginasUniversidade Candido Mendes Pós-Graduação "Lato Sensu" Projeto A Vez Do MestreLuis Felipe RochaAinda não há avaliações
- O Genocídio de Ruanda e A Dinâmica Da Inação EstadunidenseDocumento148 páginasO Genocídio de Ruanda e A Dinâmica Da Inação EstadunidenseCarolinaAinda não há avaliações
- Anais - DH UFSC - Rego - 2013 PDFDocumento656 páginasAnais - DH UFSC - Rego - 2013 PDFNatashaKareninaAinda não há avaliações
- A Participação Da Sociedade Civil Organizada Na Formulação Da Política Externa Brasileira: As Conferências Sociais Da Onu Da Década de 1990Documento116 páginasA Participação Da Sociedade Civil Organizada Na Formulação Da Política Externa Brasileira: As Conferências Sociais Da Onu Da Década de 1990Marta RochaAinda não há avaliações
- UntitledDocumento103 páginasUntitledGabriellaVellucciAinda não há avaliações
- (Guia de Estudos) Oms (2018)Documento31 páginas(Guia de Estudos) Oms (2018)winstonsmallvilleAinda não há avaliações
- Conri - Debates e Desafios Nas Relações InternacionaisDocumento158 páginasConri - Debates e Desafios Nas Relações InternacionaisNayanna SabiáAinda não há avaliações
- Pardiplomacia RsDocumento163 páginasPardiplomacia RsMarta RochaAinda não há avaliações
- Isbn 65 5754 061-9 - 978Documento277 páginasIsbn 65 5754 061-9 - 978Ali AntonioAinda não há avaliações
- (Guia de Estudos) CDH (2017)Documento24 páginas(Guia de Estudos) CDH (2017)winstonsmallvilleAinda não há avaliações
- Monografia Do Thiago Lima Rocha CamposDocumento81 páginasMonografia Do Thiago Lima Rocha Camposthiagonicacio55Ainda não há avaliações
- 2021.1 - Clara Paniago Fernandes - O Sistema Interamericano de DH e As Relações Ao Massacre Do Carandiru de 1992Documento78 páginas2021.1 - Clara Paniago Fernandes - O Sistema Interamericano de DH e As Relações Ao Massacre Do Carandiru de 1992Rhoana LerschAinda não há avaliações
- Nudge RioDocumento71 páginasNudge RioSandy FariasAinda não há avaliações
- China Gustavo SantillanDocumento327 páginasChina Gustavo SantillanJanailson AlmeidaAinda não há avaliações
- Ementa 3º Sem - Dir Internacional PúblicoDocumento3 páginasEmenta 3º Sem - Dir Internacional PúblicoJeferson AlcantaraAinda não há avaliações
- DM Immm 2018Documento53 páginasDM Immm 2018Vânia nguaneAinda não há avaliações
- Patentes farmacêuticas, acesso à saúde pública e desenvolvimento sustentável: a viabilidade do licenciamento compulsório em emergência de saúde públicaNo EverandPatentes farmacêuticas, acesso à saúde pública e desenvolvimento sustentável: a viabilidade do licenciamento compulsório em emergência de saúde públicaAinda não há avaliações
- Atlas do Sistema de Justiça Criminal do MercosulNo EverandAtlas do Sistema de Justiça Criminal do MercosulAinda não há avaliações
- Negocios Juridicos Processuais e MediacaDocumento18 páginasNegocios Juridicos Processuais e MediacaStudygram da RoryAinda não há avaliações
- Artigo Do MianmarDocumento24 páginasArtigo Do Mianmarcamila costaAinda não há avaliações
- Metodologia e RI v3 - EbookDocumento136 páginasMetodologia e RI v3 - Ebookguilherme.rb7Ainda não há avaliações
- Dissertação Edlamar Com Ficha CatalograficaDocumento139 páginasDissertação Edlamar Com Ficha CatalograficaDA20 MusicAinda não há avaliações
- Ensaio I BRI0001 - Laura Ferraz de PaulaDocumento8 páginasEnsaio I BRI0001 - Laura Ferraz de PaulaLaura FerrazAinda não há avaliações
- Peacebuilding Democratizacao AnaliseDocumento80 páginasPeacebuilding Democratizacao Analise128bitocasAinda não há avaliações
- Manual Incidencia Tematica Trafico de Drogas Como Uma Das Piores Formas de Trabalho InfantilDocumento128 páginasManual Incidencia Tematica Trafico de Drogas Como Uma Das Piores Formas de Trabalho InfantilBruna MayumiAinda não há avaliações
- Política Externa Ambiental Brasileira Os Governos FHC e LulaDocumento74 páginasPolítica Externa Ambiental Brasileira Os Governos FHC e LulaNáthani SiqueiraAinda não há avaliações
- A atuação de agências das Nações Unidas no Estado da Bahia: cooperação internacional na área social (1996-2013)No EverandA atuação de agências das Nações Unidas no Estado da Bahia: cooperação internacional na área social (1996-2013)Ainda não há avaliações
- Monografia FredsonDocumento65 páginasMonografia FredsonG Sousa CastroAinda não há avaliações
- UE AustralDocumento102 páginasUE AustralCharles PennaforteAinda não há avaliações
- Política Internacional DIR410128 Prof. VillatoreDocumento5 páginasPolítica Internacional DIR410128 Prof. VillatorefelipedcamargoAinda não há avaliações
- Diplomacia 360° (Out.16) - Bibliografia - Módulo AzulDocumento39 páginasDiplomacia 360° (Out.16) - Bibliografia - Módulo AzulRoberto Dantas100% (2)
- (Guia de Estudos) Wcar (2017)Documento30 páginas(Guia de Estudos) Wcar (2017)winstonsmallvilleAinda não há avaliações
- Lopes Da Silva (2014) TesisDocumento138 páginasLopes Da Silva (2014) TesisGloria Elida ScrimizziAinda não há avaliações
- Universidade de Brasília: Centro de Estudos Avançados MultidisciplinaresDocumento152 páginasUniversidade de Brasília: Centro de Estudos Avançados MultidisciplinaresFatima RodriguesAinda não há avaliações
- PNAP - Bacharelado - Relacoes Internacionais PDFDocumento168 páginasPNAP - Bacharelado - Relacoes Internacionais PDFIngritiNAinda não há avaliações
- Interfaces Da Mobilidade Humana Na Fronteira Amaznica PDFDocumento157 páginasInterfaces Da Mobilidade Humana Na Fronteira Amaznica PDFJimena Castro MejíaAinda não há avaliações
- 88471.17.3 - Leituras Dos ODS para Um Brasil Sustentável - CompressedDocumento253 páginas88471.17.3 - Leituras Dos ODS para Um Brasil Sustentável - CompressedAteliê do ConhecimentoAinda não há avaliações
- Natalia Couto Dissertacao PDFDocumento173 páginasNatalia Couto Dissertacao PDFAline YuxumiAinda não há avaliações
- A Linha Maginot Da Branquitude - Opinião - PÚBLICODocumento5 páginasA Linha Maginot Da Branquitude - Opinião - PÚBLICOHilda de PauloAinda não há avaliações
- Portaria MPS Nº 154/2008Documento8 páginasPortaria MPS Nº 154/2008Canecópolis PersonalizadosAinda não há avaliações
- Karl MarxDocumento2 páginasKarl MarxMarisaa MartinsAinda não há avaliações
- Plano ComasDocumento1 páginaPlano Comasexitos13Ainda não há avaliações
- Correio Paulistano HistoriaDocumento168 páginasCorreio Paulistano Historiakelly_crisitna100% (1)
- Artigo Gabriela CoserDocumento4 páginasArtigo Gabriela CoserPedro Gustavo Aubert FEUCAinda não há avaliações
- Fund II Ed. Física PréviaDocumento5 páginasFund II Ed. Física PréviaRegino Augusto ReginoAinda não há avaliações
- Os Bestializados - José Murilo de CarvalhoDocumento2 páginasOs Bestializados - José Murilo de CarvalhoPaula Lemos de PaulaAinda não há avaliações
- Tavano V DR ArafclDocumento365 páginasTavano V DR ArafclDOUGLAS MARIS ANTUNES COELHOAinda não há avaliações
- O Império Romano, Romanização e EconomiaDocumento34 páginasO Império Romano, Romanização e EconomiaIrina FilipaAinda não há avaliações
- A Colonialidade Do Poder e A Dependência Do Estado Latino-Americano: Elementos para Refletir A Condição Periférica RegionalDocumento23 páginasA Colonialidade Do Poder e A Dependência Do Estado Latino-Americano: Elementos para Refletir A Condição Periférica RegionaljonathassolerAinda não há avaliações
- Diversificação de Papéis e Divisão Do Trabalho Político EspecializadoDocumento270 páginasDiversificação de Papéis e Divisão Do Trabalho Político EspecializadoJooGilbertoAinda não há avaliações
- Ementa e Bibliografia - HISTORIA SOCIAL DO TRABALHO - Historia e HistoriografiaDocumento2 páginasEmenta e Bibliografia - HISTORIA SOCIAL DO TRABALHO - Historia e HistoriografiaAnderson SantosAinda não há avaliações
- Questoes de Formacao Geral Enade 2004 2005Documento41 páginasQuestoes de Formacao Geral Enade 2004 2005jhowfeAinda não há avaliações
- Revista de Jurisprudência Do STMDocumento411 páginasRevista de Jurisprudência Do STMDenise RibeiroAinda não há avaliações
- O Dominus Do Elefante & Da AraraDocumento3 páginasO Dominus Do Elefante & Da AraraGelsonAinda não há avaliações
- 163 Tabela de Honorarios SetembroDocumento16 páginas163 Tabela de Honorarios SetembroAgencia Brasil LegalizeAinda não há avaliações
- Lutas de Classes Na Rússia (Coleção Marx e Engels) - 230414 - 141948Documento6 páginasLutas de Classes Na Rússia (Coleção Marx e Engels) - 230414 - 141948EDNAYRA COSTA DO NASCIMENTOAinda não há avaliações
- Manual Regras Professor AuxiliarDocumento8 páginasManual Regras Professor AuxiliarrmbarbusciaAinda não há avaliações
- Bertrand Russel - o Ócio e A Falácia Do TrabalhoDocumento6 páginasBertrand Russel - o Ócio e A Falácia Do TrabalhoHenriqueFrazaoAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios de História 3ºDocumento8 páginasLista de Exercícios de História 3ºMurilo ResendeAinda não há avaliações
- Prova Act BC PDFDocumento75 páginasProva Act BC PDFJesse LibanioAinda não há avaliações
- As Bases Do Pensamento Politico de AristótelesDocumento24 páginasAs Bases Do Pensamento Politico de AristótelesAldenor FerreiraAinda não há avaliações
- O Fantasma de Eliza SamudioDocumento11 páginasO Fantasma de Eliza SamudioFelipe BorgesAinda não há avaliações