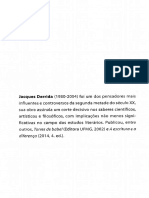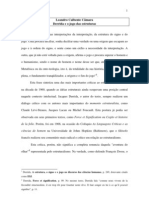Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Filosofia Literatura Desconstrução
Filosofia Literatura Desconstrução
Enviado por
fzyndelTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Filosofia Literatura Desconstrução
Filosofia Literatura Desconstrução
Enviado por
fzyndelDireitos autorais:
Formatos disponíveis
cadernos Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
Filosofia, literatura, desconstruo
Andr Lus Mota Itaparica*
Resumo: Em seu segundo e ltimo livro publicado em vida, Alegorias da Leitura,
Paul de Man nos oferece um importante estudo sobre a relao entre discurso
filosfico e discurso literrio em Nietzsche. Nosso propsito neste artigo interrogar se o caminho tomado pelo autor seria o mais apropriado para a compreenso da problemtica da linguagem na obra nietzschiana.
Palavras-chave: linguagem desconstruo retrica atos de fala
1. Introduo
Influente professor de literatura, funo que desempenhou com
inegvel xito nos Estados Unidos e na Sua, Paul de Man se destacou
pelo rigor e erudio invejveis, assim como pela ateno dedicada s
posies filosficas que, explcita ou implicitamente, as diversas correntes da crtica literria abraavam.
Em seu segundo e ltimo livro publicado em vida, Alegorias da
Leitura, de Man nos oferece um importante estudo sobre a relao entre
discurso filosfico e discurso literrio em Nietzsche. Nosso propsito
neste artigo interrogar se o caminho tomado pelo autor seria o mais
apropriado para a compreenso da problemtica da linguagem na obra
nietzschiana.
Para isso, entretanto, respeitaremos uma advertncia presente no
prefcio do livro em questo: a de no critic-lo a partir do que seriam
* Aluno de ps-graduao do Departamento de Filosofia da Universidade de So Paulo.
62
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
seus aspectos ideolgicos o uso do termo desconstruo, por exemplo
mas sim dos seus aspectos tcnicos, de suas anlises de texto especficas. Afinal, a adoo de tal termo por parte de Paul de Man se deveu
s dificuldades por ele encontradas no contato com os textos, e no por
um credo terico. A desconstruo, para ele, no algo adicionado pela
leitura, mas sim algo intrnseco ao prprio texto; ela caracterizada
como uma tenso irreconcilivel entre duas interpretaes de um texto,
ambas possveis e excludentes entre si. No caso de Nietzsche, essa tenso
estaria presente na questo da retrica, compreendida por de Man como
um entrelaamento perturbador de tropo com persuaso ou o que no
exatamente a mesma coisa de linguagem cognitiva com performativa
(De Man 3, p. ix). Desse modo, sua leitura de Nietzsche ter dois tpicos
principais: Retrica de Tropos e Retrica de Persuaso.
2. Nietzsche e a Retrica
No primeiro tpico, Retrica de Tropos, de Man parte da anlise do chamado curso de retrica de Nietzsche e do ensaio Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. Seu propsito, segundo ele,
(...) indicar, apenas, num esboo apressado e amplo, como a questo da
retrica pertinente aos textos de Nietzsche, no s da fase inicial mas
tambm da final (De Man 3, p. 126).
Assim, de Man atm-se aos pontos principais desses textos: em
primeiro lugar, a afirmao de Nietzsche segundo a qual o estudo da
retrica no est relacionado apenas com a eloqncia e a persuaso,
mas antes est baseado no estudo das figuras de retrica; em segundo
lugar, a compreenso de que os tropos no podem ser vistos, como tradicionalmente foi feito, como o desvio de um sentido prprio. Para
Nietzsche, ao contrrio, a retrica responsvel pela formao da prpria linguagem, pois, em seu uso, a linguagem j figurativa, no podendo portanto ser remetida a um referente extralingstico.
O passo que de Man dar em seguida mostrar que esse paradigma
retrico estar presente mesmo na obra posterior de Nietzsche, basean-
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
63
do-se em um fragmento pstumo que recebeu o nmero 479 na coletnea organizada pela irm do filsofo, conhecida como A Vontade de
Potncia(1) (KSA, XIII, 15 (90)). Nesse fragmento, intitulado O fenomenalismo do mundo interior, Nietzsche critica as dicotomias metafsicas como interior/exterior, anterior/posterior, causa/efeito, mostrando que somente depois de se ter a conscincia de uma sensao procurada uma causa exterior responsvel por tal sensao, o que equivale a
dizer que aquilo que concebemos como anterior , na verdade, posterior
na conscincia. Isso se deve ao fato de que a conscincia guiada por
convenes lingsticas, que a conduzem a essa inverso de polaridades
binrias. Como no curso de retrica h uma crtica substancializao
dos conceitos a partir da mesma desconfiana acerca do produto das
sensaes, e essa crtica tem como fundamento a noo de metonmia,
definida como a troca entre causa e efeito, de Man conclui que, embora
Nietzsche no utilize uma linguagem retrica em A Vontade de Potncia, ambas as crticas repousam sobre um mesmo fundamento lingstico:
Praticamente o mesmo texto que, em 1872, define explicitamente a
metonmia como o prottipo da linguagem figurada, descreve, em 1888,
um construto metafsico (o fenomenalismo da conscincia) como suscetvel de ser desconstrudo to logo se perceba sua estrutura lingstica, retrica (De Man 3, p.131).
Como conseqncia dessa crtica dos limites da linguagem ordinria, Nietzsche no extrai um projeto de purificao da linguagem;
segundo de Man, a filosofia de Nietzsche permanece na ambigidade
de, ao mesmo tempo, acusar a retrica como responsvel pelos erros
petrificados na linguagem e usar essa linguagem retrica como meio
atravs do qual sua prpria crtica se expressa. Assim, a filosofia de
Nietzsche seria essencialmente irnica, no sentido que Schlegel d a
esse termo, ou seja, uma reflexo que, por ter a si mesma como objeto,
se estabelece como uma tarefa infinita.
No tpico Retrica de Persuaso, Paul de Man procura ento
investigar mais atentamente a relao entre discurso filosfico e discurso literrio em Nietzsche. Essa relao inseparvel da crtica que este
faz aos principais conceitos filosficos da tradio. De Man escolhe
64
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
como texto de anlise um fragmento em que Nietzsche discute o princpio de no-contradio, um pstumo de outono de 1887 ( 516 de VP/
KSA, XII, 9 (97)).
Nessa anlise podemos ver o refinamento da leitura de Paul de
Man. Para apresentar o argumento de Nietzsche e mostrar a indissociabilidade dessa filosofia com o discurso literrio, ele se detm em apenas
alguns termos, mostrando como em todo o fragmento h um jogo
lingstico entre eles. Os termos so os verbos knnen e sollen (poder e
dever, conotando respectivamente possibilidade e necessidade), erkennen
e setzen (conhecer e postular, dispor), bezeichnen e fassen (designar e
apreender), alm das relaes entre termos que tm como raiz o verbo
setzen, como gesetzt (suposto) e Voraussetzung (pressuposio).
Segundo Nietzsche, o princpio de no-contradio retira, da impossibilidade de se poder (knnen) negar e afirmar a mesma coisa ao
mesmo tempo , a postulao, considerada necessria, de que atributos
opostos no devem (sollen) ser aplicados mesma coisa. O princpio de
no-contradio, portanto, resulta de uma incapacidade transformada
em imperativo. Ele no diz respeito a uma coisa dada de antemo como
existente, mas antes pressuposta (vorausgesetzt) como idntica a si
mesma. Desse modo, o que chamamos conhecer (erkennen) nada mais
seno postular (setzen), ou seja, dispor um mundo passvel de ser
mensurvel e calculvel para fins utilitrios, o que garantido atravs
da linguagem, que supe, atravs da unidade do conceito, a identidade
da coisa. Enfim, o mundo do conhecimento um mundo construdo
pela linguagem, de sorte que os conceitos apenas designam (bezeichnen)
as coisas, e no as apreendem (fassen) como elas seriam em si.
Tomando a distino entre constativo e performativo, e seu desenvolvimento na teoria dos atos de fala, de Man conclui que nesse momento Nietzsche acusa no conhecimento que se expressa por meio de
proposies constativas (proposies afirmativas que podem receber um
valor de verdade: V ou F) a presena do modo imperativo, o que significa que a linguagem seria fundamentalmente performativa (ou seja, no
passvel de atribuio de valor de verdade, como o caso das proposies que expressam desejos, ordens, etc.)(2): A linguagem da identida-
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
65
de e da lgica se afirma no modo imperativo e assim reconhece a sua
prpria atividade como a postulao de identidades. A lgica consiste
em atos de fala postuladores (De Man 3, p.148). Do mesmo modo, a
prpria crtica de Nietzsche, ao negar a veracidade do princpio de nocontradio, no pode se exprimir seno de forma hipottica: Suposto
(Gesetzt) que no haja um A idntico a si mesmo (...).
Nietzsche, ento, assume uma dimenso completamente performativa da linguagem? Se ela um ato, um fazer, a verdade estaria portanto condicionada capacidade de convencimento de um discurso, ou
seja, da persuaso? Para Paul de Man, a resposta negativa, pois, se
nesse texto Nietzsche desconstri o princpio de identidade, condicionando-o a um ato, um imperativo lingustico, h outros textos em que a
prpria noo de ato desconstruda, como o caso do fragmento de
nmero 477 de A Vontade de Potncia (KSA, XIII, 11(113)), no qual
Nietzsche, ao contrrio do que afirmara em Para a genealogia da moral
quando escrevera que a ao tudo (das Tun ist alles) , afirma que
tanto a ao quanto o agente so fictcios (sowohl das Tun, als der
Tater sind fingiert). Desse modo de Man pode afirmar que a linguagem
performativa no menos ambivalente em sua funo referencial do
que a linguagem da constatao (De Man 3, p. 152).
De Man, portanto, chega concluso de que, em Nietzsche, a retrica se apresenta enquanto coexistncia de duas opes antagnicas,
ambas j estabelecidas desde o curso de 1872, ou seja, retrica como
sistema de tropos e retrica como persuaso. No primeiro caso,
Nietzsche, em seus textos mais analticos, desconstri os conceitos da
tradio mostrando seus pressupostos lingsticos; isso conduz a uma
noo performativa da linguagem, que acaba, entretanto, sendo vtima
de sua prpria desconstruo. Apesar disso, Nietzsche, em seus textos
publicados, faz um uso performativo, persuasivo da linguagem, mas,
segundo de Man num certo sentido, Nietzsche conquistou um direito a
essa inconsistncia atravs do considervel trabalho de desconstruo
que constitui a maior parte de seus trabalhos mais analticos (De Man
3, p. 155).
66
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
3. Insight e Cegueira em Paul de Man
Diante desse persuasivo texto de Paul de Man, pode-se ento
concordar, partindo de Nietzsche, que a retrica , por um lado,
performativa, se considerada como persuaso, e, por outro, desconstrutora de sua prpria performatividade, se considerada como sistema de
tropos? Alm disso, sendo ambivalentes esses dois aspectos da retrica,
podemos ento concordar com de Man que a retrica um texto na
medida em que autoriza dois pontos de vista incompatveis e mutuamente destrutivos, e portanto coloca um obstculo intransponvel no
caminho de qualquer leitura ou entendimento? (De Man 3, p. 156).
Algumas evidncias levariam a se dizer que sim, pois, de fato,
Nietzsche sempre deixou claro que a interpretao uma tarefa infinita:
O mesmo texto permite incontveis interpretaes: no h interpretao correta (KSA, XII, 1 (120)), assim como afirmou que todo acontecimento produto de interpretaes: no h nenhum acontecimento
em si. O que acontece um grupo de fenmenos (Erscheinungen) interpretados e agrupados por um ser (Wesen) que interpreta (idem, 1 (115)).
O que podemos fazer, ento, a partir de agora, investigar detidamente
os textos citados por de Man, verificando se suas concluses esto de
acordo com o arcabouo terico do qual esses fragmentos fazem parte.
Para isso, procuraremos discutir dois argumentos que consideramos centrais no ensaio de Paul de Man, a fim de questionar se o caminho escolhido por ele seria o mais produtivo para investigar a relao
entre discurso filosfico e discurso literrio em Nietzsche. Os argumentos so os seguintes: (1) A discusso sobre a retrica est presente nos
dois perodos da obra nietzschiana analisados, embora oculta no ltimo
perodo; (2) Nietzsche, ao menos eventualmente, critica a prpria noo de ato, o que contradiz a viso performativa da linguagem presente
nos textos publicados.
Argumento (1): A discusso sobre a retrica est presente nos dois
perodos da obra nietzschiana analisados, embora oculta no ltimo
perodo.
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
67
Retomando a argumentao, h um trecho do curso de retrica em
que Nietzsche critica a suposio da existncia de entidades a partir de
suas propriedades sensveis; isso seria apenas a aplicao indevida de
uma metonmia, compreendida como a troca entre causa e efeito. No
fragmento sobre o fenomenalismo da conscincia, h uma crtica similar causalidade, e a prova apresentada por de Man de que tal crtica
segue a mesma concepo de retrica o seguinte trecho: A experincia interior s nos surge na conscincia depois que ela encontrou uma
linguagem que o indivduo entende isto , uma traduo de uma situao em uma situao mais conhecida-: entender, ingenuamente, quer
dizer simplesmente: poder expressar algo novo na linguagem de algo
antigo, conhecido.
As duas crticas seguem, de fato, o mesmo argumento. Poderamos,
entretanto, perguntar: o que Nietzsche chama de linguagem no ltimo
perodo seria equivalente ao que ele chamava de retrica enquanto
retrica de tropos? Para encontrar tal resposta, basta que se compare
afirmaes do ltimo Nietzsche com o trecho em questo para ver que a
discusso de Nietzsche nesse perodo dispensa tal concepo de retrica.
Em sua ltima filosofia, a linguagem, tal como evocada no fragmento em questo, est relacionada com uma concepo que v nela o
resultado de experincias compartilhadas por determinadas comunidades. A linguagem, enquanto gramtica comume no enquanto retrica de tropos petrifica vivncias habituais, que podem ser comunicadas
e desse modo entendidas, de sorte que povos com parentesco lingstico
tendem a organizar a realidade de formas similares: Onde h parentesco lingstico, inevitvel que, graas filosofia comum da gramtica (...), tudo esteja predisposto para um mesmo desenvolvimento e seqncia de sistemas filosficos (JGB/BM 20). No caso da cultura
ocidental, um dos erros a que nossa gramtica conduz o estabelecimento de relaes causais derivadas da relao entre sujeito e predicado,
ao interpretar cada acontecimento como um predicado que expressa a
ao de um sujeito:
68
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
Um quantum de fora um mesmo quantum de impulso, vontade,
efetuar-se assim como no outra coisa seno esse prprio impulsionar, querer, efetuar-se, e somente sob a seduco da linguagem (e dos
erros fundamentais da razo nela petrificados), que entende ou desentende todo efetuar-se como condicionado por algo que efetua, por um
sujeito, pode parecer diferente (GM/GM I 13).
No h, portanto, elementos suficientes para que se sustente a equivalncia entre as teorias lingsticas desses dois perodos da obra nietzschiana. No ltimo perodo, gramtica e retrica tm sentidos diversos:
gramtica significa a tendncia de interpretar o mundo a partir da forma
lgica do juzo; retrica, por sua vez, retoma o sentido habitual de retrica como persuaso. De Man, alis, s pde igualar esses dois termos
porque ele considerava o curso de retrica e o ensaio Sobre verdade e
mentira no sentido extramoral como um certo rompimento do que o
prprio Nietzsche chamou sua metafsica de artista. Ora, nesses textos de juventude, essa teoria da retrica, aparentemente to inovadora,
est de acordo com a filosofia de Schopenhauer. Se prestarmos bastante
ateno, veremos que neles questionada apenas a pretenso de que
com a linguagem verbal se atinja uma verdade metafsica, ou seja, a
coisa em si, o que no nega a idia de um duplo sentido inscrito no
mundo: como vontade e como representao(3).
Argumento (2): Nietzsche, ao menos eventualmente, critica a prpria noo de ato, o que contradiz a viso performativa da linguagem
presente nos textos publicados.
Vejamos, ento, o texto em que de Man se baseia para chegar a
essa concluso: O esprito, algo que pensa (..) primeiro, imaginado
aqui um ato (Akt) que no existe, pensar; segundo, imaginado como
substrato desse ato um sujeito em que todo ato do pensamento (...) tem
sua origem. Em relao ao fragmento citado, de Man admite que se
poderia objetar que Nietzsche est questionando especificamente o ato
de pensar como existente, assim como a relao entre esse ato e o sujeito que o desempenha, segundo a crtica lingstica da causalidade. Contudo, o fundamental, para de Man, que Nietzsche afirma, em primeiro
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
69
lugar, que tal ato no existe. Ora, o que Paul de Man se esquece de
mostrar que, antes da passagem citada, Nietzsche j havia esclarecido
por que e em que sentido o ato de pensar no existe:
A causalidade nos escapa; admitir que haja entre pensamentos
(Gedanken) um vnculo causal passvel de ser apreendido imediatamente, como faz a lgica isso conseqncia da mais grosseira e estpida
observao. Entre dois pensamentos, todos os afetos possveis ainda
jogam seu jogo (...).
Pensar, como o terico do conhecimento concebe, no existe: isso
uma fico arbitrria, alcanada atravs do destaque de um elemento
do processo e a subtrao de todos os demais, um ajustamento artstico
para fins de entendimento (VP, 477; KSA, XIII, 11 (113)).
O que criticado, aqui, o fato de o pensamento ser entendido,
segundo a filosofia comum da gramtica, como algo simples e imediato, quando ele resultado de uma relao entre impulsos. Mas, para de
Man, Nietzsche no est preocupado com os atos no-verbais, pois eles
seriam algo inconcebvel, uma vez que nenhum ato chega conscincia
humana como tal sem antes ter sido interpretado, falsificado, simplificado, etc. Embora confesse que em Para a genealogia da moral Nietzsche
postule atos no-verbais, de Man replica que, como o modelo gentico
da genealogia a etimologia, Nietzsche, mesmo nesse livro, compreende o ato como verbal. Esta ltima afirmao, contudo, textualmente
insustentvel. Basta ler um pequeno trecho da Genealogia para se ver
que o propsito de Nietzsche era outro. Trata-se da anlise do castigo
(Strafe), na segunda dissertao:
Tem-se (...) de se diferenciar nele [no castigo] duas coisas: primeiro, o relativamente duradouro, o uso, o ato (Akt), uma consciente e rgida seqncia de procedimentos, de outro lado, o fluido, o sentido, o
fim, a expectativa que est ligada na explicao de tais procedimentos
(GM/GM II 13).
70
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
Mais adiante, Nietzsche afirmar que um mesmo procedimento
pode ser utilizado, interpretado, ajustado (zurechtgemacht) segundo intenes fundamentalmente diferentes(idem). Ora, aqui fica evidente
que Nietzsche distingue os atos no-verbais, o castigo, por exemplo,
das diferentes interpretaes dadas a ele. por isso que o mtodo
genealgico parte da etimologia: os diferentes sentidos atribudos a um
mesmo ato revelam de que tipo de homem eles emergiram.
Por outro lado, o fato de s termos conscincia desses atos atravs
da linguagem gregria no significa que eles sejam meramente verbais,
mas sim que eles so inacessveis nossa linguagem habitual. Paul de
Man, embora sempre atento s ambigidades da linguagem, entende as
afirmaes do filsofo quanto ao carter fictcio do ato de uma forma
exageradamente literal. Isso porque, para centralizar o papel da linguagem em Nietzsche, de Man tem de desconsiderar todas as implicaes
ticas e ontolgicas nela presentes.
Assim, quando afirma que o ato uma fico, Nietzsche est
revelando a limitao da linguagem gregria e da moral que a sustenta
em compreender o que ele chama de efetividade (Wirklichkeit), ou
seja, o vir-a-ser, o mundo catico das sensaes, mundo esse desprovido
de ordem, fim ou sentido. Para Nietzsche, essa efetividade no poderia
ser compreendida como algo em si, pois, segundo ele, o surgimento da
noo de em si teve como origem um impulso moral de negar o vir-a-ser
atravs do estvel, o que na linguagem resulta no conceito como unidade.
Os homens, como seres orgnicos, tm um acesso vivencial, corporal, efetividade, mas, quando se expressam, utilizam uma linguagem que procura estabilizar esse mundo do vir-a-ser. Eles no podem,
portanto, conhecer a essncia do ser, simplesmente porque ela no existe, em um mundo compreendido como vir-a-ser:
Nossa ptica psicolgica determinada pelo fato de que:
1) a comunicao necessria, e que, para se comunicar, algo tem de
ser fixado, simplificado, passvel de ser precisado (...). O material dos
sentidos [] ajustado pelo entendimento, reduzido a rudes traos gerais, feito similar, subsumido ao familiar (...)
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
71
2) o mundo dos fenmenos um mundo ajustado, que sentimos como
real. A realidade repousa em coisas constantemente recorrentes, iguais,
conhecidas, familiares (...).
3) o oposto desse mundo fenomnico no o mundo verdadeiro, mas
sim o amorfo-informulvel (formlos-unformulirbare) mundo do caos
das sensaes, portanto uma outra forma de mundo fenomnico, uma
[forma] para ns incognoscvel (unerkennbare) (KSA, XII, 9(106)).
Assim, ao admitir que a linguagem no alcana esse mundo do
vir-a-ser, Nietzsche assume que sua explicao do mundo tambm
uma interpretao, uma falsificao, e que, como toda interpretao,
expressa determinados valores. Nesse sentido, a linguagem de Nietzsche
fundamentalmente performativa, pois, se no h uma estrutura essencial do mundo, no apenas por s termos um acesso consciente a ele
atravs da linguagem, mas tambm por ele se apresentar como um vira-ser catico, sua filosofia aspira a expressar valores com que se possa
viver de forma mais afirmativa perante esse mundo da efetividade.
Nietzsche, ento, tentar romper com a linguagem habitual, comum, gregria, que no consegue expressar vivncias seno aquelas que
levam a uma negao da efetividade. Para isso, ele recorre a um virtuosismo estilstico que utiliza de forma atenta as figuras de retrica, explora
a polissemia das palavras e experimenta diversas formas de expresso.
Com esses recursos, Nietzsche tenta expressar, na sua escrita, o mundo
do vir-a-ser; da o seu carter s vezes incompreensvel, s vezes
paradoxal.
Enfim, talvez seja um caminho mais produtivo para analisar a relao entre discurso literrio e discurso filosfico em Nietzsche investigar de que forma ele procura, por meio de seu estilo, romper os limites
da linguagem gregria. Nesse sentido, ser preciso que, antes de apontar paradoxos na filosofia de Nietzsche, se tenha em mente o seu projeto
como um todo, do qual a linguagem apenas uma parte. De Man, ao
contrrio, fixou-se nos paradoxos e investigou a questo da linguagem
de forma isolada.
72
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
Apesar disso, o texto de Paul de Man no deixa de trazer contribuies importantes para o estudo da linguagem de Nietzsche. Poderamos dizer, utilizando a imagem criada pelo prprio de Man em Blindness
and Insight, que ele teve valiosos insights a respeito da importncia da
linguagem na filosofia de Nietzsche, e que esses insights, curiosamente, foram produto de sua cegueira (blindness) com relao a outros aspectos dessa mesma filosofia.
Abstract: In his second and last book published in life, Allegories of Reading,
Paul de Man gives us an important study about the relationship between the
philosophical and literary discurse in Nietzsche. Our purpose in this article is to
call in question if the way taken by the author wouid be the best one to comprehension of the subject of language in the Nietzschean work.
Key-words: language desconstrution rethoric speech acts
Notas
(1) Utilizamos aqui o questionvel texto de A Vontade de Potncia pelo fato de que
quando de Man escreveu seu livro alguns fragmentos ainda no haviam sido publicados na edio crtica de Colli e Montinari. No caso de certos fragmentos, de
Man teve acesso a textos da edio crtica, alguns ainda inditos na poca. Desse
modo, a fim de fazer justia com de Man, quando ele citar um texto da edio
cannica, procuraremos debater suas posies tendo como base o texto a que ele
teve efetivamente acesso. Para isso, recorremos edio Schlechta, que publicou
os textos da edio cannica, mas sem seguir a numerao estabelecida por seus
editores (Werke in Drei Bnden. Mnchen: Hanser, 1956), indicando sempre seu
nmero correspondente na edio crtica.
Mota Itaparica, A.L., cadernos
Nietzsche
5, p. 61-73, 1998
73
(2) Sobre essa distino e seu desenvolvimento na teoria dos atos de fala, ver: Austin,
J. L. Performatif Constatif. In: Cahiers de Royaumont La Philosophie
Analytique. Paris: Minuit, 1962 (Performativo Constativo. Trad.: Paulo Ottoni).
(3) Um exemplo de uma leitura atenta de Sobre Verdade e Mentira no Sentido
Extramoral a realizada por Maudemarie Clark (Nietzsche On Truth and
Philosophy. Cambridge: Cambridge UP, 1990.
Referncias Bibliogrficas
1. AUSTIN, J. L. Performatif Constatif. In: Cahiers de Royaumont
La Philosophie Analytique. Paris: Minuit, 1962 (Performativo
Constativo. Trad. de Paulo Ottoni).
2. CLARK, Maudemarie. Nietzsche On Truth and Philosophy.
Cambridge: Cambridge UP, 1990.
3. DE MAN, Paul. Allegories of Reading, New Haven: Yale UP, 1979.
(Alegorias da Leitura, Rio de Janeiro: Imago,1996. Trad.: Lenita
R. Esteves).
4. Blindness and Insight. Minnesota: Minnesota UP, 1983.
5. NIETZSCHE, Friedrich. SmtlicheWerke Kritische Studienausgabe.
Berlin / Mnchen: Walter de Gruyter/ dtv, 1988.
6. _______. Werke in Drei Bnden. Mnchen: Hanser, 1956.
7. _______. Da retrica. Lisboa: Vega, 1995.
8. _______. Obras Incompletas. So Paulo: Abril Cultural, 1991.
9. _______. Alm do Bem e do Mal. So Paulo: Companhia das Letras,
1993.
10. _______. Genealogia da Moral. So Paulo: Brasiliense, 1987.
Você também pode gostar
- O Lugar Da Teoria LiterariaDocumento440 páginasO Lugar Da Teoria Literariaandré Cechinel100% (5)
- Derrida: Essa Estranha Instituição Chamada Literatura.Documento117 páginasDerrida: Essa Estranha Instituição Chamada Literatura.J-Ustin100% (1)
- A Solidariedade Dos Seres VivosDocumento8 páginasA Solidariedade Dos Seres VivosAlessandro Matos0% (1)
- BRESCIANI, Stella e NAXARA, Márcia. Memória e (Res) Sentimento - Indagações Sobre Uma Questão SensívelDocumento348 páginasBRESCIANI, Stella e NAXARA, Márcia. Memória e (Res) Sentimento - Indagações Sobre Uma Questão SensívelRodrigoMachadoAinda não há avaliações
- DesconstrutivismoDocumento4 páginasDesconstrutivismoTikka SobralAinda não há avaliações
- DERRIDA, JacquesDocumento59 páginasDERRIDA, JacquesLívia Bertges100% (1)
- Como Intelectuais Franceses Arruinaram o OcidenteDocumento8 páginasComo Intelectuais Franceses Arruinaram o OcidenteAdriano BoaventuraAinda não há avaliações
- Aula 1 - Jacques DerridaDocumento11 páginasAula 1 - Jacques DerridarafaelnevesAinda não há avaliações
- Lispector Por Cixous PDFDocumento203 páginasLispector Por Cixous PDFdragutamomolescuAinda não há avaliações
- Sexo Explicito Joana PDFDocumento17 páginasSexo Explicito Joana PDFEduardo MasAinda não há avaliações
- O Mito Da Neutralidade - Greg L. BahnsenDocumento11 páginasO Mito Da Neutralidade - Greg L. BahnsenIveteCristãPaixãoAinda não há avaliações
- Artigo - Poema A PantufaDocumento14 páginasArtigo - Poema A PantufaPaulo BenitesAinda não há avaliações
- Michael White - Marcos Teóricos Da Prática NarrativaDocumento9 páginasMichael White - Marcos Teóricos Da Prática NarrativaLuísa Gigliotti OteroAinda não há avaliações
- Artigo - Professoralidade - Perspectivas em FabulaçãoDocumento21 páginasArtigo - Professoralidade - Perspectivas em FabulaçãoLarissa Leslie SenaAinda não há avaliações
- 03 Organização Do Tempo e Espaço Físico Na EscolaDocumento12 páginas03 Organização Do Tempo e Espaço Físico Na EscolaMariana FernandesAinda não há avaliações
- Derrida - Essa Estranha Instituição Chamada LiteraturaDocumento137 páginasDerrida - Essa Estranha Instituição Chamada LiteraturaraquelAinda não há avaliações
- Linguagens e Codigos emDocumento19 páginasLinguagens e Codigos emProf. Cris BatistaAinda não há avaliações
- O Textão de Hoje É Sobre Sexualidade!Documento2 páginasO Textão de Hoje É Sobre Sexualidade!Hugo SampaioAinda não há avaliações
- Derrida - Notas - Carta Tradutor Japonês e Diferança (Margens Da Filosofia)Documento4 páginasDerrida - Notas - Carta Tradutor Japonês e Diferança (Margens Da Filosofia)gsemensatoAinda não há avaliações
- Parlêtre, Um Dispositivo Do Discurso Da Psicanálise - Haydée MontesanoDocumento11 páginasParlêtre, Um Dispositivo Do Discurso Da Psicanálise - Haydée MontesanoViviane TorquatoAinda não há avaliações
- Monteiro Lobato Tradutor (Análise de Branca de Neve)Documento5 páginasMonteiro Lobato Tradutor (Análise de Branca de Neve)fernanda souzaAinda não há avaliações
- CIM - Certificação Italo Marsili - "Transcrisumo" Por Caroline Vaz de Melo (@carolinevazdemelo) - 11.2.2022Documento110 páginasCIM - Certificação Italo Marsili - "Transcrisumo" Por Caroline Vaz de Melo (@carolinevazdemelo) - 11.2.2022jdsuldiasAinda não há avaliações
- Posmodernismo - Stanley J. GrenzDocumento250 páginasPosmodernismo - Stanley J. GrenzJoão Carlos 《 jc.mkt7 》Ainda não há avaliações
- Escritura Rasura e ArremessoDocumento166 páginasEscritura Rasura e ArremessoPatricia de Oliveira IuvaAinda não há avaliações
- Dissertação Camila Lorrane R Dos SantosDocumento83 páginasDissertação Camila Lorrane R Dos SantosFernanda D P AtribAinda não há avaliações
- Derrida PDFDocumento43 páginasDerrida PDFAnderson RangelAinda não há avaliações
- Livro Texto - Unidade IIIDocumento39 páginasLivro Texto - Unidade IIICharles TeixeiraAinda não há avaliações
- Derrida e o Jogo Das EstruturasDocumento15 páginasDerrida e o Jogo Das EstruturasLeandrocalbenteAinda não há avaliações
- 0 Anouilh 3 Tragédias Gregas TudoDocumento175 páginas0 Anouilh 3 Tragédias Gregas TudoPaulo T. Andretti MichelottoAinda não há avaliações
- Narciso - No - Labirinto - de - Espelhos - Perspectiva Pós-Modernas Na Ficção de Roberto DrummondDocumento267 páginasNarciso - No - Labirinto - de - Espelhos - Perspectiva Pós-Modernas Na Ficção de Roberto Drummondpipocp1110Ainda não há avaliações