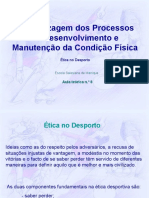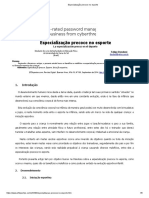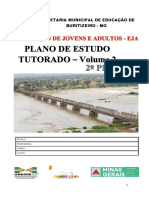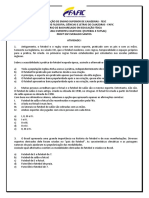Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Lei e A Anomia Nas Torcidas Organizadas de Futebol PDF
A Lei e A Anomia Nas Torcidas Organizadas de Futebol PDF
Enviado por
MalpapoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Lei e A Anomia Nas Torcidas Organizadas de Futebol PDF
A Lei e A Anomia Nas Torcidas Organizadas de Futebol PDF
Enviado por
MalpapoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 60, n. 3, 2008.
ARTIGO
A lei e a anomia nas torcidas organizadas de futebol
The law and anomie among soccer organized rooters
Henrique Figueiredo Carneiro ; Mrcia Batista dos Santos
Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Cear, Brasil
Endereo para correspondncia
RESUMO
A partir de uma anlise realizada com aportes da metapsicologia psicanaltica, este artigo apresenta uma
reflexo sobre a lei e o estado de anomia que tem caracterizado as relaes entre as torcidas
organizadas, ao transformar o espao pblico, na sua dimenso de lazer, em campo de tenso social.
Entende-se, assim, que o movimento das torcidas organizadas representa bem o carter presente nesse
cenrio social norteado por relaes que se constituem a partir de uma transgresso s normas e da
descrena no poder pblico constitudo. Nesse contexto, os atos praticados pelas torcidas organizadas
podem ser considerados como a presena iniludvel de um trao anmico e, ao mesmo tempo, indicador
de insero social totalitria do sujeito. A constatao dos atos violentos e a fragilidade dos laos sociais
apontam para a homogeneizao das singularidades. A conseqncia a negao da alteridade, o
esvaziamento das representaes subjetivas e o aumento da inconsistncia do representante da lei na
atualidade.
Palavras-chave: Psicanlise; Violncia; Lei; Anomia; Torcida organizada.
ABSTRACT
This article shows, from an analysis based on the psychoanalytic metapsychology, a reflection upon the
law and the state of anomie that has characterized the relationships in the organized rooters when these
turn the public space for leisure activities into a field of social tension. It is understood that the
movement of the fan clubs represents the character in this social scenario which is guided by
relationships that arise from the transgression of the rules and the disbelief in the constituted power. In
this context, the rooters acts can be considered as anomic and at the same time they can be an
indicator of a desire of totalitarianism that the subject has. The finding of violent acts and the frailty of
social ties indicates the homogenization of the singularities. The result is the denial of the otherness, the
emptying of the subjective representations and the inconsistency of the representatives of the law
nowadays.
Keywords: Psychoanalysis; Violence; Law; Anomie; Organized rooters.
Retirado do World Wide Web http://www.psicologia.ufrj.br/abp/
104
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 60, n. 3, 2008.
1 INTRODUO
O espetculo do futebol representa o povo brasileiro mundo afora, sendo considerado, portanto, uma
identidade nacional. O Brasil, conhecido como o pas do futebol, tornou-se um exportador de craques,
ditos profissionais da bola, para todas as partes do mundo. Alm de oferecer opo de recreao, de
diverso e de alegrias, por meio de seus jogadores, o futebol, entretanto, exibe tambm um espao de
violncia que se superpe ao evento esportivo.
Os eventos relacionados ao futebol sempre so motivos de destaque na mdia, j que semana aps
semana levam um grande nmero de torcedores aos estdios para acompanharem o espetculo da bola.
Nesse espao, surgiram as torcidas organizadas como ncleos, clulas associadas de torcedores,
estabelecidas por iniciativas independentes dos clubes. No Brasil, de acordo com Murad, (2007) e
Pimenta (1997) as torcidas tiveram maior espao nos meios miditicos na dcada de 1990.
Embora as torcidas organizadas tenham como proposta tornar o espetculo do futebol mais
representativo da mstica do clube, elas tm estado relacionadas tambm a episdios de violncia entre
torcedores. O que deveria ser um espao de lazer e descontrao vai, pouco a pouco, caracterizar-se
como um espao declarado de tenso social. Apesar da violncia manifesta nesses espaos, as torcidas
organizadas continuam a atrair torcedores que a elas se associam e que vo ao estdio na tentativa de
contribuir para o congraamento social que ali ocorre rotineiramente. Torna-se visvel uma massa
annima, mas que marca sua presena com faixas, msicas, coreografias e que, em determinados
momentos, toma a cena para si. Homens e mulheres, de idades variadas, mas predominantemente
adolescentes e jovens, aglomeram-se em nome de uma paixo pelo time.
Diante desse cenrio, algumas questes se mostram pertinentes a uma reflexo sobre as relaes e as
formas de laos sociais. O que nesse contexto possibilita o exerccio da diferena e da alteridade?
Haveria um ideal de indiferenciao veiculado por um sentimento uniforme a partir de uma sigla, uma
bandeira que representa o sujeito? H um referencial mtico, uma lei que estabelea parmetros para os
torcedores? Se h referncia a uma lei, que lei esta? H espao para se pensar a lei como uma baliza
de limites ou ela opera em um registro anmico? Este movimento indica diluio ou pulverizao do
sujeito dentro de um espao de realizao totalitria?
Essas so algumas questes levantadas como proposta de estudo neste ensaio, que visa a contribuir
com discusses sobre as polticas voltadas para a sade pblica, concernente ao tema da violncia, do
convvio do sujeito na comunidade e das graves conseqncias advindas de atos de barbrie
acompanhados de prejuzos de toda sorte: fsicos, morais, materiais, sociais, psquicos. So questes
importantes no s pelos prejuzos de ordem material e econmica, mas, sobretudo, pelo impacto que
causam na representao da sociedade, medida que envolvem atos de violncia com graves
conseqncias ameaando a integridade fsica e a vida em sociedade.
2 RECONSTITUIO HISTRICA RECENTE
Uma preocupao em torno dos eventos esportivos relacionados ao futebol vem se confirmar em todos
os pases em que este esporte de grande evidncia. O fenmeno do hooliganismo, surgido na
Inglaterra entre 1870 e 1880 (MURAD, 2007), representa bem a faceta violenta que tem invadido esse
espao de lazer e recreao, transformando-o, muitas vezes, em uma espcie de Coliseu moderno, onde
a crueldade exposta com requinte e o pblico, em geral, assiste ao espetculo passivamente, pelo
menos, aparentemente.
Leis tm sido criadas em diferentes pases para regulamentar no s o ofcio esportivo do futebol, mas
tambm a atuao de suas respectivas torcidas. Normas de conduta so estabelecidas e comits de tica
so constitudos para decidir acerca de ocorrncias que transgridem o estabelecido na lei, tendo em vista
possibilitar o acesso tranqilo aos estdios em geral.
Retirado do World Wide Web http://www.psicologia.ufrj.br/abp/
105
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 60, n. 3, 2008.
Em razo dessa realidade, em que a violncia tem alcanado cada vez mais o espao social, grupos se
organizam. Alguns exemplos que podemos citar so: Comit Permanente da Conveno da Europa
(1985), Comisso Nacional Contra a Violncia nos Espetculos Esportivos da Espanha (1990), Associao
Francesa para o Desporto Sem-Violncia e para o Fair Play (1992), Conselho Nacional contra a Violncia
no Desporto (Portugal, 1998). Seguindo essa tendncia, no Brasil, foi criado o Estatuto do Torcedor de
Futebol (Lei n. 10.671/03) que um instrumento legal fundamental para os trabalhos de preveno da
violncia relacionada aos espetculos esportivos (REIS, 2006, p. 98).
Embora o incidente conhecido como a tragdia de Heysel (1985), ocorrido em Bruxelas, com o saldo de
39 mortos e centenas de feridos, seja o que desencadeou o incio da organizao de comits para
legislar mais especificamente sobre os atos de violncia, na verdade, o primeiro grande golpe sofrido
pelo futebol foi em 5 de abril de 1902, em Ibrix Park, campo da equipe escocesa Glasgow Rangers, com
o saldo de 25 mortos e 493 feridos Morris (1981, apudMURAD, 2007, p. 64). Vrios outros incidentes
configuram a trajetria de violncia relacionada ao futebol e a suas torcidas, por todo o mundo, como se
observa no Quadro 1.
Quadro 1: Dados numricos sobre violncia em eventos futebolsticos no mundo
Ano
1964
Lima (Peru)
Local
1968
1971
1985
Buenos Aires (Argentina)
Glasgow (Esccia)
Bruxelas (Blgica)
1989
1996
2000
Estdio Hillsborough (Inglaterra)
Estdio Mateo Flores
Den Bosh (Holanda)
2001
2001
Gana (frica do Sul)
Johannesburg (frica do Sul)
2002
Buenos Aires (Argentina)
Jogo
Peru x Argentina
Resultado da violncia
320 mortos e mais de
1000 feridos
River Plate x Boca Juniors
71 mortos
Rangers x Celtic
66 mortos e 100 feridos
Liverpool x Juventus
39 mortos e mais de 400
feridos
Liverpool x Nottingham Forest 95 mortos
Guatemala x Costa Rica
91 mortos
Jogo da segunda diviso
1 morto e dezenas de
feridos
Hearts of Oak x Kumasi
102 mortos
Orlando Pirates x Kaiser
43 mortos
Chiefs
Racing x Independientes
2 mortos e 25 feridos
Fonte: os autores
Nota: dados extrados de murad (2007)
No Brasil, as torcidas apresentaram crescimento relevante no final do sculo passado. Contudo, a
histria das torcidas brasileiras tem origem ainda na primeira metade do sculo XX, tendo sido
organizada a primeira torcida em 1940: a Torcida Uniformizada do So Paulo (MURAD, 2007). A
segunda, conhecida como Charanga Rubro-Negra, do Flamengo, surge em 1942. Nessa poca tinham
como nico objetivo o incentivo ao time, e a torcida do lado oposto no era encarada como inimiga, mas
apenas como adversrios que deviam ser superados: no na fora, e sim na festa das bandeiras, na
animao das batucadas, segundo Areosa (1974 apud TOLEDO, 1996, p. 21).
Com o surgimento das chamadas torcidas organizadas, uma parte dos torcedores comea a organizar-se
em grupos que tm direo independente do clube que representam. Embora as torcidas organizadas
brasileiras apaream com uma proposta pela paz entre os torcedores, a violncia entre elas j era
presente desde a dcada de 1970, concomitante ao pice da ditadura militar. Portanto, o discurso em
torno da violncia est presente em torno de todo o elenco que envolve o fenmeno esportivo do
futebol, entre eles, a polcia militar e os dirigentes esportivos (PIMENTA, 1997).
Com o aumento da violncia entre as torcidas organizadas brasileiras, com inmeros relatos de brigas,
de depredao do patrimnio pblico, estas se tornam alvos de preocupao, principalmente quando
vrios jovens tm perdido a vida, conforme se v no Quadro 2.
Retirado do World Wide Web http://www.psicologia.ufrj.br/abp/
106
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 60, n. 3, 2008.
Quadro 2: Dados numricos sobre violncia em eventos futebolsticos no Brasil (1992-2008)
Regio
Sudeste
Sul
Nordeste
Norte
Estado
So Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Cear
Par
Resultado da violncia
21 mortos
5 mortos
3 mortos
4 mortos
1 morto
3 mortos
1 morto
Fonte: Os autores
Acesso em: 25 jul. 2008
Disponvel em: <http://ondeacorujadorme.blogspot.com/search/label/vop%C3%AAncia>
Em 1994, o promotor de Justia Fernando Capez instalou um inqurito, em So Paulo, e concluiu-se que
15% dos integrantes das torcidas tinham antecedentes criminais. Na poca, as torcidas organizadas
foram investigadas como organizaes criminosas (Disponvel em:
<www2.correioweb.com.br/cw/EDICAO_20030330/pri_esp_300303_179.htm>).
A violncia no esporte, por conseguinte, parece se inscrever em um quadro de maior complexidade, no
qual a violncia se relaciona fortemente com a criminalidade que, especificamente no Brasil, cresceu
expressivamente no perodo de 1980 a 2002: em 22 anos, samos de uma taxa de homicdios de 19
para 46 por 100 mil habitantes (BARREIRA; BATISTA, 2007, p. 19).
3 TORCIDAS DE FUTEBOL ENTRE A LEI E A ANOMIA
A lei, na teoria psicanaltica, tem importncia fundamental j que esta o que institui e conserva o
sujeito longe da condio de simples organismo e lhe permite estar inserido no circuito da cultura e,
assim sendo, no mundo da linguagem. Kehl (2002, p. 13) destaca que a incidncia da lei sobre os
sujeitos rouba-lhes uma parcela de gozo que tributada linguagem e vida em sociedade. Assim, a
partir da lei que se estabelece o circuito do desejo, impondo ao sujeito um adiamento e limite
satisfao. Para isso preciso que o Outro sustente o referencial simblico da lei, sustente uma posio
de limite, de diferenciao ante os apelos insistentes do sujeito.
Ora, a partir da renncia pulsional que a vida em sociedade se torna possvel, ou seja, quando as
pulses esto submetidas a uma lei, uma convivncia com o prximo se estabelece. Freud (1930-1980,
p. 116) afirma que a primeira exigncia da civilizao, portanto, a da justia, ou seja, a garantia de
que uma lei, uma vez criada, no ser violada em favor de um indivduo. A lei vem, ento, como forma
de exigir de todos um sacrifcio, que a renncia pulsional direta. Pode-se pensar, ento, que se algo
precisa ser barrado, contido, porque o humano sustenta a marca de destruio, de hostilidade que traz
satisfao ao eu quando dirigidas a algum objeto. O humano inclinado a essa disposio pulsional
agressiva original coloca-se como o maior ameaador do processo civilizatrio. Assim, para Freud (19131980, p. 150) podemos sempre com segurana pressupor que os crimes proibidos pela lei so crimes
que muitos homens tm uma propenso natural a cometer. Da, nem todo desejo ser passvel de
realizao, pois acarretaria em uma desagregao do lao social. Esse, portanto, se constitui no
constante mal-estar da civilizao que se manifesta no descompasso entre as exigncias pulsionais e os
ditames da cultura.
A psicanlise ajuda a compreender as relaes sociais que transitam entre tais exigncias, quando
persiste o fato de que ela descobriu tenses relacionais que parecem desempenhar em todas as
sociedades uma funo basal, como se o mal-estar da civilizao desnudasse a prpria articulao da
cultura com a natureza (LACAN, 1950-1998, p. 129). Desta forma, a lei tem a funo de interditar o
humano de agir por puro impulso, ou seja, tem a funo de implicar o sujeito com seu desejo, de lev-lo
a responsabilizar-se por seus atos, de dar sentido para suas escolhas a partir de um referencial
simblico que o lugar prprio da lei. a que a psicanlise, pelas instncias que distingue no indivduo
moderno, pode esclarecer as vacilaes da noo de responsabilidade em nossa poca e o advento
correlato de uma objetivao do crime para a qual ela pode colaborar (LACAN, 1950-1998, p. 129).
J em 1913, no texto Totem e Tabu, a cultura totmica foi pensada por Freud como referencial na
instituio da lei em uma comunidade em que os filhos se impuseram a observncia dos preceitos dos
tabus como mecanismo de manuteno da sociedade. Os tabus, considerados como uns dos mais
Retirado do World Wide Web http://www.psicologia.ufrj.br/abp/
107
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 60, n. 3, 2008.
antigos mecanismos de ordenao do social, serviam como forma de proteo da comunidade. Assim, a
lei contra o incesto os salva de sua prpria morte e, conseqentemente, restabelece sua relao com o
pai.
O sistema totmico foi, por assim dizer, um pacto com o pai, no qual este lhes prometia tudo o que uma
imaginao infantil pode esperar de um pai proteo, cuidado e indulgncia enquanto que, por seu
lado, comprometiam-se a respeitar-lhe a vida, isto , no repetir o ato que causara a destruio do pai.
(FREUD, 1913-1980, p. 173).
A lei, portanto, estabelecida como forma de ordenar o convvio social, mantendo um pacto entre os
membros do grupo, tendo o pai como seu representante.
A lei compreendida pela psicanlise no estabelecida por uma instituio, nem est escrita em cdigo
civil algum, mas uma construo simblica, representada pela funo paterna, remetendo o sujeito a
uma renncia ao gozo, ou seja, renncia quilo que no representado por um significante, mas que
quer o tempo todo satisfazer-se. J o termo anomia tem origem no grego a + nomos em que a significa
ausncia, falta, e nomos quer dizer lei, norma. Esse termo foi apresentado por Durkheim (Disponvel
em: <http://www.webartigos.com/articles/3730/1/anomia/pagina1.html>), no sculo XIX, quando
procurava explicar os padres do suicdio na Europa, atribuindo-o ao rebaixamento da coeso e do fraco
apego dos membros sua comunidade. O termo tambm foi aplicado no estudo dos desvios de
comportamento das pessoas em tempos de calamidade segundo Johnson (1997).
Merton (1967, apudMEIRELES, 2004) foi quem mais trabalhou com o tema da anomia, aplicando-o para
explicar a criminologia, os quadros de toxicomania, de alcoolismo, de delinqncia e at as desordens
mentais. O autor desenvolveu a idia de que estes desvios so efeitos de uma sociedade anmica e no
de uma violao da lei.
A noo de anomia tambm foi integrada ao conceito de alienao e interpretada como o estado de
desorganizao social em que os indivduos se sentem incapazes de integrarem-se em relaes sociais,
tm o sentimento de viver uma vida vazia, de no serem felizes (BLEGER, 1963 apud MEIRELES, 2004,
p. 66), e assim as relaes vo se coisificando. J segundo Dahrendorf (1987), o estado de
desordenamento social, caracterstico de uma sociedade anmica, tem costumeiramente antecedido os
regimes totalitrios em que o poder do governante exercido arbitrariamente. Nesse estado de anomia,
continua o autor, a violncia assume ndices elevados e a impunidade prevalece, alm de os valores
morais se encontrarem em declnio.
O estado anmico, assim, interfere na forma como o sujeito se posiciona na vida em comunidade,
acarretando uma ruptura entre os objetivos individuais culturalmente estabelecidos e os meios
socialmente instrudos [...], produzindo, como conseqncia, a decadncia e a desorganizao da
estrutura institucional dentro de um sistema social (MEIRELES, 2004, p. 70). Este estado de anomia
diretamente relacionado questo da lei tem caracterizado as sociedades ditas violentas. Agamben
(2004) considera que a questo da anomia ocorre entre a lei e o poder que esta mantm e no na
ausncia da mesma. Assinala que hoje h um divrcio entre ambos gerando, assim, um espao anmico,
que tem caracterizado a sociedade globalizada, produzindo uma lei despotencializada, sendo esta
regulada pelas leis de mercado. Para este mesmo autor, um estado anmico um
[...] estado de lei em que, de um lado, a norma est em vigor, mas no se aplica (no tem fora) e
em que, de outro lado, atos que no tm valor de lei adquirem sua fora. [...] O estado de exceo
um espao anmico onde o que est em jogo uma fora de lei sem lei (AGAMBEN, 2004, p. 61).
A lei, nesse contexto, apresenta-se enfraquecida, despotencializada, j no exercendo o poder de
interdito como em tempos passados. Um novo espao social parece estar sendo forjado, onde o que vale
a lei de cada um por si, e que acaba criando comandos paralelos. Ento, v-se uma lei formal
instituda e outra que acaba sendo a que operacionaliza as relaes, construindo, dessa forma, um
espao anmico, em que o sujeito se v liberado para viver seu gozo de forma ilimitada.
Diante desse descompasso entre a lei e a fora da lei exercida na sociedade, os laos sociais acabam
fragilizados e a passagem ao ato se faz comum nas cenas sociais em que o sujeito age por puro
impulso. A passagem ao ato este momento em que o sujeito perde seu referencial simblico. O Outro
aparece apagado, os significantes desaparecem e o sujeito emudece, caindo em um profundo vazio. O
sujeito aparece apagado ao mximo pela barra. O momento da passagem ao ato o do
embaraamento maior do sujeito [...] ele se precipita e despenca fora da cena (LACAN, 1963-2005, p.
129).
Tm-se aqui relaes pautadas pelo excesso de gozo nas quais o outro (prximo) pode ser tomado como
um mero objeto a ser descartado. Este encontro com o outro acaba revelando-se como um encontro
Retirado do World Wide Web http://www.psicologia.ufrj.br/abp/
108
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 60, n. 3, 2008.
trgico, sendo, portanto, um destino inexorvel para o eu. Nessas circunstncias, segundo Lacan (19601997, p. 229), amar o prximo torna-se um grande desafio, pois este outro porta um gozo nocivo, seu
gozo maligno, sendo considerado um ser malvado (LACAN, 1960-1997, p. 227). Assim, algo de um
assujeitamento do eu aos imperativos do supereu precisa comparecer para que o enlaamento social
esteja garantido.
Esta maldade percebida no outro tambm habita o sujeito que o leva a trazer esta agressividade para si
tambm. (LACAN, 1960-1997). O mesmo norteia a relao consigo e com o prximo, a partir de um
frgil capeamento simblico podendo, em alguns casos, chegar s ltimas conseqncias de seus atos
com a aniquilao do prximo e/ou de si prprio. V-se, portanto, um excesso pulsional em que a lei se
apresenta fragmentada e o qual tem precipitado o sujeito em uma queda que se manifesta na irrupo
de atos violentos, quando este se apresenta emudecido, em virtude de seus parcos referenciais
simblicos.
Freud (1923-1980) constituiu o supereu instncia apresentada na segunda teoria do aparelho psquico
como representante da lei paterna e que tem a funo de estabelecer limites ao sujeito, interditando-o
na realizao de seus desejos. Age assim como amparo da vida psquica, quando se ocupa da misso de
coibir o eu de realizar tudo o que se quer. Contudo, algo sempre lhe escapa, podendo desembocar em
atos de violncia do sujeito, dando passagem ao ato (LACAN, 1963-2005). Quando esse desfecho se d,
com significativo prejuzo que o sujeito vive esse momento em que estabelece uma relao de
banalizao do prximo prximo este no qual se tenta realizar sua cruel agressividade (FREUD,
1930-1980), pois esse prximo habitado profundamente pela maldade. Amar esse prximo que lhe
estranho se torna tarefa impossvel de ser concretizada, sendo pertinente a proposta freudiana: Ama a
teu prximo como este te ama (FREUD, 1930-1980, p. 132). Nesse sentido, a lei no capaz de deitar
a mo sobre as manifestaes mais cautelosas e refinadas da agressividade humana (FREUD, 19301980, p. 134), ficando comprometido o convvio pacfico na sociedade. O estado de anomia que se vive
na atualidade tem, assim, potencializado atos em que o sujeito no teme mais a perda do amor do
Outro, como tambm no teme que alguma punio lhe ocorra, haja vista que no h muita diferena
entre fazer alguma coisa boa ou m, pois o perigo s se instaura, se e quando a autoridade descobri-lo,
e, em ambos, a autoridade se comporta da mesma maneira (FREUD, 1930-1980, p. 148).
Assim, em tempos que a lei rejeitada e que os atos impossveis no se apresentam to
intransponveis, a violncia comparece como uma possvel sada para o sujeito. Tempos em que os
discursos so sustentados pela lgica do consumo em que o Discurso do Mestre j no tem a mesma
vigncia social, pois tal discurso demanda ao sujeito uma renncia ao gozo e isso no aceito. (LACAN,
1970-1992).
Um quadro de anomia parece tomar maior espao, e nele uma negao ao mandato paterno com relao
instaurao da lei para o sujeito (LACAN, 1958-1999) se faz presente. Com esse ato de recusa, negase a lei que o pai representa. H uma desautorizao desse agente de castrao que caracteriza a
funo paterna. esse estranho e intruso que se quer eliminar. Nega-se a diferena, como tambm se
nega o limite. Carneiro (2007, p. 79) diz que:
Deste modo, o discurso vigente na atualidade, o da tecnocincia, que d o lugar de norte para o
sujeito. [...] O Outro da cincia, da religio, da filosofia, ou dos campos de conhecimento que sustentam
respostas fundamentais sobre as origens do homem, foi narcotizado por um Amo sem rosto. Rosto que
se apresenta, sim, mas como um simples simulacro ou, na melhor das hipteses, como um semblante
de Amo.
Assim, quando nos reportamos s torcidas organizadas, podemos perguntar: qual o totem que
sustenta tanta violncia? Os atos predadores imprimidos nesse movimento levam em conta alguma
norma? Enfim, qual a posio que os membros da torcida sustentam diante da lei?
4 ANOMIA E MOVIMENTO DAS TORCIDAS DE FUTEBOL
Um estado de anomia parece adequar-se ao contexto das torcidas organizadas, quando essas comeam
a desenvolver comandos paralelos, que tm conduzido suas decises diante das provocaes feitas pelas
torcidas adversrias. A violncia nesse contexto aparece como sada do sujeito ante um espao social
em que todos mandam e nenhuma ordem estabelecida como forma de limitar os diversos poderes
paralelos que vo se constituindo. A violncia, no Brasil, considerada epidemia, segundo o ministro da
Sade Jos Gomes Temporo (Ministrio da Sade, 2008), acaba sendo um produto daquilo que
assistimos como o empobrecimento dos laos sociais.
Retirado do World Wide Web http://www.psicologia.ufrj.br/abp/
109
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 60, n. 3, 2008.
Na poca do surgimento das torcidas, os lderes mantinham controle sobre seus liderados de forma
militarizada. Contudo, j na dcada de 1970, essa realidade vai modificando-se a partir do incentivo que
o Estado passa a dar ao futebol, principalmente por meio dos apelos feitos pela mdia, que afetam
diretamente as torcidas:
As torcidas organizadas de futebol tambm fizeram parte deste boom pelo qual passou o futebol
brasileiro na dcada de 70 demonstrando (...) sinais de autonomizao crescente do futebol
profissional, cada vez mais bem estabelecido como um mundo parte, com regras prprias e tropas
especializadas [as Torcidas Organizadas] (...) (LOPES; MARESCA, 1992, apudTOLEDO, 1996, p. 26).
A partir dessa compreenso, pode-se pensar a violncia como um sintoma inerente ao processo social
que tem sofrido um esvaziamento de ideais, em que no se sabe qual a lei da hora e o que ela dita.
Da abre-se espao para que poderes paralelos assumam o comando, gerando uma indistino entre as
foras. Pode-se ver claramente essa briga pelo poder entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio
brasileiros, quando um poder desautoriza as decises tomadas pelo outro.
Ento, em um espao social em que as relaes so efmeras, baseadas em interesses particulares, em
que os ideais coletivos no so levados em conta, em que os representantes da lei so enxovalhados
pelos meios de comunicao em virtude de seus atos, em uma terra em que todos mandam e ningum
obedece, favorece a manuteno de atos, dentro das torcidas, que comprometem o ordenamento social,
mas que ao mesmo tempo mantm este modus operandi atual, em que o torcedor faz parte da
performance. Assim, a relao que a torcida mantm com seus dolos governada pelo princpio de
rpida validade de seus objetos (jogadores, treinadores), que so facilmente descartados por outros
jogadores, quando os primeiros no apresentam os resultados esperados prontamente. Como afirma
Birman (2001, p. 25), o outro lhe serve apenas como instrumento para o incremento da auto-imagem,
podendo ser eliminado como um dejeto quando no mais servir para essa funo abjeta. Assim, tem-se
uma posio subjetiva bastante vulnervel, em que o sujeito desenvolve relaes que, segundo Debord
(1997, p. 14), mediada pelas imagens. H, portanto, um apagamento do sujeito e uma nfase na
imagem na qual, para esse autor,
[...] a fase atual, em que a vida social est totalmente tomada pelos resultados acumulados da
economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve
extrair seu prestgio imediato e sua funo ltima. Ao mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se
social, diretamente dependente da fora social, moldada por ela. S lhe permitido aparecer naquilo
que no . (DEBORD, 1997, p. 18).
A partir dessa realidade, pode-se pensar o envolvimento de jovens com a torcida organizada como um
meio que os mesmos encontraram de aparecer na cena.
Nesse contexto, a diferena considerada insuportvel, pois pe em risco a prpria existncia do sujeito
e, quando aparece, a diferena e alteridade so imediatamente transformadas em signos hierrquicos
infalveis de superioridade e inferioridade (BIRMAN, 2001, p. 293), sendo, por isso mesmo, rechaada,
pois o outro sempre encarado como uma ameaa mortal para a existncia autocentrada do sujeito
(BIRMAN, 2001, p. 297). Ento, o desejo da massa parece se impor. Encontra-se apenas um
aglomerado de pessoas diante do qual o sujeito sucumbe s presses. O que resta ao sujeito nessa teia
se entregar a um gozo solitrio, em que a violncia ganha espao, porque o sujeito no pode
encontrar uma via segura que possa suportar o plo alteritrio de seu psiquismo (BIRMAN, 2001, p.
298). Assim, a convivncia pacfica entre torcedores das torcidas organizadas se torna uma misso
impossvel, pois incide sobre a base que sustenta os mesmos.
Esta sociedade, despojada de valores, organizada pelas imagens, norteada pela aparncia, desprovida
de mitos e que tem apresentado discursos inconsistentes, tem solicitado ao sujeito obedecer aos
imperativos de um Amo sem rosto (CARNEIRO, 2007, p. 82) com o qual o sujeito no se v
identificado. Tal conjuntura aponta para um enfraquecimento do Outro, que impede o sujeito de uma
construo mais unificada de si. Resta, portanto, ao sujeito, uma relao com o Outro do gozo e no do
desejo, em que o sujeito clama por uma narcisidade (CARNEIRO, 2007).
Nesse sentido, a lei que funciona a do tudo pode, em que a fora de interditar o sujeito se faz
anulada. A impunidade continua a imperar e cada um decide por si o que vale e o que de direito. O
torcedor age movido pelo impulso de que leis externas e internas parecem no ter o poder de conter
seus atos. Pode-se afirmar, ento, que h um empobrecimento nos recursos simblicos do sujeito que se
manifestam na fragilizao dos laos sociais, pois os discursos esto esvaziados, fruto das relaes
predominantemente anmicas. H vrios rostos, mas nenhum em que o sujeito possa reconhecer-se
amado. Nesse contexto, os quadros de anorexia, bulimia, as adies de maneira geral, e os atos
Retirado do World Wide Web http://www.psicologia.ufrj.br/abp/
110
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 60, n. 3, 2008.
violentos apresentam-se como uma possvel sada sintomtica diante do sofrimento psquico vivido pelo
sujeito.
5 CONSIDERAES FINAIS
O atual ordenamento social traz desafios ticos ao sujeito quando este, em nome de aplacar sua
angstia, precipita-se em atos que tm comprometido o convvio social. Este sujeito marcado por uma
relao de indiferena ao prximo, aptico, esvaziado, regulado pelo imediatismo, pelas relaes
virtuais, tenta apreender o que lhe falta. Mas, como isso no lhe possvel, pois acabar com a falta seria
decretar sua prpria morte, este tem tentado aparecer, com os recursos que lhe sobram, no cenrio
social com um reclamo por amor. A relao que os torcedores adotam entre si, com as torcidas
adversrias, e tambm, a relao que estes adotam diante de seus jogadores e tcnicos, agredindo-os e
descartando-os, quando os mesmos no apresentam os resultados de vitrias esperados, resultado do
estado em que impera a lei do mais forte.
As torcidas, portanto, parecem caminhar no compasso da sociedade, cujos mitos no se apresentam
mais, cujos poderes se encontram esvaziados, e a contraveno vira algo comum, naturalizando um
quadro social anmico, no qual o individualismo se sobressai, e o que predomina uma posio
alienante do eu. O sujeito ento aparece diludo no processo de indiferenciao da massa, sustentado
por uma idealizao imaginria.
Os dados aqui apresentados sugerem, portanto, que as torcidas organizadas parecem adotar uma lei
prpria, paralela, em que vigora o olho por olho e o dente por dente. Nesse contexto, em que no se
quer mais submeter-se s leis institudas, o sujeito, na sua condio de ser desejante, tem mantido uma
atitude de no-reconhecimento da lei do pai como a que regula seu prprio desejo. No h renncia. O
imperativo de consuma, prprio dos tempos da alienao entorpecida, agrava-se e torna-se consomete, como pudemos ver nos nmeros de mortos e feridos apresentados em jogos em boa parte do
mundo.
Enfim, como o Outro tem se apresentado abertamente de forma inconsistente, a formao dos laos tem
ficado comprometida, pois ao sujeito parece ser permitido tudo. O resultado da relao primitiva com o
Outro, representante da lei, da qual o ser humano depende para que surja um sujeito, acaba se dando
de forma fragmentada, com o desmoronamento dos laos sociais em que o exerccio da alteridade
negado e mesmo recusado, e a conseqente irrupo da violncia no centro da cena social.
REFERNCIAS
AGAMBEN, G. Estado de exceo. Traduo I. Poleti. So Paulo: Boitempo, 2004. (Coleo Estado de
Stio).
BARREIRA, C.; BATISTA, E. Violncia e conflito social. Segurana, Violncia e Direitos,v. 1, p. 19,
2007.
BIRMAN, J. Mal-estar na atualidade: a psicanlise e as novas formas de subjetivao.3. ed. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2001.
CARNEIRO, H. F. Que Narciso esse?: mal-estar e resto. Fortaleza: Autor, 2007. DVD-book.
DAHRENDORF, R. A lei e a ordem.Braslia: Instituto Tancredo Neves, 1987.
DEBORD, G. A sociedade do espetculo: comentrios sobre a sociedade do espetculo. Traduo E.
Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
FREUD, S. Totem e tabu. Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud. Edio Standard Brasileira,
v. 13. Rio de Janeiro: Imago, 1913-1980.
Retirado do World Wide Web http://www.psicologia.ufrj.br/abp/
111
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 60, n. 3, 2008.
______. O eu e o id. Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud. Edio Standard Brasileira, v. 18.
Rio de Janeiro: Imago, 1923-1980.
______. Mal-estar na civilizao. Obras psicolgicas completas de Sigmund Freud. Edio Standard
Brasileira, v. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1930-1980.
JOHNSON, A. G. Dicionrio de sociologia: guia prtico da linguagem sociolgica. Traduo R.
Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
KEHL, M. R. Sobre tica e psicanlise. So Paulo: Companhia das Letras, 2002.
LACAN, J. Escritos. Introduo terica s funes da psicanlise em criminologia. Traduo V. Ribeiro.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1950-1998.
______. O Seminrio, livro 5: as formaes do inconsciente. Traduo V. Ribeiro. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1958-1999.
______. O Seminrio, livro 7: a tica em psicanlise. Traduo A. Quinet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1960-1997.
______. O Seminrio, livro 10: passagem ao ato e acting out. Traduo V. Ribeiro. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1963-2005.
______. O Seminrio, livro 17: o avesso da psicanlise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1970-1992.
MEIRELES, M. M. Anomia: ruptura civilizatria e sofrimento psquico.So Paulo: Casa do Psiclogo,
2004. (Coleo Clnica Psicanaltica).
MINISTRIO DA SADE. Governo Federal lana ao contra epidemia de violncia. Disponvel em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=49417>.
Acesso em 25 jul. 2008.
MURAD, M. A violncia e o futebol: dos estudos clssicos aos dias de hoje. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
PIMENTA, C. A. M. Torcidas organizadas e futebol: violncia e auto-afirmao aspectos da
construo das novas relaes sociais. Taubat, SP: Vogal, 1997.
REIS, H. H. B. Futebol e violncia. Campinas, SP: Armazm do Ip, 2006.
TOLEDO, L. H. Torcidas organizadas de futebol. Campinas, SP: ANPOCS, 1996. (Coleo Educao
Fsica e Esportes).
Endereo para correspondncia
Henrique Figueiredo Carneiro
E-mail:henrique@unifor.br
Mrcia Batista dos Santos
E-mail:mbatistasantos@yahoo.com.br
Recebido em: 16 de agosto de 2008
Aprovado em: 1 de dezembro de 2008
Revisado em: 08 de dezembro de 2008
Retirado do World Wide Web http://www.psicologia.ufrj.br/abp/
112
Você também pode gostar
- Projeto de Melhoramentos Pereira PassosDocumento9 páginasProjeto de Melhoramentos Pereira PassosVítor Alberto CorreiaAinda não há avaliações
- Historiada IluminacaoDocumento60 páginasHistoriada IluminacaoVítor Alberto CorreiaAinda não há avaliações
- Llull Des Con Solo Canto ConcilioDocumento87 páginasLlull Des Con Solo Canto ConcilioVítor Alberto CorreiaAinda não há avaliações
- Llull Des Con Solo Canto ConcilioDocumento87 páginasLlull Des Con Solo Canto ConcilioVítor Alberto CorreiaAinda não há avaliações
- Esporte: Combatendo Preconceitos e Estereótipos: 2º Bimestre - Edu. FísicaDocumento4 páginasEsporte: Combatendo Preconceitos e Estereótipos: 2º Bimestre - Edu. FísicalarissinhafiiihAinda não há avaliações
- Circ1 2023 DPC SegNavDocumento3 páginasCirc1 2023 DPC SegNavEvandro SantosAinda não há avaliações
- Influências Culturais Na Moda Esportiva Uma Perspectiva Global Por João Carlos Duarte FerreiraDocumento7 páginasInfluências Culturais Na Moda Esportiva Uma Perspectiva Global Por João Carlos Duarte FerreiraJoão Carlos Duarte FerreiraAinda não há avaliações
- Relatorio de Estagio ActualizadoDocumento174 páginasRelatorio de Estagio ActualizadoJosé Henrique100% (3)
- Psicologia Do Esporte e Da Atividade FísicaDocumento18 páginasPsicologia Do Esporte e Da Atividade FísicaGuilherme Augusto da SilvaAinda não há avaliações
- Aula Teórica N 8 10 Ano - Ètica No DesportoDocumento9 páginasAula Teórica N 8 10 Ano - Ètica No DesportoVera MoreiraAinda não há avaliações
- Educação Física 6º Ano Revisão de ConteudosDocumento10 páginasEducação Física 6º Ano Revisão de Conteudosisadora DionizioAinda não há avaliações
- Trabalho de Futsal - Carlos F. SossotoDocumento14 páginasTrabalho de Futsal - Carlos F. SossotoRosario fediasseAinda não há avaliações
- Plano Anual Anos Iniciais e Finais 4º e 5º AnoDocumento3 páginasPlano Anual Anos Iniciais e Finais 4º e 5º Anogleidson do santosAinda não há avaliações
- Mulheres No Jornalismo Esportivo - TCC Ufrj 2016Documento107 páginasMulheres No Jornalismo Esportivo - TCC Ufrj 2016Monique De Andrade Dantas100% (1)
- Projeto Integrador IIDocumento14 páginasProjeto Integrador IIRodrigo AzevedoAinda não há avaliações
- Pedagogia Do DesportoDocumento2 páginasPedagogia Do DesportoRodrigo Rodrigues Vieira0% (1)
- Boletim 159 PDFDocumento4 páginasBoletim 159 PDFJorge Marques LoureiroAinda não há avaliações
- 7º Ano - Atividade 8Documento2 páginas7º Ano - Atividade 8Dani de SáAinda não há avaliações
- 01 - Iniciação Esportiva - Divisão Didática Do Esporte e Especialização PrecoceDocumento6 páginas01 - Iniciação Esportiva - Divisão Didática Do Esporte e Especialização Precocemoises costa da silvaAinda não há avaliações
- (DISSERTAÇÃO) Relatório - A Figura Do Árbitro de Futebol No Brasil PDFDocumento113 páginas(DISSERTAÇÃO) Relatório - A Figura Do Árbitro de Futebol No Brasil PDFRaniery SoaresAinda não há avaliações
- Testes Avaliacao Espanhol 8º AnoDocumento112 páginasTestes Avaliacao Espanhol 8º AnoBruno Correia100% (27)
- FBD - Exercicio EC2Documento8 páginasFBD - Exercicio EC2Jean LopesAinda não há avaliações
- Trabalho SAÚDE E ESPORTEDocumento11 páginasTrabalho SAÚDE E ESPORTEMarcos Alfena PozzatoAinda não há avaliações
- Livro Saude para Voce Mauro JasminDocumento52 páginasLivro Saude para Voce Mauro JasminAflf OhlifAinda não há avaliações
- Como Preparar Fisicamente - Mauro SandriDocumento53 páginasComo Preparar Fisicamente - Mauro SandriAmilson NobreAinda não há avaliações
- Turismo Esportivo e Seus Impactos EconomicosDocumento16 páginasTurismo Esportivo e Seus Impactos EconomicosMichelle OrsiAinda não há avaliações
- Esportes Radicais UrbanosDocumento3 páginasEsportes Radicais UrbanosLilian Mello100% (1)
- 01 Master 03 2011Documento36 páginas01 Master 03 2011juiz1979Ainda não há avaliações
- Projeto Inter ClasseDocumento8 páginasProjeto Inter ClasseValdirene Inacio da Silva100% (1)
- 2º Período PET Volume 2Documento73 páginas2º Período PET Volume 2Tanys AlbanoAinda não há avaliações
- Prova Seduc - Ce 2013Documento12 páginasProva Seduc - Ce 2013Pietro AlvesAinda não há avaliações
- Atividade I - Esportes Coletivos I (Futebol e Futsal)Documento1 páginaAtividade I - Esportes Coletivos I (Futebol e Futsal)Everaldo SantosAinda não há avaliações
- Etapas Formacao Jogador FutsalDocumento76 páginasEtapas Formacao Jogador FutsalDavid MagalhãesAinda não há avaliações