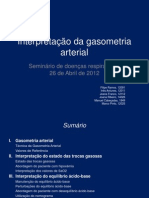Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FDM CEC Cap 19 2
FDM CEC Cap 19 2
Enviado por
AdrianaHeloisaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FDM CEC Cap 19 2
FDM CEC Cap 19 2
Enviado por
AdrianaHeloisaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Hemodinmica da Perfuso
A principal funo da circulao extracorprea manter o metabolismo tissular ou, em outras palavras, assegurar a oxigenao dos tecidos e eliminar os seus produtos finais. Um circuito artificial composto
por bombas propulsoras, oxigenadores e
outros elementos adaptado em srie ao
aparelho circulatrio, para a realizao
daquelas funes. A energia para a circulao do sangue provm de uma bomba de
fluxo linear, no pulstil, e as trocas gasosas do oxignio e dixido de carbono, so
realizadas nos oxigenadores. A eliminao
dos restos volteis do metabolismo feita
nos oxigenadores, enquanto a gua e outras substncias, so eliminadas pelo organismo do indivduo.
A distribuio dos fluxos de sangue no
organismo controlada, conforme as necessidades de cada rgo, por um complexo sistema de auto-regulao que envolve
numerosos mecanismos dinmicos, nervosos e hormonais. A bomba propulsora, alm
de emitir fluxo no pulstil, no capaz de
responder aos diversos estmulos do sistema de auto-regulao, o que torna o fluxo
da perfuso relativamente fixo, em funo
das necessidades gerais do organismo e da
distribuio especfica de cada rgo.
A circulao do sangue por tubos
310
19
inelsticos, antes de alcanar o aparelho
circulatrio, altera as caractersticas da
presso arterial e da presso de perfuso
dos tecidos.
O contato do sangue com as superfcies no endoteliais dos circuitos, as caractersticas fsicas do circuito extracorpreo
e a natureza do fluxo sanguneo suscitam
um conjunto de estmulos reguladores do
organismo, aos quais a bomba mecnica
no consegue responder; os mediadores
hormonais daqueles estmulos acumulam
progressivamente, e as alteraes da relao fluxo-perfuso se perpetuam [1].
A circulao extracorprea, em linhas
gerais, consiste na propulso de um fluxo
linear, sem onda de pulso, de aproximadamente 2,2 a 2,4 l/min/m2, de sangue diludo por solues cristalides, de baixa viscosidade, para um organismo ligeiramente
hipotrmico [2]. As relaes entre o fluxo
de sangue e o organismo, diferem acentuadamente daquelas existentes no organismo intacto, e determinam uma fisiologia
particular para a circulao extracorprea, com caractersticas hemodinmicas prprias e bem definidas. A deteriorao da
funo ou a funo inadequada de alguns
rgos, correspondem fisiopatologia da
perfuso tissular, cujo conhecimento im-
CAPTULO 19 HEMODINMICA DA PERFUSO
portante para a regulao mecnica da circulao extracorprea [3]. As repostas do
organismo aos estmulos da circulao extracorprea, so objeto de estudo do captulo 21. No presente captulo, estudamos
os principais aspectos da fisiologia e o comportamento hemodinmico do organismo,
durante a circulao extracorprea.
BOMBA ARTERIAL
A energia para a circulao do sangue
fornecida pela bomba arterial, geralmente do tipo de deslocamento positivo ou do
tipo centrfuga, com orifcios de aspirao
e descarga do sangue, que emite um fluxo
linear, no pulstil, cuja velocidade e foras so maiores que as do bombeamento
ventricular. H produo de turbilhonamento, em diversos pontos do circuito.
As caractersticas do fluxo tem relao
com a bomba propulsora e com a fase arterial e arteriolar da circulao do paciente
[4]
. A bomba de roletes o nico fluxmetro
do circuito e sua regulao independe das
necessidades do organismo; obedece ao seu
operador. A melhor regulao dos fluxos
da bomba arterial indicada pelo estado
da saturao do sangue venoso, que representa o estado mdio da perfuso tissular.
Na tentativa de tornar o fluxo mais semelhante ao fluxo da bomba reciprocante
cardaca, diversos pesquisadores propuseram modificaes nas bombas convencionais, para oferecer fluxo pulstil. Em termos
de hemodinmica e comportamento metablico, os efeitos indesejveis do fluxo linear so reduzidos ou eliminados pela perfuso com fluxo pulstil. Existe um slido
embasamento terico e experimental, de-
monstrando as vantagens do fluxo pulstil,
na circulao extracorprea. As principais
razes, para a melhor perfuso tissular com
fluxo pulstil, so a energia da onda de pulso, a presso de fechamento dos capilares
e os mecanismos de controle dos receptores sensveis onda de pulso.
A energia da onda de pulso tem importncia na sua transmisso at os capilares
dos tecidos, favorecendo a perfuso tissular, enquanto a fase diastlica da presso
de pulso, mantm os capilares abertos por
um tempo mais prolongado, favorecendo
as trocas lquidas com o lquido intersticial. Diversos receptores do sistema arterial
dependem das variaes da presso e da
onda de pulso, para emitirem estmulos reguladores do tnus vascular e da liberao
de hormnios [5]. Esses fatores so, at certo ponto, responsveis pela elevao da
resistncia arterial perifrica que ocorre na
perfuso com fluxo linear.
Diversos estudos experimentais e clnicos tem demonstrado que a perfuso cerebral, renal e de diversos outros rgos
superior com o fluxo pulstil que, tambm
produz menos acidose metablica e mantm a resistncia vascular normal [6]. Outros estudos e a experincia prtica demonstram que o orifcio da cnula arterial
reduz, significativamente, a transmisso da
onda de pulso ao sistema circulatrio do
paciente, alm de contribuir para acentuar o trauma celular e a hemlise [7].
A introduo do fluxo pulstil e sua
necessria transmisso atravs de oxigenadores de membranas e filtros arteriais gera
complexidades que, at o momento, parecem no justificadas, ao menos para a du311
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
rao habitual da perfuso. Os maiores benefcios do fluxo pulstil so demonstrados
quando a pulsatilidade acrescentada na
aorta, pelo balo intra-artico e, o mtodo, difcilmente ser largamente aceito e
empregado. A utilizao de rotina, do fluxo pulstil em substituio ao fluxo linear,
tem sido objeto de infindveis discusses;
o tema continua em aberto [8-11]. Para a durao habitual da circulao extracorprea, as diferenas so do ponto de vista hemodinmico e metablico; os resultados
clnicos, contudo, so semelhantes [3].
PRESSO ARTERIAL
A presso arterial, durante a circulao extracorprea, reflete a relao
entre o fluxo linear de perfuso e a resistncia arterial perifrica. Esta ltima depende do tnus arteriolar e da viscosidade de sangue [8].
O incio da perfuso se acompanha
de presso arterial baixa, em consequncia da ausncia de onda de pulso e da reduo do tnus arteriolar, por diluio
das catecolaminas do sangue pelo perfusato [4]. A mistura com os cristaloides do
perfusato, reduz a viscosidade do sangue.
Quando a perfuso hipotrmica, o incio do resfriamento desperta reflexos
vasomotores que aumentam a resitncia
arteriolar e, em consequncia, a presso
arterial mdia. A perfuso normotrmica, depende da liberao subsequente
das catecolaminas, para elevar a presso
arterial [8]. A qualidade da perfuso tissular, em ambas as circunstncias, depende do fluxo arterial e, as alteraes do
tnus arteriolar, modificam a distribui312
o do fluxo entre os diferentes rgos,
privilegiando o crebro em detrimento
do fluxo renal. A administrao de vasopressores, no raro, nessa fase da circulao extracorprea, contribui para o
desarranjo hemodinmico, acentuando
as irregularidades da distribuio especfica dos fluxos para as diversas regies
do organismo.
Quando o fluxo da perfuso se mantm
constante durante o procedimento, a presso arterial mdia oscila, na dependncia
das alteraes do tnus arteriolar, at prximo ao final da perfuso, quando o hematcrito est mais elevado, por eliminao
de lquidos atravs a diurese ou pela redistribuio com o espao intersticial, aumentando a viscosidade do sangue [5].
Via de regra a presso arterial baixa no
incio da perfuso e se eleva nos primeiros 5
a 10 minutos, atingindo um ponto de estabilidade. Volta a se elevar, de acordo com a liberao progressiva das catecolaminas e outros agentes vasopressores. O comportamento
da presso arterial mdia, est ilustrado na
figura 19.1. A influncia daquela dinmica
arterial e arteriolar no metabolismo, se reflete na presena e na intensidade da acidose
metablica [12].
Aps os primeiros trinta a quarenta
minutos da perfuso, o volume total de
perfusato, com frequncia diminui. Admite-se que o sequestro de sangue, em
determinados compartimentos vasculares, principalmente as vsceras abdominais parcialmente responsvel pelo fenmeno. Breckenridge [13], dentre outros,
demonstrou que o escape para o interstcio, pode remover at 20% do lquido
CAPTULO 19 HEMODINMICA DA PERFUSO
circulante, em funo da dinmica especial da perfuso [14,15,16]. Quando a temperatura permanece acima de 25 a 26o
C, o crebro, atravs dos mecanismos de
auto-regulao, preserva o fluxo sanguneo para as suas diversas regies, exceto
quando a PCO2 est abaixo de 28 mmHg.
Em certos pacientes, como resultado
de uma resposta exacerbada dos sistemas
de defesa do organismo, ocorre uma liberao macia de substncias com efeito
vasodilatador pronunciado, cuja ao
paraliza a vasculatura arteriolar. Esse fenmeno conhecido por vasoplegia e constitui um quadro de difcil resoluo capaz de
complicar a sada de perfuso. A sndrome
vasoplgica considerada uma das formas
da resposta inflamatria sistmica do organismo; melhor estudada no capitulo 21.
PERFUSO DOS RGOS
Quando o fluxo arterial linear, a viscosidade do sangue baixa e a presso arterial no tem onda de pulso, a perfuso
dos rgos se altera substancialmente, em
relao hemodinmica normal.
Durante a circulao extracorprea a
perfuso dos rgos vitais depende do funcionamento de mecanismos de auto-regulao, alterados pelo excesso de estmulos
dos receptores atriais, articos e carotdeos.
Esses receptores so especializados na
deteco da hipovolemia e da hipotenso
arterial e determinam ao organismo um
conjunto de respostas semelhantes s respostas hemodinmicas e metablicas do
estado de choque hipovolmico. Os receptores atriais comandam uma srie de reaes que resultam na liberao do hormnio antidiurtico e na reteno renal de
sdio; os receptores articos e carotdeos
comandam reaes que liberam catecolaminas, aumentam o tnus arteriolar e reduzem o fluxo sanguneo renal, muscular
e das vsceras abdominais [5].
A perfuso cerebral mantida s custas da preservao dos mecanismos especiais de auto-regulao que dependem
da presso de perfuso, temperatura, do
pH e, principalmente, da PCO2. O fluxo
sanguneo cerebral mantido inalterado
com presses de perfuso acima de 40
mmHg, em adultos [6]. A distribuio regional, no interior do tecido cerebral no
Fig. 19.1 Representa o comportamento da presso arterial. A, representa a fase pr-bypass; B, representa o
perodo de bypass parcial; C, representa o bypass total; o perodo entre C e D, corresponde hipotenso arterial
do incio da perfuso. A presso arterial estabiliza at iniciar a elevao pela ao das catecolaminas e outros
vasopressores naturais. E, indica a elevao mais acentuada da presso arterial, aps 30 ou 40 minutos de perfuso e F, representa a sada de perfuso.
313
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
bem conhecida, durante a circulao
extracorprea.
PERFUSO CEREBRAL
A injria cerebral pode ter origem nas
microembolias e nas alteraes metablicas, alm dos distrbios da perfuso, o que
dificulta a sua avaliao, em relao s alteraes da perfuso do tecido cerebral.
Existe, entretanto, uma relao direta entre a durao da perfuso e o aparecimento de leses neurolgicas, (Tabela 19.1)
apontada por diversos autores [6,17].
Tabela 19.1 Relaciona o tempo de perfuso com a incidncia de leses neurolgicas. Aps 2 horas de perfuso,
mais de 25% dos pacientes apresentam sintomas neurolgicos, de diversos graus.
A maioria das alteraes consiste de
delrio ou desorientao, e revertem ao
normal aps uma a quatro semanas.
Aqueles fenmenos e a sua relao
com as alteraes do fluxo cerebral,
durante a perfuso, parecem depender
do fechamento precoce dos capilares
na microcirculao, pela falta da onda
de pulso, propiciando a fuga de fluxo
pelas anastomoses arterio-venosas. Esses mecanismos seriam mais importantes
na circulao cerebral que em outras reas, pela grande velocidade de reposio de
sangue oxigenado, para atender ao metabolismo cerebral. Taylor [18] acredita que a
perfuso com fluxo linear responsvel por
distrbios da funo cerebral, enquanto as
314
leses anatmicas do tecido cerebral, seriam consequncia das embolias e outros tipos de agresso.
PERFUSO RENAL
A circulao extracorprea pode ser
acompanhada por alteraes da funo
renal que resultam em graus diversos de
insuficincia renal. A insuficincia renal
ocorre em 1 a 12% dos pacientes operados
[19,20]
. Embora diversos fatores possam estar envolvidos na produo de injria renal, sabido que, a onda da presso e a
presso de pulso, so mais importantes nos
mecanismos reguladores do fluxo sanguneo renal que nos demais rgos. O sistema de regulao do fluxo sanguneo renal
tem capacidade de adaptao baixas presses, sendo menos eficiente, contudo, para
compensar o fluxo renal na hipovolemia e
durante a circulao extracorprea. Estudos comparativos da funo renal, com e
sem fluxo pulstil mostram grandes diferenas na funo. A pulsatilidade do fluxo, mantm as funes de filtrao glomerular e excreo renal intactas, enquanto
o fluxo linear se acompanha de reduo
daquelas funes, tornando a produo de
urina dependente da administrao de diurticos osmticos ou de outros tipos. A produo da renina e da angiotensina se reduz, com fluxo pulstil.
Outros fatores da perfuso, como a elevao da resistncia arteriolar, contribuem
para a reduo do fluxo sanguneo renal,
durante a perfuso. A redistribuio sistmica dos fluxos sanguneos e a necessidade de preservar o fluxo cerebral so, ainda,
adicionais na limitao do fluxo e da filtra-
CAPTULO 19 HEMODINMICA DA PERFUSO
o renal do plasma. O perfusato
cristalide e a normotermia so eficientes
em contrabalanar aqueles efeitos hemodinmicos na circulao renal.
A perfuso dos tecidos e a distribuio regional dos fluxos sanguneos, durante a circulao extracorprea, dependem de um fluxo arterial adequado, que
pode ser avaliado pela manuteno da
saturao do sangue venoso acima de 70
a 75%. A regulao do fluxo arterial,
durante a circulao extracorprea, depende da presena e da intensidade dos
distrbios do metabolismo aerbio. A
perfuso adequada dos rgos vitais pode
ser mantida pelo manuseio da resistncia arterial perifrica, em associao com
variaes dos fluxos de perfuso.
315
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1.
Galletti, P.M. The mechanics of cardiopulmonary
bypass. In Norman, J.C.: Cardiac surgery. Second
Edition. Appleton-Century-Crofts, New York, 1972.
2.
Kirklin, J.W.; Boyes, B.B. Cardiac Surgery. John
Wiley Sons. New York, 1986.
3.
Lees, M.H.; Heir, A.H.; Hill, J.D.; Morgan, C.L.;
Ochsner, A.J.; Thomas,C. Distributions of systemic
blood flow of the rhesus monkey during
cardiopulmonary bypass. J. Thorac. Cardiovasc. Surg.
61, 570-578, 1970.
4.
Robisek, F.; Masters, T.N.; Nieshuchowski, W.
Vasomotor activity during cardiopulmonary bypass.
In Utley, J.R.: Pathophysiology and Techniques of
Cardiopulmonary Bypass. vol. II. Williams &
Wilkins, Baltimore, 1983.
5.
Reed, C.C.; Stafford, B.T. Circulatory Dinamics.
In Reed, C.C.; Stafford, B.T.: Cardiopulmonary
Bypass. Texas Medical Press, Houston, 1985.
6.
Govier, A.V.; Reves, J.G.; Mckay, R.D. Factors and
their influence on regional cerebral blood flow during
nonpulsatile cardiopulmonary bypass. Ann. Thorac.
Surg. 38, 592-600, 1984.
7.
Slogoff, S.; Keats, A.S.; Arlund, C. On the safety
of radial artery cannulation. Anesthesiology, 59, 4247, 1983.
8.
Stein, J.H.; Perris, T.F. The physiology of renin.
Arch. Int. Med. 131, 860-873, 1973.
9.
Wolfgang, R.; Arnulf, S.; Schulz, F.; Hetzer, R.;
Alfeld, K. Pulsatile extracorporeal circulation:
fluidmechanic considerations. Perfusion, 8, 459-469,
1993.
10. Yozu, R.; Golding, L.; Shimomitsu, T. Exercise
response in chronic non-pulsatile and pulsatile TAH
animals. Trans. Am. Soc. Artif. Intern. Organs, 31,
22-27, 1985.
11. Trinkle, J.K.; Helton, N.E.; Wood, R.e.; Bryant, L.R.
Metabolic comparison of a new pulsatile pump and
a roller pump for cardiopulmonary bypass. J. Thorac.
Cardiovasc. Surg. 58, 562-568, 1969.
12. Gazzaniga, A.B.; Byrd, C.L.; Gross, R.E. The use of
skeletal muscle surface hydrogen ion concentration to
monitor peripheral perfusion: experimental and clinical
results. Surg. Forum, 21, 247-255, 1970.
13. Breckenridge, I.M.; Digerners, S.B.; Kirklin, J.W.
Validity of concept of increased extracellular
fluid after open heart surgery. Surg. Forum, 20,
169174, 1969.
316
14. Cohn, L.H.; Angell, W.W.; Shumway, N.E. Body
fluid shifts after cardiopulmonary bypass. Effects of
congestive heart failure and haemodilution. J.
Thorac. Cardiovasc. Surg. 62, 423-431, 1971.
15. Giannelli, S.; Ayres, S.M.; Fleming, P.; Conrad, W.;
Schwartz, M.D.; Gould, H. Peripheral vascular
volumes and whole body haematocrit during human
heart lung bypass. Circulation, 41, 629-934, 1970.
16. Litwak, R.S.; Gilson, A.J.; Slonin, R.; McCume,
C.C.; Kien, I.; Gadbois, H.L. Alterations in blood
volume during normovolemic total body perfusion.
J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 42, 477-481, 1961.
17. Prough, D.S.; Stump, D.a.; Roy, A.C. Response of
cerebral blood flow to changes in carbon dioxide
tension during cardiopulmonary bypass.
Anesthesiology, 64, 576-581, 1986.
18. Tayllor, K.M. Pulsatile perfusion. In Taylor, K.M.:
Cardiopulmonary Bypass. Principles and
Management. Williams & Wilkins, Baltimore, 1986.
19. Abel, R.M.; Buckley, M.J.; Austen, W.G.; Barnett,
G.O.; Beck, C.H.; Fisher, J.E. Aetiology, incidence,
and prognosis of renal failure following cardiac
operations. Results of a prospective analysis of 500
consecutive patients. J. Thorac. Cardiovasc. Surg.,
71, 323-329, 1976.
20. Norman, J.C.; McDonald, H.P.; Sloan, H. The early
and aggressive treatment of acute renal failure
following cardiopulmonary bypass with continuous
peritoneal dialysis. Surgery, 56, 240-249, 1964.
Você também pode gostar
- Protocolo Sinatra CardiopatiaDocumento3 páginasProtocolo Sinatra Cardiopatiasfleandro_67Ainda não há avaliações
- Exercícios Anatomia - 108 Exercícios de AnatomiaDocumento30 páginasExercícios Anatomia - 108 Exercícios de AnatomiaAilton Alves100% (4)
- SFC Osce - Resumo Thayane Yandra Analu Leticia Maria Eva PDFDocumento96 páginasSFC Osce - Resumo Thayane Yandra Analu Leticia Maria Eva PDFJoão MaldonadoAinda não há avaliações
- Manual para Filhotes Forts AngelsDocumento20 páginasManual para Filhotes Forts AngelsBruno PorcelAinda não há avaliações
- DRENOSDocumento22 páginasDRENOSGurigaud2009100% (1)
- Interpretaç o Da Gasometria ArterialDocumento35 páginasInterpretaç o Da Gasometria ArterialAntonio Ananias MachianaAinda não há avaliações
- Tecido ConjuntivoDocumento9 páginasTecido ConjuntivoJoao Dique Maguichire PkayAinda não há avaliações
- CV - Manual Do QueijoDocumento24 páginasCV - Manual Do QueijoAngela PereiraAinda não há avaliações
- Relatorios MedicosDocumento3 páginasRelatorios MedicosEber RossiAinda não há avaliações
- DesnutriçaoDocumento10 páginasDesnutriçaoEdmilson Benjamim CaetanoAinda não há avaliações
- ANESTESIADocumento28 páginasANESTESIACelio Araujo de Andrade (ALUNO)Ainda não há avaliações
- Simulado Ebserh - Banca IbfcDocumento13 páginasSimulado Ebserh - Banca IbfcMarcela CosmeAinda não há avaliações
- Cap.6 Vigilancia Epidemiologica e Doencas de Notificacao CompulsoriaDocumento25 páginasCap.6 Vigilancia Epidemiologica e Doencas de Notificacao CompulsoriaAdeilton JúniorAinda não há avaliações
- Plano de Ação Nep 2020Documento10 páginasPlano de Ação Nep 2020Francisco Alves Lima JuniorAinda não há avaliações
- Granulócito e AgranulócitosDocumento6 páginasGranulócito e AgranulócitosAline AlveesAinda não há avaliações
- SDI Ebook ManualClareamentoDocumento42 páginasSDI Ebook ManualClareamentoAna Claudia ChibinskiAinda não há avaliações
- Manual Psico-Educativo Sobre Ansiedade eDocumento23 páginasManual Psico-Educativo Sobre Ansiedade eGabriel Sampaio100% (1)
- 01 - Introdução Ao Sistema ImuneDocumento34 páginas01 - Introdução Ao Sistema ImuneJhady de CássiaAinda não há avaliações
- Conceito de Habilidades SociaisDocumento2 páginasConceito de Habilidades SociaisHelen RittAinda não há avaliações
- Melatonina AKMOSDocumento17 páginasMelatonina AKMOSAndreza LimaAinda não há avaliações
- Ficha de Anamnese - PeelingDocumento3 páginasFicha de Anamnese - Peelingpassosclinica3Ainda não há avaliações
- Entre Reação Adversa A Um Medicamento e Um Efeito SecundárioDocumento3 páginasEntre Reação Adversa A Um Medicamento e Um Efeito SecundárioJosynando XavierAinda não há avaliações
- Avaliação PsicológicaDocumento3 páginasAvaliação PsicológicaKaren SilvaAinda não há avaliações
- Anemias CarenciaisDocumento24 páginasAnemias CarenciaisÉrica Luana SilvaAinda não há avaliações
- Atividade Embriologia Do OlhoDocumento2 páginasAtividade Embriologia Do Olholuana andradeAinda não há avaliações
- Saude Bucal Sistema Unico Saude 2018Documento354 páginasSaude Bucal Sistema Unico Saude 2018Thomás ForteAinda não há avaliações
- Manejo Com As Vaa UTI PDFDocumento35 páginasManejo Com As Vaa UTI PDFcarol souzaAinda não há avaliações
- Livro - Biocontrole de Doenças de Plantas PDFDocumento334 páginasLivro - Biocontrole de Doenças de Plantas PDFLeona Varial100% (2)
- Nutrição Enteral e ParenteralDocumento22 páginasNutrição Enteral e ParenteralMaria de Jesus Alves de Araújo AraújoAinda não há avaliações
- Avaliação - Unidade II - PLANTAS DANINHAS - Passei DiretoDocumento8 páginasAvaliação - Unidade II - PLANTAS DANINHAS - Passei DiretoJessicaGabrielAinda não há avaliações