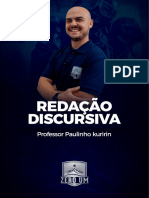Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ART8 Vol5 N2
ART8 Vol5 N2
Enviado por
Denise Santos NascimentoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ART8 Vol5 N2
ART8 Vol5 N2
Enviado por
Denise Santos NascimentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol.
5 N2 (2006)
Cincia-Tecnologia-Sociedade: relaes estabelecidas
por professores de cincias
Dcio Auler1 e Demtrio Delizoicov2
1
2
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. Email: auler@ce.ufsm.br
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Email: demetrio@ced.ufsc.br
Resumo: Buscou-se identificar compreenses de professores de Cincias
sobre interaes entre Cincia-Tecnologia-Sociedade (CTS) com a finalidade
de respaldar aes no processo de formao inicial e continuada de
professores de Cincias. Metodologicamente a pesquisa configurou-se
segundo dois eixos complementares: a explicitao e fundamentao de
parmetros sobre interaes entre CTS e a realizao de entrevistas semiestruturadas com um grupo de 20 professores, cuja anlise foi balizada
pelos parmetros. Neste trabalho, apresentam-se e discutem-se as
principais tendncias presentes na compreenso destes professores, bem
como dimenses a serem consideradas no processo formativo: Endosso ao
modelo de decises tecnocrticas, passividade diante do desenvolvimento
cientfico-tecnolgico e a superao da perspectiva salvacionista/redentora
atribuda Cincia-Tecnologia (CT).
Palavras-chave: Compreenses de professores sobre CTS; formao de
professores; no-neutralidade das relaes CTS.
Title: Science-Technology-Society: relations established for science
teachers
Abstract: This study sought to identify the understanding of Science
teachers about the interaction between Science, Technology and Society
(STS) in order to support programs for the initial and continued education
of Science teachers. Methodologically, the study was configured along two
complementary tracks: the explanation and establishment of standards
about the interactions between Science, Technology and Society that
support the analysis of semi-structured interviews conducted with a group
of 20 teachers. The paper presents and discusses the principal trends
identified in the understanding of these teachers, as well as issues to be
considered in their own education: Endorsement to the model of
tecnocratics decisions, passivity ahead of the technological-scientific
development and the overcoming of the saving perspective attributed to
Science-Technology.
Key words: Understandings of Teachers about STS; Teacher Education;
Non-neutrality of STS relations.
Introduo
Em pesquisa realizada (Auler, 2002), buscou-se definir e fundamentar
parmetros sobre interaes entre Cincia-Tecnologia-Sociedade (CTS),
identificar compreenses de professores sobre tais interaes, bem como
337
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
dimenses a serem trabalhadas no contexto da formao inicial e
continuada de professores.
Metodologicamente a pesquisa configurou-se segundo dois eixos
complementares. De um lado, a explicitao e fundamentao dos referidos
parmetros, de outro, a realizao de entrevistas semi-estruturadas com
um grupo de 20 professores de Cincias atuantes em Santa Maria/Brasil. As
entrevistas focalizaram temticas contemporneas vinculadas CinciaTecnologia: manipulao gentica, clonagem, produo/distribuio de
alimentos carncia alimentar, poluio, automao/robotizao
desemprego, internet, crise energtica.
Na anlise dos resultados das entrevistas, buscou-se avaliar o pensar do
conjunto dos professores em termos de aproximaes e distanciamentos
relativamente aos parmetros:
Superao do modelo de decises tecnocrticas;
Superao da perspectiva salvacionista/redentora atribuda CinciaTecnologia;
Superao do determinismo tecnolgico.
Estes parmetros, expressando uma concepo de no neutralidade nas
interaes entre Cincia-Tecnologia-Sociedade, apontam para a superao
de construes histricas consideradas pouco consistentes, postulando a
democratizao das decises em temas envolvendo CT. Resultam da busca
de uma aproximao entre pressupostos do educador brasileiro Paulo Freire
(1987) e referenciais ligados ao movimento CTS. Considera-se que a busca
de participao, de democratizao das decises em temas sociais
envolvendo Cincia-Tecnologia (CT), defendida pelo movimento CTS, est
em sintonia com a matriz terico-filosfica adotada por Freire, quando este
defende que alfabetizar, muito mais do que ler palavras, deve propiciar a
leitura crtica da realidade. Seu projeto poltico-pedaggico coloca-se na
perspectiva de reinveno da sociedade, processo consubstanciado pela
participao daqueles que encontram-se imersos na "cultura do silncio",
submetidos condio de objetos ao invs de sujeitos histricos. Neste
sentido, entende-se que, para uma leitura crtica da realidade, torna-se,
cada vez mais, fundamental uma compreenso crtica sobre as interaes
entre CTS, considerando que a dinmica social contempornea est
fortemente marcada pela presena da CT.
Compreenses
sociedade
sobre
interaes
entre
cincia-tecnologia-
Na literatura, compreenses de professores sobre interaes entre
Cincia-Tecnologia-Sociedade (CTS) tm sido apontadas como um dos
pontos de estrangulamento, emperrando, muitas vezes, a contemplao do
enfoque
CTS no processo educacional. Acevedo, em vrios trabalhos
(1995, 1996, 2001), abarcando um perodo de intensas pesquisas sobre as
compreenses de alunos e professores de Cincias sobre CTS,
principalmente realizadas com a utilizao do instrumento denominado de
VOSTS (Views on Science-Technology-Society), empreendeu uma exaustiva
reviso bibliogrfica sobre as pesquisas at ento disponveis. Da sntese
que Acevedo empreendeu, apresentam-se as tendncias consideradas mais
338
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
relevantes:
A tecnologia considerada hierarquicamente inferior Cincia, sendo
apenas uma aplicao desta;
A tecnologia como sendo a aplicao prtica da cincia, no mundo
moderno, para produzir artefatos com
a inteno de melhorar a
qualidade de vida ou para fabricar novos dispositivos;
Endosso a uma viso tecnocrtica em decises envolvendo CT.
Considera-se que os especialistas tm melhores condies para decidir
devido aos seus conhecimentos;
Considera-se que os governos esto mais capacitados, atravs de suas
agncias especializadas, para coordenar programas de pesquisa e
desenvolvimento (P&D). Acevedo assinala que isso tambm supe uma
posio favorvel a um modelo poltico tecnocrtico;
Identificao da tecnologia com artefatos tcnicos. Segundo Acevedo,
idia incompleta, mas que goza de grande apoio.
Em outro estudo, constitudo de duas partes, tambm na Espanha,
Solbes e Vilches (1992) analisam livros texto, bem como realizaram uma
pesquisa com estudantes secundrios de 15 a 17 anos. Da anlise dos
livros, destacam que estes oferecem uma imagem de cincia empirista,
cumulativa e que no consideram aspectos qualitativos, do tipo histrico,
sociolgico, humanstico, tecnolgico, etc. Em sntese, no aparecem
interaes entre CTS. Em relao pesquisa com os estudantes, Solbes e
Vilches concluem:
Em relao aos cientistas:
so considerados pessoas imparciais,
objetivas, possuidoras da verdade, gnios, s vezes um pouco loucos,
que lutam pelo bem da humanidade;
Para a grande maioria dos alunos, a fsica e a qumica, ensinadas na
escola, nada ou pouco tem a ver com a sociedade. Em outros termos,
uma fsica e qumica desvinculada do mundo real.
Extensa reviso bibliogrfica foi empreendida por Fernndez et al. (2002)
relativamente vises simplistas, deformadas da Cincia, transmitidas
pelo ensino, cujo questionamento fundamental para uma concepo
epistemolgica mais consistente: a) Viso emprico-indutivista, aterica; b)
viso rgida (algortmica, exata, infalvel); c) viso a-histrica, dogmtica;
d) Viso exclusivamente analtica; e) Viso cumulativa, de crescimento
linear; f) Viso individualista e elitista; g) Viso socialmente
descontextualizada.
No contexto brasileiro, so incipientes as pesquisas envolvendo
compreenses de professores sobre interaes entre CTS. Dentre estas,
pode-se destacar Loureiro (1996), a qual realizou pesquisa que buscou
evidenciar idias e compreenses que professores de Escolas Tcnicas
Federais tm acerca do papel que os mesmos atribuem tecnologia na
sociedade. O aspecto mais marcante, desta, foi que todos os professores
atribuem como papel tecnologia a produo de bem-estar social.
Contudo, estando ausente a compreenso sobre
como a tecnologia
interage com outras variveis sociais. Em outros termos, sem entenderem
como questes polticas, econmicas e culturais interagem na produo
339
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
desse bem-estar social.
Tambm, no contexto brasileiro, Amorim (1995), em sua investigao,
da trilogia CTS, focalizou o "S" (Sociedade). Entre os resultados, destacase a concepo que considera a sociedade como o que acontece l fora, o
mundo l fora. H uma tendncia em encarar a sociedade como um mundo
externo escola. Ao consider-la como um mundo l fora, os elementos
da prtica social raramente iro adentrar no espao escolar. A prtica
social do aluno acontece fora da escola ou num futuro prximo. O
conhecimento a ser adquirido, a teoria, primordial e anterior ao
desenvolvimento da prtica social (profisso, dia-a-dia do aluno). No h a
busca de uma interao de mo dupla entre teoria e prtica.
Os parmetros: aproximao entre pressupostos do educador
Paulo Freire e o movimento cincia-tecnologia-sociedade
Garcia et al. (1996) destacam que, a partir de meados do sculo XX, nos
pases capitalistas centrais, foi crescendo um sentimento de que o
desenvolvimento cientfico, tecnolgico e econmico no estava conduzindo
linear e automaticamente ao desenvolvimento do bem-estar social.
Argumentam que, por volta de 1960-1970, a degradao ambiental, bem
como o seu desenvolvimento vinculado guerra, fizeram com que CinciaTecnologia (CT) se tornassem alvo de um olhar mais crtico. H especial
destaque para o fato de que CT foram "deslocadas" do espao da suposta
neutralidade para o campo do debate poltico.
Em vrios pases, esta politizao em relao CT produziu
desdobramentos curriculares tanto no ensino secundrio quanto no superior
(Garcia et al., 1996). Em reviso bibliogrfica (Auler, 1998) encontrou-se
que no h um consenso quanto aos objetivos, contedos, alcance e
modalidades de implementao deste movimento no campo educacional.
Constata-se que, (Auler, 1998), em sintonia com outros trabalhos
(Caamao, 1995), o enfoque CTS abarca desde encaminhamentos que
buscam contemplar interaes entre CTS somente como fator de motivao,
passando por aqueles que postulam como fator essencial uma compreenso
crtica destas interaes, at encaminhamentos que, levados ao extremo
em alguns projetos, consideram secundria a abordagem de conceitos
cientficos.
Ainda segundo Garcia et al. (1996) um dos objetivos centrais desse
movimento consistiu em colocar a tomada de decises em relao a CT num
outro plano. Reivindicam-se decises mais democrticas (mais atores
sociais
participando)
e
menos
tecnocrticas.
Essa
nova
mentalidade/compreenso da CT teria contribudo para a "quebra do belo
contrato social para a CT". Qual seja, o modelo linear de progresso. Neste,
o desenvolvimento cientfico (DC) gera desenvolvimento tecnolgico (DT),
este gerando o desenvolvimento econmico (DE) que determina, por sua
vez, o desenvolvimento social (DS bem-estar social).
DC DT DE DS (modelo tradicional/linear de progresso).
Esta busca de participao, de democratizao das decises em temas
sociais envolvendo CT, parece estar em sintonia com a matriz tericofilosfica adotada por Freire (1987), quando este, em termos de
340
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
pressupostos educacionais, aponta para alm do simples treinamento de
competncias e habilidades. A dimenso tica, o projeto utpico implcito
em seu fazer educacional, a crena na vocao ontolgica do ser humano
em ser mais (ser sujeito histrico e no objeto), eixos balizadores de sua
obra, conferem, ao seu projeto poltico-pedaggico, uma perspectiva de
reinveno da sociedade, processo consubstanciado pela participao
daqueles que encontram-se imersos na "cultura do silncio", submetidos
condio de objetos ao invs de sujeitos histricos.
No entender de Freire (1987) e de seguidores que adaptaram a sua
proposta para a educao em Cincias na escola, como, por exemplo,
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), a alfabetizao no pode
configurar-se como um jogo mecnico de juntar letras. Alfabetizar, muito
mais do que ler palavras, deve propiciar a leitura do mundo. Leitura da
palavra e leitura do mundo devem ser consideradas numa perspectiva
dialtica. Alfabetizar no apenas repetir palavras, mas dizer a sua
palavra. Neste sentido, entende-se que, para uma leitura crtica da
realidade, torna-se, cada vez mais, fundamental uma compreenso crtica
sobre as interaes entre CTS, considerando que a dinmica social
contempornea est fortemente marcada pela presena da CT.
Assim, para esta compreenso crtica da realidade, considera-se
fundamental a problematizao de construes histricas sobre a atividade
cientfico-tecnolgica, consideradas pouco consistentes. Trs construes
histricas
foram
objeto
de
discusso
e
problematizao:
superioridade/neutralidade
do
modelo
de
decises
tecnocrticas,
perspectiva salvacionista/redentora atribuda Cincia-Tecnologia e o
determinismo tecnolgico, construes balizadas, no nosso entender, pela
suposta neutralidade da Cincia-Tecnologia. Entende-se que estas
construes resultam do fato de, medida que o conhecimento cientficotecnolgico produzido, produz-se tambm discursos, formas de ver essa
produo. Discursos aceitos, fomentados ou elaborados por determinados
atores sociais, interessados em sua disseminao.
Para melhor caracterizar a abrangncia da suposta neutralidade da CT,
elaborou-se o esquema 1 reproduzido em seguida. Partiu-se do modelo
tradicional, linear de progresso, apresentado anteriormente, articulando-o
com elementos advindos da pesquisa.
Esquema que expressa, no nosso entender, as interaes entre CTS,
quando o balizamento dado pela suposta neutralidade da CT. Neste, as j
referidas construes histricas so entendidos como pilares, alimentadores
da concepo tradicional/linear de progresso.
Para a sustentabilidade das concepes presentes neste esquema, o
endosso ao modelo de decises tecnocrticas fundamental. Modelo
decisrio justificado pela crena na possibilidade de neutralizar/eliminar o
sujeito do processo cientfico-tecnolgico. O expert (especialista/tcnico)
pode solucionar os problemas sociais de um modo eficiente e
ideologicamente neutro. Para cada problema existe uma soluo tima.
Portanto, deve-se eliminar os conflitos ideolgicos ou de interesse. Em
sntese, a tecnocracia garante a eficcia deste esquema. Porm, este
somente funciona se a ao humana puder ser neutralizada, se as relaes
sociais em que CT so produzidas e utilizadas forem desconsideradas.
341
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
DC DT DE DS
Neutralidade
das decises
tecnocrticas
Perspectiva
salvacionista
atribuda
CinciaTecnologia
Determinismo
tecnolgico
SUPOSTA NEUTRALIDADE DA CINCIA-TECNOLOGIA
Esquema 1. Modelo tradicional/linear de progresso
Contemporaneamente, no contexto do caminho nico, respaldado pelo
discurso do pensamento nico, est havendo um superdimensionamento
da tecnocracia em detrimento da democracia. Democracia pressupe a
possibilidade de escolha, de eleio entre vrias possibilidades, entre vrios
caminhos. Nesse contexto, o determinismo tecnolgico, outro pilar da
concepo tradicional de progresso, reforado.
Segundo Gmez (1997), h duas teses definidoras do determinismo
tecnolgico:
a) a mudana tecnolgica a causa da mudana social, considerando-se
que a tecnologia define os limites do que uma sociedade pode fazer. Assim,
a inovao tecnolgica aparece como o fator principal da mudana social;
b) A tecnologia autnoma e independente das influncias sociais.
Esta concepo tem sido o pano de fundo de muitas das denominadas
exposies universais, nas quais apresentado o que h de mais atual no
campo cientfico-tecnolgico. Expressando a submisso do ser humano, a
de 1933, ocorrida em Chicago, tinha como lema:
"A cincia descobre. A indstria aplica. O homem se conforma"
Em 2004, no lema da feira de Hannover (Alemanha), tambm esto
presentes marcas do determinismo tecnolgico. A moldagem do futuro,
enquanto processo histrico, ocorre margem do conjunto da sociedade. O
encaminhamento cientfico-tecnolgico, materializado na exposio, define
o amanh:
Veja o Amanh Hoje
A defesa do determinismo tecnolgico consiste numa forma sutil de negar
as potencialidades e a relevncia da ao humana, exercendo o efeito de
um mito paralisante. Com a aceitao passiva dos milagres da
tecnologia, com a adeso ao sonho consumista, a humanidade, como um
todo, est perdendo a chance de moldar o futuro.
342
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
A perspectiva salvacionista/redentora atribuda CT, outro pilar da
concepo tradicional/linear de progresso, pode ser sintetizada:
1) Os problemas hoje existentes e os que vierem a surgir, sero,
necessariamente resolvidos como o desenvolvimento cada vez maior da CT;
2) Com mais e mais CT teremos um final feliz para a humanidade.
Contudo, o desenvolvimento cientfico-tecnolgico no pode ser
considerado um processo neutro que deixa intactas as estruturas sociais
sobre as quais atua. Nem a Cincia e nem a Tecnologia so alavancas para
a mudana que afetam sempre, no melhor sentido, aquilo que
transformam. O progresso cientfico e tecnolgico no coincide
necessariamente com o progresso social e moral (Sachs, 1996).
A idia de que os problemas hoje existentes, e os que vierem a surgir,
sero automaticamente resolvidos com o desenvolvimento cada vez maior
da CT, estando a soluo em mais e mais CT, est secundarizando as
relaes sociais em que essa CT so concebidas e utilizadas.
Por exemplo, para reduzir/acabar com a carncia alimentar, com a fome,
efetivamente, necessrio produzir alimentos em quantidade suficiente.
Nesse aspecto, a CT podem contribuir significativamente, aproveitando-se,
inclusive, os avanos da biologia molecular. Contudo, a CT no possuem
nenhum mecanismo intrnseco que garanta a distribuio dos alimentos
produzidos. CT so fundamentais no campo da produo. Porm, em
termos de distribuio, h outras dimenses a serem consideradas.
Tambm, relativamente a esta concepo, h mitos propagandsticos.
Por exemplo:
Com certeza, os transgnicos saciaro a fome no prximo milnio
Torna-se necessrio, tambm, destacar que, conforme ressaltam Vilches
e Gil (2003), em relao viso descontextualizada da Cincia, torna-se
necessrio criticar tanto a viso que a coloca como fator absoluto de
progresso, quanto aquela que considera CT como responsveis exclusivos
dos problemas que afetam o planeta. O endosso a esta ltima viso
significaria, no nosso entender, recair no determinismo tecnolgico,
ignorando as relaes sociais em que esta CT so produzidas e utilizadas.
Como resultado da busca desta aproximao entre pressupostos do
educador brasileiro Paulo Freire (1987), referenciais ligados ao movimento
CTS e o uso da concepo de Paulo Freire na educao escolar (Delizoicov,
Angotti e Pernambuco, 2002), bem como da interao destes com
elementos oriundos da entrevista com os professores, chegou-se aos
parmetros sobre interaes entre CTS, associados s referidas construes
histricas:
Superao do modelo de decises tecnocrticas;
Superao da perspectiva salvacionista/redentora atribuda CinciaTecnologia;
Superao do determinismo tecnolgico.
Estes expressam uma concepo de no neutralidade nas interaes
entre Cincia-Tecnologia-Sociedade, apontam para a superao de
343
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
construes histricas consideradas pouco consistentes, presentes no
esquema anteriormente discutido, postulam a democratizao das decises
em temas envolvendo CT.
Metodologia: as entrevistas
Como estudo exploratrio inicial, recorreu-se adaptao de um
instrumento, idealizado por Aikenhead e Ryan (1992), denominado de
VOSTS, cujos resultados foram apresentados e discutidos no II Encontro
Nacional de Educao em Cincias - II ENPEC - (Auler e Delizoicov, 1999).
Como sntese deste estudo, pode-se destacar a presena de contradies no
pensar dos professores integrantes do mesmo. Tal estudo, alm de apontar
para a necessidade de um aprofundamento na avaliao das compreenses,
trouxe contribuies significativas no sentido do amadurecimento e
consolidao dos referidos parmetros sobre as interaes entre CTS.
Aps este estudo exploratrio inicial, partiu-se para a construo de um
novo instrumento, configurado no contexto da busca de uma aproximao
entre o denominado movimento Cincia-Tecnologia-Sociedade (CTS) e o
referencial freiriano (Freire, 1987). Na elaborao desse instrumento,
consultou-se parte significativa dos livros didticos de Cincias (incluindo
fsica, qumica e biologia) utilizados em Santa Maria e regio (Brasil), bem
como jornais e revistas passveis de utilizao por parte dos professores.
A pesquisa realizada, se, de um lado, focalizou um contexto especfico, o
brasileiro, de outro, procurou estar em sintonia com questes mais amplas.
Relativamente ao denominado movimento CTS, a caminhada esteve
apoiada em pesquisadores como Aikenhead e Ryan (1992), Acevedo (1995,
1996 e 2001), Solbes e Vilches (1992, 1995 e 1997) e Garcia et al. (1996).
Tratando-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, o instrumento foi
dinamizado na perspectiva de uma entrevista semi-estruturada. Conforme
Ldke e Andr (1996) e Trivinus (1987), a entrevista semi-estruturada
desenvolve-se a partir de um roteiro bsico que permite ao entrevistador
fazer as necessrias adaptaes ao longo da pesquisa.
Esta flexibilidade caracterizou as referidas entrevistas, as quais
focalizaram 9 situaes, apresentadas e descritas em Auler (2002),
envolvendo temticas contemporneas vinculadas CT. Os textos,
manchetes, citaes e falas, que compem estas 9 situaes, referem-se a
temticas contemporneas, vinculadas CT: manipulao gentica,
clonagem, produo/distribuio de alimentos carncia alimentar,
poluio, automao/robotizao desemprego, internet, crise energtica.
Dimenso fundamental na definio e elaborao das 9 situaes
consistiu na necessidade de sua vinculao com os parmetros sobre CTS.
Em outros termos, no processo de aperfeioamento do instrumento, do qual
fizeram parte trs entrevistas preliminares, na forma de estudo piloto,
buscou-se avaliar a possibilidade de, com a leitura que os professores
fazem sobre estas situaes, explicitar seu pensar, seu posicionamento
frente
s
construes
histricas,
indicando
aproximaes
ou
distanciamentos em relao aos referidos parmetros. No anexo 1,
apresentam-se as situaes 3, 4, 5 e 8, bem como o roteiro de
questes formuladas durante a realizao da entrevista.
344
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
A investigao foi conduzida com um grupo intencional no sentido de
terem sido priorizados professores imbudos da busca de uma prtica
pedaggica diferenciada. Este professor pode ser caracterizado como aquele
que esboa movimentos de busca, de participao em cursos, encontros,
projetos, tanto de formao inicial quanto continuada, destinados ao
repensar da prtica pedaggica. Nesse sentido, os primeiros contatos foram
feitos com professores que, direta ou indiretamente, j haviam participado
de atividades em que o prprio pesquisador esteve envolvido. Num segundo
momento, solicitou-se que estes indicassem outros professores que se
enquadrassem nesse perfil. Esse processo permitiu, com relativa facilidade,
o trabalho com os 20 professores participantes da pesquisa.
Aproximadamente uma semana antes da realizao da entrevista, o
professor recebia o material contendo as 9 situaes, tendo sido solicitado
que fizesse uma anlise crtica sobre as mesmas. A realizao destas
ocorreu de uma forma bastante dialgica. Em relao a cada uma das
situaes, inicialmente, eram colocadas questes bem abertas, gerais.
Questes como: O que, nessa situao, chamou a sua ateno?, Qual a
anlise que voc faz
em relao aos aspectos apresentados nessa
situao?, Que aspectos voc poderia comentar em relao a essa
situao?. No decorrer da entrevista, questes mais especficas foram
sendo colocadas como, por exemplo, e esta afirmao aqui, qual a tua
opinio sobre ela?.
As entrevistas ocorreram de uma forma bastante agradvel, tendo em
vista o interesse dos professores em dialogar sobre essas temticas
relacionadas CT. Foram bastante freqentes manifestaes do tipo: Eu
nunca havia parado para pensar sobre isso. Essa falta de reflexo, de
discusso sobre temas contemporneos foi evidenciada, pela maioria dos
entrevistados, quando questionados sobre a presena desses no seu
processo formativo. Significativo o fato de que apenas dois professores
lembraram de temas atuais que tivessem sido contemplados no curso de
graduao.
Houve a realizao de um total de 20 entrevistas, alm de trs
denominadas de entrevistas preliminares, as quais tiveram a finalidade de
ajustes no instrumento de pesquisa, no sendo consideradas para efeito de
anlise e discusso. As entrevistas foram realizadas com professores
formados em cursos universitrios de formao de professores. Das 20
entrevistas, cinco foram realizadas com professores formados em Cincias,
cinco em Fsica, cinco em Qumica e cinco em Biologia. Por problemas
tcnicos ocorridos no processo de degravao, uma das entrevistas foi
desconsiderada. Assim, o conjunto dos professores ficou restrito a 19.
Na anlise dos resultados das entrevistas, buscou-se avaliar dimenses
recorrentes, tendncias no pensar do conjunto do professores,
identificando, assim, aproximaes e distanciamentos relativamente aos
parmetros.
Resultados e discusso
Como sntese dos resultados, pode-se apontar uma tendncia no endosso
ao modelo de decises tecnocrticas, assim como um posicionamento,
345
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
diante do avano cientfico-tecnolgico, prximo do determinismo
tecnolgico. Portanto, compreenses prximas das construes histricas
consideradas pouco consistentes e distantes dos parmetros. Por outro
lado, representando uma tendncia que se aproxima do parmetro, houve
uma significativa rejeio da perspectiva salvacionista, redentora atribuda
Cincia-Tecnologia.
Tal qual ocorrera no estudo exploratrio inicial, os resultados sinalizam
para a ausncia de uma coerncia interna, na compreenso da maioria dos
professores sobre as interaes entre CTS, estando presentes contradies
em seu pensar quanto superao das construes histricas. Apenas dois
professores apresentaram indicativos de superao das trs referidas
construes. Como exemplo, apresenta-se falas de um destes professores:
Quanto
democratizao das decises (superao do modelo de
decises tecnocrticas):
No tenho a menor idia, porque se a gente for pensar assim, uma coisa
bem democrtica, seria ns decidirmos, mas ns...(...) ns, a populao. Tu
no achas que se fosse bem democrtico, ns a populao deveramos
dizer, sei l, um plebiscito uma coisa assim, sim ou no aos transgnicos se
fosse uma democracia n (resposta questionamento feito na situao
5, reproduzida no anexo 1)
Tambm, sinalizando para a superao da perspectiva salvacionista
atribuda CT:
Eu no sei se para isso que eles esto a, eu no sei se para isso.
(...) Por enquanto, eu no vejo eles como saciadores da fome de ningum
(resposta questionamento feito na situao 4, anexo 1)
Na fala do mesmo professor tambm comparecem indcios de no
endosso ao determinismo tecnolgico, ao ser questionado sobre a manchete
de jornal proposta para reflexo:
Impe sua presena. Eu no concordo, aqui, condutora dos rumos da
civilizao. (resposta questionamento feito na situao 3, anexo 1).
Contudo, esta coerncia interna no a tnica. Predomina, amplamente,
no conjunto dos professores, um perfil marcado por contradies. Este
aspecto exemplificado pelas falas de um destes professores:
Eu acho que todas as pessoas. Eu acho que todas as pessoas tm
direito a opinar sobre isso. Porque envolve todo mundo. A populao
tambm envolvida nisso. Por que no opinar? (resposta
questionamento feito na situao 5, anexo 1)
e
Eu acho que resolver o problema de alimentos, essa questo de
problemas de alimentos, acho assim, tambm uma questo poltica n,
porque os mercados esto abarrotados de enlatados. Eu acho que alimento
suficiente existe no mundo, o que no existe uma distribuio. (resposta
questionamento feito na situao 4, anexo 1)
H, nestas duas manifestaes, indcios de reivindicao de um modelo
de decises democrticas e de no endosso ao salvacionismo atribudo
CT. Porm, conforme falas do mesmo professor, reproduzidas em seguida,
346
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
h fortes indcios da presena da concepo do determinismo tecnolgico ou
da incapacidade de reao diante do desenvolvimento cientfico-tecnolgico:
Obrigados no, totalmente. Mas a nvel mundial acho que no tem
como, hoje, reverter o quadro. Dizer no vamos, ningum vai usar
transgnicos. Acho que isso impossvel hoje. (resposta questionamento
feito na situao 5, anexo 1)
Penso que realmente uma, um meio de progresso n, e querendo ou
no, realmente se impe s pessoas, aos indivduos e acho que tambm vai
conduzir o rumo da civilizao, porque uma gerao que vem a,
trabalhando com a internet... (resposta questionamento feito na
situao 3, anexo 1)
Em sntese, exceto a compreenso apresentada por dois professores, os
resultados sugerem a ausncia de uma coerncia interna na compreenso
da maioria dos professores sobre as interaes entre CTS, focalizadas nesta
pesquisa.
Este pano de fundo, ou seja, a falta de coerncia nas compreenses
individuais, alicerou o encaminhamento dado anlise das entrevistas e
perspectiva de continuidade do presente trabalho. No se buscou identificar
o pensar individual de professores. Buscou-se identificar tendncias na
compreenso do conjunto dos professores, expressadas em termos de
proximidade ou afastamento
dos parmetros, cuja discusso e
problematizao faz-se necessria no processo de formao e atuao dos
professores.
So plurais as possibilidades de abordagem das tendncias identificadas.
Pela opo terico-metodolgica que orientou a investigao, a partir das
anlises empreendidas, aponta-se para a continuidade do trabalho,
sinalizando para dimenses/compreenses a serem consideradas,
problematizadas no processo formativo, quando o objetivo for contemplar
interaes entre CTS na prtica poltico-pedaggica:
a) Endosso ao modelo de decises tecnocrticas;
b) Passividade diante do desenvolvimento
Compreenso prxima do determinismo tecnolgico;
cientfico-tecnolgico.
c) Superao da perspectiva salvacionista/redentora atribuda CT.
Quanto ao endosso ao modelo de decises tecnocrticas:
Relativamente democratizao das decises (superao do modelo de
decises tecnocrticas), pode-se destacar que, dos dezenove professores
entrevistados, apensas cinco apresentaram, em sua compreenso,
indicativos da democratizao das decises em temas envolvendo CT. Na
compreenso dos demais, no h indicativos da postulao de uma
participao mais direta da sociedade civil. Nesse sentido, pertinente
destacar que a fronteira entre o modelo de decises tecnocrticas e o
governo tomando as decises bastante nebulosa. Muitas vezes, essas
duas formas de tomada de deciso esto imbricadas, considerando que, em
vrios casos, so mencionados rgos tcnicos, secretarias do governo que
estariam respaldando as decises a serem tomadas por este.
347
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
Tal qual discusso anterior, as decises tomadas por especialistas so
encaradas como portadoras de certezas, decises neutras, tomadas longe
do campo poltico e econmico. Por exemplo, segundo um dos professores:
Eu acho que seriam as pessoas que tivessem o menor envolvimento,
menor comprometimento com alguma empresa. Eu acho que
comprometimento com a cincia mesmo. (...) Vrias pessoas. Eu acho que
teriam que ser professores, cientistas, no caso, que esto trabalhando nas
universidades (professor respondendo sobre quem deveria estabelecer
critrios em relao ao desenvolvimento cientfico-tecnolgico - clonagem e
transgenia -, situao 2, Auler, 2002).
Vinculado infalibilidade das decises tecnocrticas, mesmo sem que
houvesse um questionamento explcito nas entrevistas, dez professores
manifestaram que somente usariam produtos geneticamente modificados se
tivessem certeza de que no fazem mal. Exemplificando:
Os laboratrios de repente, porque esto lidando com isso. Mais
pesquisa, a gente no sabe ainda o que que vai acontecer com o meio
ambiente, com as pessoas que esto consumindo esses alimentos (...). O
pessoal que investiga n, para largar um produto com mais certeza, mais
confivel, porque, por enquanto, a gente no sabe, com certeza, os
efeitos.
Nesta manifestao, alm de uma justificada preocupao com a sade,
com o ambiente, expressa uma concepo epistemolgica que situa CT no
campo das certezas absolutas, das respostas definitivas. Assim, se CT
fornecem certezas, nada melhor do que o tcnico, o especialista para
decidir.
O absoluto, as certezas, constituem-se de compreenses inclinadas para
a tecnocracia no para a democracia. Certezas excluem decises polticas,
dificultam a participao democrtica. Acevedo, j citado, assinalou que a
tendncia em apoiar um modelo de decises tecnocrticas parece acentuarse em estudantes de cincias. Poder-se-ia pensar que um estudante de
Cincias e, portanto, um possvel futuro professor de Cincias, no atual
processo formativo, unicamente disciplinar, tem a quase totalidade do seu
tempo e seu universo cognitivo ocupado com preocupaes restritas ao
campo cientfico. Assim, esse campo fornece os critrios para as decises.
Quanto passividade diante do desenvolvimento cientfico-tecnolgico:
O endosso ou no ao determinismo tecnolgico foi avaliado a partir de
posicionamentos dos professores em relao Internet (Anexo 1, situao
3), ao desemprego (Auler 2002, situao 6) , bem como sobre os
transgnicos (Anexo 1, situao 5). Assim:
Em relao internet: h uma tendncia geral, entre o conjunto de
professores, 15 deles, em revelar concordncia com a afirmao O alfabeto
do futuro: A internet estabelece o ritmo do progresso, impe sua presena
em todas as dimenses da vida e se converte em condutora dos rumos da
civilizao, no manifestando nenhum posicionamento crtico em relao
mesma.
Sobre a afirmao em relao aos transgnicos A onda irreversvel,
tambm constata-se uma tendncia (13 professores) de endosso a esta
348
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
afirmao, sinalizando para a incapacidade de reverso do processo. Nesse
pensamento majoritrio, no h a percepo de outros possveis
encaminhamentos.
Relativamente ao desemprego, h uma tendncia majoritria que no
visualiza perspectivas diante do atual cenrio,
constituda por 12
professores.
Em sntese, no tem sido freqente o endosso ao determinismo
tecnolgico tal como caracterizado anteriormente. Poucas tm sido as
manifestaes explcitas que consideram a tecnologia autnoma e
independente das influncias sociais. Contudo, pode-se identificar uma forte
tendncia vinculada ou que possui alguma semelhana com o determinismo
tecnolgico. Trata-se de uma caracterstica, de um eixo que perpassa o
conjunto das manifestaes, a qual
sugere a ausncia de reflexo,
passividade e, acima de tudo, a incapacidade de reao, a ausncia de
perspectivas quanto encaminhamentos alternativos em relao ao
desenvolvimento cientfico-tecnolgico contemporneo e sua repercusso na
sociedade. Parece haver uma aproximao quilo que Winner (1987) chama
de sonambulismo tecnolgico.
Neste sentido, h indicativos de que os professores em geral e mesmo
aqueles com um perfil mais prximo dos parmetros, repetem,
acriticamente, alguns dos discursos constantemente veiculados por meios
de comunicao. Por exemplo, passam a concordar com discursos que, tal
qual aquele sobre a Internet, carregam marcas do determinismo
tecnolgico. Parece haver um endosso acrtico, um assumir que
possivelmente decorre da
falta de problematizao dos mesmos, da
ausncia de reflexo, aspecto que sinaliza desafios para o ensino de
Cincias.
Quanto superao da perspectiva salvacionista/redentora atribuda
CT:
Uma
terceira
tendncia,
a
superao
da
perspectiva
salvacionista/redentora atribuda CT, foi analisada focalizando-se dois
temas contemporneos: o problema da carncia alimentar (anexo 1,
situao 4) e a poluio (Auler, 2002, situao 7). Em relao ao
problema da fome, h uma rejeio quase total. Dezessete (17), dos 19
professores entrevistados, no endossam a posio de que mais CT, no
caso os produtos geneticamente modificados, venham a solucionar esse
problema. Relativamente poluio, na anlise realizada, apenas trs
professores endossam a perspectiva salvacionista.
Em relao ao problema da fome, apesar de ocupar grande espao na
mdia, a idia de que os transgnicos venham a saciar a fome, foi
amplamente rejeitada. Isso sinaliza para a superao do mito da
perspectiva salvacionista, ou seja, da relao linear entre incremento em
CT, produo de alimentos e resoluo do problema da fome. Nas falas, h
uma compreenso bastante clara quanto apropriao desigual dos
resultados desse desenvolvimento.
A perspectiva salvacionista, no combate poluio, segundo a qual um
simples incremento de CT seria suficiente para resolver tal problemtica, tal
como j acontecera em termos de suprir a carncia alimentar, recebeu um
349
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
apoio bastante restrito por parte dos professores. Contudo, apesar de
minoritrias, h posies de endosso:
Por mais que cada vez que os anos passem a poluio seja muito
maior, mas as solues tambm vm junto n. (...) No meu ver elas
caminham juntas. Aumenta a poluio, aumentam os problemas, mas as
solues vm junto. Quer dizer, no junto, mas logo atrs, tentando.
(Auler, 2002, situao 7).
Consideraes finais
H indicativos de que a falta de coerncia interna, anteriormente
mencionada, esteja associada a uma compreenso confusa, ambgua sobre
a no neutralidade da Cincia-Tecnologia. Este aspecto requer novas
investigaes. Contudo, h elementos que autorizam esta hiptese. Tanto
a pesquisa bibliogrfica, quanto elementos da pesquisa realizada com os
professores, convergem para este ponto. Assim, em relao primeira,
pode-se destacar as discusses de Garcia et al. (1996), dentre outros,
quando apontam o surgimento do movimento CTS naqueles contextos em
que emerge uma nova compreenso sobre o papel da CT na sociedade,
deslocando-as do mbito da suposta neutralidade, remetendo-as para o
espao da debate poltico.
Em relao aos resultados das entrevistas, mesmo de forma difusa,
parecem estar apontando para a ausncia, no pensar destes professores,
dessa nova compreenso do papel da CT na sociedade. Mesclam-se, na
compreenso destes, concepes de neutralidade e de no neutralidade da
CT, dependendo do fenmeno, da temtica em questo, sinalizando para a
forte presena de ambigidades.
Essa falta de clareza, a ambigidade parece estar relacionada
complexidade do tema, considerando que a no neutralidade da CT pode,
efetivamente, ser discutida a partir de vrios ngulos. No decorrer do
processo de investigao, foi-se constatando a necessidade da clarificao e
explicitao de dimenses/critrios que contribussem em precisar estes
significados. Assim, no contexto da pesquisa (Auler, 2002), a suposta
neutralidade da CT foi analisada e problematizada a partir de quatro
dimenses, interdependentes:
O direcionamento dado atividade cientfico-tecnolgica (processo)
resulta de decises polticas;
A apropriao do conhecimento cientfico-tecnolgico (produto) no
ocorre de forma eqitativa. o sistema poltico que define sua utilizao;
O conhecimento cientfico produzido (produto) no resultado apenas
dos tradicionais fatores epistmicos: lgica + experincia;
O aparato ou produto tecnolgico incorpora, materializa interesses,
desejos de sociedades ou de grupos sociais hegemnicos. Portanto, no se
sustenta uma compreenso consagrada pelo senso comum, que afirma
mais ou menos o seguinte: A tecnologia no nem boa e nem ruim, tudo
depende do uso que dermos a ela. Alm disto, nesta compreenso, est
implcito de que h o "bom" e o "ruim". Ou seja, o que bom para um,
bom universalmente.
350
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
Por exemplo, determinado professor considera que a tecnologia no
neutra, argumentando que h uma apropriao desigual. Ao mesmo tempo,
considera a tecnologia uma ferramenta neutra, nem boa e nem ruim,
utilizvel para o bem ou para o mal, ignorando que esta carrega as marcas,
os interesses e caractersticas de sociedades ou de grupos hegemnicos em
determinado momento histrico. Ou seja, mesclam-se, na compreenso
destes, concepes de neutralidade e de no neutralidade, dependendo da
situao, da temtica em questo:
Acho que no resolve o problema da fome. Essa tecnologia chega para
todo mundo? (posio de no neutralidade, segunda dimenso
anteriormente elencada)
e
Neutro, meio assim, a neutralidade, ela t a: pode ser utilizado paro o
bem e para o mal (posio de neutralidade, quarta dimenso
anteriormente elencada).
sintomtico que, dos 19 professores entrevistados, 16 concordam
integralmente, inclusive com comentrios como este ltimo, com a segunda
afirmao presente na situao 8 (anexo1), reproduzida em seguida:
A tecnologia no nem boa e nem ruim, nem positiva e nem negativa
em si mesma. uma ferramenta neutra que pode ser tanto utilizada para o
bem quanto para o mal. Tudo depende do uso que dermos a ela.
Destaca-se, assim, a necessidade de, de um lado, considerar, no
processo formativo, as dimenses: Endosso ao modelo de decises
tecnocrticas, passividade diante do desenvolvimento cientfico-tecnolgico
e a necessidade
da superao da perspectiva salvacionista/redentora
atribuda CT. De outro, aprofundar investigaes sobre concepes
relativamente suposta neutralidade da CT, considerando que, uma
compreenso ambgua, incompleta pode ser uma das causas das
contradies presentes no pensar dos professores, aspecto que dificulta
uma compreenso mais crtica sobre as interaes entre CTS. A suposta
neutralidade pode estar, tambm, legitimando, no campo ideolgico,
modelos decisrios de cunho tecnocrtico.
Referncias bibliogrficas
Acevedo Daz, J. A. A. (1995). Educacin tecnolgica desde una
perspectiva CTS: Una breve revisin del tema. Alambique: Didctica de las
Ciencias Experimentales, II (3), 75-84.
Acevedo Daz, J. A. A. (1996). La Tecnologia em las Relaciones CTS: Una
Aproximacin al Tema. Enseanza de las Ciencias, 14 (1), 35-44.
Acevedo Daz, J. A. A. (2001). Publicar ou Patentear? Hacia una Ciencia
cada
vez
ms
ligada
a
la
Tecnologa.
Em:
www.campusoei.org/salactsi/acevedo4.htm.
Aikenhead, G. S., Ryan, A. G. e Fleming, R. W. (1989). Views on
Science-Technology-Society (VOSTS), Form CDN, Mc.5, Canad.
Amorim, A. C. (1995). O Ensino de Biologia e as Relaes entre
Cincia/Tecnologia/Sociedade: o que dizem os professores e o currculo do
351
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
Ensino Mdio?. Dissertao
Educao/UNICAMP.
de
Mestrado.
Campinas:
Faculdade
de
Auler, D. (1998). Movimento Cincia-Tecnologia-Sociedade (CTS):
Modalidades, Problemas e Perspectivas em sua Implementao no Ensino
de Fsica. Atas do VI Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Fsica.
Florianpolis/Brasil.
Auler, D. e Delizoicov, D. (1999). Vises de Professores sobre as
Interaes entre Cincia-Tecnologia-Sociedade (CTS). Atas do II ENPEC.
Vallinhos/Brasil.
Auler, D. e Delizoicov, D. (2001). Alfabetizao Cientfico-Tecnolgica
para qu?. Ensaio, 3(2), 105-115.
Auler, D. (2002). Interaes entre Cincia-Tecnologia-Sociedade no
Contexto da Formao de Professores de Cincias. Tese de Doutorado.
Florianpolis: CED/UFSC.
Caamao, A. (1995). La Educacin Ciencia-Tecnologia-Sociedad: Una
Necesidad en el Diseo del Nuevo Curriculum de Ciencias. Alambique:
Didctica de las Ciencias Experimentales, II (3), 4-6.
Delizoicov, D., Angotti, J. A. e Pernambuco, M. M. (2002). Ensino de
Cincias: Fundamentos e mtodos. So Paulo: Corts.
Fernndez, I., Gil, D., Carrascosa, J., Cachapuz, A., Praia, J. (2002).
Visiones deformadas de la cincia transmitidas por la enseanza. Enseanza
de las Ciencias, 20 (3), 477-488.
Freire, P. (1987). Pedagogia do Oprimido. 17 edio. Rio de Janeiro: Paz
e Terra.
Garca, J. L. et al. (1996). Ciencia, Tecnologa y
Sociedad: Una
Introduccin al Estudio Social de la Ciencia y la Tecnologa. Madrid:
TECNOS.
Gmez, R. J. (1997). Progreso, determinismo y pesimismo tecnolgico.
Redes, 4 (10), 59-94.
Iglesia, P. M. (1997). Una Revisin del Movimiento Educativo CienciaTecnologa-Sociedad. Enseanza de las Ciencias, 15 (1), 51-57.
Loureiro, S. M. (1996). Concepes de Tecnologia: Uma Contribuio
para a Formao de Professores das Escolas Tcnicas. Dissertao de
Mestrado. Florianpolis: CED/UFSC.
Ldke, M. e Andr, M. E. D. A. (1986). Pesquisa em Educao:
Abordagens Qualitativas. So Paulo: Ed. Pedaggica e Universitria-EPU.
Sachs, I. (1996). Brasil e os Riscos da Modernidade. Cincia Hoje, 20
(119), 12-14.
Solbes, J. e Vilches, A. (1992). El Modelo Construtrivista y las Relaciones
Ciencia/Tcnica/Sociedad (CTS). Enseanza de las Cincias, 10 (2), 181186.
Solbes, J. e Vilches, A. (1995). El profesorado y las actividades CTS.
Alambique: Didctica de las Ciencias Experimentales, II (3), 30-38.
352
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
Solbes, J. e Vilches, A. (1997). STS Interactions and the Teaching of
Physics and Chemistry. Science Education, 81, 377-386.
Trivios, A N. S. (1987). A Pesquisa Qualitativa em Educao. So
Paulo: Atlas.
Vilches, A. Gil, D. (2003). Construyamos un futuro sostenible: Dilogos
de supervivencia. Madrid: Cambridge University Press.
Winner, L. (1987). La ballena y el reactor: un bsqueda de los limites
en la era de la alta tecnologia. Barcelona: Gedisa.
353
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
Anexo 1
SITUAO 3
O ALFABETO DO FUTURO: A internet estabelece o ritmo do progresso,
impe sua presena em todas as dimenses da vida e se converte em
condutora dos rumos da civilizao.
Roteiro de questes:
- Nessa situao 3, temos uma manchete do Jornal Zero (ler). Para voc,
o que esta manchete transmite? Voc concorda com ela?
- Diz aqui: ...a internet estabelece o ritmo do progresso e se converte
em condutora dos rumos da civilizao. O que voc pensa disto?
- O agir humano, a ao da sociedade interfere ou pode interferir nos
rumos da civilizao, no ritmo do progresso estabelecido pela
internet?
- Ou o ritmo do progresso, os rumos da civilizao, esto fora da
interferncia da sociedade?
- A humanidade estaria perdendo o controle sobre a internet?
SITUAO 4
A situao quatro constituda de dois textos curtos. O primeiro fala da
carncia alimentar e o segundo sobre os transgnicos, sendo, neste,
focalizada a afirmao:
Com certeza os transgnicos saciaro a fome no prximo milnio.
Roteiro de questes:
- Na situao 4, h uma discusso sobre o problema da fome e outra
sobre organismos geneticamente modificados. Voc poderia comentar
algo sobre estes dois aspectos?
- Na Segunda parte, aqui embaixo, diz: Com certeza, os transgnicos
saciaro a fome no prximo milnio. Voc concorda com esta frase?
Qual a anlise que voc faz desta?
Ento, com o desenvolvimento dos produtos geneticamente modificados,
o problema da carncia alimentar, que afeta boa parte da populao do
planeta, estar sendo resolvida?
SITUAO 5
A situao cinco est constituda de um texto sobre os produtos
geneticamente modificados. O foco da entrevista a frase: A onda
irreversvel. Por mais forte que seja a desconfiana em relao aos produtos
geneticamente modificados, no h mais como fugir deles.
Roteiro de questes:
- No texto, Tem comida estranha na geladeira, h algo que voc
poderia comentar?
354
Revista Electrnica de Enseanza de las Ciencias Vol. 5 N2 (2006)
- Aqui, no incio, uma frase que diz o seguinte: A onda irreversvel. Por
mais forte que seja a desconfiana em relao aos produtos
geneticamente modificados, no h mais como fugir deles. Voc
concorda com ela? Qual a tua opinio sobre a mesma?
- A onda irreversvel. No h mais como fugir deles. No futuro,
seremos obrigados a produzir e consumir
produtos geneticamente
modificados. Voc concorda com isto?
- Ento, de que maneira esta onda poder ser revertida?
- No texto est falando da soja transgnica. Vamos pegar o caso do RS,
onde a liberao ou no do plantio da soja transgnica bastante
polmica. Quem, para voc, deveria decidir quanto ao plantio ou no
dessa soja geneticamente modificada?
SITUAO 8
Considerando a neutralidade da tecnologia, esta pode ser utilizada em
qualquer contexto, justificando-se a transferncia tecnolgica de um
contexto para outro, de um pas para outro sem problemas.
A tecnologia no nem boa e nem ruim, nem positiva e nem negativa
em si mesma. uma ferramenta neutra que pode ser tanto utilizada para o
bem quanto para o mal. Tudo depende do uso que dermos a ela.
Roteiro de questes:
- Nessa situao 8, h uma afirmao que diz o seguinte: (ler primeira
frase) Voc concorda com ela? Comente-a.
- H uma outra afirmao dizendo: (ler segunda frase). Voc concorda
plenamente com esta afirmao, parcialmente, discorda da afirmao? Eu
gostaria que voc comentasse a sua resposta.
355
Você também pode gostar
- JÚRI SIMULADO DefesaDocumento6 páginasJÚRI SIMULADO DefesaAlan jonesAinda não há avaliações
- 40 Ebook Redacao Discursiva para Concursos Paulo KuririnpdfDocumento54 páginas40 Ebook Redacao Discursiva para Concursos Paulo KuririnpdfGerson Nunes Madeira100% (8)
- Resumo de Filosofia - ValoresDocumento6 páginasResumo de Filosofia - ValoresmarybettyAinda não há avaliações
- O Globo 040511Documento80 páginasO Globo 040511Ник ЧенAinda não há avaliações
- Resumo de SociologiaDocumento10 páginasResumo de SociologiaCorey HillAinda não há avaliações
- Provimento CGJ #56 - 2023Documento2 páginasProvimento CGJ #56 - 2023caldiasAinda não há avaliações
- Revoltas de Escravos em RomaDocumento209 páginasRevoltas de Escravos em RomaAnonymous XV0g9M2kdUAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Da Obra de James Mollison - Ieda TourinhoDocumento7 páginasResenha Crítica Da Obra de James Mollison - Ieda TourinhoIeda TourinhoAinda não há avaliações
- A Mandibula de Caim LivroDocumento101 páginasA Mandibula de Caim Livrokayquenunes721Ainda não há avaliações
- AV2 - Planejamento de CarreiraDocumento3 páginasAV2 - Planejamento de CarreiraJuliana Leite100% (1)
- LLKKLLKDocumento4 páginasLLKKLLKEmanuel RojasAinda não há avaliações
- Gestao Documental Projeto CompletoDocumento11 páginasGestao Documental Projeto Completoevertonp100% (6)
- Módulo 01 - Conceitos Introdutórios Sobre Federalismo e Federalismo FiscalDocumento34 páginasMódulo 01 - Conceitos Introdutórios Sobre Federalismo e Federalismo FiscalRenata Leandro0% (1)
- Apoio de Estudo de Matematica (Unidades)Documento5 páginasApoio de Estudo de Matematica (Unidades)Arlindo Sebastião MiguelAinda não há avaliações
- Morte e Vida Serverina - Uma Análise Histórico-BiográficaDocumento3 páginasMorte e Vida Serverina - Uma Análise Histórico-BiográficaMatheus AlvesAinda não há avaliações
- Linchamentos: A Justiça Popular No Brasil.Documento2 páginasLinchamentos: A Justiça Popular No Brasil.Marco AndradeAinda não há avaliações
- Analise Da Operacionalizacao de Correntens Culturais Que Predominaram em MoDocumento10 páginasAnalise Da Operacionalizacao de Correntens Culturais Que Predominaram em MoEnoe Mendes100% (1)
- Lei de Assedio Moral PDFDocumento4 páginasLei de Assedio Moral PDFmarcoanhangueraAinda não há avaliações
- 91782.1.1. Aula 01 - Introducao A Analise de Cadeias ProdutivasDocumento25 páginas91782.1.1. Aula 01 - Introducao A Analise de Cadeias ProdutivasDeivine AlmeidaAinda não há avaliações
- 400 Questoes de Portugues para Concursos e VestibularesDocumento85 páginas400 Questoes de Portugues para Concursos e VestibulareskuxuxsavAinda não há avaliações
- O Catch Como MitoDocumento2 páginasO Catch Como MitoPaulo Henrique de AragãoAinda não há avaliações
- Jubilamento AindaDocumento3 páginasJubilamento AindaGracielle ValerioAinda não há avaliações
- A Desobediência À Lei FinalllDocumento3 páginasA Desobediência À Lei FinalllAssassinAinda não há avaliações
- Relatório Final Prêmio CF Ed - 2012 2 PDFDocumento441 páginasRelatório Final Prêmio CF Ed - 2012 2 PDFMa BluegudeAinda não há avaliações
- Um Grito No Ar - Comunicação e Criminalização Dos Movimentos Sociais PDFDocumento346 páginasUm Grito No Ar - Comunicação e Criminalização Dos Movimentos Sociais PDFMarcos CesarAinda não há avaliações
- Meteorologistas e Profetas Da ChuvaDocumento23 páginasMeteorologistas e Profetas Da ChuvaRenzoTaddeiAinda não há avaliações
- (RESUMO) CINTRA, Antônio Octávio. 05:06 2Documento4 páginas(RESUMO) CINTRA, Antônio Octávio. 05:06 2Adriano CunhaAinda não há avaliações
- Secretariado Executivo e Assessoria Na Administração Pública - One CursosDocumento3 páginasSecretariado Executivo e Assessoria Na Administração Pública - One CursosRaquel AmadoAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa Greves de FomeDocumento25 páginasProjeto de Pesquisa Greves de FomeCarolina AlbuquerqueAinda não há avaliações
- História Das Eleições No BrasilDocumento7 páginasHistória Das Eleições No BrasilRayssa JardimAinda não há avaliações