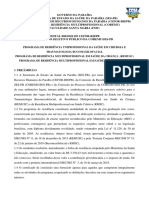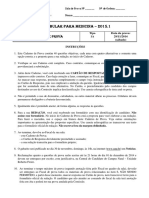Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ARQUIVO TextocompletoMiltonLahuerta
Enviado por
odi1984Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ARQUIVO TextocompletoMiltonLahuerta
Enviado por
odi1984Direitos autorais:
Formatos disponíveis
A cincia poltica e os hbitos do corao revisando as relaes entre
cultura poltica, intelectuais e senso comum
Milton LAHUERTA1
A reflexo poltica realizada no Brasil nos ltimos vinte anos adotou cada vez
mais os ngulos rational choice e (neo) institucionalista na anlise do processo de
democratizao da sua sociedade, enfatizando sobremaneira o comportamento racional
dos atores e o funcionamento da dinmica institucional. Seguiu nesse sentido fenmeno
mundial (GREEN & SHAPIRO, 2000, p.169), aderindo quilo que alguns autores tm
chamado de agenda americana de pesquisas polticas e sociais com seus pressupostos
de matriz individualista metodolgica e com sua antropologia centrada no homus
economicus, calculista de resultados e maximizador de interesses (VIANNA, 1997). A
adeso a essa agenda levou a que se privilegiasse o indivduo racional e o
funcionamento das instituies, tratando os processos polticos como se eles se dessem
exclusivamente no mbito sistmico e no mantivessem nenhuma espcie de vnculo
com o mundo da vida. Esse ngulo de anlise, ainda que tenha contribudo para a
elaborao de pesquisas mais preocupadas com a demonstrao emprica e com a
descrio minuciosa dos fenmenos analisados, teve tambm o inconveniente de
abdicar excessivamente de outras dimenses do fenmeno poltico que vo alm do
homus economicus e da lgica estritamente institucional (ANDREWS, 2005). De certo
modo, reitera-se nesse tipo de dmarche o horizonte schumpeteriano2, minimalista e
procedimental, na definio da democracia para caracterizar o processo de transio
poltica vivenciado por ns.
Nesse diapaso, considerou-se que, enfim, a democracia estaria consolidada no
pas pela vigncia de um quadro constitucional estvel e pelo respeito s regras do jogo;
1
Professor de Teoria Poltica Departamento de Antropologia, Poltica e Filosofia UNESP-CAr /
Programa de Ps-Graduao em Cincia Poltica-UFSCar.
2
As teorias chamadas de elitistas e realistas, principalmente na segunda metade do sculo XX,
pretenderam estabelecer que no mundo contemporneo s caberia uma definio procedimental e
minimalista da democracia. Esse ponto de vista, inaugurado por J. Schumpeter e aprofundado pelas
teorias econmicas e pluralistas da democracia to caractersticas da cincia poltica contempornea
, se imps de forma bastante enftica nas ltimas dcadas.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 1
pela rotinizao de eleies competitivas, com seus resultados sendo aceitos sem
questionamentos quanto aos procedimentos; pelo cumprimento dos mandatos eletivos,
sem ameaas de quebra da institucionalidade; pela capacidade de os governos
realizarem suas polticas; e pela autonomia entre os poderes.
No entanto, diante da velocidade e da virulncia com que a sociedade brasileira
tem dado as costas s instituies pblicas, parte da investigao e da reflexo sobre a
vida poltica est sendo compelida a ir alm da anlise institucional, da definio
minimalista da democracia e da lgica rational choice, voltando a atentar para um ponto
bastante negligenciado nas anlises excessivamente institucionalistas: a constatao de
que h um nvel de violncia e de incivilidade no comportamento cotidiano dos
brasileiros que se mostra em crescente descompasso com os padres considerados
racionais e identificados como prprios e necessrios aos processos de consolidao da
democracia. No so poucos os analistas que insistem quanto aos riscos inerentes a essa
dissociao entre democratizao social, ausncia de cultura cvica e baixa
institucionalizao da democracia poltica (CARVALHO, 2002a, 2002b). Basta notar
como, de modo cada vez mais acentuado, amplas camadas da populao simplesmente
deixam de reconhecer o Estado como garantia da norma legtima, recusam a ordem
jurdica e procuram resolver seus problemas sem levar em conta a lei ou, simplesmente,
colocando-se contra ela.
Esses riscos ficam mais evidentes, em virtude do Brasil ter se tornado, durante
os vinte anos de ditadura militar, uma sociedade urbano-industrial extremamente
dinmica, com grande energia individual, mas marcada por uma das maiores
desigualdades do planeta. Da que, face s transformaes mundiais vividas sob a gide
do processo de globalizao, essa sociedade desigual, antidemocrtica, avessa aos
direitos e deveres prprios da tradio constitucionalista do Ocidente e, alm disso,
extremamente violenta se defronta com um processo de enfraquecimento do Estado-
nao que ameaa a legalidade vigente e coloca em questo as formas mais elementares
de vida civilizada sociabilidade e as instituies da democracia representativa3.
3
Procurei articular uma reflexo preliminar sobre isso no texto Brasil, a democracia difcil: violncia e
irresponsabilidade cvica. In Poltica Democrtica Revista de Poltica e Cultura. Braslia: Fundao
Astrojildo Pereira, v.1, jan./abr. 2001, p83-96..
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 2
A pauta racional legal diante da persistncia dos hbitos do corao
A preocupao com esse problema nos coloca no cerne do debate sobre as
conseqncias e limites dos processos de transio e legitimao da democracia em
sociedades perifricas. Na anlise dos processos de transio democrtica, em linhas
gerais, vo se contrapor duas grandes linhas de abordagem: uma definida como
racionalista e a outra como culturalista (KRISCHKE, 1997). Ainda que os limites entre
uma e outra sejam freqentemente ultrapassados, sinteticamente poderamos apresent-
las da seguinte forma: para a abordagem racionalista, a ao das elites polticas o
elemento decisivo nos processos de transio para a democracia, na medida em que so
elas que criam as instituies racionais que garantiro o funcionamento da democracia.
As reformas estruturais impostas ao conjunto dos pases latino americanos, com sua
subordinao lgica econmico-financeira, so expressivas desse tipo de suposto
terico que pretende impor um padro de racionalidade abstrato como modelo para toda
e qualquer sociedade, a despeito de suas tradies culturais e experincias acumuladas.
No mesmo sentido tambm se pode falar das propostas de reforma do Estado e de
reforma administrativa. Ou seja, como conseqncia dessa viso racionalista, se jogaria
toda nfase da ao naquilo que poderamos qualificar como engenharia institucional,
minimizando-se ou at ignorando outras dimenses constitutivas do comportamento
poltico de uma dada sociedade4. Talvez a principal objeo que se possa fazer a essa
perspectiva resida em sua dificuldade de lidar de forma satisfatria com a permanncia
de instituies, comportamentos e atitudes autoritrias na nova situao poltica
(ODONNELL, 1991).
No outro extremo colocam-se as abordagens culturalistas, inspiradas de certo
modo no trabalho de Almond e Verba, que localizam como principal problema para a
consolidao democrtica a inexistncia de uma cultura poltica que lhe seja afim, mais
especificamente referem-se ausncia de civismo. Resgatando preocupao antiga,
esses autores vo procurar analisar os processos de transio para a democracia
enfatizando a necessidade de criao prvia de consensos normativos favorveis sua
consolidao (MOISS, 1995; CARVALHO, 2002). Ou seja, colocando-se num
diapaso oposto ao ngulo anterior, para o qual o problema da democracia aparece
4
Praticamente, uma parte expressiva da cincia poltica brasileira foi hegemonizada por essa forma de
pensar.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 3
ligado essencialmente ao racional de lideranas democrticas e reformistas, essa
vertente vem lanar luz sobre aqueles fatores polticos e culturais da ao que so
muitas vezes desconsiderados pelo conhecimento especializado que procura articular
economia, sociedade e poltica5. Com essa preocupao, procura-se lanar luz na
pesquisa sobre as motivaes do comportamento poltico, analisando,
comparativamente, as dinmicas culturais nos processos de legitimao dos regimes
democratizantes, especialmente, em contextos perifricos (KRISCHKE, 1997).
Para se interpretar os sucessos e, principalmente, os malogros dos regimes
democratizantes na Amrica Latina e no leste europeu, buscou-se no s o resgate de
autores clssicos, especialmente de Tocqueville, mas tambm uma reativao do debate
mais contemporneo sobre cultura poltica, inaugurado pelo clssico livro The civic
culture, escrito por Almond e Verba (1963), no inicio da dcada de 1960. Nessa
reativao, Ronald Inglehart (1988; 1997) tem papel de destaque, j que retoma o
trabalho de Almond e Verba e demarca o renascimento do conceito de cultura
poltica, num contexto em que a anlise comparativa das dinmicas culturais em
processos de legitimao de regimes democratizantes em sociedades perifricas
ganhava fora (INGLEHART, 1988)
Seja l como nos coloquemos entre esses plos extremos, indubitvel que
fazem sentido os esforos tericos realizados no sentido de se articular, especialmente
nos contextos das democracias recentes, o ngulo institucional racional e essas
condies complementares vigncia do sistema representativo. Ou seja, cada vez
mais, h um reconhecimento de que necessrio, para se compreender a performance
de uma democracia determinada, levar em conta os condicionantes culturais, no sentido
de se pensar a sociedade e o processo poltico como uma comunalidade de valores, de
padres tico-culturais capazes de unificar vontades e conscincias, comportamentos e
instituies. Sem essa dimenso, as instituies no se enrazam e no se efetivam
5
Essa vertente muitas vezes criticada por estar informada por uma noo de cultura homognea e
referida a um modelo de homem e de indivduo que se pretende, normativamente, generalizvel para
qualquer sociedade. Na formulao original do conceito de cultura poltica, tal qual proposto por
Almond e Verba, haveria uma concepo normativa baseada na experincia histrica dos EUA e da
Gr-Bretanha que seria colocada como um pressuposto necessrio para a implantao e consolidao
da democracia. Inspirado no modelo anglo-saxo, o conceito de Almond e Verba teria um componente
etnocntrico, j que a democracia pressuporia um padro cultural adequado que relevasse a condio
subjetiva da aquiescncia e a transpusesse para a esfera pblica sob a forma de uma generalizada
quietude poltica dos governados em relao aos governantes. (CARVALHO, M., 2002, p.317)
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 4
plenamente, gerando com isso grande incerteza quanto ao processo democrtico. De
certo modo, esse argumento vem sendo, crescentemente, utilizado para alimentar
interpretaes bastante pessimistas sobre as democratizaes em curso nos pases latino
americanos e, obviamente, dentre eles, no Brasil. Com maior ou menor consistncia, se
consolida uma interpretao centrada na idia de que a debilidade da democracia
decorreria da no implantao de uma cultura poltica cvica nessas sociedades.
Dentre as diversas formas de se enfrentar o dficit de cultura cvica, a que d
nfase ao tema do capital social, como pr-requisito da cooperao e da confiana, e
como elemento decisivo para explicar boas performances democrticas
(PUTNAN,1996; LEVI,2001; BOURDIEU, 2001; COLEMAN,2001), tem sido bastante
mobilizada na anlise comparativa de processos democratizantes. E, ainda que haja
grande controvrsia quanto ao significado desse conceito, possvel defini-lo a partir da
idia de que o capital social um mdium, cujo sentido passvel de apreenso por
vrios e diferentes setores da sociedade, capaz de organizar aes e exprimir
racionalmente um sentimento de democracia (CARVALHO, M.A., 2002). Essa
formulao importante, pois nos pases que vivenciaram processos tardios de
institucionalizao da democracia, a sua legitimidade no um dado e nem se constitui
somente em termos instrumentais, referidos apenas performance dos governos em
questes administrativas e econmicas. Principalmente, porque nesses contextos tardios
de construo democrtica, de maneira geral, as demandas no so bem definidas e
apresentam-se em meio a muita inquietude e desconfiana6, j que neles tambm so
ativados processos de reconstruo de identidades coletivas que acabam por
sobrecarregar a agenda democratizadora. Contudo, interessante observar que esse
fenmeno cada vez menos permanece restrito aos contextos de modernidade perifrica,
constituindo-se no como uma reminiscncia do passado das sociedades centrais que
6
As experincias dos cidados que influem sobre a confiana poltica esto associadas com a vivncia de
regras, normas e procedimentos que decorrem do princpio da igualdade de todos perante a lei. Mas
elas tambm mostram que a avaliao dos cidados sobre as instituies depende do aprendizado
propiciado a eles por seu funcionamento. Se essas instituies se mostram capazes de garantir o
universalismo, a imparcialidade, a justeza e a probidade de seus procedimentos, ento elas geram
solidariedade e recebem a confiana dos cidados. Se o que ocorre o contrrio disso, com a
prevalncia da ineficincia, com a indiferena diante dos direitos assegurados por lei e com a
reiterao de prticas de corrupo, inevitvel que se instale um clima de suspeio, de descrdito e
de desesperana dos cidados com relao no s s instituies que regulam a vida social, mas
tambm de menosprezo pela atividade poltica enquanto tal (MOISS, 2005, P.91-92)
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 5
insiste em no perecer, mas sim como uma espcie de antecipao dramatizada do que
pode ocorrer com essas mesmas sociedades centrais. A exploso das periferias nos
ltimos anos, atingindo o centro da modernidade capitalista e no se restringindo apenas
aos pases considerados subdesenvolvidos, expressiva do que pode significar a ruptura
com um padro definido de expresso das demandas, identificado com a tradio
racional legal do Ocidente e marcado pela lgica do (auto) interesse organizado em
busca de direitos (ZIZEK, 2004).
bvio, porm, que em contextos como o vivido no Brasil o problema torna-se
mais dramtico. A dramaticidade da situao se expressa tambm por que carncias
seculares explodiram nas duas ltimas dcadas demandando sua resoluo por parte do
Estado, exatamente, num quadro de esgotamento das instituies que permitiram a
consolidao da autoridade pblica em bases racionais legais, com fortes conseqncias
na eroso da solidariedade social (BENDIX, 1996). Ou seja, nos encontramos no cerne
daquilo que Benedict Anderson qualificou de uma crise do hfen que, durante duzentos
anos, uniu o Estado e a nao [na expresso nation-state] (ANDERSON, 1993: p.15),
sem que tenhamos atingido um patamar mnimo de efetiva unio entre esses dois
termos. Mais precisamente, vivemos como que um duplo presente: de um lado, somos
parte do processo universal contemporneo, vivido sob o signo da globalizao e
marcado pela crise do princpio da superioridade do Estado-Nao como ator coletivo
de organizao da vida social (em especial, encontra-se na berlinda o chamado estado
desenvolvimentista); num outro plano, vivemos um perodo de plena emergncia dos
interesses privados e de fortalecimento da ideologia do mercado como mecanismo de
articulao ideolgica, que no nosso caso mescla-se com a recusa cultural da herana
ibrica, identificada com patrimonialismo e autoritarismo, e com o empenho poltico e
intelectual de enterrar a tradio poltica que pensou a construo do Estado como
sinnimo da construo da nao (BARBOSA FILHO, 2000).
O fato que pelos dois movimentos, ocorre uma valorizao indita do mercado
como princpio de organizao social que se traduz por uma forte ativao da sociedade
civil, no mesmo movimento em que se generaliza um sentimento contrrio poltica e
que alimenta uma averso crescente pelo que pblico. Nesse contexto, ocorre um
intenso debate sobre as relaes estabelecidas na histria do pas entre a dimenso
pblica e a dimenso privada. A conseqncia disso a desvalorizao de tudo que diz
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 6
respeito autoridade pblica, bem como a apologia de um conjunto de frmulas
organizativas (redes sociais, associativismo comunitrio, movimentos sociais,
cooperativas de produtores, etc.) empenhadas em resgatar, muitas vezes de forma
intuitiva, o tema mais geral da confiana na ao coletiva e, por extenso, de
valorizao da democracia. Tais formas organizativas, ainda que muitas vezes
inovadoras, no florescem, contudo, no vcuo. Requerem a existncia de experincias
acumuladas que permitam tornar pblicas as principais questes relativas sociedade,
bem como demonstrar que essas questes no so indiferentes vida do cidado
comum. Essas experincias (esse capital social acumulado), bem como o seu resgate
como autoconhecimento social, pressupem por sua vez algum tipo de comunicao
entre pensamento especializado e a ao cotidiana dos indivduos de uma dada
sociedade.
A ponderao ganha mais significado quando observamos que a maioria dos
estudos sobre cultura poltica, realizados no Brasil, em larga medida, se mantm nos
marcos da lgica que orienta a tradio inaugurada por The civic culture, com a
realizao de pesquisas de tipo survey para a verificao emprica de hipteses sobre a
estabilidade democrtica (BAQUERO, 1995; BAQUERO & CASTRO, 1996; MOISS,
1995).
Castro (2002) demonstra, inclusive, como essa abordagem teria chegado a um
impasse ao formular um diagnstico paradoxal. Ou seja, a maioria dos surveys
realizados em pesquisas sobre cultura poltica no Brasil revelaria uma situao na qual,
ao mesmo tempo em que os entrevistados assumiam uma forte adeso a questes
ligadas aos procedimentos democrticos (democracia como forma), manifestavam
tambm uma fraca adeso aos valores democrticos (democracia como contedo). A
conseqncia prtica desse aparente paradoxo seria o desenvolvimento de um padro
que combinaria atitudes e comportamentos polticos autoritrios e democrticos.
Justamente com a perspectiva de explicar esses paradoxos, Castro sugere a incorporao
de Antonio Gramsci e de sua teoria da hegemonia, j que essa permitiria a incorporao
da dimenso do poder nas anlises da cultura poltica. Ou seja, a dominao nas
sociedades capitalistas, principalmente nas contemporneas, para alm da dimenso
coercitiva, necessitaria do consentimento espontneo dado pelas grandes massas da
populao direo geral imposta vida social pelo grupo dominante (GRAMSCI,
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 7
1999). Esse consentimento ocorreria quando os setores hegemnicos se mostrassem
capazes de constituir um sistema de crenas e valores que se transformaria em um
renovado senso comum, ao mesmo tempo em que essas crenas e valores se tornariam,
por sua vez, constituintes da sociedade7.
Nesse sentido, a simples ampliao da agenda dos especialistas em determinados
momentos histricos pode ter forte impacto na extenso do crculo de interlocutores
preocupados em se posicionar sobre ela8. Em tais momentos, do ponto de vista da
cultura poltica da sociedade, possvel se estabelecer consensos mais substantivos
acerca do que fundamental para a vida. Isso significa que qualquer avano efetivo no
modo como uma determinada sociedade valoriza (ou no) a democracia requer no
apenas conhecimento que os especialistas desenvolvem sobre ela, mas tambm
socializao desse conhecimento num sentido que essa sociedade possa de fato se
autoconhecer. Ou seja, enfrentar os temas que expressam o menosprezo pela poltica e
pela democracia a desvalorizao da vida pblica, o individualismo, a violncia, a
incivilidade, a desigualdade e a desagregao social, entre outros exige, mais do que
nunca, enfrentar a questo do autoconhecimento social, o que por sua vez implica o
7
Tal incorporao de Antonio Gramsci pode se revelar um caminho promissor para se dar um passo nos
estudos sobre cultura poltica que v alm tanto dos surveys que revelam situaes paradoxais, mas
no as explicam quanto dos debates em torno do capital social que diagnosticam o dficit de
civilidade, mas que no limite pensam em solucion-lo quase que, exclusivamente, atravs da reforma
das instituies. tambm extremamente interessante para se pensar os fundamentos da cultura
poltica vigente no Brasil, pois nos obriga a refletir sobre as relaes entre conhecimento
especializado e senso comum.
8
Penso, sobretudo, em trs momentos expressivos de aproximao do conhecimento especializado e a
sociedade no Brasil. O primeiro est referido aos movimentos culturais do final da dcada de 1950 e
do comeo da de 1960 (com o ISEB, A poltica externa independente, com os CPCs, etc.) que
colocaram para a sociedade essencialmente uma agenda nacionalista, crtica do imperialismo e da
alienao colonial, conscientizadora, emancipatria, nacionalista, etc. Numa palavra, tais
interpretaes colocaram uma agenda marcada pelo tema do desenvolvimento nacional.
O segundo momento refere-se ao perodo ditatorial e de luta pela democratizao do pas, quando se
criticou no apenas o regime militar, mas tambm a tradio autoritria expressa no Brasil pelo culto
ao estado, pelo nacionalismo e pelo desenvolvimentismo , em nome do fortalecimento da sociedade
civil e da conquista da democracia. Sinteticamente, possvel dizer que essa agenda foi marcada pela
contraposio autoritarismo X democratizao.
E, por fim, como terceiro momento, possvel vislumbrar este em que nos encontramos no qual os
ndices de violncia parecem ameaar a vida civil e quando se desenvolve um monumental esforo
de reflexo sobre as cidades brasileiras (suas histrias, seus recortes tnicos e etrios, suas tradies
culturais), procurando compreender enfim o panorama sociolgico sobre o qual se ancoram o crime, a
violncia e as aes transgressoras. Esse movimento pode nos conduzir, como ocorreu nos dois
momentos anteriores a que me referi, a algum tipo de acordo pblico sobre nossa realidade social, o
que, sem sombra de dvidas, teria grande impacto na cultura poltica brasileira.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 8
enfrentamento do tema dos valores. O que demanda, por sua vez, uma nova relao
entre conhecimento especializado e senso comum, mais especificamente entre as
cincias sociais e o homem ordinrio. Ou, dito em outros termos, implica uma nova
relao entre intelectuais e sociedade, que leve em conta no apenas os ditames da pauta
racional legal, mas tambm a sobrevivncia dos chamados hbitos do corao. Por
isso, razovel pensar que as pesquisas sobre cultura poltica devem ser articuladas
tambm com as interpretaes do Brasil (sejam elas anteriores ou posteriores
institucionalizao universitria, mais ou menos cientficas) e com o modo como os
intelectuais se organizam. Especialmente, no sentido de que a legitimidade pretendida
por um conhecimento que se pretende cada vez mais especializado e cientfico no
deixa de ser, nesse caso, tambm o resultado de um conflito de interpretaes. Donde
pode-se dizer que ensaios e pesquisas interpretam o Brasil tambm como parte
constitutiva e constituinte da estrutura de valores e das relaes de poder, implcitas nos
processos ideolgicos de construo do social.
Cultura poltica autoritria, conhecimento especializado e senso comum
Com a perspectiva de refletir sobre a relao entre conhecimento especializado e
senso comum, neste item procurarei abordar a maneira como a reflexo social resultante
da institucionalizao universitria tratou as formas de pensamento consideradas
conservadoras, pr-cientficas e/ou pouco rigorosas. Na entrevista em que apresenta a
hiptese da existncia de um "pensamento radical de classe mdia", Antonio Candido
sugere que ele teria envolvido a maior parte dos socialistas e comunistas, e se
cristalizado a partir das dcadas de 1940 e 1950, especialmente na Faculdade de
Filosofia, Cincias e Letras da Universidade de So Paulo, a despeito da inteno
elitista de seus fundadores. Contra os que exigiam uma postura de adeso "revoluo",
Candido observa que o interesse maior da constelao ideolgica que ali se constitua,
empenhada em "favorecer um pensamento radical, e no assumir (uma impossvel)
posio revolucionria", o que teria representado enorme avano diante do "grosso do
pensamento (que) era maciamente conservador, e no raro reacionrio9".
9
Refiro-me entrevista de Antnio Candido revista Trans/form/ao, do Departamento de Filosofia da
Universidade Estadual Paulista UNESP-Assis, em 1974, parcialmente republicada em Teresina etc.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 9
Entendida como resultado de um processo tardio de constituio da universidade
e de institucionalizao das atividades intelectuais, realizado sob os auspcios de uma
elite liberal oligrquica, avessa centralizao que se segue revoluo de 1930, a
cincia social que ser formulada no Brasil, a partir dos mtodos e tcnicas aprendidos
com a presena de mestres estrangeiros, se propor a redescobrir o Brasil, no mais
com base no ensaio e nas grandes generalizaes, mas atravs da demonstrao
emprica e do rigor metodolgico. No toa, nessa dmarche terica, se tratar cincia
social rigorosa como equivalente funcional de pensamento progressista. De fato, no
processo de afirmao e institucionalizao da sociologia, como equivalente funcional
de cincias sociais rigorosas e modernas, ao se debruar sobre a histria do pas, essa
nova gerao de cientistas sociais buscou em outras referncias tericas o instrumental
para dar conta de nossa particularidade histrica, mantendo com o pensamento
conservador uma relao de recusa por princpio. Seja por consider-lo fascista, nazista,
autoritrio e, portanto, como moralmente desqualificado; seja por julg-lo destitudo de
cientificidade e de rigor, no merecendo, por isso, ser objeto de uma anlise sria. A
articulao dessas duas recusas notvel se observamos como, no Brasil, a reflexo que
se estabelece como intelectualmente hegemnica aps a segunda guerra vai
desconsiderar quase integralmente os pensadores anteriores. Principalmente os da
gerao de Oliveira Vianna, identificada como tendo vnculos intelectuais com o
fascismo e o nazismo. Esta postura, levada as ltimas conseqncias, se manifesta na
maneira como as cincias sociais de quando implantadas no Brasil, recusaram outras
formas de abordagem da realidade brasileira exatamente por no v-las nem como
moralmente relevantes nem com dignidade acadmica e rigor analtico para serem
levadas a srio10.
De tal forma isso se deu que em vrios momentos da histria intelectual do pas
ocorreu uma espcie de apagamento de determinadas linhagens de pensamento
(BRANDO, 2005), levando a que se negligenciasse a vigncia dessas formas de
10
Basta pensar a postura dos intelectuais da FCL da USP com relao ao ISEB. Em uma entrevista,
concedida revista Presena, no incio da dcada de 1980, Giannotti clarssimo, quando afirma:
Ns da USP, na poca, no conseguimos entender o ISEB, tnhamos uma postura de menosprezo
pelo ISEB, pois ele no cumpria a pauta de rigor terico que desenvolvamos na USP. Para ns no
ISEB havia uma tralha ideolgica que teria de ser jogada no lixo. No entanto, hoje sou obrigado a
reconhecer que no meio da tralha ideolgica do ISEB havia uma questo fundamental que no
entendamos, que era questo da relao Estado e sociedade.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 10
pensar no mbito da cultura poltica. Isso vlido no s no que se refere ao
esquecimento a que foi submetido o pensamento autoritrio da Primeira repblica,
mas tambm quando observamos o tratamento reservado pela sociologia cientfica,
elaborada em especial na universidade de So Paulo, ao nacionalismo, ao
desenvolvimentismo e ao assim chamado populismo.
Nesse registro intelectual as idias (o pensamento social) que no fossem
consideradas fundamentadas cientificamente no teriam importncia para a cultura e
para o desenvolvimento de uma sociedade. Na realidade seriam episdios tpicos de
aventureiros intelectuais, fceis de serem demolidos conceitualmente a partir de uma
anlise pautada por princpios rigorosos e cientficos. Inclusive, esse foi o
comportamento que muitos crticos marxistas brasileiros, de maneira geral, levaram s
ltimas conseqncias11. Opera-se assim uma espcie de desmontagem terica e
conceitual de determinada constelao ideolgica, mostrando o carter intrinsecamente
falso e parcial da concepo de mundo que lhe d sustentao, e com isso descartando-a
por seu reacionarismo.
Esses procedimentos intelectuais estiveram muito presentes no tratamento dado
pela produo sociolgica universitria ao pensamento social e poltico do pas. No
somente autores foram desconsiderados ou descartados por suas posies reacionrias,
mas temas e interpretaes tambm no se tornaram objeto de anlise e nem
propiciaram uma maior interlocuo entre correntes de pensamento. Com isso, se
estabeleceu um consenso, que ultrapassou os muros da universidade autores, centrado
na idia de que essas linhagens de pensamento, ou seja, essas formas pretritas que
interpretaram o pas, no tiveram nenhum significado mais profundo para a histria da
sociedade brasileira, sendo desqualificadas como mera ideologia12. H a uma questo
decisiva para a compreenso da cultura poltica, j que se menospreza como expresso
de uma falsa conscincia e como pr-cientficos modos de pensar e valores que de fato
moveram a sociedade brasileira numa determinada direo. Com esse procedimento
analtico, passamos a saber o quanto aquele conjunto de idias era parcial, reacionrio e,
11
interessante lembrar a frase com que Antonio Candido encerra seu texto na Plataforma da nova
gerao, conclamando a juventude intelectual a combater todas as formas de pensamento
reacionrio.
12
Dois trabalhos so expressivos desse modo de pensar. Os j clssicos O carter nacional brasileiro de
Dante Moreira Leite e Ideologia da cultura brasileira, de Carlos Guilherme Mota.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 11
no limite, falso. Mas, no possvel compreender como as teorias consideradas
reacionrias, fascistas, etc., ou aquelas formulaes andinas, chamadas de sorriso da
sociedade, a despeito de seu carter ilusrio e/ou reacionrio, contriburam para
plasmar comportamentos e para articular valores.
Essa dimenso deve interessar aqueles que esto voltados para o estudo dos
efeitos sociais das idias, porque ela fundamental para se compreender como se
constitui no Brasil uma cultura poltica que no apenas mostra-se avessa ao pensamento
sistemtico e afeita a improvisaes, mas tambm menospreza a monumental
desigualdade que marca a sua sociedade. Ao longo de vrias dcadas, o pensamento que
se pretendeu de perspectiva social mais avanada e/ou mais bem fundado
cientificamente, justamente aquele que teve como meta a elaborao de uma teoria mais
sistemtica, no se props a estabelecer os vnculos entre as formas de pensamento que
desconsiderou como reacionrias e os elementos conservadores vigentes no mbito do
senso comum, compondo uma dimenso fundamental da cultura poltica da sociedade
brasileira. Diante de problemas com tal magnitude, muitas vezes a anlise que se
pretendeu crtica e portadora de um maior nvel de rigor resultou em uma formulao
abstrata acerca das contradies da sociedade brasileira, excessivamente empenhada em
revelar a mistificao presente nas concepes dominantes identificadas com a
construo da nao e com o desenvolvimento. A preocupao de revelar o carter
ideolgico presente em tais proposies levou a que as aes inspiradas nelas fossem
consideradas como irrelevantes, pois expressivas de uma falsa conscincia13.
Tal postura foi muito presente em nosso ambiente intelectual entre as dcadas de
1970 a 1990, e gerou toda uma linhagem de interpretaes preocupada em revelar a
falsidade do pensamento dominante, no sentido de denunciar sua responsabilidade pela
marginalizao poltica das massas nos processos realizados no Brasil. Tal denncia se
13
Um exemplo que nos clarifica essa questo, a anlise da Maria Silvia Carvalho Franco sobre o ISEB,
na apresentao do livro de Caio Navarro de Toledo que, no toa, se intitula ISEB Fbrica de
ideologias. Um outro exemplo na mesma linha o d e Marilena Chau quando ela analisa o
anteprojeto de manifesto do CPC da UNE. Tendo como foco de sua anlise, um texto escrito por um
jovem intelectual (Carlos Estevam Martins), recm sado de um curso de graduao e que, como tal,
no podia cumprir a pauta de rigor exigida pelo treinamento acadmico, Chau constri uma pea
crtica empenhada em mostrar a falsidade intrnseca presente no Manifesto. Ou seja, passados alguns
anos, relativamente fcil para uma intelectual j consolidada no ambiente acadmico e com
formao slida filosfica desmontar uma formulao escrita no calor da hora e voltada para a
interveno e para a proposio de uma ida ao povo, denunciando-a como mistificadora, populista e
autoritria.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 12
articularia a um profundo ataque ao Estado que, em sua hipertrofia, teria contribudo
para a manuteno da fraqueza inata nossa sociedade civil. A conseqncia dessa
anlise a idia de que com o fortalecimento da sociedade civil, se criaria uma espcie
de antdoto permanente para essas formas de pensar pr-modernas, que no mereceriam
nada mais que a lata de lixo da histria. A idia de que o fortalecimento da sociedade
civil, por si s, seria um fator suficiente para se resolver todas as mazelas herdadas dos
colonizadores portugueses, com suas formas de pensar conservadoras, autoritrias e no
cientficas (muitos sintetizariam todos esses atributos numa nica palavra: ibricos).
Acredito que, em larga medida, muitas de nossas dificuldades contemporneas
encontram suas razes nessa maneira de pensar o processo histrico e o pensamento
poltico brasileiro14.
Nesse registro, o autoritarismo seria identificado no apenas com o perodo do
regime militar, mas visto como um atributo negativo, associado prevalncia do Estado
sobre a sociedade civil, que deveria ser banido de nossa experincia social. Ao se
identificar o autoritarismo com razes ibricas, com patrimonialismo e com a presena
do Estado na histria do pas, deixa-se de analisar a efetividade dessas formas de pensar
vigentes nas prticas cotidianas da sociedade brasileira. O autoritarismo se torna assim
atributo exclusivo do Estado, estrito senso, como se a sociedade civil tivesse se mantido
imaculada, plena de virtudes cvicas e apta a se realizar, plenamente, numa nova
relao com um novo Estado, agora de fato democrtico e de direito.
Do ponto de vista poltico, essa contradio foi equacionada na dcada de 1970
em torno da consigna autoritarismo X democratizao (CARDOSO, 1973; CARDOSO,
1975). A idia bsica que se afirmaria ao longo dessa dcada centrava-se na percepo
de que estava ocorrendo um fenmeno de democratizao econmico e social no pas
que no encontrava correspondncia no plano poltico em virtude da vigncia de um
14
Nos anos setenta se consolidou uma interpretao do Brasil de que o antdoto para as mazelas da
histria poltica brasileira estaria no fortalecimento abstrato da sociedade civil. Fernando Henrique
Cardoso foi o intelectual que levou essa interpretao s ltimas conseqncias e a expressou de modo
mais paradigmtico, condio que lhe permitiu tornar-se um intelectual que dirige intelectuais.
Nessa defesa, est implcita a perspectiva, forte no programa intelectual da escola paulista de
sociologia, de que o grande fator de democratizao da sociedade brasileira estaria na superao dos
obstculos estruturais emergncia da ordem social competitiva. Numa linguagem menos
weberiana e mais marxista, poder-se-ia dizer que havia nessa aposta uma perspectiva de valorizao
do mercado como instncia de articulao social e uma forte rejeio do papel exercido pelo Estado
nesse sentido, visto pela interpretao dessa escola como sinnimo de populismo e de autoritarismo
(LAHUERTA, 1999).
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 13
regime ditatorial que limitava os movimentos de uma sociedade civil emergente. Para
tal interpretao do Brasil, de certo modo, o regime militar apenas atualizava as nossas
piores tradies, identificadas com a herana ibrica, o patrimonialismo, o populismo, o
nacionalismo (WEFFORT, 1978). Essa interpretao do pas, que ganha consistncia
terica-poltica durante os anos setenta, tornou-se o principal referencial para a parcela
da oposio ao regime militar que passou a defender como ponto fundamental da
agenda poltica a luta pelo fortalecimento da sociedade civil, concebida assim como
uma luta por direitos. O que, diga-se de passagem, revelou-se uma estratgia poltica
bastante acertada, j que permitiu superar o revolucionarismo voluntarista ainda
bastante presente na cultura de esquerda e entre a juventude universitria. De modo que
a luta por direitos deveria ter como seu principal protagonista a sociedade civil. No
entanto, a afirmao desse novo conceito no se deu sem uma grande dose de
ambigidade. Da forma como foi concebido na dcada de 1970, o conceito de sociedade
civil ganhou uma enorme autonomia da idia de Estado, como se a sociedade civil fosse
um outro do Estado. Com isso estabeleceu-se o primado de uma lgica simplista,
como se o pas estivesse polarizado entre o Estado (que congregaria em si todas as
mazelas autoritrias da histria brasileira) e a sociedade civil (que seria a detentora de
todo o potencial democratizante dessa mesma histria) (LAHUERTA, 1999). bvio
que essa polarizao gerou uma m compreenso das relaes entre estado e sociedade
civil.
Basta notar que a sociedade brasileira entra na dcada de 1980 permeada por
uma idia chave, que a idia de que todos tm direitos e que esses direitos devem ser
reconhecidos sem nenhum tipo de limite reconhecimento que, em tese, muito
positivo. Mas, ao mesmo tempo, em nome da crtica que vinha se fazendo ao Estado
autoritrio, torna-se comum um posicionamento genrico que v qualquer obrigao
com o coletivo e qualquer regulamentao ou coero exercida pelo Estado como
intrinsecamente negativas porque anacrnicas e autoritrias. Tal perspectiva nos coloca
diante de um cenrio poltico e cultural bastante propenso a recusar toda e qualquer
forma de autoridade, como pode ser notado nas formas de sociabilidade que se
desenvolvem nas dcadas de 1980 e 1990. Mas, mais importante do que isso foi ter se
criado uma espcie de Muralha da China entre o Estado e a sociedade civil, como se o
Estado fosse sempre a expresso do mal e a sociedade civil a personificao do bem e o
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 14
lugar dos direitos; como se o Estado fosse a expresso de tudo de ruim que se deveria
superar. O paradoxo que a perspectiva de negar o autoritarismo do Estado engendrou
uma recusa a toda e qualquer autoridade. Uma das conseqncias desse caldo de cultura
foi que a averso ao pblico, ao estatal e a o poltico, como se fossem sinnimos de
autoritarismo, fez com que perdesse fora a idia central para a democracia de que
para haver cidadania necessrio no somente o reconhecimento de direitos, mas algum
tipo de obrigao para com a comunidade.
Debilidade da esfera pblica, ausncia de cultura cvica e senso comum
A cultura poltica que emergiu da ditadura militar e ganhou expresso a partir do
processo de transio para a democracia, ainda que fortemente ancorada no movimento
da opinio pblica ilustrada pela conquista da democracia, paradoxalmente, acabou
menosprezando os motivos e estratgias que haviam motivado aqueles que lutaram
contra a ditadura militar. por isso que para a nova sociedade brasileira, que se forja
com a modernizao autoritria, o processo de democratizao representou,
essencialmente, a emergncia dos interesses e acima de tudo um ideal de liberdade
negativa, sintetizado na recusa da autoridade e na idia de que se tem o direito de fazer
(quase) tudo o que se quiser. Talvez a esteja uma chave para se explicar este momento
da histria brasileira em que o comportamento geral de sua sociedade torna-se
extremamente predatrio. Momento no qual uma incivilidade generalizada se
generaliza, com fortes impactos na juventude.
Durante as ltimas dcadas a sociedade brasileira vivenciou altas taxas de
crescimento demogrfico e tornou-se uma sociedade de massas com forte presena da
juventude. De tal modo que os jovens tornam-se extremamente ciosos de seus
interesses, freqentemente confundidos com direitos, mas, de maneira geral e em todas
as classes sociais, no demonstram o mesmo apreo quando se trata de alguma
contrapartida no sentido de praticar formas de colaborao e de cooperao para com o
coletivo.
Faz sentido, portanto, o diagnstico de Guillermo ODonnell quando ele atribui
as dificuldades da democracia no Brasil ausncia de alternativas doutrinrias mais
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 15
slidas acerca desse regime poltico durante o processo de transio (ODONNELL,
1993). O que nos obriga a recolocar uma questo terica de fundo: talvez o foco
intelectual que nos anos 70 centrou toda a anlise do autoritarismo no Estado tenha sido
um foco equivocado e hoje estejam sendo cobradas as conseqncias deste equvoco.
Afora o fato absolutamente decisivo de ter se menosprezado a questo nacional,
deixando-se num absoluto segundo plano a discusso acerca do lugar que o Brasil ocupa
no cenrio internacional, um outro problema que necessrio enfrentar reside no fato
que o autoritarismo no est restrito ao estado, mas o modo de ser de parte substancial
da sociedade civil. Diferentemente do que se pensava, uma sociedade civil forte no
por si s antdoto ao autoritarismo, porque se ela uma sociedade civil autoritria, nela
vo se generalizar interesses pouco preocupados com a esfera pblica, pouco permeados
pela idia de uma cultura cvica e, enquanto tais, interesses que estimularo os
comportamentos predatrios e os interesses particularistas, corporativistas de todos os
tipos (LAHUERTA, 1985).
No necessria muita perspiccia para perceber que se instaurou, como uma
espcie de senso comum, na sociedade brasileira a averso crescente ao que coletivo e
uma verdadeira ojeriza pela esfera pblica (LAHUERTA, 1989). Dito em outros termos,
instaurou-se um mecanismo de individualizao perverso que se traduz em formas
societais que menosprezam a democracia e no mantm nenhuma relao com a cultura
cvica. A principal conseqncia que emerge dessa situao bastante drstica: como
esta no uma sociedade civil democrtica e ela no est se qualificando para conviver
com sua prpria pluralidade, nela esto se generalizando fenmenos extremamente
destrutivos. Dentre eles a violncia gratuita um indicador bastante significativo e
preocupante. Inclusive, porque esse processo tem tido como protagonistas como
vtimas ou algozes -- os jovens, os adolescentes, que nos colocam diante de um ndice
de violncia jamais observado na sociedade brasileira. Tal violncia, que j atinge um
grau de dramaticidade e de mortandade tpico das guerras civis, vem colocando
sociedade brasileira uma forte demanda de ordem que pe vis-a-vis a um impasse. O
dramtico que talvez, num breve espao de tempo, esta sociedade civil que vivenciou
uma espcie de revoluo dos interesses (WERNECK VIANNA, 1991; WERNECK
VIANNA,1997) nas ltimas dcadas, passe a reivindicar alguma forma de Estado forte
e at autoritrio.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 16
Na medida em que h escassa responsabilidade cvica entre os indivduos que a
compem, esta no uma sociedade civil que se organiza para buscar solues
democraticamente15. De tal modo que a teia clientelista, expressiva da dependncia
pessoal e do favor, tende a se reproduzir, dificultando a democracia e o reconhecimento
de direitos, criando as condies para que se recoloque a velha frmula de, nos
momentos de dificuldades, solicitar do Estado forte a soluo para os problemas, de
atribuir exclusivamente aos polticos e aos governos a responsabilidade pelas solues.
Ou seja, nos ltimos trinta anos, as novas geraes foram formadas (ou
deformadas) numa ambincia cultural propcia negao do autoritarismo e ao
menosprezo pelo Estado e pela poltica, mas no foi preparada para, atravs de alguma
pedagogia democrtica, encontrar alternativas para os problemas de sua sociedade.
Depois de dcadas de combate ao autoritarismo, estamos mais prximos da
irresponsabilidade generalizada do que do auto-governo e da reflexividade.
Paradoxalmente, para esse resultado contribuiu a rotinizao da idia de que os
brasileiros tm direitos e devem ampli-los. O que, em princpio, algo bastante
positivo. O problema que a afirmao da idia de direitos deu-se sem que se tivesse
como contrapartida qualquer noo de deveres e de obrigao poltica para com o
coletivo. Nesse sentido, no se desenvolveram valores democrticos suficientemente
fortes para que os indivduos pretensamente autnomos, livres e emancipados, alm
de bastante ciosos de seus interesses, muitas vezes confundidos com direitos se
sentissem moralmente compelidos a se responsabilizar pelos problemas coletivos,
buscando a participao e a associao para encontrar solues para eles.
A questo, que essas colocaes suscitam, nos remete necessidade de
compreender de que maneira, no mbito do senso comum, as idias de pensadores
15
O fato que, na ausncia de uma tradio de autogoverno, no Brasil se vive esta poca, em que a
liberdade torna-se quase que um dado natural, de modo crescentemente destitudo de sentido tico e
com uma lgica que gera uma grande irresponsabilidade coletiva. E toda poca de irresponsabilidade
acaba gerando como contrapartida a necessidade de se estabelecer limites; limites que so solicitados
a algum ator que se qualifique para exercer um poder soberano. No caso, esse ator coletivo,
paradoxalmente, permanecera sendo um Estado, ou at mesmo um governo, por mais que diariamente
a atividade poltica e toda a esfera pblica sejam objeto de desqualificao pelas mdias
(LAHUERTA, 1989). Enfim, trata-se de um processo contraditrio, mas que sem exagero nos remete
em diversos momentos imagem hobbesiana: a sociedade sente-se cada vez mais aterrorizada diante
da violncia e da insegurana que se generalizam na convivncia cotidiana e nas relaes mais
elementares, conseqentemente acabar por solicitar um Leviat que evite sua desagregao. Para
evitar que esse cenrio pessimista se realize, necessrio enfrentar o tema dos valores, o tema da
autoridade, o tema da obrigao poltica, da obrigao moral.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 17
desconsiderados como autoritrios, reacionrios e/ou no cientficos se imbricaram com
as aes ordinrias do homem comum e consolidaram, ao longo dos sculos, um modo
de pensar o pas que se tornou hegemnico. Ou seja, esse pensamento, que no um
atributo exclusivo dos intelectuais, mas est na cabea da grande maioria dos
brasileiros, constituindo-se como senso comum, essencialmente avesso poltica,
visceralmente anti-democrtico, mas se tornou uma fora material. No suficiente,
portanto, mostrar a debilidade conceitual e a falta de rigor de determinados autores para
se fazer a crtica do pensamento dominante, pois este pensamento est consolidado
como cultura poltica.
O desafio est em desvendar como essas idias, que foram sendo forjadas ao
longo dos sculos, se impregnaram em nossas mentes, no nosso cotidiano, constituindo
assim uma cultura poltica. preciso compreender como se forma um modo de pensar
que gera uma verdadeira averso coisa pblica e que descr na possibilidade de os
homens comuns imprimirem um rumo s coisas. Um pensamento avesso poltica
democracia, aos polticos, mas que acima de tudo no acredita na ao coletiva e faz
com que o homem comum no leve a srio os seus iguais, procurando alimentar a idia
de que a nica ao possvel a do indivduo atomizado, preocupado exclusivamente
com a realizao de seus interesses particulares.
Debilidade da ordem normativa, cultura poltica e dificuldades da democracia
No toa que a cultura brasileira seja identificada, freqentemente, com
alguns atributos como o jeitinho, a malandragem, que revelam dimenses
interessantes do carter nacional de seu povo. Ainda que j se tenha escrito pginas e
pginas mostrando que a ideologia do carter nacional mistificadora, h um consenso
difuso que glorifica o jeitinho brasileiro. Da mesma forma, como tambm se
incorporou nossa auto-imagem a idia de levar vantagem em tudo. Todos esses modos
de pensar so variantes nada contraditrias com relao a essa tradio a que estou me
referindo. No fundo, alguns eixos unem as vrias linhagens do pensamento sobre o
Brasil: a demarcao das diferenas ocultas de status, a descrena nas aes coletivas
movidas por interesses amplos e republicanos, a expectativa de que o Estado afirme
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 18
algum ideal de coletividade, no mesmo movimento em que se tangencia
permanentemente a legalidade, numa espcie de prtica de uma moralidade elstica, que
se amolda aos mecanismos adaptativos e conciliatrios, numa dialtica perversa entre
ordem e desordem.
evidente que numa sociedade marcada pelo estigma da escravido como a
brasileira, o trabalho sistemtico, muitas vezes inclusive identificado com trabalho
manual e rduo, jamais foi plenamente valorizado. Basta notar o quanto continua
atuante na cultura brasileira at hoje uma certa averso ao trabalho, traduzida no culto
malandragem. A despeito das campanhas que pelo menos desde o Estado Novo
procuraram valorizar o trabalho e por mais que se tenha reconhecido os direitos dos
trabalhadores, permaneceu forte uma tendncia recusa do trabalho, identificado como
algo a que no se tinha pleno acesso e, portanto, no se deveria valorizar demais (essa
situao s foi aprofundada pelas tendncias a informalizao do trabalho e ao avano
do desemprego estrutural, tpicas do padro de acumulao capitalista, identificado com
a globalizao)16.
de se ressaltar que se manteve forte tambm uma outra tendncia que se
combinou com a desvalorizao de uma tica fundamentada no trabalho sistemtico.
Refiro-me mais especificamente ao fascnio pelo improviso que acaba por alimentar
uma tendncia de se cultuar entre os brasileiros uma espcie de moralidade elstica. A
posio, a princpio extremamente moralista e intransigente, face uma situao de
adversidade, rende-se, freqentemente, a alguma forma de conciliao, no s de
interesses, mas tambm de princpios morais. essa moralidade elstica, conhecida
popularmente como o jeitinho, que no mbito do senso comum se estabeleceu como
uma norma de conduta tpica de um autntico brasileiro. E, ainda que no esteja
16
Como j se tornou lio conhecida, crescimento econmico no significa, necessariamente, incluso no
trabalho. De modo que o que era tpico da modernidade perifrica estaria se generalizando tambm
nos pases centrais. Os bolses de pobreza, a imigrao africana e do leste europeu para a Espanha e a
Itlia, os rabes muulmanos e os negros africanos na Frana, o aumento de brasileiros em Portugal,
na Espanha e Inglaterra, para no falar da verdadeira dispora latino americana nos EUA, todos esses
fenmenos representariam uma espcie de "terceiromundizao" do trabalho nos pases centrais. Ou
seja, o evidente aumento do fosso social, a precarizao do trabalho e a destruio acentuada de
empregos, sem a manuteno dos mecanismos de proteo social de tipo keynesiano, esto criando em
escala global bolses de pobreza, sem emprego e sem remunerao, que tanto podem se constituir em
base para a economia poltica do trfico e do crime, como se consolidar como plos de rebelio sem
causas muito bem definidas. Compreende-se, portanto, porque alguns socilogos tm se referido aos
dilemas da modernidade, utilizando-se da idia de brasilianizao do mundo.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 19
escrita em nenhum lugar, funciona como uma instituio social que plasma a cultura
poltica do pas.
De modo que, diante de quaisquer constrangimentos, particularmente os legais, a
tendncia de se burlar a regra como estratgia de maximizao de interesses no seria
considerada uma atitude condenvel, mas sim uma espcie de consagrao do carter
nacional. Essa circunstncia terrvel revela uma tradio cultural onde, a todo
momento, se recusa o reconhecimento de direitos, seja o direito prprio seja o direito
dos outros, e se reitera a busca permanente de privilgios. Nessa ambincia cultural,
cada indivduo v o outro, no limite, como um inimigo, um oponente, algum diante de
quem necessrio demarcar alguma diferena. Estamos, portanto, em face de uma
cultura propensa excluso e a no incorporao aos direitos das grandes maiorias. E
enquanto tiver vigncia o comportamento que hipervaloriza o indivduo apetitivo,
aquele que sempre encontra uma frmula de burlar a lei, de burlar os direitos, de burlar
as regras, para levar algum tipo de vantagem, no ser possvel superar o jogo de soma
zero e adentrar em alguma modalidade de cooperao (AXELROD, 1984).
Inclusive porque a cultura do favor se transmutou em incultura do
banditismo17, e hoje, principalmente entre os jovens e adolescentes, o grande valor
cultivar uma esttica bandida, uma esttica lumpem. A um ponto isso chegou que os
jovens de classe mdia e alta se comportam como manos, procuram falar uma
linguagem tpica das prises e das periferias, aderem prtica de lutas marciais,
recusando o papel de vtima preferencial do ressentimento social. Como uma estratgia
de sobrevivncia, jovens de classe alta, bem alimentados, com dentes na boca, que
dormem em lenis limpos, que se banham com sabonetes cheirosos e enxugam-se com
toalhas macias, aderem a uma esttica lmpem e passam a ter como um valor se
comportar como se fossem bandidos18.
17
Para tratar desse mesmo assunto, ainda que com um foco mais esttico e antropolgico, o professor de
Literatura Comparada da UERJ, Joo Cezar de Castro Rocha, trabalha com a perspectiva de que o
conceito de dialtica da malandragem, desenvolvido por Antonio Candido e Roberto da Matta, teria
envelhecido face violncia que atingiria toda sociedade, permeada agora pelo que ele qualifica como
dialtica da marginalidade. (ROCHA, 2004)
18
Sem dvida, tais comportamentos so expressivos de alguma coisa, so expressivos de que a sociedade
est sem referenciais e que os que esto se impondo, principalmente entre os jovens, so os da
violncia. E so esses referenciais da violncia, da competio sem regras e do sucesso a qualquer
preo que, potencializados pelo quadro de mobilidade social descendente que aflige a sociedade
brasileira, vo se combinar com a enraizada tradio de recusa ao trabalho sistemtico que deu vida
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 20
Esses mecanismos de reproduo social, ao longo do processo de afirmao da
sociedade de mercado entre ns, ganharam novos contedos, e consolidaram-se no
mbito do senso comum como sinnimo do agir corretamente, como equivalente
funcional do ser esperto. evidente que no houve uma opo ou uma deciso por parte
da maioria dos brasileiros em aceitar essas formas de pensar; elas no so expresso de
uma adeso a uma teoria, ou adeso a uma doutrina. Elas so o resultado da imerso
desses indivduos em uma cotidianidade que, mesmo fragmentada, tem sido muito vezes
totalizada por vrios pensadores atravs da reafirmao de determinadas idias acerca
do que o povo e do que a nao brasileira. H entre essas idias um ncleo bsico
rico e denso, comum a vrias formas de pensar o Brasil, que d sentido ao que o
pensamento por um lado, e o que essa vida cotidiana, aparentemente, sem
pensamento. O ncleo bsico constitudo por aquelas opinies e crenas, por aquelas
formas de pensar que so compartilhadas por toda uma cultura. Em todas as sociedades
h uma variedade de vises de mundo, totalmente diferenciadas, refletindo a
diversidade das situaes humanas, incorporando elementos de muitas ideologias e
procedimentos de diversas origens. No se pode perder de vista, porm, que h uma
interseo entre todas essas coisas. A questo compreender de que modo essa
interseo entre vrias vises de mundo, entre os vrios pensamentos, se realiza.
Sem compreender essa interseco de pouco adianta a demolio terico-
conceitual do pensamento anterior como conservador, reacionrio e/ou no cientfico. A
crtica que simplesmente desqualifica como falsidade uma determinada forma de se
pensar no se efetiva, j que no consegue determinar no mbito do senso comum como
atua esse ncleo bsico, que d coeso e imprime uma certa direo s diversas vises
de mundo presentes em uma sociedade. Essas posies no mbito do senso comum
acabam sendo desqualificadas por comporem um discurso vago, incerto, contraditrio e
inconsistente, e as formas do pensamento conservador e/ou autoritrio vistas como a
sistematizao da falsidade. Trabalha-se com um pressuposto implcito: a ideologia
concebida, exclusivamente, como um sistema de idias no qual o real ilusoriamente
representado, no sendo considerada assim a sua efetividade material. A anlise se
cultura do jeitinho. A principal conseqncia desse processo que quem trabalha, quem tem
respeito pelos outros, quem procura zelar pelo meio ambiente e cumprir as leis visto como um
laranja, ou seja, como um tolo que no entende o que a realidade da vida. No exagerado nem
descabido, portanto, qualificar o que est acontecendo como uma inverso total de valores.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 21
concentraria, essencialmente na lgica interna do pensamento, no o vendo como
prtica, no o localizando em sua materialidade, no o apreendendo em sua
corporificao como senso comum, enquanto viso de mundo, enquanto elemento
presente na vida cotidiana.
A tendncia nesse procedimento, que se pretende crtico e cientfico, encarar o
ncleo comum que estrutura o pensamento dominante apenas como iluso, sem buscar
as prticas, as aes que ele engendra ou impede que sejam engendradas. Parece-me que
h uma leitura parcial de Marx em uma srie de estudos feitos no mbito do debate
intelectual no Brasil, de modo que raramente se tem dado a devida ateno a esse
problema. Inclusive Gramsci (1999) nos lembra que em Marx se encontram aluses ao
senso comum, mas para enfatizar que essas referncias no se dirigem validade do
contedo de tais crenas e sim a sua solidez formal, e, portanto, sua imperatividade em
relao a normas de conduta. Nas referncias se explicita a afirmao da necessidade de
uma nova crena popular, de um novo senso comum, e, portanto, de uma nova cultura,
de uma nova filosofia, que se forme na conscincia popular com a mesma solidez e
imperatividade dessas crenas que esto sendo tratadas como tradicionais, como
falsificadoras, como absolutamente destitudas de qualquer importncia.
Talvez seja interessante refletir sobre o assunto, lembrando que ainda que os
grandes sistemas das filosofias tradicionais sejam ignorados pelas massas e no tenham
eficcia direta sobre a sua maneira de pensar e agir, isto no significa a inexistncia de
uma relao entre essas duas dimenses. Ou seja, h interseco entre essas formas
reflexivas elaboradas e aquilo que ocorre no cotidiano. Basta recordar que uma
concepo de mundo, que j tem difuso por estar conectada a vida prtica, para se
converter em um renovado senso comum, com a coerncia e a fora das filosofias
habituais, exige a constante reelaborao no plano filosfico, desse ncleo bsico
articulador. por isso que Gramsci (1999) vai dizer que a filosofia de uma poca
histrica no a filosofia deste ou daquele filsofo, deste ou daquele grupo de
intelectuais, deste ou daquele setor das massas populares, a combinao de todos esses
elementos, que culminam em uma determinada direo, cuja constituio engendra
normas de ao coletiva, isto , vem a ser histria concreta e completa. Portanto a
articulao entre o ncleo bsico que solda tanto o senso comum como as
interpretaes do Brasil, nas suas vrias modalidades, deve ser pensada a partir da
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 22
perspectiva que h uma relao entre essas dimenses e as formas como as classes
sociais se inserem em uma formao econmico social, como elas se relacionam entre si
e com as demais camadas da sociedade, em especial com os intelectuais19.
por isso que uma formulao terica que se pretende crtica, no pode
desprezar como ornamental e/ou como mera falsidade qualquer forma de pensamento
que ela considere conservador ou pr-cientfico. Nem desconsiderar a identidade
ideolgica presente no s na idia do Brasil como comunidade de destino, mas tambm
na afirmao de uma auto-imagem do brasileiro e da cultura brasileira, que d coeso ao
senso comum. A sociedade que aqui se desenvolveu no resultou de nenhuma fatalidade
histrica, nem muito menos resultou da pura coero ou do autoritarismo do Estado. Se
a sociedade brasileira se moveu no sentido em que ela se moveu foi por que na
articulao desses elementos todos aos que me referi, se delineou uma determinada
direo. Essa questo particularmente importante para pensarmos por que o ncleo
bsico que solda o pensamento dominante no Brasil esteve centrado numa crena quase
absoluta na inevitabilidade de um futuro grandioso para o pas, mas, ao mesmo tempo,
sustentou-se numa descrena em sua sociedade e num profundo menosprezo pelos
brasileiros. Francisco Weffort, em texto recente no qual revisa o debate sobre o
pensamento brasileiro, recoloca esse problema e estabelece um ponto de vista que
recorre herana ibrica para explic-lo: da (...) tradio luso-brasileira o
reconhecimento de que a grandeza das aes histricas convive com a fragilidade dos
homens e com a precariedade das circunstncias em que devem atuar (WEFFORT,
2005). Talvez esteja na reiterao dessa tradio, consubstanciada como cultura poltica,
a explicao para entendermos como foi possvel naturalizar no s uma das maiores
taxas de desigualdade do mundo, mas tambm aquilo que venho chamando de uma
19
Jess Souza tem se aproximado dessas questes ao se debruar sobre alguns problemas do que tem
chamado de modernidade perifrica. Inspirado na tradio de pensamento que tem procurado pensar
a modernidade ocidental resgatando o tema hegeliano do reconhecimento, especialmente em Charles
Taylor e Axel Honneth, Souza procura articul-la com uma leitura bastante original da idia de
habitus (primrio) proposta por Pierre Bourdieu. A partir desse referencial, Souza, procurando
compreender como possvel naturalizar uma desigualdade to brutal como a que existe no pas,
refere-se ao problema que venho tratando nos seguintes termos: So esquemas avaliativos
compartilhados objetivamente, ainda que opacos e quase sempre irrefletidos e inconscientes que
guiam nossa ao e nosso comportamento efetivo no mundo. apenas esse tipo de consenso, como
que corporal, pr reflexivo e naturalizado, que pode permitir, para alm da eficcia jurdica, uma
espcie de acordo implcito que sugere (...) que algumas pessoas e classes esto acima das leis e outras
abaixo delas (SOUZA, 2003, p.70)
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 23
certa moralidade elstica, tpica de uma cultura poltica cada vez mais fascinada pela
ilegalidade (LAHUERTA, 2001). Ou seja, na articulao entre intelectuais,
conhecimento especializado e senso comum, numa longa construo, se estabeleceu
uma cultura poltica bastante autoritria, que se nutre de alguns consensos implcitos.
Consensos esses que tornaram aceitveis no apenas a vigncia de um profundo
elitismo no modo de se pensar a ordem, mas tambm de uma grande desigualdade social
(SOUZA, 2005) e de um equilbrio instvel entre legalidade e ilegalidade, com o qual
todo o brasileiro se v hoje obrigado a conviver. Consensos esses que tm mantido os
interesses individuais que emergiram com grande fora nas ltimas dcadas numa
lgica de questionamento da autoridade pblica, generalizando comportamentos no
cooperativos e avessos a qualquer mecanismo de construo de solidariedade social.
Consensos que tm contribudo, portanto, para naturalizar (e no limite para legitimar) a
desagregao social, a incivilidade e a violncia. Por essa razo, creio que pesquisar os
hbitos do corao, e suas relaes com as interpretaes do pas, torna-se tarefa
cada vez mais fundamental para que possamos projetar uma sociedade menos
predatria, mais solidria e efetivamente democrtica em nosso pas.
BIBLIOGRAFIA CITADA
ALMOND, Gabriel & VERBA, Sidney. The civic culture: political attitudes and
democracy in five nations. Princeton: Princeton University Press, 1963.
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas Reflexiones sobre el origen y la
difusin del nacionalismo. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1993.
ANDREWS, Christina. As policy science como cincia`: mtodo e reificao.
PERSPECTIVAS Revista de Cincias Sociais da UNESP. Volume 27. So Paulo:
Editora da UNESP, jan./jun. 2005, p.13-37.
AXELROD, R. La evolucin de la cooperacin. El dilema del prisioneiro y la teoria de
los juegos. Madrid: Alianza Editorial. 1984.
BARBOZA FILHO, Rubem. FHC: os paulistas no poder. In AMARAL, Roberto
(coord). FHC: os paulistas no poder. Niteri: Casa Jorge Editorial, 1995.
BARBOZA FILHO, Rubem. Tradio e Artifcio Iberismo e Barroco na Formao
Americana. Belo Horizonte/Rio de Janeiro, Editora UFMG/IUPERJ, 2000.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 24
BASTOS, Elide Rugi Bastos. Pensamento social na escola sociolgica paulista. In
MICELI, Srgio. O que ler na cincia social brasileira, 1970-2002. So Paulo:
ANPOCS,Editora Sumar/Braslia:CAPES, 2002.
BOURDIEU, Pierre. (2001). El capital social. Apuntes provisionales. In Zona Abierta
94/95 (Capital Social). Madrid, p.83-88.
BRANDO, Gildo Maral Brando. (2005). Linhagens do pensamento poltico
brasileiro. In Dados, vol.48 n 2, Rio de Janeiro, Abr./Jun. 2005
CARDOSO, F. H. O Modelo Poltico Brasileiro e outros ensaios. So Paulo: DIFEL,
1973.
______________. Autoritarismo e Democratizao. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.
CARVALHO, Jos Murilo de. Cidadania, estadania, consumismo: os impasses da
democracia. In FRIDMAN, Luis C. (org.) Poltica e cultura. Sculo XXI. Rio de
Janeiro:ALERJ/Relume Dumar, p.25-30, 2002a.
CARVALHO, Jos Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 2002b.
CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Cultura poltica, capital social e a questo do
dficit democrtico no Brasil. In VIANNA, Luiz Werneck (org.) A democracia e os trs
poderes no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ,
p.297-335, 2002.
CASTRO, Henrique C. de O. Cultura poltica, democracia e hegemonia: uma tentativa
de explicao do comportamento poltico no democrtico. In Site Gramsci e o Brasil.
http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv67.htm, acesso 21/08/2002.
COLEMAN, James. Capital social y creacin de capital humano. In Zona Abierta 94/95
(Capital Social). Madrid, p.47-82, 2001.
GIDDENS, A. Para alm da esquerda e da direita. O futuro da poltica radical. So
Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Crcere.(Introduo ao estudo da filosofia; A
filosofia de Benedetto Croce). Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, vol. 1 (edio e
traduo: Carlos Nelson Coutinho, Luiz Srgio Henriques e Marco Aurlio Nogueira),
1999.
GREEN, Donald P. & SHAPIRO, Ian. Teoria da escolha racional e cincia poltica:
um encontro com poucos frutos?. PERSPECTIVAS Revista de Cincias Sociais da
UNESP. Volume 23. So Paulo: Editora da UNESP, 2000, p.169-206.
HABERMAS, Jrgen Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de
Janeiro:Tempo Brasileiro. v. I e II, 1997.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 25
HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramtica moral dos conflitos sociais.
So Paulo: Ed. 34, 2003.
INGLEHART, Ronald. The Renaissance of Political Culture. American Political
ScienceReview, v.82, n. 4, 1988, p. 1204-1230.
INGLEHART, Ronald. Modernization and Post modernization: cultural, economic and
political change in 43 societies. Princeton: Princeton University Press, 1997.
KRISCHKE, Paulo. Cultura poltica e escolha racional na Amrica Latina: interfaces
nos Estudos da Democratizao. Revista Brasileira de Informao Bibliogrfica em
Cincias Sociais. n 43, Rio de Janeiro, 1997, p.103-126.
LAHUERTA, M. "Cultura Poltica e Transio: entre a democracia e a barbrie",
PRESENA Revista de Poltica e Cultura, no 6, out.1985, So Paulo, Editora Cates.
LAHUERTA, M. A recuperao da esfera pblica" In So Paulo em Perspectiva, So
Paulo, Fundao SEADE, vol. 3, n. , jan/jun de 1989.
LAHUERTA, Milton. Intelectuais e transio: entre a poltica e a profisso. (Tese de
Doutorado). Departamento de Cincia Poltica/FFLCH-USP. So Paulo: mimeo, 1999.
LAHUERTA, Milton. Brasil, a democracia difcil: violncia e irresponsabilidade
cvica. In Poltica Democrtica Revista de Poltica e Cultura. Braslia: Fundao
Astrojildo Pereira, v.1, jan./abr. 2001, p83-96.
LEVI, Margareth. Capital social y asocial. . In Zona Abierta 94/95 (Capital Social).
Madrid, p.105-120, 2001.
LINZ, Juan & STEPAN, Alfred. A transio e a consolidao da democracia: a
experincia do Sul da Europa e da Amrica do Sul. 2 ed. So Paulo: Paz e Terra, 1999.
MOISS, Jos lvaro. Os brasileiros e a democracia Bases scio-polticas da
legitimidade democrtica. So Paulo: tica, 1995.
MOISS, Jos lvaro. Cidadania, confiana e instituies democrticas. In Lua
Nova, So Paulo, n.65, p 95-135, 2005.
ODONNELL, Guillermo. Democracia delegativa? Novos Estudos CEBRAP. So
Paulo: n 31, p.25-40, 1991.
O DONNELL, G. Sobre o Estado, a democratizao e alguns problemas conceituais --
uma viso latino-americana com uma rpida olhada em alguns pases ps comunistas.
IN Novos Estudos CEBRAP. So Paulo: n. 36, 1993, p. 32-47.
PUTNAN, Robert. Comunidade e democracia. A experincia da Itlia moderna. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 1996.
SANTOS, W. G. Ordem burguesa e liberalismo poltico. So Paulo: Livraria Duas
Cidades, 1978.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 26
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Roteiro Bibliogrfico do Pensamento Poltico-
Social Brasileiro (1870-1965). Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Editora da UFMG/Casa
de Oswaldo Cruz, 2002.
SCHWARZ, R. O pai de famlia e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
SOUZA, Jess (No) reconhecimento e subcidadania, ou o que ser gente`?. In Lua
Nova, So Paulo, n.59, 2003, p.51-73.
SOUZA, Jess Raa ou classe? Sobre a desigualdade brasileira. In Lua Nova, So
Paulo, n.65, 2005, p.43-69.
TOLEDO, C. N. ISEB: fbrica de ideologias. So Paulo: Editora tica, 1978.
VIANNA, L.Werneck De um Plano Collor a outro: estudo de conjuntura. Rio de
Janeiro: Editora Revan, 1991.
VIANNA, Luiz Werneck. "A Institucionalizao das Cincias Sociais e a Reforma
Social: Do Pensamento Social Agenda Americana de Pesquisa", in Revoluo
Passiva: Iberismo e Americanismo no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Revan/IUPERJ,
1997.
WEFFORT, Francisco C. O populismo na poltica brasileira. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1978.
WEFFORT, Francisco C. As escritas de Deus e as profanas: notas para uma histria
das idias no Brasil. In Revista Brasileira de Cincias Sociais. So Paulo:
ANPOCS/Bauru: EDUSC, vol.20, n 57, 2005, p.5-25.
ZIZEK, Slavoj. O novo eixo da luta de classes. Caderno Mais. Folha de So Paulo.
So Paulo, domingo, 05 de setembro de 2004.
Anais do XXVI Simpsio Nacional de Histria ANPUH So Paulo, julho 2011 27
Você também pode gostar
- 332-Texto Original-1310-1-10-20100727Documento160 páginas332-Texto Original-1310-1-10-20100727odi1984Ainda não há avaliações
- Chamada Universal 2018Documento35 páginasChamada Universal 2018odi1984Ainda não há avaliações
- INPDFViewerDocumento1 páginaINPDFViewerodi1984Ainda não há avaliações
- 3 1 8 (B)Documento2 páginas3 1 8 (B)odi1984Ainda não há avaliações
- 1-Fim Da Direita Envergonhada Atuação Das Bancadas "EvangélicaSCDocumento37 páginas1-Fim Da Direita Envergonhada Atuação Das Bancadas "EvangélicaSCodi1984Ainda não há avaliações
- 3 1 3 (A) PDFDocumento2 páginas3 1 3 (A) PDFodi1984Ainda não há avaliações
- 194 565 1 PBDocumento16 páginas194 565 1 PBodi1984Ainda não há avaliações
- Minuta Da Chamada Universal 2018 Versao Final 20072018Documento12 páginasMinuta Da Chamada Universal 2018 Versao Final 20072018Simoes JBAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento25 páginas1 PBodi1984Ainda não há avaliações
- 02 - Imperialismo, Schumpeter e Hannah ArendtDocumento21 páginas02 - Imperialismo, Schumpeter e Hannah Arendtodi1984Ainda não há avaliações
- 3012 11141 1 PB PDFDocumento17 páginas3012 11141 1 PB PDFodi1984Ainda não há avaliações
- 1 PBDocumento8 páginas1 PBFernanda ReisAinda não há avaliações
- Federalismo oligárquico brasileiroDocumento18 páginasFederalismo oligárquico brasileiroodi1984Ainda não há avaliações
- Comissão Editorial Revista IberoDocumento3 páginasComissão Editorial Revista Iberoodi1984Ainda não há avaliações
- Bibliografia básica sobre a Questão Agrária no BrasilDocumento11 páginasBibliografia básica sobre a Questão Agrária no BrasilNilton CarlosAinda não há avaliações
- 153 355 1 PBDocumento6 páginas153 355 1 PBodi1984Ainda não há avaliações
- 1986 DEZEMBRO 084bDocumento1 página1986 DEZEMBRO 084bodi1984Ainda não há avaliações
- 520 1434 1 PBDocumento10 páginas520 1434 1 PBodi1984Ainda não há avaliações
- 1 PB PDFDocumento8 páginas1 PB PDFodi1984Ainda não há avaliações
- 10 2307@41010790Documento27 páginas10 2307@41010790odi1984Ainda não há avaliações
- NORRIS - Clivagem e Apoio Direita RadicalDocumento32 páginasNORRIS - Clivagem e Apoio Direita Radicalodi1984Ainda não há avaliações
- Document PDFDocumento3 páginasDocument PDFodi1984Ainda não há avaliações
- Amazonia GeopoliticoDocumento22 páginasAmazonia Geopoliticoodi1984Ainda não há avaliações
- 18chamada de SuplentesDocumento5 páginas18chamada de Suplentesodi1984Ainda não há avaliações
- Hilario - História Política - Cultura Política e Sociabilidade Partidária - Uma Proposta MetodológicaDocumento12 páginasHilario - História Política - Cultura Política e Sociabilidade Partidária - Uma Proposta Metodológicaodi1984Ainda não há avaliações
- ST2 O Autoritarismo em Português - Ditaduras em Portugal Brasil e Países Africanos de Língua Portuguesa1Documento4 páginasST2 O Autoritarismo em Português - Ditaduras em Portugal Brasil e Países Africanos de Língua Portuguesa1odi1984Ainda não há avaliações
- O IPHAN e o Seu Papel Na Construção/ampliação Do Conceito de Patrimônio Histórico/cultural No BrasilDocumento20 páginasO IPHAN e o Seu Papel Na Construção/ampliação Do Conceito de Patrimônio Histórico/cultural No Brasilodi1984Ainda não há avaliações
- DR CarrascoDocumento16 páginasDR Carrascoodi1984Ainda não há avaliações
- 3205 12929 1 PBDocumento12 páginas3205 12929 1 PBodi1984Ainda não há avaliações
- Historia Republica Populista SLIDEDocumento10 páginasHistoria Republica Populista SLIDEMattPlusAinda não há avaliações
- A Lição de SalazarDocumento6 páginasA Lição de SalazarNalú SouzaAinda não há avaliações
- Diversas Dinâmicas - PsicologiaDocumento56 páginasDiversas Dinâmicas - PsicologiaHosttacia Ferreira100% (2)
- O Novo Fascismo Que Está em MarchaDocumento14 páginasO Novo Fascismo Que Está em MarchaGRAZIA.TANTA100% (1)
- Legislação trabalhista no Brasil de Vargas a LulaDocumento6 páginasLegislação trabalhista no Brasil de Vargas a LulaLuci SantosAinda não há avaliações
- Brasil Império 1822-1889Documento22 páginasBrasil Império 1822-1889João MarquesAinda não há avaliações
- Gabarito Ae1 Geografia 3º AnoDocumento12 páginasGabarito Ae1 Geografia 3º AnoAntonio CorreiaAinda não há avaliações
- Entrevista de Olavo de Carvalho sobre influências e civilizaçõesDocumento19 páginasEntrevista de Olavo de Carvalho sobre influências e civilizaçõesDiego TutumiAinda não há avaliações
- JB OnlineDocumento52 páginasJB Onlineloser67Ainda não há avaliações
- La Grassa - O Capitalismo Contemporâneo e o Papel Da Teoria MarxistaDocumento15 páginasLa Grassa - O Capitalismo Contemporâneo e o Papel Da Teoria MarxistaMalú ValeAinda não há avaliações
- Gazeta de Votorantim Edição 337Documento20 páginasGazeta de Votorantim Edição 337Gazeta de VotorantimAinda não há avaliações
- Resenha de Hegemonia As AvessasDocumento2 páginasResenha de Hegemonia As AvessasPedro BenevidesAinda não há avaliações
- Brasil 4Documento5 páginasBrasil 4Filipe Latto100% (1)
- Sociologia Moises UFU2017Documento27 páginasSociologia Moises UFU2017mariajosettiAinda não há avaliações
- Lula discursa no 15o aniversário do Foro de São PauloDocumento5 páginasLula discursa no 15o aniversário do Foro de São PauloRafael PereiraAinda não há avaliações
- Como os capitalistas financiaram o nazismo e o fascismo: a verdade por trás das mentirasDocumento18 páginasComo os capitalistas financiaram o nazismo e o fascismo: a verdade por trás das mentiraswaldemirsouzaAinda não há avaliações
- O pensamento político de Joaquim NabucoDocumento4 páginasO pensamento político de Joaquim NabucoJorge AntonioAinda não há avaliações
- Resolução da Câmara dos Deputados nega licença para processo criminal contra deputadoDocumento152 páginasResolução da Câmara dos Deputados nega licença para processo criminal contra deputadoLaércio MartinsAinda não há avaliações
- ProvaDocumento6 páginasProvaapi-360363207Ainda não há avaliações
- Morangos Mofados e a Geração de 1968Documento14 páginasMorangos Mofados e a Geração de 1968Cristiano Da Silveira PereiraAinda não há avaliações
- Resumo Teoria Política ContemporâneaDocumento2 páginasResumo Teoria Política ContemporâneaStéphanie MouraAinda não há avaliações
- Curso de Direito Constitucional - Daniel SarmentoDocumento151 páginasCurso de Direito Constitucional - Daniel SarmentoSOUZA-&-SOUZA100% (3)
- Jornal Do Brasil 10081990 Objetiva Press Identificação de Otávio Amaral PDFDocumento49 páginasJornal Do Brasil 10081990 Objetiva Press Identificação de Otávio Amaral PDFDeby PhaAinda não há avaliações
- Diário da Câmara de 27/08Documento880 páginasDiário da Câmara de 27/08Leandro Inácio LeiteAinda não há avaliações
- Questões ÉtnicoDocumento61 páginasQuestões Étnicoulyssespoa100% (1)
- Homologação ConcursoDocumento192 páginasHomologação ConcursoOrlando BrandãoAinda não há avaliações
- A KGB Inventou A Teologia Da LibertaçãoDocumento7 páginasA KGB Inventou A Teologia Da Libertaçãoallanandreassa0% (1)
- A Revolução Russa de 1917: da queda da monarquia à vitória dos bolcheviquesDocumento5 páginasA Revolução Russa de 1917: da queda da monarquia à vitória dos bolcheviquesFernando José50% (2)
- Prólogo de Herbert Marcuse Ao 18 Brumário de Luís Bonaparte de Karl MarxDocumento6 páginasPrólogo de Herbert Marcuse Ao 18 Brumário de Luís Bonaparte de Karl MarxJohn O SilêncioAinda não há avaliações
- Prova 2015.1 Tipo 1A UnPDocumento17 páginasProva 2015.1 Tipo 1A UnPPopoAinda não há avaliações