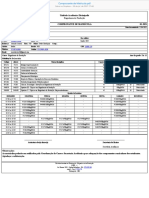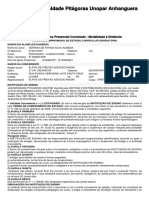Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Mjcn-Mult Educ
Enviado por
Maria Cardoso0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações18 páginasTítulo original
MJCN-MULT.EDUC. (1)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações18 páginasMjcn-Mult Educ
Enviado por
Maria CardosoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 18
Universidade do Minho
Instituto de Educação
Multiculturalismo e Educação
Maria José Casa-Nova
Departamento de Ciências Sociais da Educação,
Instituto de Educação, Universidade do Minho
mjcasanova@ie.uminho.pt
Cultura
Sujeitos-actores produto de produções anteriores e responsáveis por
novas produções (estrutura e agência)
“A cultura como prática social” (Paul Willis, 1991), in Aprendendo a ser
trabalhador, Porto Alegre: Artes Médicas)
Representação da cultura como um iceberg: o que é visível (a ponta
do iceberg) são as características de superfície da cultura; o que está
submerso, invisível, é constituído pelo conjunto de características
culturais que suportam/estruturam o grupo a que se pertence e que
são consideradas a cultura profunda, (Immanuel Wallerstein, 1988, in
Culture as the Ideological Battleground of the Modern World-System,
London: Sage Publications. Tradução nossa). O que permanece e define o
grupo enquanto unidade cultural e que é menos permeável à
mudança e/ou reconfigurações é a cultura nas suas características de
profundidade (Casa-Nova, 2009, in Etnografia e produção de conhecimento).
NOTA: não interagimos com culturas no abstracto mas com pessoas
portadoras de cultura (Casa-Nova)
“(…) todas as pessoas partilham algumas características com todas
as outras; todas as pessoas também partilham outras
características apenas com algumas pessoas e todas as pessoas
possuem outras características que não partilham com mais
ninguém. Ou seja, cada pessoa pode ser descrita de três maneiras:
as características universais da espécie, o conjunto de
características que define essa pessoa como membro de um
conjunto de grupos e as características idiossincráticas, que tornam
essa pessoa singular. Quando falamos de características que não
são nem universais nem idiossincráticas, nós normalmente usamos
o termo ‘cultura’.” (Immanuel Wallerstein, 1988, in Culture as the Ideological
Battleground of the Modern World-System, London: Sage Publications. Tradução minha).
Aculturação: contacto entre duas culturas, do qual resulta um
processo de assimilação ou de integração
Assimilação (Casa-Nova, 2013, “Os ciganos é que não querem integrar-se?”, in José
Soeiro et al, (orgs.) Não acredite em tudo o que pensa. Lisboa: Ed. Tinta da China)
Assimilação vem “assemelhar”, de se tornar semelhante ao
“outro”.
A assimilação pode ocorrer:
1. por vontade própria – a)por um processo de deslumbramento
acerca de outra cultura, considerada melhor do que a sua; b) por
razões estratégicas – aumentar as oportunidades na vida na
sociedade dita de “acolhimento”.
2. Por imposição – a) subtil (por exemplo, através da transmissão
de uma cultura escolar homogénea) ou b) coerciva (assimilação
pela força).
Integração (Casa-Nova, 2013, “Os ciganos é que não querem integrar-se?”, in José
Soeiro et al, (orgs.) Não acredite em tudo o que pensa. Lisboa: Ed. Tinta da China)
Durkheim e a função uniformizadora da educação (moral) escolar
Interiorização normativa e previsibilidade comportamental
(Integração para a subordinação e não integração para a
emancipação social)
Durkheim: defesa de uma integração normativa e impositiva (subtil)
Casa-Nova: defesa de uma integração crítica e emancipatória
(sociologia crítica)
Processo através do qual os sujeitos-actores ou um dado grupo
socio-cultural passam a partilhar dos espaços de sociabilidade,
dos espaços culturais e das redes de trabalho da sociedade dita
de acolhimento, sem perda das características fundamentais da
cultura de pertença, considerando simultaneamente importante
fazer parte da cultura da sociedade maioritária e conservar a
cultura de origem (Casa-Nova, 2013).
Integração (continuação)
“(…) integração não é sinónimo de subordinação a um grupo social e
cultura maioritário (…) mas o resultado de um processo horizontal de
influências recíprocas entre todos os grupos sociais.” (Casa-Nova, 1999, in
Etnicidade, Género e Escolaridade. Dissertação de mestrado. Porto: Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação).
Processo esse que deverá ser pensado conjuntamente, incluindo as
perspectivas e posições dos grupos interessados acerca da integração.
Integração (continuação)
“Defino o conceito de integração como a participação efectiva de todos e
de todas nas mais diversas instituições da sociedade (dimensão macro) e
nas relações do quotidiano (dimensão micro), numa perspectiva de
reciprocidade e horizontalidade dos processos e não numa perspectiva
unilateral e subordinada, onde aquele que é classificado como diferente
é posteriormente objecto de uma hierarquização social que o coloca
numa posição de subordinação estrutural. Integração significa, pois, um
processo recíproco e horizontal, construído por todos os grupos socio-
culturais, processo esse que é gradativo, complexo e multidimensional e
não construído de uma vez por todas dada a relatividade e mutabilidade
dos sistemas sociais e culturais; significa a manutenção da diferença nas
dimensões culturais e sociais consideradas importantes para cada
indivíduo pertencente a um determinado universo cultural e social, em
simultâneo com a sua participação na sociedade alargada (…)”, tendo em
atenção que “outros” engloba a totalidade de sujeitos-actores, dado que
os “outros” não existem sem o “nós” e vice-versa” (Casa-Nova, 2013, p.217-218).
Identidade
Identidade: o que nos define enquanto indivíduo, simultaneamente
membro de um dado grupo socio-cultural e de uma dada sociedade.
Identidade primordialista
Identidade situacionista
Identidades híbridas (Stuart Hall, Ricardo Vieira)
Identidades múltiplas (António Magalhães)
Identidades complexas (Casa-Nova, 2002)
Identidades mutáveis e não fixas.
“Raça” e Racismo
“Raça” é um conceito cientificamente inútil e sociologicamente
relevante (Robert Garvia)
Racismo (WIEVIORKA, Michel (2002) O racismo. Lisboa: Fenda Edições).
“(…) o racismo consiste em caracterizar um conjunto humano por
atributos naturais, associados por seu turno a características
intelectuais e morais que valem para cada indivíduo que releva
desse conjunto e, a partir daí, em instaurar eventualmente práticas
de inferiorização e de exclusão” (pág.11) ou de extermínio.
Todo o racismo é discriminação, mas nem toda a discriminação é
racismo (Casa-Nova).
Neo-racismo (Barker, Martin, 1981, The new-racism. London: Junction books)
Passagem da inferioridade biológica à diferença cultural na
legitimação do discurso racista. A argumentação racista passa a
assentar, não na hierarquia biológica, mas na diferença cultural.
Racismo (WIEVIORKA, Michel, 2002, O racismo. Lisboa: Fenda Edições).
Existência não de dois racismos, mas de duas lógicas internas ao
racismo.
Lógica desigualitária e lógica diferencialista do racismo
Lógica desigualitária: relativa às características fenotípicas, tende a
discriminar, convivendo com o “outro”;
Lógica diferencialista: relativa às características culturais, tende a
segregar dos espaços de sociabilidade, de trabalho, etc.
O racismo institucional (Stokley Carmichael & Charles Hamilton, 1967,
Black power: the politics of liberation in America. New York: Vintage Books)
Nos USA, o racismo institucional é descrito como mantendo as
pessoas de pele escura numa situação de inferioridade graças a
mecanismos socialmente não percebidos.
Encontra-se no próprio funcionamento da sociedade, constituindo
uma propriedade estrutural da mesma, estando inscrita em
mecanismos rotineiros que garantem a dominação e a inferiorização
das pessoas de fenótipo escuro. Sugere que o racismo pode
funcionar sem que estejam em causa preconceitos ou opiniões
racistas.
Exemplo: quando as pessoas de pele branca recusam a mistura racial
nas escolas, fazem-no sob o pretexto de os seus filhos não passarem
demasiadas horas em transportes (Wieviorka, 2002).
Racismo no quotidiano (ESSED, Philomena, 1991, Understanding Everyday
racism. London: Sage)
O racismo é um problema do quotidiano. É transmitido em práticas
rotineiras que parecem “normais”, pelo menos para o grupo
dominante.
“Culturalização do racismo” (a inferioridade biológica atribuida à
população negra é reformulada como deficiência cultural,
inadequação social e subdesenvolvimento tecnológico).
Grupos humanos permanentemente em posição de subalternidade
estrutural
Subordinação estrutural
Subordinação secular, naturalizada, incrustada nas sociedades.
Ocupação de posições subalternas em várias esferas da sociedade:
trabalhos piores remunerados; vivência nos chamados bairros de
habitação social; vivência nos chamados “bairros étnicos”, vivência
nas margens da sociedade, mas dentro da mesma: vivência nas
“borderlines” ou numa posição de integração social subordinada.
Etnia (Breton, s/d; Casa-Nova, 2002)
“Etnia define-se como um grupo de indivíduos ligados por um
complexo de caracteres comuns – antropológicos, linguísticos,
político-históricos, etc. – cuja associação constitui um sistema
próprio, uma estrutura essencialmente cultural: uma cultura. A
etnia é então (…) a comunidade rodeada por uma cultura
específica” (Breton, s/d:11-21).
“Neste sentido, quando falamos de etnia, estamos a falar de um
colectivo que partilha, para além de eventuais características
biológicas (que derivam de uniões endogâmicas), uma organização
social e política, uma língua, uma consciência étnica, uma
economia, uma cultura” (Casa-Nova, 2002:54)
Etnicidade (Casa-Nova, 2002; Machado, 2002)
É a etnia em acção; são formas de expressar a etnia (Casa-Nova, 2002)
(…) pode então definir-se a etnicidade como a relevância que, em certas
condições, assume, nos planos social, cultural e político, a pertença a
populações étnica ou racialmente diferenciadas. Essa pertença traduz-
se e é veiculada por traços como língua, religião, origem nacional,
composição social, padrões de sociabilidade, especificidades
económicas e outros, traços que se sobrepõem, em maior ou menor
número, na distintividade de cada grupo particular.
Com efeito, na grande maioria das sociedades, a distintividade étnica e
racial de determinadas populações vai a par com o seu estatuto
minoritário e subordinado.
No entanto, tomar a etnicidade como sinónimo de minoria coloca, pelo
menos, um problema: o da chamada “etnicidade menos um” (minus
one ethnicity) (Banton, 1988), que significa que a população maioritária não
se classifica a si própria em termos étnicos ou raciais. Não se
percepciona como uma maioria étnica (Machado, 2002).
Sociologicamente, “minoria” não se define pelo seu número.
Etnicidade forte e etnicidade fraca: contrastes e continuidades
culturais e sociais (Machado, 2002)
Dimensões sociais (composição de classe, localização residencial,
estrutura etária e sexual).
Dimensões culturais (sociabilidade e padrões matrimoniais, língua,
religião).
MULTICULTURALISMO (de raiz anglófona)
O prefixo “multi” remete para a permanência num mesmo espaço
geográfico sem interacções significativas
INTERMULTICULTURALISMO (de raiz francófona)
O prefixo “inter” remete para a permanência com interacção entre
culturas
INTER/MULTICULTURALISMO (articula as duas dimensões)
(Casa-Nova, 2002)
Sociedades “mosaico” ou sociedades inter/multiculturais
Bibliografia citada
BARKER, Martin (1981) The new-racism. London: Junction books)
CASA-NOVA, Maria José (2002) Etnicidade, género e escolaridade. Lisboa: IIE;
CASA-NOVA, (2009) Etnografia e produção de conhecimento. Lisboa: ACIDI
CASA-NOVA, (2013) “Os ciganos é que não querem integrar-se?”, in José Soeiro et
al, (orgs.) Não acredite em tudo o que pensa. Lisboa: Ed. Tinta da China)
ESSED, Philomena (1991) Understanding Everyday racism. London: Sage
MACHADO, Fernando Luís (2002) Contrastes e continuidades. Oeiras. Ed. Celta
ROWLAND, Robert (1987) Antropologia, História e Diferença. Porto: Edições
Afrontamento;
STOKLEY Carmichael & CHARLES Hamilton, 1967, Black power: the politics of
liberation in America. New York: Vintage Books
WALLERSTEIN, Immanuel (1988, in Culture as the Ideological Battleground of the
Modern World-System, London: Sage Publications.
Willis, Paul (1991), Aprendendo a ser trabalhador, Porto Alegre: Artes Médicas)
WIEVIORKA, Michel (1995) Racismo e Modernidade. Venda Nova: Bertrand
Editora.
WIEVIORKA, Michel (2002) O racismo. Lisboa: Fenda Edições.
Você também pode gostar
- Livro DOCÊNCIA E PESQUISA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES - Ebook PDFDocumento180 páginasLivro DOCÊNCIA E PESQUISA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES - Ebook PDFFranciane AlmeidaAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios - Comportamento Do ConsumidorDocumento1 páginaLista de Exercícios - Comportamento Do ConsumidorSávio Rodrigues de Carvalho0% (2)
- Metodologia de ensino em educação especialDocumento52 páginasMetodologia de ensino em educação especialKele FonsecaAinda não há avaliações
- Terapia Familiar: História e TendênciasDocumento6 páginasTerapia Familiar: História e TendênciasMarina VasconcelosAinda não há avaliações
- O Rei - Teste de LeituraDocumento25 páginasO Rei - Teste de LeituraemiliaspoAinda não há avaliações
- 1-Quivy-Campenhoudt-Etapas Do Processo de Investigação-Todas-Etapas-1-2-3-4-5-6-7 (Teste)Documento58 páginas1-Quivy-Campenhoudt-Etapas Do Processo de Investigação-Todas-Etapas-1-2-3-4-5-6-7 (Teste)Maria CardosoAinda não há avaliações
- Os Jogos, As Brincadeiras e As Tecnologias Digitais A Serviço Das Aprendizagens, Da Inclusão e Da Autonomia: Sentidos e Significados ProduzidosDocumento226 páginasOs Jogos, As Brincadeiras e As Tecnologias Digitais A Serviço Das Aprendizagens, Da Inclusão e Da Autonomia: Sentidos e Significados ProduzidosEditora Pimenta CulturalAinda não há avaliações
- QuivyDocumento8 páginasQuivyMaria Cardoso100% (1)
- Economia Social - 1Documento27 páginasEconomia Social - 1Maria CardosoAinda não há avaliações
- Unesco Recomendacoes Sobre Aprendizagem Jovens e AdultosDocumento16 páginasUnesco Recomendacoes Sobre Aprendizagem Jovens e AdultosbiaAinda não há avaliações
- Educação 2030Documento53 páginasEducação 2030Dalva Cecília SoaresAinda não há avaliações
- Educação de Adultos Vida No Curriculo Curriculo Na VidaDocumento178 páginasEducação de Adultos Vida No Curriculo Curriculo Na VidaMaria CardosoAinda não há avaliações
- Educação e Intervenção SocialDocumento100 páginasEducação e Intervenção SocialMaria CardosoAinda não há avaliações
- Educação e Intervenção SocialDocumento100 páginasEducação e Intervenção SocialMaria CardosoAinda não há avaliações
- Coleção Educomunicação da Editora PaulinasDocumento8 páginasColeção Educomunicação da Editora PaulinasEdielson RicardoAinda não há avaliações
- LinguaDeSinais TO Volume1-2 PDFDocumento149 páginasLinguaDeSinais TO Volume1-2 PDFRivânia CarvalhoAinda não há avaliações
- Guias de aprendizagem de Física para 3o ano do Ensino MédioDocumento3 páginasGuias de aprendizagem de Física para 3o ano do Ensino MédioLuciana Rodrigues Paiva100% (1)
- Callen Ultrassonografia em Obstetrícia E GinecologiaDocumento1.252 páginasCallen Ultrassonografia em Obstetrícia E GinecologiaGilberto ChávezAinda não há avaliações
- SERBENA, Carlos A. Imaginário, Ideologia e Representação SocialDocumento13 páginasSERBENA, Carlos A. Imaginário, Ideologia e Representação SocialStéfany SilvaAinda não há avaliações
- Gex104 - Calculo I - 19a - 2021 1Documento3 páginasGex104 - Calculo I - 19a - 2021 1Mariane LaraAinda não há avaliações
- 881Documento28 páginas881Portal Rio InteriorAinda não há avaliações
- 2016 - Bem - and - Vianna - O - Turismo - Como - Estrategia de DesenvolvimentoDocumento496 páginas2016 - Bem - and - Vianna - O - Turismo - Como - Estrategia de Desenvolvimentopaulo pereira0% (1)
- Plano Diário Do Componente Curricular: Matemática - 2023Documento1 páginaPlano Diário Do Componente Curricular: Matemática - 2023antoniojose@antoniojoseAinda não há avaliações
- CNES UAI RooseveltDocumento33 páginasCNES UAI RooseveltMarcello Pinto MartinsAinda não há avaliações
- BNCC: A Base Nacional Comum Curricular e o currículo na Educação EspecialDocumento26 páginasBNCC: A Base Nacional Comum Curricular e o currículo na Educação EspecialNilson JordaoAinda não há avaliações
- Histórico Profissional como Proprietária de Pet Shop e Corretora de ImóveisDocumento1 páginaHistórico Profissional como Proprietária de Pet Shop e Corretora de ImóveisBrenna CambraiaAinda não há avaliações
- Inscrições homologadas Teste Seletivo 2020 Conservatório Maestro PaulinoDocumento9 páginasInscrições homologadas Teste Seletivo 2020 Conservatório Maestro PaulinoDiego WillianAinda não há avaliações
- Anexo 59472031 ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NBSPDocumento2 páginasAnexo 59472031 ESCOLAS DE ENSINO MEDIO NBSPrita silvaAinda não há avaliações
- Requerimento para Redução Temporaria de Jornada de EstágioDocumento2 páginasRequerimento para Redução Temporaria de Jornada de EstágiofelippeavlisAinda não há avaliações
- O Que É Um Plano de Aula Com Unidade Temática - EHow BrasilDocumento3 páginasO Que É Um Plano de Aula Com Unidade Temática - EHow BrasilFábio XimenesAinda não há avaliações
- Horário de trabalho pedagógicoDocumento1 páginaHorário de trabalho pedagógicolobostart100% (1)
- Resenha Educação Não FormalDocumento2 páginasResenha Educação Não FormalMaria SouzaAinda não há avaliações
- Comprovante de MatrículaDocumento1 páginaComprovante de MatrículaGabriel MenezesAinda não há avaliações
- PLANO ANUAL 6º ANO REDAÇÃO SAO DESIDERIOcompleto 2024Documento8 páginasPLANO ANUAL 6º ANO REDAÇÃO SAO DESIDERIOcompleto 2024Ingrid FranciscaAinda não há avaliações
- Membranas-estrutura-funçãoDocumento3 páginasMembranas-estrutura-funçãoLeticia ReisAinda não há avaliações
- Formação Permanente Do Professorado - Trabalho 1Documento4 páginasFormação Permanente Do Professorado - Trabalho 1valeriaAinda não há avaliações
- Edital Progep 2018 067Documento645 páginasEdital Progep 2018 067AlexNatalinoRibeiroAinda não há avaliações
- Termo de compromisso de estágioDocumento3 páginasTermo de compromisso de estágiomaria rodriguesAinda não há avaliações