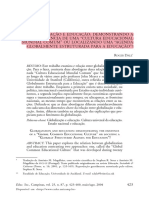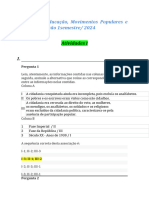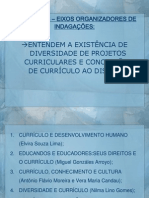Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Mercadorização e A Qualidade Da Educação Superior - Mario Luiz
Enviado por
Fernando NabãoDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Mercadorização e A Qualidade Da Educação Superior - Mario Luiz
Enviado por
Fernando NabãoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
A MERCADORIZAÇÃO E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
PÚBLICA NO BRASIL: BREVE DISCUSSÃO A PARTIR DAS
CONTRIBUIÇÕES DE ALBERT HIRSCHMAN
Aline Fabiane Barbieri - UEM
alinefb_90@yahoo.com.br
Mário Luiz Neves de Azevedo - UEM
mlnazevedo@uem.br
Eixo 2: Organização institucional e acadêmica na expansão da educação superior
Resumo: O trabalho discute a relação entre o público e o privado no campo da
educação superior no Brasil, com foco na qualidade do ensino público, a partir das
contribuições de Albert Hirschman (1973). Conforme Azevedo (2015), foi iniciado,
especialmente a partir dos anos de 1990, um processo de mercadorização da
educação superior brasileira, catalisado por programas federais tais como o
Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (FIES). Argumenta-se, com base na intrincada
correlação de forças entre “saída”, “voz” e “lealdade”, apresentada por Hirschman
(1973), que a relativa queda da qualidade do serviço público oferecido no campo da
educação superior no Brasil parece não ativar o comportamento de “saída”, haja
vista o alto custo dessa reação. Em contrapartida, a “lealdade” é estimulada e
identifica-se a “voz” como o mecanismo mais eficiente para gerar efeitos benéficos
no tocante a qualidade do serviço nesse setor.
Palavras-chave: Educação superior no Brasil. Mercadorização. Qualidade. Albert
Hirschman.
1. Introdução
O Estado é compreendido como um campo, ou seja, “[...] um espaço de jogo, um
campo de relações objetivas entre indivíduos ou instituições que competem por um mesmo
objeto” (BOURDIEU, 1983, p. 155, grifos do autor). Segundo Bourdieu (1983, p. 157), todo
campo “[...] é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse
campo de forças”1.
A “[...] luta permanente no interior do campo é o motor do campo” (BOURDIEU,
2004, p. 23). Ademais, os agentes sociais que protagonizam essa luta têm poder diferenciado
entre si, conforme a quantidade de capital que possuem. Grosso modo, quanto mais capital um
ator social possui, maior tende a ser o seu poder, e privilegiada a posição por ele ocupada
dentro do campo (BOURDIEU, 2014).
1
Como explica Catani (2008, p. 241-242, grifos do autor), “[...] Bourdieu substitui a noção de sociedade pela de
campo, pois entende que uma sociedade diferenciada não se encontra plenamente integrada por funções
sistêmicas, mas, ao contrário, é constituída por um conjunto de microcosmos sociais dotados de autonomia
relativa, com lógicas e necessidades próprias, específicas, com interesses e disputas irredutíveis ao
funcionamento de outros campos”.
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 189
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
Tomando por base as teorizações de Bourdieu (2014), entende-se o Estado como um
espaço protagonizado por agentes sociais de interesses distintos que se digladiam, mediante
regras claras, em busca de um objeto comum – o poder. Por tal motivo, o Estado também é
denominado de campo do poder (BOURDIEU, 2014).
No subcampo das políticas públicas e sociais brasileiras, os agentes e instituições
comprometidos com os interesses privados tornaram-se significativamente mais poderosos a
partir das últimas décadas do século XX. Fator basilar para isso foi o avanço do
neoliberalismo nos anos de 1990, programa político-econômico catalisador da liberalização
do comércio em detrimento da promoção de políticas sociais pelo Estado (MORAES, 2001).
A institucionalização do ideário neoliberal nos diferentes Estados nacionais foi
operacionalizada por reformas. No Brasil, propalou-se a crença de que a reforma do aparelho
do Estado, que tomou corpo no governo de Fernando Henrique Cardoso, seria o caminho mais
acertado para a superação da crise, inserção do Brasil no mundo globalizado e melhoria da
qualidade dos serviços públicos (CARVALHO, 2012).
Além disso, veiculou-se o discurso de que a efetivação da reforma era dependente de
reformas nos diversos setores sociais. O processo de reforma no campo das políticas
educacionais foi inaugurado com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n. 9.394/96 (BRASIL, 1996) e caracterizado pela liberalização da oferta de ensino,
expansão do setor privado e da noção do ensino como mercadoria. Por isso, considera-se que
o produto da reforma nesse campo foi a mercadorização da educação.
No tocante ao campo da educação superior, pode-se citar como expressões da reforma
e liberalização: a expansão da oferta de ensino superior pela rede privada; a privatização
direta das instituições de ensino superior; o fomento do quase- mercado e a intensificação do
estabelecimento de parcerias público-privadas (AZEVEDO, 2015).
Em resumo, pode-se entender que a reforma, via de regra, promoveu a redução do
papel do Estado no tocante ao financiamento dos setores sociais, o incremento de incentivos
estatais aos sistemas privados, bem como estratégias de autonomização da sociedade civil e
desenvolvimento do Terceiro Setor2 (SOARES, 2001). Portanto, as investidas neoliberais
precarizaram os setores públicos, o que ocasionou, em última instância, a queda da qualidade
dos serviços públicos estatais prestados. Aliás, as críticas neoliberais são facilitadas pelas
2
Montaño (2010) explica que o primeiro setor é o mercado, o segundo o Estado e o terceiro seria a sociedade
civil. Diz respeito a grupos da sociedade civil (sociedade civil ativa) que se organizam autonomamente para
resolver problemas locais. A base é o trabalho voluntário. O terceiro setor emerge para cobrir as lacunas
deixadas pelo afastamento do Estado no tocante ao financiamento das políticas sociais.
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 190
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
falhas e deficiências existentes nas ofertas públicas, pois como lembra Hirschman (1973, p.
13), sob “[...] qualquer sistema econômico, social ou político, indivíduos, firmas e
organizações em geral estão sujeitos a falhas de eficiência, racionalidade, legalidade, ética ou
de outros tipos de comportamento funcional”, independentemente do quão bem planejada e
organizada seja a estrutura.
Ainda segundo o mesmo autor, as possíveis reações dos consumidores diante da queda
da qualidade de um serviço podem variar, principalmente, entre duas formas de
comportamento: “voz” e “saída”. A utilização da “voz” fica caracterizada quando o
consumidor faz a organização (com a qual está insatisfeito) ouvir seu descontentamento, ao
passo que o recurso da “saída” fica marcado quando o indivíduo opta pelo abandono da
instituição a qual pertence e pela inserção em outra (HIRSCHMAN, 1973).
Considerando o exposto, busca-se, nesse texto, refletir sobre o comportamento dos
indivíduos que usufruem da educação superior pública frente ao declínio da eficiência do
Estado e a relativa queda da qualidade do ensino no setor, com base nas categorias
apresentadas e descritas por Albert Hirschman, a saber: “saída”, “voz” e “lealdade”.
2. Sobre a teoria de Albert Hirschman: saída, voz e lealdade
Albert Otto Hirschman (1915-2012) foi um economista alemão que desenvolveu
interpretações a respeito de variados temas sociais, econômicos e políticos. Segundo
Lepenies:
[...] a biografia de Hirschman é tão multifacetada quanto a obra acadêmica que o
tornou um dos cientistas sociais mais originais do século XX. Contudo, dado que
não fundou uma escola de pensamento específica nem desenvolveu uma teoria
concisa que condensasse a essência de seus escritos, ele é normalmente associado a
elementos específicos, aparentemente separados, de sua obra. Cientistas políticos o
vinculam à saída e voz (1970); economistas do desenvolvimento, à abordagem do
encadeamento (1958/1988); e historiadores, a paixões e interesses (1977) ou à
retórica da reação (1991), para dar apenas alguns exemplos (2009, p. 66, grifos no
original).
Hirschman (1973) parte do pressuposto de que qualquer instituição está sujeita a falhas
e quedas de desempenho. E de que, frente a isso, os consumidores podem reagir de duas
principais maneiras: utilizando o recurso da “voz” e/ou o da “saída”.
A “voz” consiste em uma “ação política por excelência” (HIRSCHMAN, 1973, p. 26).
Tal mecanismo pode ser definido como qualquer tentativa de:
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 191
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
[...] modificação, em vez de fuga, de um estado ao qual se pode fazer objeções,
através de petições individuais ou coletivas à administração diretamente
responsável, apelos a autoridades superiores, com a intenção de pressionar a
direção ou, vários tipos de ação e protesto, inclusive os destinados a mobilizar a
opinião pública (HIRSCHMAN, 1973, p. 40).
Deste modo, “[...] a escolha da voz, mais do que a saída, é uma tentativa de mudar os
hábitos, a política e os outputs da firma da qual compra ou da organização a que pertence”
(HIRSCHMAN, 1973, p. 40, grifos do autor). Implica “[...] na articulação de opiniões críticas
pessoais em vez de ser um voto particular, ‘secreto’, no anonimato de um supermercado [...]”
e pode ser expressa em manifestações e tumultos, englobando desde “tímidos murmúrios até
violentos protestos” (HIRSCHMAN, 1973, p. 26).
Para que a “voz” atue como mecanismo de recuperação, contudo, é fundamental que
se respeite o tempo necessário para que as organizações reajam à sua pressão. Caso contrário,
“[...] os membros ou clientes podem tornar-se tão insistentes e incômodos, que a certa altura,
seus protestos impedirão em vez de ajudar, quaisquer que sejam os esforços de recuperação”
(HIRSCHMAN, 1973, p. 41). Por todos esses aspectos, a “voz” é compreendida como um
recurso mais confuso, demorado e custoso.
A “saída”, diferentemente, corresponde à ação em que os membros de uma
organização optam por deixá-la. Indica a decisão pelo mercado e é a forma mais rápida e
silenciosa de manifestação de descontentamento. Como explica Hirschman (1973, p. 25-26):
O cliente que, insatisfeito com o produto de uma empresa, muda para o de outra,
usa o mercado para defender seu bem-estar ou para melhorar sua situação; e assim,
movimenta forças de mercado capazes e levar à recuperação da firma cuja
performance entrou relativamente em declínio. É este o tipo de mecanismo da
economia. É claro: ou há um afastamento, ou se continua comprando o produto da
firma; é impessoal – todo confronto entre cliente e firma, com suas consequências
imponderáveis e imprevisíveis, é evitado, e o sucesso ou fracasso da organização é
conhecido através de uma rede de estatísticas; e é indireto – qualquer recuperação
de uma empresa em declínio é cortesia da Mão Invisível, fruto não intencionado da
decisão de mudança do cliente.
Segundo Hirschman (1973), os primeiros a optarem pela “saída” são, em regra, os
mais sensíveis à queda da qualidade dos serviços, portanto, aqueles que teriam maior
capacidade de provocar melhorias no setor. Condição que faz com que a qualidade do serviço
(inclusive, o púbico) tenda a cair cada vez mais. Hirschman fornece o exemplo da
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 192
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
concorrência na Nigéria entre o transporte ferroviário público e o transporte rodoviário
privado. Observando que:
[...] a presença de uma fácil alternativa ao transporte ferroviário faz com que as
falhas das ferrovias devam ser combatidas ao invés de perdoadas. Devido à
existência de ônibus e caminhões para transporte, a deterioração do serviço
ferroviário não é tão grave quanto seria se as estradas de ferro tivessem um
monopólio do transporte entre grandes distâncias. Dessa forma, o público a suporta
sem provocar as pressões difíceis e explosivas necessárias à reforma da
administração. Pode ser essa a razão pela qual o empreendimento público, não só
na Nigéria, mas também em muitos outros países, tem seu ponto fraco em setores
como educação e transporte, onde está submetido à concorrência. Em vez de
estimular um desempenho melhor ou um desempenho máximo, a presença do
substituto acessível e satisfatório para os serviços oferecidos pelo empreendimento
público priva-a de um precioso mecanismo de retorno, cuja efetividade máxima
requer a ligação de clientes à firma. Isso porque a direção garantida pelo Tesouro
Nacional é menos sensível a prejuízo na renda, causado pelas saídas dos clientes
para um concorrente, do que aos protestos de um público revoltado, que não tendo
outra alternativa, além da dependência, provocará um tumulto (1973, p. 52) 3.
Na intrincada correlação de forças entre “saída” e “voz”, figura ainda a “lealdade”, que
em resumidas palavras, pode ser compreendida como o ato de “[...] resistir à saída apesar do
descontentamento” (HIRSCHMAN, 1973, p. 99); ou a decisão pelo “[...] adiamento da saída,
apesar da insatisfação” (HIRSCHMAN, 1973, p. 104). Logo, quanto maior o grau de
“lealdade”, maior é a probabilidade de utilização da “voz” em contraposição à “saída”. A
esperança dos consumidores de que a organização retomará “[...] a direção correta, após o
desvio [...]” em um curto espaço de tempo, é um dos principais fatores que fomentam a
“lealdade” (HIRSCHMAN, 1973, p. 83).
A opção pela “saída” indica o abandono do recurso da “voz” e, de forma semelhante,
quando se utiliza da “voz” é porque a “saída” ainda não foi acionada. Entretanto, em
determinados momentos, os mecanismos de “saída” e de “voz” podem ser combinados. Isso
significa que embora “saída” e “voz” sejam categorias contrastantes, não são mutuamente
excludentes (HIRSCHMAN, 1973).
São ilustrativas, nesse sentido, as situações em que a simples presença da possibilidade
de “saída” infla o poder da “voz” dentro de uma estrutura. Como explica Hirschman (1973, p.
62), “[...] uma importante maneira de pressionar uma organização é ameaçar a saída a favor
de uma organização rival”. Assim, o “[...] funcionamento efetivo da voz como mecanismo de
recuperação é grandemente reforçado se ela for protegida pela ameaça da saída, seja ela
3
Hirschman, na realidade, cita a si mesmo a partir do relatório Development projects observed. Washington:
Brookings Institution, 1967, pp. 146-147.
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 193
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
proclamada abertamente ou meramente subentendida por todos aqueles envolvidos na
situação” (HIRSCHMAN, 1973, p. 87, grifos do autor).
Em meio à sofisticada interação entre as forças de “saída” e “voz” também se expressa
no recurso do “boicote”, que pode ser entendido como “[...] uma saída temporária, sem
entrada correspondente em algum outro lugar” (HIRSCHMAN, 1973, p. 90). Neste caso, há o
cruzamento entre “saída” e “voz” na medida em que a “saída” é efetivada por determinado
período, com vistas a provocar mudanças no comportamento de uma organização
(HIRSCHMAN, 1973).
3. A mercadorização da educação superior no Brasil a partir dos anos de 1990
Na esteira da reforma do Estado e da educação formal, desencadeada nos anos de 1990
e inspirada no programa neoliberal, seguiram-se cortes no fomento estatal ao ensino superior
público. Somando-se a isso, observou-se, também, uma crescente inserção da lógica
mercadológica da produtividade e ênfase nos aspectos quantitativos no setor.
Assistiu-se, ainda, a partir desse período, a uma significativa expansão na oferta do
ensino superior no Brasil, principalmente pela via privada. Como explica Azevedo (2015, p.
6):
[...] em grande medida, a expansão da educação superior no Brasil aconteceu em
ambiente de mercado dominado por empresas de serviços educacionais com
finalidade de lucro e, para complexificar ainda mais o panorama, em momento em
que a Organização Mundial do Comércio (OMC), criada 1995, passa a jogar papel
importante na liberalização comercial, reforçando teses privatizantes da educação
do Banco Mundial (1994), e em que empresas transnacionais e fundos de
investimento lançam-se no mercado de educação superior no Brasil.
O desenvolvimento das empresas educacionais de educação superior foi impulsionado
pelo financiamento de agentes privados nacionais e estrangeiros e “[...] por programas
federais de financiamento direto a estudantes de graduação como o FIES (Fundo de
Financiamento Estudantil) e o PROUNI (Programa Universidade para Todos)”4 (AZEVEDO,
2015, p. 92).
4
Diferentemente das políticas públicas que são caracterizadas por serem ações permanentes, os programas
são medidas governamentais temporárias (VIEIRA; ALBUQUERQUE, 2001). A interpretação das afirmativas de
Hayek (1990) deixa entender que, no bojo do neoliberalismo, a intervenção estatal via programas é
considerada a menos danosa à sociedade. Isso porque os programas, por serem medidas focais e de caráter
emergencial, teriam menor probabilidade de induzir o inchaço da máquina estatal acomodamento social.
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 194
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
O FIES é um programa criado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2001,
regulamentado pela lei n. 10.260 (BRASIL, 2016c) e destinado ao financiamento da educação
superior de estudantes matriculados em redes de ensino superior não gratuitas. Com inscrições
de fluxo contínuo, o estudante pode obter o financiamento de até 100% do valor do curso
(com taxa de juros de 6,5% ao ano) (BRASIL, 2016a). Trata-se de um convênio feito entre
governo e faculdades particulares, na qual o Estado arca com os custos referentes a graduação
e o estudante se compromete a reembolsar o Estado após formado.
O PROUNI, lançado pelo Governo Federal em 2004 e regulamentado pela Lei nº
11.096/05 (BRASIL, 2005), é um programa voltado ao oferecimento de bolsas integrais e
parciais em instituições privadas de ensino superior. O público alvo são estudantes brasileiros
sem diplomas de ensino superior, interessados em realizar cursos de graduação e sequenciais
de formação específica (BRASIL, 2016b). Além do mais, com a adesão ao Programa, as
instituições de ensino superior com fins lucrativos são desobrigadas a recolher tributos
federais (OLIVEIRA; FERREIRA, 2008).
Observa-se, nesse sentido, que ao invés de o Estado investir na abertura de vagas nas
universidades públicas, intensificou as parcerias com empresas do setor educacional5,
injetando dinheiro público no sistema privado (OLIVEIRA; FERREIRA, 2008). Apoiado na
justificativa de ampliação do acesso à educação superior, o Estado brasileiro vem traçando
medidas de fomento de instituições privadas de ensino superior. Entende-se, com base nas
aproximações de Bourdieu (2014), essa como mais uma situação em que se utiliza do discurso
fantasiado de universal e de desinteressado para legitimar interesses particulares.
O interesse das classes sociais dominantes e do Estado neoliberal pela ampliação do
setor privado e pelo recuo da esfera pública também pode ser compreendido a partir das
explicações de Marx (2013). Segundo esse autor, esse interesse se assenta no fato de que é
somente no setor privado em que há a produção de mais-valia e a geração de lucros.
Conforme assevera Marx (1985), a ação estatal é predominantemente improdutiva de capital,
embora seja basilar para a promoção da coesão e regulação social na forma social capitalista.
Fica evidente, portanto, tal como explica Bourdieu (2014), que há uma linha muito
tênue que separa os domínios público e privado, de forma que esses dois campos se
intercruzam constantemente.
5
O afastamento do Estado brasileiro do financiamento da educação superior pública é uma de suas manobras
para efetuar o pagamento dos juros dívida externa. Segundo dados da Auditoria Cidadã da Dívida (AUDITORIA
CIDADÃ DA DÍVIDA, 2016), até dezembro de 2015 essa dívida havia consumido 42% do gasto federal, cerca de
R$ 962 bilhões.
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 195
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
4. A mercadorização e a qualidade no ensino superior público: breve discussão a partir
das categorias apresentadas por Albert Hirschman
Como apresentado, a disseminação do programa neoliberal no campo da educação
catalisou a redefinição das fronteiras entre o público e o privado, acarretando importantes
prejuízos à qualidade do ensino público brasileiro.
Na perspectiva de Hirschman (1973), o aumento das opções privadas frente ao serviço
público tende a fazer cair a qualidade desse serviço. Isso porque essas opções fariam com que
os consumidores suportassem a deterioração sem provocar mudanças na organização. Por
decorrência, considerando que no curso dos anos de 1990 houve expressivo crescimento das
empresas de ensino superior, poder-se-ia aferir que o avanço do setor privado no campo das
políticas de ensino superior teria provocado o silenciamento da “voz”, o enfraquecimento da
“lealdade” e o aceleramento do comportamento de “saída”, dando corpo a um movimento
gerador de desqualificação do serviço oferecido no setor público. Porém, nesse campo, em
específico, essas forças parecem não gerar os mesmos efeitos que nos setores privados.
No campo da educação superior pública observa-se que a queda da qualidade do
serviço não parece estimular o comportamento de “saída”. A hipótese explicativa é de que o
comportamento da “saída” não é ativado por conta do alto custo dessa forma de reação.
Primeiramente, importa salientar que, embora a qualidade no campo da educação
superior pública tenha enfraquecido com o processo de mercadorização destravado nas
últimas décadas do século XX, a instituição pública ainda é, de forma geral, a que oferece a
educação de melhor qualidade. Essas ainda são as que detêm o corpo docente com melhor
qualificação e as que geram certificações mais amplamente reconhecidas, aceitas e
valorizadas socialmente.
Tendo em vista tais aspectos, mesmo os consumidores mais sensíveis à queda de
desempenho (e também potencialmente contribuintes para a retomada da eficiência na
instituição) não optam pela “saída”. Frente ao demasiado custo da “saída”, ativa-se a
utilização do recurso da “voz” (reclamação e manifestação) e fortalece-se a “lealdade”
(permanência na organização apesar do descontentamento).
Ainda que os indivíduos optassem pela “saída” da instituição estatal e pela
concomitante entrada no setor privado (ou pela saída temporária, via “boicote”), esse
comportamento não geraria efeitos positivos no referente à retomada de desempenho da
instituição estatal, tal como ocorre com as entidades privadas. O Estado, diferentemente das
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 196
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
empresas, não depende diretamente dos recursos advindos dos consumidores dos serviços
públicos para se manter. A esfera estatal nutre-se de frações de mais-valia captadas na forma
de tributos, impostos e taxas (MARX, 1985).
Os ocupantes das vagas das universidades públicas são, predominantemente, as classes
privilegiadas e detentoras de maior poder aquisitivo, especialmente no que se refere aos
cursos mais concorridos e legitimados. Às camadas populares, fica, por exemplo, a
possibilidade de pleitear vagas nos cursos menos prestigiosos e nas instituições de educação
superior privadas (principalmente por meio de financiamento).
Baseando-se em Bourdieu (2014), pode-se compreender tal fenômeno como uma
expressão das estratégias de cercamento de capital cultural pelas elites. Não obstante as
estratégias governamentais de democratização do acesso ao ensino superior, a posse de
diploma de universidade pública ainda é um distintivo, um diferencial e um marcador de
pertencimento de classe.
Essas aproximações demonstram a atualidade e a possibilidade de transposição para o
ensino superior da tese de Bourdieu e Passeron (2014) de que a escola, da forma como está
posta nessa forma social, vem contribuindo, fundamentalmente, para que o poder e a cultura
permaneçam sob o domínio das classes privilegiadas e tendencialmente mais cultas. A
dinamicidade do ensino superior público contemporâneo corrobora a manutenção dos
dominantes na posição de dominantes e dos dominados na posição de dominados,
conservando a arquitetura social estabelecida socialmente e reforçando as desigualdades
sociais.
5. Considerações finais
A liberalização no âmbito da educação superior pública brasileira, intensificada pela
reforma do aparelho do Estado e pela institucionalização do ideário neoliberal, desencadeou
um processo de mercadorização do ensino superior. Acoplada a medidas de restrição do
financiamento público, um dos produtos desse processo de mercadorização foi a queda da
qualidade do ensino oferecido pelo Estado no setor em foco.
Baseando-se em Hirschman (1973) – que se debruçou na análise do comportamento
dos consumidores frente à queda de desempenho de uma instituição e apresentou a “saída” e a
“voz” como as duas principais formas de reação nessas condições – argumenta-se que a
relativa queda da qualidade do serviço público oferecido no campo da educação superior no
Brasil parece não ativar o comportamento de “saída”, haja vista o alto custo dessa conduta.
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 197
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
Em contrapartida, a “lealdade” é estimulada e identifica-se a “voz” como o mecanismo mais
eficiente para gerar efeitos benéficos no tocante a qualidade do serviço nesse setor.
6. Referências
AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA. Dividômetro. 2016. Disponível em:
<http://www.auditoriacidada.org.br/>. Acesso em: 05 abr. 2016.
AZEVEDO, M. L. N. Transnacionalização e mercadorização da educação superior:
examinando alguns efeitos colaterais do capitalismo acadêmico (sem riscos) no Brasil – a
expansão privado-mercantil. Rev. Inter. Educ. Sup. [RIESup]. Campinas, v. 1, n. 1, p. 86-
102, jul./set. 2015.
BOURDIEU, P. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: Por uma sociologia clínica do campo
científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004.
BOURDIEU, P. Sobre o Estado: Cursos no Collège de France (1989-92). São Paulo:
Companhia das Letras, 2014.
BOURDIEU, P.; PASSERON, J. C. A Reprodução: elementos para uma teoria do sistema de
ensino. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Brasília, dez. 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 12 mar. 2016.
BRASIL. Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. 2005. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/L11096.htm>. Acesso em: 05
abr. 2016.
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Sobre o FIES. 2016a. Disponível em:
<http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html>. Acesso em: 22 mar. 2016.
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Sobre o PROUNI. 2016b. Disponível em:
<http://prouniportal.mec.gov.br/>. Acesso em: 02 mar. 2016.
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. 2016c.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10260.htm>. Acesso
em: 05 abr. 2016.
CARVALHO, E. J. G. Reestruturação produtiva, reforma administrativa do Estado e gestão
da educação. Educ. Soc., Campinas, SP, v. 109, p. 1139-1166, set./dez. 2009.
CARVALHO, E. J. G. Políticas públicas e gestão da educação no Brasil. Maringá: Eduem,
2012.
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 198
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
CATANI, A. M. Pierre Bourdieu: Um estudo da noção de campo e de suas apropriações
brasileiras nas produções educacionais – proposta de trabalho. In: AZEVEDO, M. L. N.
(Org.). Políticas públicas e educação: debates contemporâneos. Maringá: Eduem, 2008. p.
231-250.
HAYEK, F. A. V. O caminho da servidão. Rio de Janeiro: Instituto Neoliberal, 1990.
HIRSCHMAN, A. Saída, voz e lealdade: reações ao declínio de firmas, organizações e
estados. São Paulo: Perspectiva, 1973.
MARX, K. O capital: crítica da economia política. Livro II. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
MARX, K. O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do
capital. São Paulo: Boitempo, 2013.
MONTAÑO, C. Terceiro Setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção
social. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
MORAES, R. Neoliberalismo: de onde vem, para onde vai? São Paulo: SENAC, 2001.
OLIVEIRA, D. A.; FERREIRA, E. B. Políticas sociais e democratização da educação: novas
fronteiras entre público e privado. In: AZEVEDO, M. L. N. (Org.). Políticas públicas e
educação: debates contemporâneos. Maringá: Eduem, 2008. p. 23-45.
VIEIRA, S. L.; ALBUQUERQUE, M. G. M. Política e planejamento educacional.
Fortaleza: Demócrito Rocha, 2001.
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 199
Anais do XXIV Seminário Nacional UNIVERSITAS/BR
ISSN 2446-6123
Universidade Estadual de Maringá – 18 a 20 de Maio de 2016 200
Você também pode gostar
- Kit de ReceitasDocumento27 páginasKit de ReceitasAna Paula de OliveiraAinda não há avaliações
- Planner 2021Documento14 páginasPlanner 2021Ailton AlcântaraAinda não há avaliações
- Conhecimentos Pedagogicos - Marcos Dornelas - 04.05Documento5 páginasConhecimentos Pedagogicos - Marcos Dornelas - 04.05Anderson Melo 2100% (1)
- SOCIOLINGUISTICADocumento8 páginasSOCIOLINGUISTICARigoberto Espinosa100% (3)
- A Sexualização de Crianças e Adolescentes Na MídiaDocumento11 páginasA Sexualização de Crianças e Adolescentes Na MídiaMaria Tereza Buss WesslerAinda não há avaliações
- PERONI, Vera Marial Vidal. Relação Público Privado No Contexto Neoconservadorismo No BrasilDocumento17 páginasPERONI, Vera Marial Vidal. Relação Público Privado No Contexto Neoconservadorismo No BrasilFernando NabãoAinda não há avaliações
- Pedagogia de Rui Barbosa - Lourenço Filho PDFDocumento164 páginasPedagogia de Rui Barbosa - Lourenço Filho PDFRenatoRetzAinda não há avaliações
- Projeto de Leitura - 11.ano (Temas)Documento2 páginasProjeto de Leitura - 11.ano (Temas)Sophia Dunbroch HaddockAinda não há avaliações
- A Possessao e A Construcao Ritual Da PessoaDocumento211 páginasA Possessao e A Construcao Ritual Da PessoaronaldotrindadeAinda não há avaliações
- MX5 Avaliacao Outubro2023 VersaoAlunoDocumento4 páginasMX5 Avaliacao Outubro2023 VersaoAlunocarlosferreirajorgeAinda não há avaliações
- HORWAT, Dayane. Referenciais de Qualidade para Educação Superior A Distância - A Política Pública Educacional em Contextos e Perspectivas de AtualizaçãoDocumento152 páginasHORWAT, Dayane. Referenciais de Qualidade para Educação Superior A Distância - A Política Pública Educacional em Contextos e Perspectivas de AtualizaçãoFernando NabãoAinda não há avaliações
- ALFERES, Marcia Ap. Jefferson Mainardes. Um Currículo Nacional para Os Anos Iniciais Análise Do Documento Elementos Conceituais e MetodológicosDocumento18 páginasALFERES, Marcia Ap. Jefferson Mainardes. Um Currículo Nacional para Os Anos Iniciais Análise Do Documento Elementos Conceituais e MetodológicosFernando NabãoAinda não há avaliações
- DAVIES, Nicholas. O Publico, o Estatal, e o Privado No Pensamento Educacional Brasileiro.Documento16 páginasDAVIES, Nicholas. O Publico, o Estatal, e o Privado No Pensamento Educacional Brasileiro.Fernando NabãoAinda não há avaliações
- DAVIES, Nicholas. Os Tribunais de Contas de São Paulo e Sua Avaliação Dos Gastos Governamentais em EducaçãoDocumento20 páginasDAVIES, Nicholas. Os Tribunais de Contas de São Paulo e Sua Avaliação Dos Gastos Governamentais em EducaçãoFernando NabãoAinda não há avaliações
- DAVIES, Nicholas. Levantamento Bibliográfico Sobre Financiamento Da Educação No BrasilDocumento84 páginasDAVIES, Nicholas. Levantamento Bibliográfico Sobre Financiamento Da Educação No BrasilFernando NabãoAinda não há avaliações
- DALE, Roger. Globalização e EducaçãoDocumento38 páginasDALE, Roger. Globalização e EducaçãoFernando NabãoAinda não há avaliações
- DAVIES, Nicholas. Omissões, Inconsistências e Erros Na Descrição Da Legislação EducacionalDocumento18 páginasDAVIES, Nicholas. Omissões, Inconsistências e Erros Na Descrição Da Legislação EducacionalFernando NabãoAinda não há avaliações
- PERONI, Vera Maria Vidal CAETANO, Maria Raquel. O Público e o Privado Na EducaçãoDocumento17 páginasPERONI, Vera Maria Vidal CAETANO, Maria Raquel. O Público e o Privado Na EducaçãoFernando NabãoAinda não há avaliações
- SANDRI, Simoni SILVA, Monica Ribeiro Da. o Programa Jovem de Futuro Do Instituto Unibanco para o Ensino Médio2Documento23 páginasSANDRI, Simoni SILVA, Monica Ribeiro Da. o Programa Jovem de Futuro Do Instituto Unibanco para o Ensino Médio2Fernando NabãoAinda não há avaliações
- SOUZA, Angelo Ricardo De. A Teoria Da Agenda Globalmente Estruturada para A EducaçãoDocumento23 páginasSOUZA, Angelo Ricardo De. A Teoria Da Agenda Globalmente Estruturada para A EducaçãoFernando NabãoAinda não há avaliações
- Presença Dos Negros Na Historiografia Alagoana Ulisses-NevesDocumento17 páginasPresença Dos Negros Na Historiografia Alagoana Ulisses-NevesSheyla FariasAinda não há avaliações
- 03 Bases NeurocientificasDocumento160 páginas03 Bases NeurocientificasAna Paula SantosAinda não há avaliações
- Relatório Do Projeto de Leitura 2017 - Versão FinalDocumento4 páginasRelatório Do Projeto de Leitura 2017 - Versão FinalAnderson KerllyAinda não há avaliações
- Course NJ F8 MTYy MQDocumento1 páginaCourse NJ F8 MTYy MQFelipe LucasAinda não há avaliações
- Edital-032022-Inscricoes-Homologadaspos-recurso - 3 2Documento13 páginasEdital-032022-Inscricoes-Homologadaspos-recurso - 3 2tbhvp7sgchAinda não há avaliações
- AVA 2 - Organização Da Educação EscolarDocumento5 páginasAVA 2 - Organização Da Educação EscolarBeatriz BragaAinda não há avaliações
- 2 Rec Sem 7º Ano - GeoDocumento2 páginas2 Rec Sem 7º Ano - GeoSandra SantosAinda não há avaliações
- Programas Do 2º Ciclo Do ENSINO PRIMARIODocumento263 páginasProgramas Do 2º Ciclo Do ENSINO PRIMARIOamiltonAinda não há avaliações
- ProfileDocumento4 páginasProfileAna Carla Castilho PagliocoAinda não há avaliações
- Guia Da Programação 12 Semana de Museus NACIONALDocumento231 páginasGuia Da Programação 12 Semana de Museus NACIONALTatiana Aragão PereiraAinda não há avaliações
- Avaliação de Pesquisa - Base Histórica e Legal Da EducaçãoDocumento5 páginasAvaliação de Pesquisa - Base Histórica e Legal Da Educaçãolillianfran6Ainda não há avaliações
- Portugues 4Documento6 páginasPortugues 4Renato Martinez AcostaAinda não há avaliações
- Módulo 01 - Aula 04 - Fórmula de Contação de Histórias.Documento8 páginasMódulo 01 - Aula 04 - Fórmula de Contação de Histórias.Nelba CarlaAinda não há avaliações
- Todas ATIVIDADES Educação, Movimentos Populares e TransformaçãoDocumento8 páginasTodas ATIVIDADES Educação, Movimentos Populares e TransformaçãosandraaparecidasilvasantossAinda não há avaliações
- Curriculo Edson GonçalvesDocumento2 páginasCurriculo Edson GonçalvesEdson GonçalvesAinda não há avaliações
- Tutorial Localizao Migrao Editar Excluir Cancelar Seleo e Validao de Concluinte Na Sed PDFDocumento20 páginasTutorial Localizao Migrao Editar Excluir Cancelar Seleo e Validao de Concluinte Na Sed PDFPaulo OliveiraAinda não há avaliações
- CompetênciasDocumento11 páginasCompetênciasBoladeiro MpAinda não há avaliações
- Indagações Sobre Currículo - Indagações - MEC - ResumoDocumento40 páginasIndagações Sobre Currículo - Indagações - MEC - ResumoAlex CarvalhoAinda não há avaliações
- PROLICEN - VII Congresso de Pesquisa Ensino e Extensao-Conhecimento e Desenvolvimento SustentavelDocumento536 páginasPROLICEN - VII Congresso de Pesquisa Ensino e Extensao-Conhecimento e Desenvolvimento SustentavelJuliana Moral PereiraAinda não há avaliações
- Ebook JadeDocumento22 páginasEbook JadeJoice AndradeAinda não há avaliações
- Políticas Curriculares: Entre o Bacalhau e A Feijoada!: Meta Da AulaDocumento13 páginasPolíticas Curriculares: Entre o Bacalhau e A Feijoada!: Meta Da Aulavalnei de andradeAinda não há avaliações