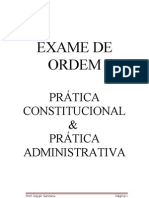Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
C 1 Perelm
Enviado por
Tadeu Landroni0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações9 páginasTítulo original
c1perelm
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações9 páginasC 1 Perelm
Enviado por
Tadeu LandroniDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 9
A TEORIA PURA DO DIREITO E A ARGUMENTAÇÃO
Chaïm Perelman
O esforço notável de Hans Kelsen de constituir uma
ciência do direito livre de toda ideologia, de toda intervenção de
considerações extra-jurídicas, e que se concretizou pela
elaboração de sua teoria pura do direito (Reine Rechtslehre ), foi
talvez o fato que suscitou mais controvérsias entre os teóricos do
direito do último meio século. As teses apresentadas por esse
mestre inconteste do pensamento jurídico, com a clareza e a força
de convencimento que caracterizam todos os seus escritos,
colocaram em questão tantas idéias comumente admitidas,
atingiram tantas conseqüências paradoxais -- das quais a mais
escandalosa diz respeito à concepção tradicional da interpretação
jurídica, bem como ao papel do juiz na aplicação do direito --, que
nenhum teórico do direito poderia nem as ignorar nem abster-se
de posicionar-se a seu respeito.
A ciência do direito, como conhecimento de um sistema
de normas jurídicas, não pode constituir-se, segundo nosso autor,
senão excluindo tudo o que é estranho ao direito propriamente
dito. O direito, sendo um sistema de normas coercitivas válido em
um Estado determinado, pode ser distingüido nitidamente, por um
lado, das ciências que estudam os fatos de toda espécie, o que é
e não o que deve ser (o Sein oposto ao Sollen ), e, por outro, de
todo sistema de normas diverso diversas -- de moral ou de direito
natural -- com o qual gostaríamos de confundi-lo ou ao qual
gostaríamos de subordiná-lo. Uma ciência do direito não é
possível, segundo Hans Kelsen, a não ser que seu objeto seja
fixado sem interferências estranhas ao direito positivo. Eis porque
a teoria pura do direito se apresenta como a "teoria do positivismo
jurídico".
Nesta perspectiva, um ato ilícito é um ato que é "a
condição de reação específica do direito, do ato de coerção". A
sanção é pronunciada pelos juízes, aqueles que têm a
competência para aplicar as regras do direito nas situações
determinadas pela lei. Esta será válida se tiver sido elaborada e
promulgada em conformidade com regras de um nível superior
que determinam as condições de funcionamento dos poderes
legislativo e executivo. Essas condições são normalmente fixadas
numa constituição que fornece a lei fundamental do sistema
jurídico ou que remete a uma outra lei que garante a validade da
atual constituição.
Todo sistema de normas e de atos jurídicos é, ao mesmo
tempo, hieraquizado e dinâmico. Ele é hierarquizado porque os
atos jurídicos adquirem validade a partir de sua conformidade a
normas jurídicas, que dependem por sua vez de outras normas, e
assim por diante, até atingir-se a lei fundamental, que não tem
justificação jurídica, mas é pressuposta por todas as normas e
todos os atos jurídicos do sistema. Um sistema de direito difere
de um sistema formal, segundo Hans Kelsen, porque ele não é
estático, mas dinâmico. Efetivamente, as normas inferiores e os
atos jurídicos não podem ser deduzidos de normas que
condicionam sua validade, mas que fornecem unicamente o
quadro dentro do qual as normas inferiores, bem como os atos
jurídicos que as aplicam, podem inscrever-se validamente. O
legislador, o juiz, o administrador (ao menos no caso do
administrador indireto) recebem, numa medida variável, a
autoridade necessária, seja para criar novas leis no quadro da lei
constitucional, seja para concretizar, para individualizar uma
norma geral nos casos particulares de aplicação. Em todos esses
casos, sua ação é criadora do direito, de forma que o legislador
não interpreta a constituição, mas decide votar certas leis, em
virtude do poder legislativo que a constituição lhe atribui, assim
como o juiz, aplicando a lei, não tem por missão dizer seu sentido
correto (richtig ), mas decidir, dando sua sentença, qual é, dentre
as interpretações possíveis da lei, aquela que ele quer privilegiar,
na ocorrência: sua decisão, exatamente como a do legislador,
não é, segundo Kelsen, a expressão de um conhecimento, mas
um ato de vontade. A motivação de uma decisão judiciária, assim
como o preâmbulo que justifica um projeto de lei, pertence não à
teoria do direito, mas à política jurídica, que precisam ser
nitidamente dissociadas. Se é incontestável que o direito é um
meio em vista da realização de finalidades sociais de toda
espécie, a ciência do direito, como conhecimento de um sistema
de normas, não tem por objeto senão o estudo dessas normas e
de seu significado, independentemente das conseqüências que
resultariam de sua aplicação. Todo recurso à interpretação
teleológica das normas jurídicas sai, segundo nosso autor, dos
quadros da ciência do direito, pertencendo à política jurídica.
A teoria pura do direito se caracteriza, como acabamos
de mostrar muito brevemente, por um intransigente dualismo que
opõe, por um lado, o ser ao dever ser, a realidade ao valor (e
conjuntamente as ciências da natureza às ciências do espírito, a
natureza à sociedade, bem assim a causalidade à imputação) e,
por outro, o direito à moral e o direito positivo ao direito natural.
A ciência do direito, enquanto conhecimento do direito positivo
deve eliminar impiedosamente todas as considerações que são
essencialmente estranhas a seu objeto e que introduzem sub-
repticiamente, por intermédio de ideologias de toda espécie,
tomadas de posição decorrentes da política jurídica, fazendo-as
passar por resultados cognitivos, decorrentes da ciência do
direito. Foi extraindo as conseqüências lógicas das teses que
vimos de expôr que Hans Kelsen concebeu a teoria pura do
direito, em que o ponto de partida (a norma fundamental) bem
como todos os pontos de passagem (de uma norma geral a uma
norma particular, ou de uma norma a um caso de sua aplicação),
dependem de decisões, de atos de vontade, que não se fundam
em direito, mas se justificam por considerações de ordem política
ou moral.
Mas pode o conhecimento guiar a vontade em moral e em
política ? Se se adota o dualismo kelseniano, que é também o de
Hägerström, deve-se renunciar à ilusão da razão prática em todos
os domínios, e não somente em direito. É o resultado
estabelecido por Alf Ross em sua Kritik der sogenannten
praktischen Erkenntnis (Leipzig, 1933). Mas então pode-se falar
seriamente de uma decisão razoável, de um julgamento bem
motivado, de uma escolha justificada, de uma pretensão
fundamentada ? E se semelhantes asserções não forem mais que
racionalizações destinadas a enganar os ingênuos, exprimiria toda
vida social alguma coisa que não relações de força ? E a filosofia
prática serviria a outra coisa senão para cobrir com um manto de
respeitabilidade aquilo que os interesses e as paixões impõem
pela coerção ?
Parece-me que todos os paradoxos da teoria pura do
direito, bem como todas as suas implicações filosóficas, derivam
de uma teoria do conhecimento que não atribui valor senão a um
saber incontroverso, inteiramente fundado nos dados da
experiência e na prova demonstrativa, negligenciando totalmente
o papel da argumentação. Na verdade, nem a experiência nem a
demonstração lógica permitem a passagem do ser ao dever ser,
da realidade ao valor, do comportamento às normas. Daí, como
toda justificação racional das normas parecem excluídas da
perspectiva kelseniana, elas dependeriam efetivamente de
imperativos religiosos, de revelações sobrenaturais. As
metafísicas racionalistas que procuraram um fundamento
puramente humano para nossas normas e nossos valores seriam
apenas ideologias, esforçando-se em vão por substituir o
fundamento religioso não racional. E, neste ponto, é difícil deixar
de seguir nosso autor: se nos recusamos a considerar
comprobatórias intuições controvertidas, não existe, no domínio
das normas e dos valores que regem nossa ação, provas
demonstrativas e constringentes. Mas seria preciso, à falta de
prova demonstrativa, renunciar a justificar por uma argumentação
igualmente convincente e possível nossas escolhas e decisões,
nossos valores e normas ? E seria preciso, na ambição de
constituir uma ciência do direito e uma teoria pura do direito,
considerar como juridicamente arbitrário tudo o que só pode ser
justificado por meio de semelhante argumentação ?
Para constituir uma ciência do direito, tal qual ela é, e
não tal qual deveria ser, é necessário, parece-me, renunciar ao
positivismo jurídico, da maneira concebida por Kelsen, para
consagrar-se a uma análise detalhada do direito positivo, da
maneira como se manifesta efetivamente na vida individual e
social, e mais particularmente nas côrtes e tribunais. É esta que
revela, de fato, que o dualismo kelseniano não corresponde nem à
metodologia jurídica, nem à prática judiciária.
Notemos, para começar, que um sistema de direito não
se apresenta de uma maneira tão formal e impessoal como um
sistema axiomático, lógico ou matemático. Estando constituido
constituído um sistema formal, suas propriedades podem ser
investigadas através de um estudo objetivo, inteiramente
independente da vontade do lógico ou do matemático. Quer se
trate de provar que o sistema é coerente, i.e., que nele não
podemos demonstrar uma proposição e sua negação, ou de provar
que ele é completo, i.e., que nele podemos demonstrar qualquer
proposição bem formulada ou sua negação, as propriedades do
sistema dependem somente da sua própria estrutura. Mas não é
assim em direito. Nos sistemas jurídicos modernos, o juiz é
obrigado, sob pena de sanções penais, a julgar e motivar suas
decisões. Efetivamente, "le juge qui refusera de juger, sous
prétexte du silence, de l'obscurité, ou de l'insuffisance de la loi,
pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice" *
(Código Napoleão, artigo 4o.). Ele deve dizer o direito em todos
os casos de sua competência. Portanto, ele está obrigado a julgar
e argumentar como se o sistema de direito que aplica estivesse
livre de lacunas e não comportasse antinomias. Para evitar o
"déni de justice", o juiz deve obrigatoriamente considerar
aparentes as lacunas e as antinomias, ainda que não resulte do
sistema, de uma forma não ambígua, a maneira como ele deve
proceder para atingir o resutado, isto é, a decisão fundamentada
que se espera dele. Se se presume o sistema de direito isento de
lacunas e antinomias, isto se deve ao poder de decisão conferido
ao juiz.
Mas esse poder, que não é limitado por um quadro
legal claramente definido de uma vez por todas -- já que os
termos de uma lei, claros e isentos de ambigüidade em certos
casos de aplicação, podem deixar de sê-lo em outros -- não é
tampouco um poder arbitrário que o juiz pode usar a seu talante:
ele se encontra, efetivamente, na obrigação de fundamentar suas
decisões. As decisões, suas motivações, contribuem na
elaboração da ordem jurídica, uma vez que fornecem precedentes
para decisões futuras. O sistema jurídico se constitui, na
verdade, progressivamente, pois os precedentes possibilitam a
aplicação da regra de justiça, que exige que se trate da mesma
maneira situações essencialmente semelhantes. É bem verdade
que esta regra não é nem unívoca nem constringente, pois o juiz
está autorizado a mostrar que a nova situação não é
* "O juiz que se recusar a julgar, sob o pretexto do silêncio, da
obscuridade, ou da insuficiência da lei, poderá ser processado como
culpado de denegação de justiça".
essencialmente semelhante ao precedente; mas não é suficiente
apenas pretendê-lo, é preciso justificar tal ponto de vista. É por
causa do papel inegável do precedente e da regra de justiça que a
jurisprudência fornece material à doutrina; esta enquadrará numa
estrutura conceitual as decisões judiciárias que justificam a
construções teóricas, fornecendo, por sua vez, argumentos que
motivarão decisões futuras. Não se pode dar conta da vida real do
direito sem reconhecer esta interação da jurisprudência e da
doutrina, em que o conhecimento e a vontade colaboram
intimamente para satisfazer, a um só tempo, na medida do
possível, nossas necessidades de segurança e de eqüidade.
Admitindo que o juiz possui um poder de decisão, tão
maior quanto mais vagos forem os termos da lei, seria normal que
ele se servisse do direito considerando o que ele é realmente: um
meio para a realização de certos fins políticos e sociais. Se se
concede ao juiz um poder de interpretação que a Côrte Suprema
do país pode limitar em algumas matérias -- como em direito
penal, por exemplo -- é dela, no fim das contas, da maneira como
ela compreende seu papel no sistema jurídico, que depende a
extensão deste poder. É inegável que, em cento e cinqüenta
anos, a concepção deste papel, na Bélgica e na França, evoluiu
enormemente, e que as Côrtes de Cassação tomaram com o texto
do Código Napoleão liberdades inimagináveis no início do século
XIX. Da mesma forma que a inaplicação constante de certos
textos os faz cair em desuso, a aplicação regular de certas teorias
pode modificar totalmente o sentido e a extensão de textos legais,
neles introduzindo disposições estranhas à lei. É preciso negar
que, nesses casos, trata-se de direito positivo ? Seria opôr ao
dirieto real e efetivamente aplicado uma concepção do direito tal
qual ele deveria ser. Mas que ciências ou teorias podem
prevalecer contra os fatos, mesmo se os fatos nos mostram,
contrariamente à teoria, uma interação constante do normado e do
normativo ? É igualmente um fato, contrariando as teses
positivistas, que nas decisões judiciárias são introduzidas noções
provenientes da moral; algumas foram fundadas, no passado, no
direito natural; nós as consideramos hoje, mais modestamente,
como conformes aos princípios gerais do direito. A partir de
alguns raros textos do código civil, interpretados ademais de
encontro com seu sentido literal, o direito internacional privado
construiu um edifício que se impõe à solução dos conflitos de leis,
onde a noção de ordem pública internacional foi elaborada
levando em conta considerações de ordem moral e política. Pode-
se negar que esta noção faça parte do direito positivo,
considerando-se-a pertinente apenas à política jurídica ?
A teoria pura do direito se encontra confrontada com
dificuldades em conseqüência da oposição inegável que existe
entre a idéia de um sistema de direito identificado com a
soberania do Estado -- que considera uma norma estatal a lei
fundamental -- e as exigências de construção de um direito
público internacional -- em que a lei fundamental seria uma norma
de caráter supra-estatal. As duas construções seriam igualmente
arbitrárias, ou haveriam razões, decorrentes da argumentação
para dar preferência a uma concepção nacional ou internacional
da lei fundamental ? Cada teórico do direito deve tomar posição a
esse repeito, se não se contentar em desenvolver hipóteses sobre
sistemas jurídicos possíveis, mas desejar descrever um sistema
de direito tal qual ele funciona efetivamente. Se se pode,
retomando uma comparação do próprio Kelsen, confrontar os dois
pontos de vista opostos dos sistemas geocêntrico de Ptolomeu e
heliocêntrico de Copérnico, qual o astrônomo que não fez sua
opção, por razões que julgou suficientemente válidas ? E por que
proibir em direito o que pareceu normal em astronomia, ainda que
a ideologia se tenha imiscuído na matéria, como no caso de
Galileu ?
Se uma ciência do direito pressupõe tomadas de posição,
elas não serão consideradas irracionais quando podem ser
justificadas de uma forma razoável, graças a uma argumentação
de que se reconheça a força e a pertinência. É verdade que as
conclusões de tal argumentação não são nunca evidentes, e que
elas não podem, como a evidência, constranger a vontade de todo
ser racional. Elas só podem incliná-la na direção da decisão
melhor justificada, aquela que se apóia na argumentação mais
convincente, ainda que não se possa afirmar que ela exclui toda
possibilidade de escolha. É por isso que a argumentação apela à
liberdade espiritual, embora seu exercício não seja arbitrário.
Graças a ela, podemos conceber um uso racional da liberdade,
ideal que a razão prática se propõe em moral e em política, mas
também em direito.
_______________________________________________
Texto traduzido do original francês por Ricardo R.
Almeida, no âmbito da linha de pesquisa de retórica e teoria da
argumentação do PET-JUR da PUC-RJ, no segundo semestre
letivo de 1993.
Publicado em PERELMAN, Chaïm. Droit, morale et
philosophie , Paris, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence,
1968. Anteriormente publicado em Law, State, and International
Legal Order: Essays in Honor of Hans Kelsen , The University of
Tennessee Press, Knoxville, 1964.
Você também pode gostar
- Cidadania Italiana - A Tutela Jurídica Da Dupla Cidadania Ítalo-Brasiliana - Estevam Del Nero - 1a. EdiçãoDocumento161 páginasCidadania Italiana - A Tutela Jurídica Da Dupla Cidadania Ítalo-Brasiliana - Estevam Del Nero - 1a. EdiçãoEstevam Luiz Del Nero Costa MarquesAinda não há avaliações
- Eb Procedimento Processo Tributario2016Documento81 páginasEb Procedimento Processo Tributario2016Bryan LopesAinda não há avaliações
- Manual para Idoso PDFDocumento66 páginasManual para Idoso PDFnovotestamentoAinda não há avaliações
- CIDADANIA E MODERNIDADE Por Carlos Nelson CoutinhoDocumento19 páginasCIDADANIA E MODERNIDADE Por Carlos Nelson CoutinhoHozana MarquesAinda não há avaliações
- Homo Sacer - O Poder Soberano e A Vida Nua - Resenhas - Âmbito JurídicoDocumento3 páginasHomo Sacer - O Poder Soberano e A Vida Nua - Resenhas - Âmbito JurídicoDelor Junior da CostaAinda não há avaliações
- DIREITODocumento41 páginasDIREITOWellinalton AssisAinda não há avaliações
- HABERMAS, Jurgen. A Ideia Kantiana de Paz PerpétuaDocumento22 páginasHABERMAS, Jurgen. A Ideia Kantiana de Paz PerpétuaMayara MedeirosAinda não há avaliações
- DIPI ExamesDocumento35 páginasDIPI ExamesTatianaAinda não há avaliações
- Embargos Infringentes (538 CPPM) Discussão No STMDocumento33 páginasEmbargos Infringentes (538 CPPM) Discussão No STMATALIBA DIAS RAMOSAinda não há avaliações
- Ao Propor Uma Reflexão Sobre A Educação BrasileiraDocumento26 páginasAo Propor Uma Reflexão Sobre A Educação BrasileiraGiovanni LuigiAinda não há avaliações
- Ponto Dos Concursos - Direito Administrativo em Exercícios Esaf - Gustavo BarchetDocumento407 páginasPonto Dos Concursos - Direito Administrativo em Exercícios Esaf - Gustavo BarchetAntonio RubeneAinda não há avaliações
- 1644601439788retrospectiva Tributaria 2021 e Perspectivas 2022Documento24 páginas1644601439788retrospectiva Tributaria 2021 e Perspectivas 2022Redação LebbeAinda não há avaliações
- Acessoajusticanobrasil PDFDocumento328 páginasAcessoajusticanobrasil PDFRaphael Pereira MarquesAinda não há avaliações
- Estudos de Direito Ambiental: - MalheirosDocumento8 páginasEstudos de Direito Ambiental: - MalheirosXaynul MaziveAinda não há avaliações
- Teoria Da FederaçãoDocumento24 páginasTeoria Da FederaçãoLuan LunaAinda não há avaliações
- Ebook CompimecumdeconceitosDocumento647 páginasEbook CompimecumdeconceitosWesley SantosAinda não há avaliações
- SIMULADO BM 2 - FocusDocumento17 páginasSIMULADO BM 2 - Focusthales100% (1)
- FGV 2018 Prefeitura de Niteroi RJ Psicologo ProvaDocumento16 páginasFGV 2018 Prefeitura de Niteroi RJ Psicologo ProvaAline CarlosAinda não há avaliações
- As Escolas Com Localização Diferenciada e o Direito À EducaçãoDocumento52 páginasAs Escolas Com Localização Diferenciada e o Direito À EducaçãoGiovanni DummondAinda não há avaliações
- A Polícia Federal LUAN NOTA MÁXIMADocumento1 páginaA Polícia Federal LUAN NOTA MÁXIMAWeverton LucasAinda não há avaliações
- MATERIAL (Imprimir)Documento46 páginasMATERIAL (Imprimir)Kamilla Almeida100% (1)
- Famílias Paralelas - Marianna ChavesDocumento22 páginasFamílias Paralelas - Marianna ChavesGabriela Pedroni100% (1)
- Atos AdministrativosDocumento59 páginasAtos AdministrativosAline RomanyAinda não há avaliações
- Apresentação Briefing de Primavera Floral Azul - 20231109 - 155731 - 0000Documento11 páginasApresentação Briefing de Primavera Floral Azul - 20231109 - 155731 - 0000luciapedrozo682Ainda não há avaliações
- O "Direito de Laje". Conflitos Com o Estado e Na Verticalização de Moradias PDFDocumento16 páginasO "Direito de Laje". Conflitos Com o Estado e Na Verticalização de Moradias PDFRolf Malungo de SouzaAinda não há avaliações
- O Cerceamento Do Direito À Produção Da Prova Constitui Grave Violação Dos Direitos Processuais Da Parte e Insuportável Menosprezo Aos Direitos QueDocumento5 páginasO Cerceamento Do Direito À Produção Da Prova Constitui Grave Violação Dos Direitos Processuais Da Parte e Insuportável Menosprezo Aos Direitos QueClaudio FormentoAinda não há avaliações
- Caderno Direito Internacional PublicoDocumento41 páginasCaderno Direito Internacional PublicoShony AlaneAinda não há avaliações
- A Descoberta Mais Chocante Da HistóriaDocumento32 páginasA Descoberta Mais Chocante Da Históriatjmigoto@hotmail.comAinda não há avaliações
- TCC - Estado PunitivoDocumento9 páginasTCC - Estado PunitivoIsabella MouraAinda não há avaliações
- Visão Geral Do Novo Código CivilDocumento9 páginasVisão Geral Do Novo Código CivilBruna Guimarães NogueiraAinda não há avaliações