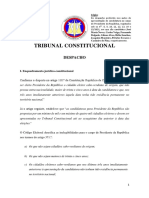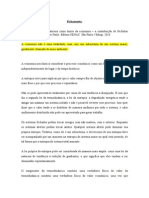Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Uso Da Forca para Protecao de Nacional N
Enviado por
Carlos BritoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Uso Da Forca para Protecao de Nacional N
Enviado por
Carlos BritoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Uso da Força para Proteção de Nacional no Estrangeiro
José Pina Delgado
Juiz do Tribunal Constitucional de Cabo Verde
Professor Graduado do Departamento de Direito e de Estudos Internacionais
Instituto Superior de Ciências Jurídicas & Sociais
I. A possibilidade de Estados usarem a força para protegerem os seus nacionais em
perigo no estrangeiro foi uma realidade até ao primeiro quartel do século XX, quando
ainda se permitia que a invocação de um direito geral de autoproteção do Estado
amparasse o uso da força em situações muito diversas que iam da proteção de pessoas
até, por exemplo, a cobrança de dívidas ou a proteção de outros interesses no
estrangeiro.
II. O uso da força para proteção no estrangeiro corresponde às situações em que um
Estado utiliza meios armados para proteger os seus nacionais ou pessoas equiparadas
em ocorrências nas quais estejam a ser privadas arbitrariamente da sua vida, da sua
integridade pessoal ou da sua liberdade no estrangeiro. Esta figura do Direito
Internacional da Segurança tem sido tratada como uma das exceções ao princípio da
proibição do uso da força, por vezes como uma das manifestações do direito à legítima
defesa reconhecido pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, outras como figura
decorrente da prática internacional. Naturalmente, a sua relação com o sistema
internacional de controlo do uso da força não deixa de ser tensa no sentido de que a sua
materialização implica a afetação da soberania de um determinado Estado.
III. Para contornar essa dificuldade, alguns sustentam que a referida figura é uma
manifestação evidente do direito à legítima defesa, tendo em conta que o Estado é
composto por um elemento espacial (o território), por um elemento institucional (as
suas instituições de governação), e também por um elemento pessoal (a população).
Assim sendo, sempre que um integrante do corpo político (nacional ou equiparado) é
colocado em situação passiva de ataque estará presente o pressuposto básico que
permite a invocação da legítima defesa na esfera internacional: o ataque armado.
Aplicar-se-á, neste caso, o regime previsto pelo referido pelo artigo 51 da Carta em
termos de requisitos, obrigando a reação a ser imediata, necessária e proporcional ao
objetivo de proteger esse elemento do Estado.
IV. Não obstante, esta fundamentação não é consensual, preferindo-se, muitas vezes
justificá-la a partir de uma base iminentemente costumeira, de acordo com a qual se
consolidou a prática internacional a partir de um conjunto de precedentes que permitiria
deduzir a existência da norma permissiva e as condições da sua invocação. Elas
dependem de uma certa interpretação não consensual do artigo 2 (4) da Carta que
assenta, primeiro, na rejeição da natureza imperativa geral da proibição do uso da força,
o que permite legitimar a criação de regimes costumeiros especiais, e, segundo, na
interpretação de que a parte final desse preceito, ou seja, o segmento “quer seja contra a
integridade territorial ou a independência política de um Estado, quer seja de qualquer
outro modo incompatível com os objectivos das Nações Unidas”, tem uma relevância de
qualificar a proibição, fazendo-a incidir somente sobre as situações de uso da força que
atinjam a integridade territorial ou a independência política de um Estado ou que sejam
incompatíveis com os objetivos das Nações Unidas. Como uma intervenção cirúrgica,
apesar de invadir um território, não atenta contra a sua integridade, como não há
alteração de regime e como a proteção de direitos também se encontra entre os objetivos
das Nações Unidas, esse tipo de intervenção não seria contrária à Carta, permitindo a
criação de uma norma costumeira permissiva assente na prática internacional relevante.
4.1. Um caso importante foi o resgate de tripulantes da embarcação de bandeira
estadunidense Mayaguez em situação de detenção, aparentemente ilícita, no Camboja.
Todavia, o mais simbólico e perfeito destes precedentes acabou por ser o célebre Raide
sobre Entebbe protagonizado por comandos israelitas objetivando libertar cidadãos do
país hebraico e judeus de outras nacionalidades retidos por operacionais da extrema
esquerda alemã e por membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina no
aeroporto da capital do Uganda, com a conivência do ditador deste país africano, Idi
Amin Dada. A operação não deixou de ser criticada por alguns Estados, mas também
explicitamente defendida por outros e, de modo sintomático, não chegou a ser
condenada pelo Conselho de Segurança porque vários Estados não compareceram à
reunião ou marcaram presença e abstiveram-se. Desde aquele período, de forma quase
imediata, vários Estados têm incorrido em prática similar em casos de tomadas de reféns
ou de repatriamento de nacionais, em situações de grave turbulência no estrangeiro,
especialmente guerras civis, nalguns casos com a operação a estender-se para beneficiar
nacionais de países terceiros a seu pedido. Finalmente, durante este período, é de se
registar a tentativa fracassa de resgate dos reféns na situação que envolveu a Embaixada
dos Estados Unidos e Teerão, Irão.
Depois disto, o mesmo ocorreu em muitos conflitos em África, continente que
atraiu intervenções de países como a França, a Bélgica, a Grã-Bretanha e mesmo os
Estados Unidos nos últimos anos. O incremento de situações de guerra civil tem tornado
esta prática comum, embora muitas vezes decorra ao abrigo do consentimento do
governo tido por legítimo, o mesmo acontecendo com as situações de tomada de reféns
por grupos terroristas, especialmente no Magrebe Islâmico, no Sahel, no Corno de
África e na Nigéria, e de pirataria na Somália.
4.2. Há, todavia, contraexemplos que também permitem claramente identificar os
limites do Direito Internacional na aceitação desta figura.
4.2.1 A impossibilidade de as forças de resgate intervirem em disputas internas pelo
poder entre o governo e fações beligerantes foi o resultado das situações que
envolveram o Zaire, nomeadamente a operação belga em Stanleyville de 1964 e galo-
belga na província de Shaba em 1978.
4.2.2. Mais fortemente ainda retira-se a consequência de esta figura não poder ser usada
como pretexto para intervenções hegemónicas ou geopolíticas se se analisarem as
reações internacionais a argumentos utilizados pelos Estados Unidos para invadir a
República Dominicana (1965), de Granada (1983) ou do Panamá (1989), ainda mais
porque em tais casos gera-se automática desobediência ao requisito da
proporcionalidade.
4.2.3. Muito menos permite que parte do território seja anexado ou que sequer seceder
como resultado da operação de proteção de nacionais, o que se deriva da reação às
recentes intervenções militares da Rússia na Geórgia, em 2008, e, mais recentemente,
em 2014, na Crimeia, que, parcialmente, foram justificadas com o argumento de terem o
propósito de protegerem nacionais russos em risco naqueles territórios por ação das
autoridades de Tbilissi e Kiev, respetivamente. Todavia, o argumento foi objetivamente
rejeitado e condenado por Estados terceiros e pela Assembleia Geral das Nações
Unidas, atendendo a que, primeiro, muitos vínculos de nacionalidade eram fictícios, no
sentido de que resultaram da distribuição de passaportes russos a pessoas com outra
nacionalidade de origem sem que se pudesse considerá-la predominante perante a do
país de residência e de uma analogia entre nacionalidade e língua em que os falantes de
russo eram assimilados a cidadãos russos; segundo, porque, particularmente no caso da
Crimeia, os factos não correspondiam a uma situação de violação ou ameaça de
violação iminente de direitos básicos; e, sobretudo porque não se considerou que os
desfechos das duas intervenções, a emancipação de facto da Ossétia do Sul e da
Abequazia e a anexação da Crimeia pela Rússia pudessem ser justificados como efeitos
possíveis de tal tipo de intervenção.
4.3. As condições de invocação dessa base de legitimação que resultam da prática
relevante são os pressupostos de situação de risco efetivo de privação arbitrária da vida,
da integridade pessoal ou da liberdade de nacionais genuínos ou equiparados (na
verdade, pessoas que possam adquirir a nacionalidade do Estado e que não tenham a do
Estado objeto da intervenção) de um Estado em território estrangeiro e de autoria,
cumplicidade ou incapacidade do Estado territorial de garantir a proteção desses bens
jurídicos. Estando presentes tais elementos, o Estado de nacionalidade, depois de tentar
resolver pacificamente o diferendo gerado à luz das obrigações decorrentes dos artigos 2
(3) e 33 da Carta, pode empreender uma intervenção cirúrgica com o objetivo estrito de
resgatar os seus nacionais e repatriá-los, respeitando, na operação, o princípio da
proporcionalidade, isto é, cuidando para que o mínimo de danos seja causado ao Estado
territorial. Não pode, jamais, abranger a anexação de território, a promoção da sua
independência ou ainda medidas que ultrapassem os limites do necessário para proceder
à evacuação das pessoas ou resultar de vínculo de nacionalidade que tenha sido criado
artificialmente pelo Estado que promove a intervenção.
V – Apesar da semelhança, especialmente por ambas serem motivadas por finalidades
humanitárias, e de já terem sido objeto de tratamento não-autónomo, há uma diferença
de base entre a figura apresentada nesta entrada e as intervenções humanitárias
unilaterais, que correspondem ao uso da força militar para proteger pessoas em situação
de violação massiva de direitos pelo seu próprio Estado. Ela radica precisamente na
ausência de vínculo de nacionalidade que marca as intervenções humanitárias
unilaterais e o pressuposto da nacionalidade, elemento essencial do instituto do uso da
força para proteger nacional em risco no estrangeiro.
VI – No direito interno dos Estados, a possibilidade aberta pelo Direito Internacional de
utilizar-se a força para resgatar nacionais no estrangeiro pode transformar-se, nalguns
casos, numa obrigação ou, pelo menos, num dever de intensidade média, considerando
outros fatores. A própria Constituição da República Portuguesa abre essa possibilidade
quando no artigo 273 (2), prescreve que “a defesa nacional tem por objetivos garantir,
no respeito da ordem constitucional, das instituições democráticas e das convenções
internacionais, […] a liberdade e segurança das populações contra qualquer agressão ou
ameaça externas”, vindo a Lei de Defesa Nacional prescrever no seu artigo 2º que “a
salvaguarda da vida e dos interesses dos Portugueses constitui também interesse
nacional que o Estado defende num quadro autónomo e multilateral”. Note-se que este
normativo ajusta-se igualmente ao artigo 43 do Tratado da União Europeia, o qual
integra, dentre as missões passíveis de serem empreendidas pela União, as “missões
humanitárias e de evacuação”.
Referências bibliográficas
DINSTEIN, Yoram, War, Aggression and Self-Defence, 5. Ed., Cambridge, UK,
Cambridge University Press, 2011, pp. 217-219.
FORTEAU, Mathias, “Rescuing Nationals Abroad” in: WELLER, Marc (ed.), The
Oxford Handbook of the Use of Force in International Law, Oxford, Oxford University
Press, 2015, pp. 947-961
FRANCK, Thomas, Recourse to Force. State Action Against Threats and Armed
Attacks, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2002, pp. 77-96.
RONZITTI, Natalino, Rescuing Nationals Abroad Through Military Coertion and
Intervention on Grounds of Humanity, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1985.
WALDOCK, Claude Humphrey, “The Regulation of the Use of Force by Individual
States in International Law”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, t.
81, v. 2, 1952, pp. 455-514, 466-467.
Você também pode gostar
- Tarcísia Da Silva Almeida: Questão 001Documento4 páginasTarcísia Da Silva Almeida: Questão 001Mario Damião R. DomingosAinda não há avaliações
- 2020 SAS UNICAMP 72qDocumento24 páginas2020 SAS UNICAMP 72qLeandro Costa100% (2)
- (Livro 2) Sangue Mágico - Laura B.L - HBMMDocumento956 páginas(Livro 2) Sangue Mágico - Laura B.L - HBMMMaristela Pinto100% (1)
- Tribunal Constitucional: DespachoDocumento21 páginasTribunal Constitucional: DespachoCarlos BritoAinda não há avaliações
- História Dos Órgãos de Administração Da Justiça em Cabo VerdeDocumento84 páginasHistória Dos Órgãos de Administração Da Justiça em Cabo VerdeCarlos BritoAinda não há avaliações
- Ficha de Adesão Cartão Bca Visa FlexDocumento7 páginasFicha de Adesão Cartão Bca Visa FlexCarlos BritoAinda não há avaliações
- Seguranca Colectiva InternacionalDocumento4 páginasSeguranca Colectiva InternacionalCarlos BritoAinda não há avaliações
- Segurança Pública e Análise Econômica Do Crime: O Desenho de Uma Estratégia para A Redução Da Criminalidade No BrasilDocumento29 páginasSegurança Pública e Análise Econômica Do Crime: O Desenho de Uma Estratégia para A Redução Da Criminalidade No BrasilCarlos BritoAinda não há avaliações
- Uso Do Tambor XamanicoDocumento11 páginasUso Do Tambor XamanicoAdilaTrubat0% (1)
- Milwaukee Arts MuseumDocumento23 páginasMilwaukee Arts MuseumMaurício BuenoAinda não há avaliações
- Coaching FeitoDocumento2 páginasCoaching FeitoRodrigo JoséAinda não há avaliações
- Testes de Avaliação (Com Soluções)Documento46 páginasTestes de Avaliação (Com Soluções)Luis AlvesAinda não há avaliações
- Oficina Temática Uma Proposta Metodológica para o Ensino Do Modelo Atômico de BohrDocumento15 páginasOficina Temática Uma Proposta Metodológica para o Ensino Do Modelo Atômico de BohrGiovanna StefanelloAinda não há avaliações
- 01-03-2024 Classificação Dos SubstantivosDocumento4 páginas01-03-2024 Classificação Dos SubstantivosLucinei Guilherme NevesAinda não há avaliações
- Aprendendo Com Os Erros de SaulDocumento3 páginasAprendendo Com Os Erros de SaulDionildo Dantas100% (1)
- Foice Do Vazio Furia Do Corte Esquecido de GuinssoDocumento4 páginasFoice Do Vazio Furia Do Corte Esquecido de GuinssoJokerNooxAinda não há avaliações
- Inventario MoralDocumento6 páginasInventario MoralGuilherme LeopoldoAinda não há avaliações
- RESP 903258 - Dano Moral - Juros e CorreçãoDocumento33 páginasRESP 903258 - Dano Moral - Juros e CorreçãoPedro Henrique MachadoAinda não há avaliações
- DespachanteDocumento6 páginasDespachanteRac A BruxaAinda não há avaliações
- Jogos Tradicionais - Ed Fisica - TextoDocumento12 páginasJogos Tradicionais - Ed Fisica - TextoGustavo luisAinda não há avaliações
- Liber AL Vel LegisDocumento21 páginasLiber AL Vel LegisVESPERVSAinda não há avaliações
- Modelo Laudo Orientação VocacionalDocumento3 páginasModelo Laudo Orientação VocacionalGiovana Mariano100% (1)
- OEPDocumento485 páginasOEPDann SendaAinda não há avaliações
- Cruzadinha Reforma CatólicaDocumento2 páginasCruzadinha Reforma CatólicaIvania Almeida Almeida75% (4)
- VOD-Conjuntos Numéricos - Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais-2019Documento8 páginasVOD-Conjuntos Numéricos - Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais-2019Rebeca De Souza Gomes FerreiraAinda não há avaliações
- AFETIVIDADEDocumento274 páginasAFETIVIDADECosme MassiAinda não há avaliações
- Ácido Tranexamico e Associações No Tratamento Do MelasmaDocumento9 páginasÁcido Tranexamico e Associações No Tratamento Do MelasmaLeticia Guerra DalastraAinda não há avaliações
- Pegada de Carbono - Cerveja (Lata X Garrafa) - FINALDocumento14 páginasPegada de Carbono - Cerveja (Lata X Garrafa) - FINALSávio AraújoAinda não há avaliações
- Aceitação Do Agora - Eckhart TolleDocumento41 páginasAceitação Do Agora - Eckhart TolleRaone Calixto100% (2)
- Tema 5 - Estruturação Gabinete de Auditoria InternaDocumento30 páginasTema 5 - Estruturação Gabinete de Auditoria InternaAngélica José Jr.Ainda não há avaliações
- A Técnica Da Pirâmide Invertida Na Produção de TextosDocumento5 páginasA Técnica Da Pirâmide Invertida Na Produção de TextosIlidio SamboAinda não há avaliações
- CECHIN Andrei A Natureza Como Limite Da Economia A Contribuicao de Nicholas Georgescu Roegen Sao Paulo Editora SENAC Sao Paulo Edusp 2010Documento6 páginasCECHIN Andrei A Natureza Como Limite Da Economia A Contribuicao de Nicholas Georgescu Roegen Sao Paulo Editora SENAC Sao Paulo Edusp 2010Rodrigo NevesAinda não há avaliações
- Mariae, Mater EcclesiaeDocumento23 páginasMariae, Mater EcclesiaePaulo Silva São José100% (2)
- Valvulas HidraulicasDocumento26 páginasValvulas HidraulicasAnisio André Carlos ManhiçaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento5 páginas1 PBVerónica MoyanoAinda não há avaliações