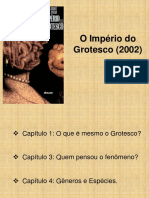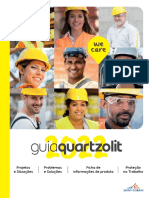Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Contexto Historico Cultural
Contexto Historico Cultural
Enviado por
José SalgadoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Contexto Historico Cultural
Contexto Historico Cultural
Enviado por
José SalgadoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Literatura na transição
para o Renascimento:
contexto e características
Há um período de transformações sociais, políticas, económicas
e culturais que determina a transição algo lenta do fim da Idade
Média para o Renascimento. É nele que assistimos ao início
das descobertas marítimas.
Política, sociedade e economia
no Portugal do século xv
É difícil assinalar com exatidão o começo e o final da mudança que conduz Portugal da
Idade Média ao Renascimento. Aponta-se o século xv como o período dessa transição.
Esta fase inicia-se com o processo de maturação da segunda dinastia, inaugurada por
D. João I em 1385, e acompanha os reinados de D. Duarte, D. Afonso V e D. João II.
Com D. Manuel estamos já na época do Renascimento. Politicamente, o século xv fica
marcado pelos esforços da coroa em centralizar a administração e o poder, bem como
em reduzir a influência e o património da nobreza. A tarefa é iniciada com D. João I
e continuada pelos seus sucessores. Dos quatro monarcas, apenas Afonso V se vê
obrigado a devolver bens e privilégios aos nobres.
Socialmente, visto que parte da antiga aristocracia se aliara a Castela na crise de 1383-85
e teve de se exilar, surge em Portugal uma nova nobreza. Esta partilha títulos e bens com
a velha fidalguia que, fiel à pátria, permanecera no Reino. A burguesia floresce e ascende
política e economicamente. Este grupo social, formado não só por mercadores mas
também por letrados e mesteirais, artífices, entre outros, prepara-se para se transformar
na classe dominante na época renascentista. O seu papel na dinamização da atividade
económica constitui um primeiro passo nesse sentido. A ascensão da burguesia
é apadrinhada por D. João I, que vê na crescente influência deste grupo uma estratégia
para o apoiar e, assim, limitar o papel e o domínio da nobreza.
A ascensão da burguesia não significa que neste período de transição se tenha dado uma
contínua e crescente prosperidade económica. De facto, economicamente, as primeiras
décadas da segunda dinastia são pautadas pela crise, para a qual contribuiu uma
epidemia em grande escala, que ficou conhecida como Peste Negra. D. João I aprovou
um conjunto de medidas legislativas, a fim de tentar travar a crise e de inverter o sentido
decrescente da economia. No entanto, só com a expansão marítima o Reino veio a
recuperar. A participação da iniciativa privada na expansão marítima, protagonizada pela
burguesia mercantil é fundamental na revitalização da economia, que nos primeiros
reinados da dinastia de Avis se encontra centralizada no Estado.
A expansão marítima
Aceita-se que a expansão portuguesa começou, efetivamente, com a conquista da cidade
de Ceuta, no Norte de África, em 1415, mas foi por mar que ela se concretizou
de forma grandiosa. Os navegadores lusos foram descendo a costa africana, ao longo
do século xv, alargando o mundo conhecido até à data.
Em 1419, aportam na Madeira e, em 1427, Diogo de Silves chega aos Açores. O cabo
Bojador é dobrado por Gil Eanes, em 1434, e, em 1487, Bartolomeu Dias vence o cabo
das Tormentas, rebatizando-o de cabo da Boa Esperança e abrindo o caminho para
Nau São Gabriel, da frota
o oceano Índico. Recorde-se que as descobertas do caminho marítimo para a Índia
de Vasco da Gama. e do Brasil ainda se dão no século xv, respetivamente em 1498 e 1500.
134 ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 10.o ano • Material fotocopiável • © Santillana
565039 133-166 U2.indd 134 12/03/15 20:05
Igreja
O facto de a expansão ser feita em nome da fé cristã não nos deve levar a concluir que
a Igreja se encontrava no apogeu da sua influência social e política, nem do seu poder
económico. Para o enfraquecimento da posição da instituição eclesiástica contribuiu a
divisão interna que se operou entre 1378 e 1418, quando foram eleitos dois papas, um
que residia em Roma e outro que fez da cidade de Avinhão sede apostólica. São os anos
do Grande Cisma.
A influência da Igreja começa lentamente a debilitar-se também devido à pressão
que a ciência, a arte e a filosofia exerciam com o objetivo de se libertarem do domínio
da religião, que controlava o trabalho de cientistas e de pensadores.
Cultura
No plano da cultura e do conhecimento, este período revela-se promissor e prepara
o caminho para o florescimento intelectual do Renascimento. A ciência, a tecnologia
e o pensamento evoluem a bom ritmo. Por volta de 1450, o alemão Gutenberg inventa
um processo de impressão que permite a reprodução em grande escala de livros,
substituindo, de forma eficaz, o trabalho lento e limitado dos copistas medievais. Esta
invenção abre portas à grande difusão das obras literárias e das ideias veiculadas por estas.
Nas artes, destaca-se, na arquitetura, a edificação do Mosteiro da Batalha, obra do estilo
«gótico final». Nasce, também nesta época, uma escola portuguesa de pintura que, na
segunda metade do século xv, produz os famosos Painéis de São Vicente de Fora.
Painéis
de São Vicente
de Fora.
Literatura
A literatura pré-renascentista é eminentemente palaciana. A produção incide, sobretudo,
em dois domínios. Na poesia, a lírica trovadoresca dá lugar a uma nova forma de
expressão poética, de influência castelhana, com novos géneros: o vilancete, a cantiga,
a esparsa e a trova. Esta produção lírica, culta, que tem como destinatária a corte, será
recolhida no Cancioneiro geral de Garcia de Resende. No domínio da prosa, consolida-se
a tradição da historiografia portuguesa, com o seguimento de métodos próximos dos
que hoje se praticam na escrita de factos históricos. Fernão Lopes é a figura central desta
mudança e serve de mestre a uma escola de cronistas que se lhe segue. Um outro tipo
de produção, em prosa, versa temas da vida na corte e da governação do reino. Algumas
das obras mais importantes do século xv são da autoria de D. João I e dos seus filhos
D. Duarte e D. Pedro. Além disso, assiste-se à diminuição da produção de literatura
religiosa de natureza didática, bastante difundida na Idade Média.
Neste período começam ainda a multiplicar-se manifestações teatrais de carácter cortês
e popular que, no início do século xvi, se consolidarão numa tradição do teatro português,
para o qual muito contribuirá Gil Vicente.
ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 10.o ano • Material fotocopiável • © Santillana 135
565039 133-166 U2.indd 135 12/03/15 20:05
Fernão Lopes
Fernão Lopes ocupa um lugar de destaque na literatura
portuguesa. Como nenhum outro, conseguiu associar um
método criterioso de investigação histórica a uma arte
admirável de narrar os acontecimentos do passado. Pelas
suas inovações, o cronista inaugurou a tradição historiográfica
portuguesa que perdurou até aos nossos dias.
A obra de Fernão Lopes
Existem ainda dúvidas sobre o corpus, ou seja, o conjunto de textos, de Fernão Lopes
enquanto cronista oficial do Reino. De D. Duarte, recebe a encomenda para redigir uma
crónica geral do Reino desde D. Afonso Henriques até D. João I. Sabemos com segurança
Retrato provável de Fernão
Lopes, presente nos Painéis que são dele as crónicas dos reinados de D. Pedro, D. Fernando e D. João I (partes I e II).
de São Vicente de Fora. A incerteza reside na autoria da Crónica dos sete reis de Portugal (ou Crónica de 1419).
Alguns estudiosos defendem que foi Fernão Lopes que a escreveu, mas outros não
seguem essa tese. Na origem da divergência está o facto de Rui de Pina, mais tarde, ter
PARA SABER MAIS supostamente reescrito o texto, e de Duarte Galvão, outro cronista, o ter alterado na parte
relativa ao reinado de D. Afonso Henriques. Formulou-se também a possibilidade de a
Os significados
Crónica de D. Duarte, atribuída a Rui de Pina, ter sido baseada num texto, ou em notas, da
de «crónica» autoria de Fernão Lopes.
A palavra «crónica» A Crónica de D. Pedro, a Crónica de D. Fernando e a Crónica de D. João I cobrem os dois
derivou da palavra grega reinados finais da Primeira Dinastia, a crise de 1383-85 e o primeiro quartel da governação
«chronos», que significa de D João I. Uma das razões por que Fernão Lopes se concentrou neste período terá
tempo. Hoje em dia, sido por este lhe estar cronologicamente próximo e por muitos dos testemunhos
a palavra refere-se, e indícios históricos se encontrarem ainda disponíveis. As crónicas reconstituem
sobretudo, a uma secção admiravelmente os principais acontecimentos. Na Crónica de D. Pedro, encontramos
de jornal ou de revista o episódio da morte de Inês de Castro e da feroz punição dos seus carrascos.
que trata de assuntos da Na Crónica de D. Fernando dá-se relevo à personalidade do monarca e à sua relação
atualidade. No entanto,
com Leonor Teles. A Crónica de D. João I, que fica incompleta, regista os principais
em tempos a palavra
acontecimentos que levam o mestre de Avis ao Trono. Fernão Lopes reconstitui
referia-se apenas a uma
narração histórica, feita com vivacidade o período da crise dinástica. Pungente é a descrição das duríssimas
por ordem cronológica, condições de vida durante o cerco de Lisboa pelas tropas de Castela. A narração
ou seja, obedecendo da vitória na Batalha de Aljubarrota destaca-se pela tensão dramática. Fernão
à ordem do tempo. Lopes iniciou ainda a terceira parte da crónica, que seria concluída pelo seu
sucessor, Zurara.
O método e a conceção
histórica em Fernão Lopes
Se a obra de Fernão Lopes se afigura ainda hoje admirável,
tal deve-se, em parte, ao carácter inovador da sua
metodologia de investigação histórica. Antes dele, tomava-se
como obra historiográfica todo o texto que se reportasse
a acontecimentos do passado: lendas, contos tradicionais,
romances de cavalaria e narrativas de crónicas e de livros
de linhagens. Estes eram aceites como relatos históricos,
sem que a sua veracidade fosse averiguada.
Batalha de Aljubarrota.
136 ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 10.o ano • Material fotocopiável • © Santillana
565039 133-166 U2.indd 136 12/03/15 20:05
A modernidade da metodologia de Fernão Lopes começa no trabalho de pesquisa e
na análise dos testemunhos dos factos históricos. Fernão Lopes privilegia as fontes de BIOGRAFIA
informação escritas, sem pôr de parte as fontes orais. Por exemplo, para saber mais sobre
o cerco da cidade de Lisboa, recorre a depoimentos de pessoas que o viveram. O rigor Fernão Lopes
manifesta-se na forma como os documentos são analisados. O seu cargo de guarda-mor (1380/90?-1460?)
da Torre do Tombo deu-lhe a prática documental que o ajudou no ofício de historiador. Pouco se sabe sobre a
Para escrever, o cronista procede a um exame crítico e comparativo dos testemunhos vida de Fernão Lopes,
que na época existiam, documentos administrativos, obras de ficção ou inscrições primeiro cronista oficial
tumulares, avaliando a autenticidade e a validade dos dados, de forma a chegar aos factos do reino e guarda-mor
da Torre do Tombo
históricos. O confronto das várias fontes de informação permite-lhe apurar a credibilidade
de 1418 a 1454. Nasceu
de umas em detrimento de outras. Em alguns casos, o historiador consegue, por
provavelmente em Lisboa,
conjetura, preencher até lacunas. numa família de origem
Através deste método de análise das fontes, o escritor assume ser fiel à «verdade» popular ou mesteiral.
histórica. No prólogo da Crónica de D. João I, Fernão Lopes advoga, ainda, que a «verdade» Terá recebido algum tipo
não pode ser sacrificada à beleza da prosa: a fidelidade e o rigor dos acontecimentos são de educação formal,
fundamentais, e o embelezamento da escrita não justifica a sua deturpação. O cronista provavelmente numa
defende também uma história imparcial, não afetada pelo patriotismo ou pela sua escola conventual, mas é,
sobretudo, como
simpatia por uma causa política ou por certas personalidades.
autodidata que alcança
uma sólida cultura e um
A arte de narrar bom domínio do latim
e do espanhol.
Não é apenas no trabalho de investigação que Fernão Lopes tem mérito. Entra para a corte
O seu brilhantismo complementa-se na arte de escrever, traduzindo a sua técnica e desempenha funções
a imparcialidade defendida. junto dos príncipes
A prosa do cronista revela a capacidade de reconstituição de um período da História de Avis: é «escrivão
de Portugal, recreando-se toda a sociedade da época. De facto, as suas crónicas de livros» de D. João I
compõem um mosaico vivo do Portugal da segunda metade do século xiv, tal é a visão e de D. Duarte e «escrivão
da puridade» do infante
multifacetada do tecido social. Aí encontramos o povo como personagem coletiva,
D. Fernando. Em 1434,
os camponeses, os mesteirais, como grupo social, mas também algumas figuras D. Duarte nomeia-o,
individualizadas: tipos sociais como o alfaiate, o alfageme ou o tanoeiro. Há também oficialmente, para o cargo
alguns nobres que são retratados com mais detença, como o mestre de Avis, Nuno de cronista-mor do Reino
Álvares Pereira e Leonor Teles. Os vários espaços do universo nacional são reconstituídos e encarrega-o de escrever
de forma pitoresca e realista: o espaço fechado da corte, as ruas de Lisboa, os campos a história da primeira
de Portugal. dinastia e de seu pai,
São visíveis algumas virtuosidades narrativas e descritivas na prosa de Fernão Lopes. D. João I.
Trabalha arduamente
O narrador apresenta as massas populares, a «arraia-miúda», que se mobiliza e se agita
na elaboração destas
nas ruas de Lisboa para defender o mestre de Avis, futuro D. João I. Aí observamos obras durante toda a sua
a mestria de representar a emoção, o movimento e a tensão crescente desta vida ativa. Concluiu, pelo
personagem coletiva. Os diálogos e a linguagem coloquial animam a cena, menos, a Crónica
e os acontecimentos são apresentados de forma dramática, ou seja, quase como de D. Pedro, a Crónica
se de uma peça de teatro se tratasse. Aliás, a característica de considerar o povo, de D. Fernando e a Crónica
a «arraia-miúda», um dos responsáveis pelo decurso dos acontecimentos históricos de D. João I. D. Afonso V
distingue o discurso de Fernão Lopes dos textos medievais e irá também distingui-lo liberta-o do cargo em
dos textos dos seus sucessores. 1454, sendo substituído
por Zurara. Não havendo
A arte de Fernão Lopes reside também na capacidade de compor esta imagem registos biográficos sobre
de conjunto e, depois, habilmente incidir a atenção sobre figuras individuais ou sobre Fernão Lopes após esse
uma situação específica. Tal acontece, por exemplo, quando descreve o sofrimento ano, não é possível apurar
de algumas personagens que estão sitiadas no Castelo de São Jorge durante o cerco com exatidão o ano da
de Lisboa. Este jogo de focalização, similar ao cinema, reproduz a ideia de que sua morte, sabendo-se
é a interação entre os grupos e os indivíduos que determina a construção da história. apenas que ainda vivia
Neste episódio, o grande apelo visual e o realismo das descrições sintetizam em 1459.
as circunstâncias em que a população se encontrava.
O estilo de Fernão Lopes prima pela simplicidade, clareza e coloquialidade, recorrendo
o autor, em certos casos, ao humor e à ironia. É nestes traços que reside a vivacidade
da sua escrita, que recusa a retórica pesada e o uso excessivo de palavras eruditas.
ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 10.o ano • Material fotocopiável • © Santillana 137
565039 133-166 U2.indd 137 12/03/15 20:05
Prosa do século xv
É no século xv que a língua portuguesa amadurece e se agiliza,
preparando-se para se tornar um instrumento de comunicação
apurado. As obras em prosa mais relevantes desta época
são textos didáticos e historiográficos escritos em ambiente
de corte.
A corte de Avis
Desde os primeiros reinados da dinastia de Avis, a segunda da monarquia portuguesa
(1385-1580), viveu-se na corte um ambiente de florescimento cultural estimulado pelos
reis e pelos infantes. D. João I e D. Duarte promovem a tradução de textos, a produção
de obras e a circulação de livros.
Não se deve ignorar a produção literária dos mosteiros, mas as obras de maior relevância
deste período são escritas ou compiladas na corte pelos membros da Casa de Avis:
D. João I, D. Duarte e o infante D. Pedro. São textos de cariz didático e social, enquadrados
na doutrina cristã, que veiculam os valores da nobreza e legitimam a sua posição
dominante na sociedade. No plano linguístico, a geração de Avis contribui para
consolidar, na escrita, a sintaxe e o vocabulário da língua portuguesa e para lhe dar
D. João I. qualidade literária e maturidade.
Obras dos príncipes de Avis
Escrito depois de 1415 e antes de 1433, o Livro da montaria, do rei D. João I, é uma obra
onde se procura preservar «a nobre arte» da montaria, a caça montês. Nela encontramos
orientações, conselhos práticos e exemplos tanto para a caça como para a vida. Segundo
o autor, a montaria deve desempenhar um papel importante na formação do nobre, pois
aí se colherão ensinamentos para uma conduta equilibrada e harmoniosa. Nesta atividade
desenvolvem-se e revelam-se as virtudes físicas, psicológicas e morais do indivíduo.
O Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela, de D. Duarte, é um tratado equestre com
ensinamentos e descrições técnicas. Porém, como sucede no livro de seu pai, também
tem um alcance didático e social. A prática da equitação, como a da montaria, é
apresentada como uma forma de reavivar a tradição guerreira, de que a nobreza lusitana
se estaria a afastar. Falar da atividade equestre é, ainda, pretexto para traçar as qualidades
de um nobre, que se devem refletir, literal e simbolicamente, na arte de cavalgar.
De D. Duarte é também o Leal conselheiro, uma compilação de reflexões, escritos vários
e apontamentos sobre assuntos governativos, sociais e morais, que data de 1437 ou 1438.
D. Duarte. Através da análise de questões éticas, de matriz cristã, apresentam-se regras e modelos
de conduta para a nobreza, incluindo a dos príncipes, e recordam-se as suas obrigações
sociais. A obra tem claramente o propósito de promover os valores aristocráticos e a
autoridade da condição nobre.
A finalidade didática e a análise social com um propósito moralizante presidem à obra
Virtuosa benfeitoria, do infante D. Pedro, irmão de D. Duarte. Nesta faz-se a apologia da
nobreza e do sistema socioeconómico senhorial, que se encontrava em declínio. D. Pedro
advoga uma sociedade estratificada fundada sobre a doutrina cristã. A temática gravita
não só em torno das obrigações, deveres e direitos dos nobres, mas também do papel
que este grupo deve desempenhar na sociedade. A retidão, a autoridade, a virtude,
a justiça e o uso avisado da razão são qualidades que o aristocrata deve cultivar, para
Armas manter uma relação harmoniosa com os da sua condição e com o povo. O altruísmo
da Casa de Avis.
e a dedicação aos outros, a «benfeitoria», são características essenciais que asseguram
a concórdia e a paz entre os homens.
138 ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 10.o ano • Material fotocopiável • © Santillana
565039 133-166 U2.indd 138 12/03/15 20:05
Historiografia
D. Duarte nomeia Fernão Lopes para o cargo de cronista oficial do Reino, em 1434, com
o propósito de ser preservada na escrita a memória do passado de Portugal. Desde a sua
primeira obra, o historiador demonstra ter uma conceção histórica diferente da que era
seguida nas crónicas e nos livros de linhagens da primeira dinastia. O método que pratica
e desenvolve faz escola e assinala um ponto de viragem no modo de escrever sobre o passado.
Tanto Fernão Lopes como os seus seguidores cultivam uma escrita em que ainda ecoam
a mentalidade e os valores medievais: por exemplo, em Zurara e Pina é visível a exaltação
do ideal de cavalaria e a valorização da nobreza como agente da História. Há aspetos,
no entanto, que apontam já para a visão renascentista do mundo, como a celebração
do encontro entre culturas e a valorização do povo no tecido social do Reino.
Gomes Eanes de Zurara
Gomes Eanes de Zurara (c.1420-1473/74) sucede a Fernão Lopes no ofício de cronista
do Reino e herda deste o método historiográfico.
O autor deixou quatro obras: a Crónica da tomada de Ceuta (1450), a Crónica dos feitos
da Guiné (1453), a Crónica do conde D. Pedro de Meneses (1463) e a Crónica do conde
D. Duarte de Meneses (1468). A segunda relata a progressão dos navegadores portugueses
ao longo da costa ocidental africana e o papel fulcral do infante D. Henrique nos
Descobrimentos. As outras crónicas abordam a tomada de Ceuta (1415) e a ação
militar e política dos dois primeiros governadores da cidade.
Pelas figuras que se destacam, depreendemos que o texto de Zurara valoriza, sobretudo,
o papel da nobreza na condução dos destinos do reino. Por esse motivo, alguns críticos
rotulam as crónicas de Zurara de «história senhorial» e denunciam a sua atitude servil
no elogio do infante D. Henrique e de outros nobres portugueses. Na verdade, o cronista
Infante D. Henrique.
contribui decisivamente para mitificar a figura do Infante como mentor e estratego da
aventura marítima portuguesa.
Quanto ao seu estilo, Zurara revela uma evolução na arte literária, com o uso de frases
longas, o que denuncia uma nova fase, em que a expressão escrita se torna mais
complexa e se afasta do discurso oral. É certo que, por vezes, o seu texto é exclamativo,
opulento e retórico, sobretudo no panegírico da ação política do infante, mas a sua
capacidade de representar a paisagem geográfica e humana de terras africanas e de
evocar o passado torna-se digna de nota. Porque as suas crónicas dão conta dos
acontecimentos ocorridos no Noroeste africano, sem esquecer o papel da casa real
e da metrópole, Zurara é visto como o iniciador da história ultramarina. Neste domínio,
o autor manifesta uma sensibilidade apurada, ainda rara, na representação do Outro,
o estrangeiro, e do mundo em que este vive.
Rui de Pina
Permanecem ainda hoje dúvidas em relação à autoria de algumas crónicas que a tradição
atribui a Rui de Pina (1440-1522), o terceiro cronista-mor do Reino. Seguramente,
escreveu a Crónica de Afonso V e a Crónica de D. João II. Existem suspeitas quanto ao facto
de as Crónicas de D. Sancho I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, D. Dinis e D. Afonso IV
serem da sua autoria. Os mais críticos acusaram-no de plágio, ou seja, de ter compilado
as notas deixadas por Fernão Lopes e de ter apresentado o texto como seu. Dúvidas
análogas impendem sobre a elaboração da Crónica de D. Duarte.
As duas obras que certamente saíram da sua pena oferecem ao leitor uma visão histórica
fiel à versão oficial dos acontecimentos, isto é, a «verdade» que a Coroa sanciona.
O historiador segue, assim, os valores do seu tempo e adere às orientações políticas do
Trono. Tal justifica que a obra de Pina resulte no panegírico do rei e na defesa da sua
política. Na Crónica de D. João II, retrata-se com imenso esplendor e veneração a
personalidade do Príncipe Perfeito. Pina concebe a história como engrandecimento do
monarca e da nação. A sua prosa é sóbria, elegante e atinge vivacidade e dramatismo Iluminura da Crónica de D. João II,
na descrição dos acontecimentos. de Rui de Pina.
ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 10.o ano • Material fotocopiável • © Santillana 139
565039 133-166 U2.indd 139 12/03/15 20:05
Você também pode gostar
- Apostila Opção Fuzileiro NavalDocumento176 páginasApostila Opção Fuzileiro NavalotaviosantosbussAinda não há avaliações
- Unip Matematica Questionario Unidade 1Documento9 páginasUnip Matematica Questionario Unidade 1Maria75% (4)
- São João Damasceno - Uma Exposição Exata Da Fé OrtodoxaDocumento118 páginasSão João Damasceno - Uma Exposição Exata Da Fé OrtodoxaLairtonAinda não há avaliações
- Pt9cp Teste Avaliacao 2Documento8 páginasPt9cp Teste Avaliacao 2Ana Quelhas50% (6)
- A Poesia de Cesário Verde, Síntese de Conteúdos - Print - QuizizzDocumento5 páginasA Poesia de Cesário Verde, Síntese de Conteúdos - Print - QuizizzMarina SilvaAinda não há avaliações
- A Poesia de Antero de Quental - Print - QuizizzDocumento3 páginasA Poesia de Antero de Quental - Print - QuizizzMarina SilvaAinda não há avaliações
- Sequencia4 TesteDocumento6 páginasSequencia4 TesteMarina SilvaAinda não há avaliações
- Quiz 8Documento10 páginasQuiz 8Marina SilvaAinda não há avaliações
- Quiz 7Documento10 páginasQuiz 7Marina SilvaAinda não há avaliações
- Quiz 1Documento7 páginasQuiz 1Marina SilvaAinda não há avaliações
- Quiz 2Documento7 páginasQuiz 2Marina SilvaAinda não há avaliações
- Orações 3Documento6 páginasOrações 3Marina SilvaAinda não há avaliações
- A Codificação - O Evangelho Segundo o EspiritismoDocumento12 páginasA Codificação - O Evangelho Segundo o Espiritismoapi-3715923100% (1)
- Ação de IndenizaçãoDocumento5 páginasAção de IndenizaçãoKelmaPK BenjamimAinda não há avaliações
- Apostila 01 MicheleDocumento20 páginasApostila 01 MicheleRejane MachadoAinda não há avaliações
- Israel o Termômetro de DeusDocumento16 páginasIsrael o Termômetro de DeusJosé Lenilson Torres RegoAinda não há avaliações
- AromatizantesDocumento3 páginasAromatizantesJoãoMataAinda não há avaliações
- O Messias Yeshua É Yhwh Na Carne ?Documento24 páginasO Messias Yeshua É Yhwh Na Carne ?Isaque ShelbyAinda não há avaliações
- ESA MATEMÁTICA - Ex. - FraçõeDocumento6 páginasESA MATEMÁTICA - Ex. - Fraçõetenente alencarAinda não há avaliações
- Atv 1Documento5 páginasAtv 1fernandoAinda não há avaliações
- Acinetobacter Baumannii Multirresistente Como Uma Preocupação Emergente em HospitaisDocumento12 páginasAcinetobacter Baumannii Multirresistente Como Uma Preocupação Emergente em HospitaisFernanda LopesAinda não há avaliações
- Um Defeito de CorDocumento161 páginasUm Defeito de CorjulieversoncarvalhoAinda não há avaliações
- Documento Protegido Pela Lei de Direito AutoralDocumento40 páginasDocumento Protegido Pela Lei de Direito AutoralRochedao RogAinda não há avaliações
- Adeildojunior Portugues Questoes Cesgranrio 001Documento42 páginasAdeildojunior Portugues Questoes Cesgranrio 001claudio mota dos santosAinda não há avaliações
- Datas Comemorativas 2024Documento1 páginaDatas Comemorativas 2024Magda ZometrizerAinda não há avaliações
- O Império Do Grotesco (2002) PDFDocumento41 páginasO Império Do Grotesco (2002) PDFPedro Henrique Homrich100% (1)
- Descrição - Gestor de PessoasDocumento4 páginasDescrição - Gestor de PessoasSabrina BoeingAinda não há avaliações
- Estatistica Dos FluidosDocumento37 páginasEstatistica Dos FluidosGabriela PereiraAinda não há avaliações
- IIPC - Introdução A Projeciologia (Wagner Alegretti)Documento24 páginasIIPC - Introdução A Projeciologia (Wagner Alegretti)Frater T.A.S.100% (1)
- Substratos para Produção de Mudas EnviarDocumento14 páginasSubstratos para Produção de Mudas EnviarCarlos André RamosAinda não há avaliações
- O Lobo e Os Sete Cabritinhos Grimm TranscritoDocumento3 páginasO Lobo e Os Sete Cabritinhos Grimm Transcrito25vivian25Ainda não há avaliações
- Olhonavaga - PROVA - FUNCAB - PREFEITURA DE RIO BRANCO - PsicólogoDocumento12 páginasOlhonavaga - PROVA - FUNCAB - PREFEITURA DE RIO BRANCO - PsicólogoCarol SouzaAinda não há avaliações
- Robert Faurisson (Quem Escreveu o Diário de Anne Frank)Documento76 páginasRobert Faurisson (Quem Escreveu o Diário de Anne Frank)Lusi Catorze Palavras60% (5)
- Arma de PressãoDocumento17 páginasArma de PressãoJEFFERSON MENDESAinda não há avaliações
- Apostila EstatisticaDocumento68 páginasApostila EstatisticaAlessandro HerculanoAinda não há avaliações
- GW2022 Arte Digital-MinDocumento95 páginasGW2022 Arte Digital-MinromulofachinaAinda não há avaliações
- Modelo de Laudo EsDocumento2 páginasModelo de Laudo EsRicardo AndradeAinda não há avaliações
- REsumo Ciencias 10 02Documento1 páginaREsumo Ciencias 10 02Jose Carlos SantosAinda não há avaliações
- A Mentirosa Liberdade Texto para o 3 AnoDocumento2 páginasA Mentirosa Liberdade Texto para o 3 AnoLuana NevesAinda não há avaliações