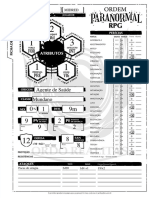Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artigo - Capital (Ismo) Comercial e A Desintegração Do Sistema Feudal
Artigo - Capital (Ismo) Comercial e A Desintegração Do Sistema Feudal
Enviado por
Olacir Palombo JúniorTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigo - Capital (Ismo) Comercial e A Desintegração Do Sistema Feudal
Artigo - Capital (Ismo) Comercial e A Desintegração Do Sistema Feudal
Enviado por
Olacir Palombo JúniorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ANAIS - Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação, Ensino e Extensão do CCSEH – III SEPE
ÉTICA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. De 6 A 9 DE JUNHO DE
2017
ISSN 2447-9357
CAPITAL (ISMO) COMERCIAL E A DESINTEGRAÇÃO DO SISTEMA
FEUDAL
Max Henrik Marquezan Silva
Acadêmico do curso de História – UEG, Campus CSEH
Resumo: Vários são os artigos e trabalhos acadêmicos que tratam do Sistema Capitalista e
suas características econômicas e sociais. Explicações e teses sobre o conceito deste sistema
são abordadas com muito fervor, e, paralelo a essa abordagem, surge também um respectivo
embasamento sobre o Sistema Socialista e suas contraposições. O Socialismo surge a partir do
Liberalismo e do Capitalismo, e seus meios de produção, passando o topo da pirâmide para o
proletariado, fazendo uma divisão igualitária de renda. Após isso, o sistema transmuta-se
radicalmente para um plano econômico e social sem divisão de classes sociais, e
consequentemente sem Estado, que se chama Comunismo. Entretanto, para atravessar esse
túnel, faz-se necessário a passagem pelo Capitalismo. Esse sistema econômico gerou diversos
antagonistas, contrários às suas doutrinas e ideologias, pois sua existência exige que a
concentração da propriedade dos meios de produção esteja nas mãos de uma classe social – no
caso a burguesia –, e para a outra classe social, o proletariado, resta apenas a venda de sua
força de trabalho, como única fonte de subsistência.
Palavras-chave: Feudalismo; Capitalismo; Economia.
Introdução (Problemática e Objetivos)
Mas como surge esse modelo econômico? A partir do declínio do feudalismo, ou o
sistema feudal teve seu declínio a partir do surgimento dessa ideologia de Capital? Diversas
são as teorias de como se deu essa transição de sistemas, de meios de produção e de comércio,
trabalhada por inúmeros autores nos campos sociais, econômicos e políticos, e estas teses
serão analisadas nesse presente artigo, buscando uma melhor compreensão sobre o
Capitalismo em seus primórdios, analisando os parâmetros sociais, econômicos e até mesmo
religiosos que assistiram nessa transição.
Essa fase da Europa ocidental deu origem a divergentes correntes de pensamento, que
visavam, com sua própria interpretação, definir o sistema feudal, apontando os motivos que
trouxeram seu declínio, e o sistema capital, levantando suas principais características
primitivas, e fatores que levaram sua ascensão. Das principais teorias que visam explicar o
Universidade Estadual de Goiás – Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas.
Av. Juscelino Kubitschek, 146 - Jundiaí - Anápolis-GO. CEP 75.110-390. Fone: (62) 3328-1128.
sepe.ccseh.ueg@gmail.com; http://www.sepe.ccseh.ueg.br página: 1
ANAIS - Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação, Ensino e Extensão do CCSEH – III SEPE
ÉTICA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. De 6 A 9 DE JUNHO DE
2017
ISSN 2447-9357
Capitalismo, duas correntes se destacam, representadas por Karl Marx e Max Webber. A
corrente marxista discorre sobre o Capitalismo a partir de uma perspectiva histórica, definindo
esse sistema como modo de produção de mercadorias e também como um sistema que
transforma a força de trabalho em mercadoria. Já Webber busca explicar o Sistema Capitalista
a partir de fatores extrínsecos à economia. Para ele o Capitalismo nasce a partir de um modo
de pensar as relações sociais e econômicas, geradas a partir das reformas protestantes na
Europa, especialmente a de Calvino. A extrema valorização do trabalho, a busca pela vocação
profissional para agradar a Deus e alcançar sua salvação individual, o acumulo de riquezas a
partir dessa força de trabalho, formaram o conceito de uma “ética”, que implica em uma
aceitação de valores, normas de conduta, que seriam nada mais que a expressão de um
“espírito” capitalista.
Contudo não devemos discorrer sobre o Capitalismo sem antes explicar o sistema
antecessor e sua crise. Mas o que foi o Feudalismo? Quais as suas características? Para
Maurice Dobb, o Feudalismo é “virtualmente idêntico aquilo que usualmente entendemos por
servidão: uma obrigação imposta ao produtor pela força, e independentemente da sua própria
vontade, para cumprir certas exigências de um suserano [...]1” Porém, essa teoria de Dobb foi
contraposta por alguns estudiosos, apontados alguns erros nessa definição sobre o feudalismo.
Segundo Paul Sweezy (1977), essa definição é falha para o feudalismo enquanto sistema de
produção; a servidão existe em sistemas que nada tem de feudal, em diferentes épocas e em
diferentes regiões. Engels também contrapõe essa teoria:
[...] é certo que a servidão e a dependência não são uma forma específica
medieval-feudal, encontramo-las por toda parte ou em quase toda parte onde
os conquistadores possuem a terra cultivada para eles pelos velhos
habitantes”.2
Essa definição de Dobb é um conceito muito geral para definir e aplicar ao estudo de
uma região particular, durante um período particular, ou seja, ele não define somente um
sistema, como pretendia, mas sim vários sistemas que se baseiam ou tem por característica a
servidão. Essa situação de servidão, relação econômico-social dos servos com seus senhores,
constituiu apenas a base para a organização do modo de produção feudal que se implantou na
Europa após as invasões do Século VIII.
Para entender um pouco desse sistema feudal, precisa-se conhecer seu conceito
enquanto sistema econômico. Esse conceito foi definido por Jacques le Goff:
1
Studies in the Development of Capitalism, by Maurice Dobb. New York: International Publishers, 1947. p 35
2
Marx – Engels, Selected Correspondence, p.411
Universidade Estadual de Goiás – Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas.
Av. Juscelino Kubitschek, 146 - Jundiaí - Anápolis-GO. CEP 75.110-390. Fone: (62) 3328-1128.
sepe.ccseh.ueg@gmail.com; http://www.sepe.ccseh.ueg.br página: 2
ANAIS - Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação, Ensino e Extensão do CCSEH – III SEPE
ÉTICA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. De 6 A 9 DE JUNHO DE
2017
ISSN 2447-9357
Um sistema de organização econômica, social e política baseado nos
vínculos de homem a homem, no qual uma classe de guerreiros
especializados – os senhores -, subordinados uns aos outros por uma
hierarquia de vínculos de dependência, domina uma massa campesina que
explora a terra e lhes fornece com que viver. (LE GOFF, Jacques. A
civilização do ocidente, p.29)
Outra importante definição sobre esse sistema é a de Marc Bloch:
Feudalismo é um campesinato mantido em sujeição; uso generalizado do
serviço foreiro3 em vez de salário (..); a supremacia de uma classe de
guerreiros especializados; vínculos de obediência e proteção que ligam
homem a homem e, dentro da classe guerreira, assumem forma específica,
denominada vassalagem; fragmentação da autoridade – levando
inevitavelmente à desordem e, em meio a tudo isso, a sobrevivência de
outras formas de associações, família e estado. (BLOCH, Marc. In: LOYN,
H.R. Dicionário da Idade Média. p. 144)
Portanto o feudalismo possui várias características que o difere de outros sistemas
econômicos, como a descentralização política4, a economia agrária, a despovoação das
cidades, a supremacia de uma ordem de guerreiros especializados, as relações e vínculos
pessoais, e o regime de servidão. Porém, não se pode confundir servo com escravo.
(...) escravo e servo não são a mesma coisa. Sob o ponto de vista jurídico, o
escravo não possui liberdade alguma, constituindo uma propriedade de
alguém. O servo é uma pessoa semi-livre; não possui liberdade plena, mas,
pelo menos, não é um mero instrumento de trabalho. Os servos acasados,
isto é, que permaneciam numa terra, poderiam acumular um mínimo para a
sua sobrevivência. Apesar disso, tal qual o escravo, sua condição social era
péssima. (MACEDO, José Rivair. Movimentos populares da Idade Média.
p.19).
Definido então o Feudalismo, segue-se em direção à sua crise e seu declínio. Dobb
defende, segundo Paul Sweezy, que o fim do feudalismo surgiu a partir da contradição entre
senhores e servos e das relações servis, e não do desenvolvimento do comércio propriamente
dito. Dobb diz que:
Foi a incapacidade do feudalismo como sistema de produção, ao lado das
crescentes necessidades da classe governante de novas fontes de receita, a
principal responsável pelo seu declínio; uma vez que essa necessidade de
receitas adicionais veio a aumentar a pressão sobre o produtor ao ponto de
esta se tornar totalmente intolerável (p. 42).
E complementa que a consequência desta crescente pressão foi que, “no final, ela
3
Isto é, o feudo
4
O Rei, em geral, servia apenas como figura decorativa, visto que, quem comandava o feudo era o senhor
feudal. Porém isso não implica que todos os reis do período fossem fracos. Tiveram vários monarcas poderosos,
como Filipe, o Belo, da França, e Henrique II, da Inglaterra.
Universidade Estadual de Goiás – Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas.
Av. Juscelino Kubitschek, 146 - Jundiaí - Anápolis-GO. CEP 75.110-390. Fone: (62) 3328-1128.
sepe.ccseh.ueg@gmail.com; http://www.sepe.ccseh.ueg.br página: 3
ANAIS - Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação, Ensino e Extensão do CCSEH – III SEPE
ÉTICA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. De 6 A 9 DE JUNHO DE
2017
ISSN 2447-9357
levou a exaustão, ao desaparecimento efetivo da força do trabalho de que o sistema se nutria”
(p. 43)5.
Vários são os fatores que ocasionaram o lento fim do sistema feudal. Destaca-se
alguns, como a falta de mão de obra, devido a fomes, as contínuas guerras e a peste negra, a
falta de novas terras, mas principalmente o desenvolvimento agrícola, comercial e artesanal,
que fortaleceu a economia. A essência do feudo foi atingida, e em concorrência a ela
desenvolvia-se um segmento urbano e mercantil. Portanto o principal fator que acarretou no
fim do feudalismo, foi o crescimento do comércio, reestruturado a partir da reabertura do
Mediterrâneo, e o desenvolvimento progressivo de um certo individualismo (primeiros sinais
do Capitalismo6).
Dobb também busca definir de maneira simples o capitalismo, afirmando que ele é um
sistema em que os utensílios e ferramentas com que é obtida a produção, são
predominantemente de propriedade privada ou individual. Conceituação que se compara com
a definição, um pouco mais técnica, de Karl Marx, que o define como um modo de produção
cujos meios estão nas mãos dos capitalistas, que constituem uma classe distinta da sociedade.
Maurice Dobb, ainda sobre o capitalismo, diz que o processo pelo qual esse sistema se
desenvolveu, foi lento e complexo, e suas etapas de transição não foram, de forma alguma,
nítidas e perceptíveis, implicando quaisquer transformações políticas.
Nesse contexto de transição do período feudal para o período capital, nota-se duas
importantes fases: a primeira é marcada pela mudança das relações servis para as relações
livres de trabalho. Em outras palavras a emancipação do servo, pois essas relações de
trabalhos baseadas na servidão deram lugar a relações baseadas em contratos e relações
assalariadas. Na segunda separa-se de sua propriedade os meios de produção, passando a
depender do trabalho assalariado para sobreviver. Esse processo é definido por Marx como
“acumulação primitiva”, que levou à criação o proletariado, tendo como auxiliar a
desintegração social e econômica dos pequenos produtores.
Nasce então o capitalismo, porém tendo seu apogeu apenas na Revolução Industrial
Inglesa. Esse sistema é vigente até hoje, e sofreu diversas mutações ao longo do
desenvolvimento tecnológico, mas ele ainda se baseia na venda da força de trabalho como
mercadoria, o que pode ser um fator paralelo à escravidão do regime feudal.
5
Foi um fator importante a levar os servos a desertar, mas, agindo por si mesmo, dificilmente ocasionaria no
fim do Feudalismo.
6
Porém o capitalismo só irá surgir como um sistema econômico plenamente constituído, no final do século
XVIII. Um dos fatores que atrasaram a ascensão do capitalismo foi a prática da usura, que condenava o lucro.
Universidade Estadual de Goiás – Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas.
Av. Juscelino Kubitschek, 146 - Jundiaí - Anápolis-GO. CEP 75.110-390. Fone: (62) 3328-1128.
sepe.ccseh.ueg@gmail.com; http://www.sepe.ccseh.ueg.br página: 4
ANAIS - Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação, Ensino e Extensão do CCSEH – III SEPE
ÉTICA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. De 6 A 9 DE JUNHO DE
2017
ISSN 2447-9357
Referencial Teórico
Para trabalhar com o conceito de feudalismo, serão utilizados inicialmente os autores
Maurice Dobb (1946), que defende que o feudalismo é um sistema de produção idêntico ao
que entendemos por servidão, uma obrigação imposta pela força. Dobb usa os termos
“feudalismo” e “servidão” como praticamente idênticos em todo seu livro, o que é um
problema. E será usado também Paul Sweezy (1977), que contrapõe essa ideia de Dobb, e faz
a sua definição de feudalismo em cima da definição de Dobb. Ele reconhece a familiarização
de Dobb com o termo feudalismo: “Não quero com isto dizer que Dobb não esteja
inteiramente familiarizado com o feudalismo da Europa ocidental.”
Para Jacques le Goff (1984), o feudalismo é um sistema baseado nas relações homem
a homem, no caráter econômico, político e social; uma classe de guerreiros especializados
domina a massa campesina que explora a terra como forma de subsistência. Marc Bloch não
se afasta muito dessa premissa de le Goff. Ele vai afirmar que o feudalismo é um campesinato
mantido em sujeição à um suserano; caracterizado pelos vínculos de obediência homem a
homem, faz-se o uso de serviço foreiro ao invés de salário.
A definição de Ganshof (1976) vai um pouco mais fundo. Ele considera o feudalismo
como um tipo de sociedade, cujo suas principais características são o desenvolvimento dos
laços de dependência de homem para homem, com uma classe de guerreiros fadados a ocupar
os altos escalões dessa hierarquia; um parcelamento máximo do direito de propriedade; uma
hierarquia de direito sobre a terra; e um parcelamento do poder público.
Em relação ao declínio do sistema feudal, Dobb será novamente de suma importância,
não para servir de ideia base para o desenvolvimento de novas hipóteses, mas justamente para
ser descontruído, devido à sua fraca analise do feudalismo e seu conceito, mas principalmente
dos fatores que levaram seu fim. Ignorando totalmente os fatores externos ao sistema feudal,
como o desenvolvimento do comércio e das cidades, ele foca nos fatores internos, como as
relações servis, e defende que estas, devido a seus conflitos e suas pressões sobre o servo,
ocasionaram no fim do feudalismo. De fato essas relações tiveram sua parcela de importância
no que se refere ao fim de um sistema. Entretanto, isoladas jamais ofereceriam riscos a esse
sistema vigente da Europa medieval.
Definindo o capitalismo encontra-se uma ótima fonte de recursos intelectuais, que é a
fonte sociológica de Marx. Partindo de uma visão histórica, ele diz que no capitalismo, os
produtos do trabalho tomam a forma de mercadorias, ou seja, no capitalismo há a produção de
Universidade Estadual de Goiás – Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas.
Av. Juscelino Kubitschek, 146 - Jundiaí - Anápolis-GO. CEP 75.110-390. Fone: (62) 3328-1128.
sepe.ccseh.ueg@gmail.com; http://www.sepe.ccseh.ueg.br página: 5
ANAIS - Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação, Ensino e Extensão do CCSEH – III SEPE
ÉTICA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. De 6 A 9 DE JUNHO DE
2017
ISSN 2447-9357
mercadorias, e também a força de trabalho se torna uma mercadoria, que alimenta o lucro dos
detentores dos meios de produção.
Para Max Webber, o que define o capitalismo não é a busca por lucro, mas sim a
acumulação de riquezas. Esse sistema nasce a partir da nova mentalidade na forma de encarar
o trabalho, como algo digno e ético, valores fomentados pelo protestantismo de Lutero e
Calvino.
Metodologia
As etapas desse artigo compreendem basicamente em analisar o feudalismo e seu
contexto social e econômico de uma Europa (ocidental) medieval, buscando sua definição e
principais características, a partir da análise de alguns autores que discorrem sobre o tema.
Definido o que é feudalismo, segue-se em busca dos fatores que acarretaram em sua extinção,
abrangendo tanto os fatores externos à sociedade feudal quanto os internos, e correlacionando
esses fatores de declínio feudal com os fatores de ascensão capital, tendo como objetivo
analisar quais fatores de um determinado sistemas implicaram nas mudanças do outro. Após
esse levantamento do declínio do sistema feudal, faz-se outro questionamento sobre essa
transição e os principais traços do capitalismo presentes no decorrer do longo e demorado fim
do feudalismo.
Resultados e Discussões
Os principais fatores que levaram ao fim do sistema econômico presente no contexto
de Europa medieval foram os fatores econômicos: o desenvolvimento do mercado, e o
crescimento do comércio, aplicado nas relações de concorrência dos feudos com as cidades.
Mas o que realmente ocasionou o fim desse sistema, foi, os primeiros sinais do capitalismo,
como o individualismo econômico, gerado pela concorrência, o crescimento do comércio e a
nova “cultura” de acumulação de riquezas.
Conclusão
Em vista disto, percebe-se a importância do estudo dessa transmutação de sistemas
sociais e econômicos, de um sistema de níveis de técnicas simples e baratas, para um sistema
com um alto nível de crescimento tecnológico; de um sistema de produção para as
Universidade Estadual de Goiás – Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas.
Av. Juscelino Kubitschek, 146 - Jundiaí - Anápolis-GO. CEP 75.110-390. Fone: (62) 3328-1128.
sepe.ccseh.ueg@gmail.com; http://www.sepe.ccseh.ueg.br página: 6
ANAIS - Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação, Ensino e Extensão do CCSEH – III SEPE
ÉTICA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. De 6 A 9 DE JUNHO DE
2017
ISSN 2447-9357
necessidades imediatas, para outro que tem por característica o acumulo de capital a longo
prazo; de um sistema de caráter servil, para um de caráter assalariado. Essas mudanças
levaram não somente ao fim de um sistema, mas ao fim de mil anos de um período médio, e a
passagem para a idade moderna, tendo mudanças não somente nos campos sociais e
econômicos, mas também nos campos da literatura, arte, música, filosofia e matemática.
Essa passagem para uma “nova era” também é marcada por vários fatores como as
grandes navegações e seus “descobrimentos”, o renascimento cultural e o nascimento do
mercantilismo.
Portanto, mesmo que tenha sido um processo extenso e vagaroso, vê se que foi
necessária essa mudança, mesmo que o capitalismo hoje seja opressor e criador da
desigualdade social, e da super exploração do operário, ele foi necessário para o rompimento
da sociedade com um sistema tardio e retrógado, e precursor do desenvolvimento cientifico e
tecnológico que vige até os dias de hoje.
Universidade Estadual de Goiás – Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas.
Av. Juscelino Kubitschek, 146 - Jundiaí - Anápolis-GO. CEP 75.110-390. Fone: (62) 3328-1128.
sepe.ccseh.ueg@gmail.com; http://www.sepe.ccseh.ueg.br página: 7
ANAIS - Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação, Ensino e Extensão do CCSEH – III SEPE
ÉTICA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO. De 6 A 9 DE JUNHO DE
2017
ISSN 2447-9357
Referências
D’HAUCOURT, Geneviève. A vida na Idade Média. Lisboa: Edições de livros do Brasil,
1944.
FRANCO, Hilário Jr. A Idade Média: o nasimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense,
1999.
FRANCO, Hilário Jr. O feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 2003.
GANSHOF, F.L. Que é o feudalismo. Lisboa: Europa-América. 1976.
HEER, Jacques. A bolsa e a vida. São Paulo: Brasiliense, 1989.
HILTON, Rodney. DOBB, Maurice. SWEEZY, Paul et al. A transição do feudalismo para
o capitalismo. 4º ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
HUIZINGA, Johann. O declínio da Idade Média. Lisboa: Ulisseia.
KOSMINSKY, E.A. História da Idade Média. Porto: Centro do Livro Brasileiro, s.d.
LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. Lisboa: Estampa, 1984;
LE GOFF, Jacques. Mercadores e banqueiros da Idade Média. São Paulo: Martins Fontes,
1991.
LOYN, H.R. Dicionário da Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.
MACEDO, José Rivair. Movimentos populares da Idade Média. São Paulo: Moderna,
1994.
SALINAS, S.S. Do feudalismo ao capitalismo: transições. São Paulo: Atual, 1998.
MARX, Karl. O Capital. Vol. 2. 3ª edição, São Paulo, Nova Cultural, 1988.
TUCHMAN, Barbara W. Um espelho distante: o terrível século XIV. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2003.
WEBBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret,
2013. (Coleção a obra prima de cada autor)
Universidade Estadual de Goiás – Campus Anápolis de Ciências Socioeconômicas e Humanas.
Av. Juscelino Kubitschek, 146 - Jundiaí - Anápolis-GO. CEP 75.110-390. Fone: (62) 3328-1128.
sepe.ccseh.ueg@gmail.com; http://www.sepe.ccseh.ueg.br página: 8
Você também pode gostar
- Hebe Maria Mattos - Das Cores Do Silêncio. Os Significados Da Liberdade No Sudeste Escravita - Brasil, Século XIXDocumento385 páginasHebe Maria Mattos - Das Cores Do Silêncio. Os Significados Da Liberdade No Sudeste Escravita - Brasil, Século XIXRoger Codatirum50% (2)
- LOPES, Silvina Rodrigues Lit Defesadoatrito - CompletoDocumento75 páginasLOPES, Silvina Rodrigues Lit Defesadoatrito - CompletoVeronica Dellacroce50% (2)
- BICALHO, M. F. Da Colônia Ao Império Um Percurso Historiográfico.Documento15 páginasBICALHO, M. F. Da Colônia Ao Império Um Percurso Historiográfico.Roger CodatirumAinda não há avaliações
- 5 Procedimento Operacional de Maquinas e Equipamentos - CorrigidoDocumento16 páginas5 Procedimento Operacional de Maquinas e Equipamentos - CorrigidojonasAinda não há avaliações
- FREITAS, Ricardo Cabral De. Curas Químicas para Males Galênicos Plantas e Minerais Notratamento de Febres em João Curvo SemedoDocumento16 páginasFREITAS, Ricardo Cabral De. Curas Químicas para Males Galênicos Plantas e Minerais Notratamento de Febres em João Curvo SemedoRoger CodatirumAinda não há avaliações
- FLECK, Eliane Cristina Deckmann. A Medicina Da Conversão Apropriação e Circulação de Saberes e Práticas de CuraDocumento47 páginasFLECK, Eliane Cristina Deckmann. A Medicina Da Conversão Apropriação e Circulação de Saberes e Práticas de CuraRoger CodatirumAinda não há avaliações
- 2020 TaísFurtadoPontesDocumento260 páginas2020 TaísFurtadoPontesRoger CodatirumAinda não há avaliações
- FRAGOSO, João - BICALHO, Maria Fernanda - GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.) - O Antigo Regime Nos TrópicosDocumento227 páginasFRAGOSO, João - BICALHO, Maria Fernanda - GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.) - O Antigo Regime Nos TrópicosRoger CodatirumAinda não há avaliações
- SADE, Marquês De. em Duas Palavras o Que Eu SouDocumento51 páginasSADE, Marquês De. em Duas Palavras o Que Eu SouRoger CodatirumAinda não há avaliações
- Planejamento de EstoquesDocumento63 páginasPlanejamento de EstoquesNuno CruzAinda não há avaliações
- pb92126 en PTDocumento27 páginaspb92126 en PTjuarez5geronimosilva100% (1)
- Magia ExtremaDocumento22 páginasMagia ExtremaItalo CezarAinda não há avaliações
- Resumo - Manual de IntercambioDocumento29 páginasResumo - Manual de IntercambioWallace RodriguesAinda não há avaliações
- Hélices de Aeronaves V1 2011 NDocumento70 páginasHélices de Aeronaves V1 2011 NRenan LuizAinda não há avaliações
- Dicionário Tráfego PagoDocumento12 páginasDicionário Tráfego PagoDoobler oficial100% (1)
- 68 e Os AndarilhosDocumento24 páginas68 e Os AndarilhosClaudio Abraão FilhoAinda não há avaliações
- Estudo de Mapeamento Sistemático Sobre As Tendências e Desafios Do Cloud Gaming (Apresentação)Documento23 páginasEstudo de Mapeamento Sistemático Sobre As Tendências e Desafios Do Cloud Gaming (Apresentação)Vinicius Cardoso GarciaAinda não há avaliações
- Heiken Ashi e EstocasticoDocumento10 páginasHeiken Ashi e EstocasticobaraozemoAinda não há avaliações
- (PROVIA) Baixo Custo WabcoDocumento24 páginas(PROVIA) Baixo Custo WabcoJohn Davis Mantovani SandovalAinda não há avaliações
- Modelo - Projeto - Engenharia de SoftwareDocumento14 páginasModelo - Projeto - Engenharia de Softwarelucas senaAinda não há avaliações
- Dicionário Temático Desenvolvimento e Questão SocialDocumento52 páginasDicionário Temático Desenvolvimento e Questão SocialMárcia Esteves De Calazans67% (3)
- Capitulo 1 - RespostasDocumento6 páginasCapitulo 1 - RespostasSeção CapacitaçãoAinda não há avaliações
- Transbordo Antoniosi Ata 10500Documento2 páginasTransbordo Antoniosi Ata 10500rodolfo rodriges'Ainda não há avaliações
- Aula 1 - Teoria Geral Do DireitoDocumento41 páginasAula 1 - Teoria Geral Do DireitoscarlatAinda não há avaliações
- Argumentação Contra LegemDocumento18 páginasArgumentação Contra LegemLilyen302Ainda não há avaliações
- FISPQ MOBIL - Mobiltemp SHC 32Documento10 páginasFISPQ MOBIL - Mobiltemp SHC 32Henrique CáfaroAinda não há avaliações
- Jack VieiraDocumento2 páginasJack VieiramidredAinda não há avaliações
- Banesecard Fatura 2022 03 10Documento4 páginasBanesecard Fatura 2022 03 10Rose SiqueiraAinda não há avaliações
- Itamaracá-A Pedra Que CantaDocumento8 páginasItamaracá-A Pedra Que CantaChristopher SellarsAinda não há avaliações
- Trabalho de Gestao EstrategicaDocumento8 páginasTrabalho de Gestao EstrategicaAdão Bila IdalécioAinda não há avaliações
- Vocabulários Úteis para Expressar ObjetivoDocumento8 páginasVocabulários Úteis para Expressar ObjetivoRosilene Nunes da SilvaAinda não há avaliações
- PSS 01 2023 - Edital de Abertura - Professores e Merendeiras-00d8fDocumento19 páginasPSS 01 2023 - Edital de Abertura - Professores e Merendeiras-00d8fMarceloOliveiraAinda não há avaliações
- Manual St10 Flash Pro UsbDocumento45 páginasManual St10 Flash Pro UsbKleber Martins100% (6)
- Resumo de Algumas Organelas-CelularesDocumento3 páginasResumo de Algumas Organelas-CelularesAna Cláudia Do NascimentoAinda não há avaliações
- Alcool GelDocumento29 páginasAlcool GelEduardo Waldmann Sound HealingAinda não há avaliações
- U1S2 Escolas de Terapia Familiar: Do Surgimento Às Escolas de 1 E 2 OrdemDocumento33 páginasU1S2 Escolas de Terapia Familiar: Do Surgimento Às Escolas de 1 E 2 OrdemEduarda MalueAinda não há avaliações
- Livro Arca Do Gosto - Minas GeraisDocumento1.022 páginasLivro Arca Do Gosto - Minas GeraisHélio FrancoAinda não há avaliações