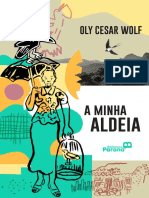Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Panorama Da Literatura Afro-Brasileira
Panorama Da Literatura Afro-Brasileira
Enviado por
Tiago DiasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Panorama Da Literatura Afro-Brasileira
Panorama Da Literatura Afro-Brasileira
Enviado por
Tiago DiasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Panorama da Literatura Afro-Brasileira
Author(s): Edimilson de Almeida Pereira
Source: Callaloo, Vol. 18, No. 4, Literatura Afro-Brasileira: Um Número Especial (Autumn,
1995), pp. 1035-1040
Published by: The Johns Hopkins University Press
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3298939 .
Accessed: 12/06/2014 19:17
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
The Johns Hopkins University Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Callaloo.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.78.144 on Thu, 12 Jun 2014 19:17:27 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
PANORAMA DA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA
by Edimilsonde AlmeidaPereira
Neste panorama da Literatura Afro-brasileira abordaremos autores, autoras e
obras dos seculos XVIII, XIX e a primeira metado do seculo XX. Vamos considerar,
inicialmente, os apsectos do texto panoramico e o debate em torno da expressao
Literatura Afro-brasileira.
O text panoramico se caracteriza pelo seu didatismo e pelas suas limitac6es. 0
didatismo, aqui, tem por objetivo apresentar ao leitor a organizac,o da Literatura
Afro-brasileira seguindo a cronologica de vida dos autores. As limitac6es do texto
panoramico decorrem da aprecic,o horizontal dos assuntos (que ndo sao analisados
em detalhes), da dimensao restrita do pr6prio texto (que se op6e ao longo periodo
hist6rico-literario a ser comentado) e da interferencia do articulista (que ao selecionar
alguns autores e obras estara',automaticamente, excluindo outros autores e obras).
O debate em torno da expressao Literatura Afro-brasileira vem crescendo com o
intercambio entre autores, criticos e pu'blico atraidos por essa linha de criacao
literairia.Dentre os diversos criterios que tem sido empregados para defini-la, citamos
o criterio etnico (que vincula o obra a origem negra ou mestica do autor) e o criterio
tematico (que identifica o conteuido de procedencia afro-brasileira como caracteriza-
dor da Literatura Afro-brasileira).
Mas, ambos os criterios parecem pouco abrangentes, principalmente quando
observamos o fato de possuirmos, ao longo de nossa formacao literaria, negros e
mesticos escrevendo de acordo com padr6es classicos vindos da Europa, e tambem
autores ndo-negros escrevendo sobre temas de interesse dos afro-brasileiros, tais
como escravidao, revoltas quilombolas e preconceito racial.
A utilizacao sumairiados criterios etnico e tematico para definir a Literature Afro-
brasileira imp6e uma censura previa aos autores negros e nao negros. Julgamos que
e preciso buscar um criterio pluralista, estabelicido por uma orientac,o dialetica, que
possa demonstrar a Literatura Afro-brasileira como uma das faces da Literatura
Brasileira-esta mesma devendo ser percebida como uma unidade constituida de
diversidades.
Do ponto de vista da Hist6ria da Literatura e importante delinear o percurso
responsavel pela fundamentac,o de uma tradigdoliteraria.A tradic,o institui posic6es
conservadoras que fazem do passado a referencia para as atitudes posteriores. No
I am grateful to Professor Leda Maria Martins (UFOP) for critical comments and bibliographical
suggestions.
Reprinted by permission of the author.
Callaloo 18.4 (1995) 1035-1040
This content downloaded from 185.44.78.144 on Thu, 12 Jun 2014 19:17:27 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
CALLAL
C OO-
entanto, a tradio apresenta tracos dinamico, quando as perspectivas de nega-la ou de
reinterpreta-la a situam como fonte de mudancas que apontam em direc,o ao futuro.
A identidade da Literatura Brasileira esta ligada a uma tradifao fraturada, car-
acteristica das areas que passaram pelo processo de colonizaq&o.Os primeiros autores
que pensaram e escreveram sobre o Brasil possuiam formc,o europeia; e mesmo
aqueles que se esforcaram por exprimir uma visao de mundo a partir de experiencias
locais tiveram de faze-lo na lingua herdada do colonizador. Eis o drama do intelectual
no Novo Mundo! A marca de nossa identidade literaria pode estar no reconhecimento
dessa fratura, que nos coloca no intervalo entre a aproximac,aoe o distanciamento das
herancas da colonizacao.
No seculo XIX, os autores do nosso Romantismo trabalharam no sentido de
encontrar os simbolos de nossa identidade nacional. A urgencia do momento levou-
os a estabelerem relac,es entre indianismo e nacionalidade e a saudarem a natureza
como personificac,o da alma brasileira.
Vencidos os imulsos de afirmaqao da especificidade nacional, compreeendeu-se a
importancia de uma nova situac,o, ou seja, inserir a Literatura Brasileira no contexto
da literatura produzida no Ocidente. Os movimentos literarios de fins do seculo XIX
e principios do seculo XX ao tratarem da questao da identidade procuraram faze-lo
mediante a atualizac,o estetica e o intercambio com as vanguardas internacionais.
Um expemplo desse procedimento se encontra no Manifesto da Poesia Pau-Brasil
(1924) de Oswald de Andrade, ativo participante do movimento modernista brasileiro.
A Literatura Afro-brasileira integra a tradigdofraturada da Literatura Brasileira. Por
isso, ela apresenta um momento de afirmacao da especificidade afro-brasileira (em
termos etnicos, psicol6gicos, hist6ricos e sociais) que se encaminha para uma insercao
no conjunto da Literatura Brasileira. A lingua e fator decisivo para a realizac,o desse
percurso. Brasileiros de diferentes origens etnicas expressam sua visao de mundo
atraves de um mesmo sistema linguistico, ou seja, a lingua portuguesa preservada e
transformada de acordo com a dinamica de nosso contexto hist6rico-social e dos
grupos linguisticos que aqui entraram em contato.
A Literatura Afro-brasileira escrita nesse sistema e simultaneamente Literatura
Brasileira que expressa uma visao de mundo especifica dos afro-brasileiros. A dinamica
de tens6es e contradic6es presentes nesse quadro literairionos ajuda a compreender
as atitudes dos autores que recusam ou que valorizam suas origens etnicas;; nos
esclarece tambem sobre a necessidade de denunciar a opressao social e de evidenciar
uma novasensibilidadeque apreenda esteticamente o universo da cultura afro-brasilei-
ra.
A referencia a autores afro-brasileiros se inicia com o poeta e mu'sico mestiqo
DOMINGOS CALDAS BARBOSA (1738-1800). Caldas Barbosa filiou-se ao Arcadis-
mo, escola literaria que seguiu os modelos da antiguidade classica. 0 poeta inseriu na
posia arcade recursos da "fala brasileira", com aspectos do vocabulario mestico da
col6nia. Escreveu modinhas, lundus e seus poemas foram preparados para serem
cantados. Radicou-se em Lisboa, onde pertenceu a Nova Arcadia Lusitana. Obras:
Epitalamio(1777), Viola de Lereno(1798).
O poeta mulato MANUEL INACIO DA SILVA ALVARENGA (1749-1814), tambem
fez parte do Arcadismo. Sua obra se assemelha a de outros arcades, como Tomas
1036
This content downloaded from 185.44.78.144 on Thu, 12 Jun 2014 19:17:27 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
CALLAL OO-
Antonio Gonzaga e Claudio Manuel da Costa, exibindo uma natureza com paisagens
amenas e bucolicas, fazendo a louvacao de pastoras e ninfas, e propondo o equilibrio
das emoc,es. 0 poeta expressou uma visao negativa do homem negro, nas poucas
vezes em que comentou esse tema. Obras: 0 Desertor, poema her6i-comico (1774),
Glaura (1799).
ANTONIO GONQALVESDIAS (1823-1864), filho de uma escrava mestica de indio
e negro (cafuza). Sua obra considerada de maior relevancia se situa no campo do
indianismo, com poemas de significativa forca lirica e epica. 0 tratamento do tema do
negro se dilui em sua poesia, principalmente quando a imagem heroicizada do indio
e erguida como simbolo do nacionalismo brasileiro. Dentro as obras de Goncalves
Dias podems citar: Primeiros cantos (1846), Segundos cantos e Sextilhas de Frei Antao
(1849), Os Timbiras(1857).
LAURINDO JOSE DA SILVA RABELO (1826-1864), poeta mestico, de origem
social modesta, repentista e tocador de violao. Sua produc,o literairiaapresentou uma
diversidade de express6es da cultura popular brasileira e portuguesa aliada as
evocac6es sentimentais dos romanticos.
LUIZ GONZAGA PINTO DA GAMA (1830-1882), filho de negra africana e de
portugues. Foi vendido pelo pai aos dez anos de idade. Libertou-se, estudou, tornou-
se advogado, orador e jornalista. Abracou a causa do abolicionismo e sua obra poetica
reflete o empenho em defender suas orignes etnicas. Usou a saitira para criticar a
sociedade brasileira mestica que pretendia fazer-se europeia. Na poesia, Luiz Gama
rompeu os padr6es de beleza da mulher branca e de atenuacao da Cor atraves da
imagem da mulher morena. 0 poeta cantou liricamente o amor pela mulher negra,
ressaltando sua sensibilidade.
JOAQUIM MARIA MACHADO DE ASSIS (1839-1908), filho de um pintor mulato
e de uma lavadeira dos Acores. E um dos mais consagrados escritores brasileiros e
uma das figuras mais complexas de nossa literatura. Teve formaqao autodidata, lendo
autores que em sua epoca circulavam de modo restrito entre os leitores nacionais.
Conheceu a obra de Swift, Sterne e Leopardi, entre outros. Depois de ter sido
tip6grafo-aprendiz na Imprensa Nacional, ingressou na carreira burocraitica, trabal-
hando no Diario Oficial e na Secretaria da Agricultura.
A obra de Machado de Assis inclui poesia, teatro, cronica, conto e romance. A
enfase dos estudos criticos e o interesse do puiblico tem recaido sobre a sua ficc,o no
conto e no romance. Dentre suas obras citamos a trilogia Memoriaspostumas de Bras
Cubas (1881), Quincas Borba(1892) e Dom Casmurro(1900).
A ficcao machadiana enfocou a psicologia da alta sociedade burguesa no Brasil do
seculo XIX. Em sua poesia ocorrem referencias esparsas ao negro, com o autor
demonstrando preocupac,o em atenuar os apsectos ligados a cor negra. Alguns
criticos leem essa postura de Machado como recusa de sua propria origem etnica.
Outros criticos, no entanto, observam que Machado nao se mostrou indiferent ao
destino dos negros escravos. 0 padrao estetico de seu tempo nao considerava o negro
como tema literairioe o autor se incluiu nesse contexto. Mas, ainda assim, esta para ser
melhor compreendida a relac,o de Machado de Assis, com a questao da identidade
etnico-cultural brasileira. 0 auotr de Quincas Borba foi um dos fundadores e o
primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras.
1037
This content downloaded from 185.44.78.144 on Thu, 12 Jun 2014 19:17:27 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
C A L L A LO O
TOBIAS BARRETODE MENEZES (1839-1889), poeta, soci6logo e filosofo mulato.
Em sua produc,o literairia ndo lidou diretamente com os temas de escravidao.
Formulou discuss6es em torno da identidade racial do mestico, um tema que ganharia
destaque na literatura e na sociologia brasileira. Para Tobias Barreto, o mestico era
uma raca em formacao, pois nao se identificava nem como ariano puro, nem como
africano puro e nem como americano puro. As implicac6es de tais teorias raciais
alimentaram focos problemarticos sobre a realidade etnico-social no Brasil, criando
margens para ideologias de dominacao como a da deomcracia raical brasileira.
ANTONIO GONQALVESCRESPO(1846-1883), poeta, filho de uma mulata brasilei-
ra e de um portugues. Realizou viagens a Portugal; a distancia da terra natal motivou-
lhe a escritura de poemas nostalgicos, com reminiscencias da vida familiar. 0 poeta
expressou uma visao ambigua de sua etnia: ora apresentou o negro com qualidades,
ora recusou sua imagem condicionado pela ideologia que vinculava o negro aos vicios
e defeitos.
JOSE DO PATROCINIO (1853-1905) tornou-se mais conhecido como jornalista e
orador dedicado 'acausa abolicionista. Escreveu obras em prosa de carater realista,
onde evidenciou sua intencao de analisar quest6es sociais. Em Coqueiroou a pena de
morte(1877), Jose do Patrocinio fez a cr'ica da pena capital ainda plicada no paios. No
romance Os retirantes (1877) o autor descreveu a seca no Ceara'e em Pedro Espanhol
(1884) investigou os esquemas de relac6es interraciais no Brasil. A produc,o literairia
de Patrocinio revela a contradic,o nascida da ansia de valorizar o homem negro e da
adocao dos modelos de beleza e harmonia procedentes da cultura ariana.
JOAO DA CRUZ E SOUSA (1861-1898), filho de pais escravos. Foi tutelado ate a
adolescencia pelo marechal Guilherme Xavier de Souza. Trabalhou na imprensa de
Santa Catarina, seu estado natal; escreveu cronicas abolicionistas e percorreu e pais
em uma comphania teatral. As press6es do preconceito racial impediram-no de
assumir o cargo de Promotor na cidade de Laguna. Casou-se com uma jovem negra,
Gavita, de fragil satude mental. 0 casal teve quatro filhos, dois faleceram antes do
poeta. Cruz e Souza faleceu no municipio de Sitio, no estado de Minas Gerais, vitima
de tuberculose.
A obra poetica de Cruz e Souza representa o ponto alto do Simbolismo brasileiro
e inclui os livros Broqueis(1893), Missal (1893), Farois (1900), Ultimos sonetos (1905).
Algumas leituras criticas descrevem o hermetismo do poeta e suas referencias as
"formas alvas, brancas e claras" como mecanismos de rejeic,o de sua cor e origem
social humilde. No entanto, outras interpretac6es, que avaliam o tratamento ambifguo
da cor na obra do poeta, observam a valorizac,ao que ele atribui ao negro.
A tensao na literatura de Cruz e Souza nasce da adoc,o das indicacoes esteticas do
Simbolismo e da vivencia pessoal do homem negro numa sociedade de tradic,o
escrabocrata. 0 entendimento dessa tensao tem revelado lances que contribuiram
para a formac,o da consciencia de negritude no Brasil.
AFONSO HENRIQUES DE LIMA BARRETO(1891-1922), filho de tipografo e de
professora primaria. A origem social modesta, a cor negra e a vida de jornalista pobre
o levaram a desenvolver uma percepcao critica da sociedade de seu tempo movida por
forcas como o paternalismo, o clientelismo e o preconceito racial.
O romance social de Lima Barreto expos as contradic6es de nosso ambiente social:
1038
This content downloaded from 185.44.78.144 on Thu, 12 Jun 2014 19:17:27 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
CALLAL OO-
o ficcionista retratou os subuirbios do Rio de Janeiro e seus personagens, muitos deles
imbuidos do desejo de promover transformac6es sociais em prol dos menos
favorecidos. Dentre suas obras podemos citar: Recordagfesdo escrivao Isai[asCaminha
(1909), Tristefim de PolicarpoQuaresma(1911) e Numa e a Ninfa (1915).
LINO GUEDES (1906-1951), poeta negro, contemporaneo da fase modernista da
literatura brasileira. Em sua obra poetica descreveu as condic6es de vida do negro
estigmatizado pela escravidao e marginalizado pela sociedade do periodo p6os-
abolicionista. Segundo Lino Guedes, o aperfeicoamento educacional e a adoc,o da
moral putiana nos moldes burgueses seriam os caminhos para a ascensao social do
homem de cor. A adocao dessa moral puritana demonstra o interesse do poeta de
inserir o negro no padrao social dominante. Sua obra poetica, em tom prosaico, sup6e
a assimilac,o dos valores da sociedade branca. Entre os seus livros destacamos 0 canto
do cisne preto (1927) e Negro preto, cor da noite (1932).
SOLANO TRINDADE (1908-1974), poeta de intensa participac,o politica, criou
uma obra em linguagem simples voltada para o leitor popular. E considerado um dos
poetas mais expressivos da negritude brasileira contemporanea. Sua obra poetica traz
a reivindicac,o social do negro em busca de melhores condiq6es de vida. Para Solano
Trindade o poeta deve se empenhar na defesa das tradic6es de seu povo e na
construcao de uma sociedade mais justa. Dentre suas obras citamos Poemasd'umavida
simples (1944) e Cantaresao meu povo (1961).
Em torno das escritoras afro-brasileiras pairam dificuldades motivadas, em parte,
pela escassez de informac6es biograificas e bibliograificas. Num interessante artigo da
pesquisadora Maria Lu(ciade Barros Mott, publicado em 1989, encontramos dados
sobre varias autoras que contribuem para formar o quadro de nossa hist6ria literairia.
A obra da professora MARIA FIRMINA DOS REIS,nascida no Maranhao, situa-se
no seculo XIX. Em 1859 a autora publicou o romance Ursula, atribuindo aos escravos
participac,o importante no enredo. A ficc,o da Marina Firmina denunciou a violencia
do escravismo e incorporou reflex6es de cunho social que marcariam o discurso dos
abolicionistas.
A obra de AUTA DE SOUZA (1876-1901) consta do livro Horto, que veio a pu'blico
em 1901. A autora nao trata de temas relativos ao negro brasileiro e sua ascendencia
ndo despertou a atencao dos estudiosos.
CAROLINA MARIA DE JESUS(1914-1977), aliou criac,o literairiae experiencia de
vida para compor uma obra que esta a merecer analises mais detalhadas: Quarto de
despejo(1960), alcancou repercussao internacional, revelando uma producao de carater
documental e de contestac,o social. Seus livro seguintes foram Pedagosdefome (1963)
e Diario de Bitita (1986). A carreira literairiade Carolina Maria de Jesus teve como pano
de fundo uma vida marcada pela miseria. Os dados biograificos presentes em seus
textos ultrapassam o tom confessional para identificar a luta do homem que procura
superar o opressao social.
Ao reconhecermos as limitac6es deste panorama, reconecmos a necessidade de um
emphenho amoroso no sentido de divulgar e debater as linhas dessa criaqco literaria
surgida da realidade brasileira. Nao pretendemos, em nenhum instante, assumir
posturas absolutas, ao contrairio, apresentamos situac6es tensas que atualizam um
caminho revelador de nossa experiencia social, etnica e literairia.
1039
This content downloaded from 185.44.78.144 on Thu, 12 Jun 2014 19:17:27 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
CALLAL OO-
O tema da identidade etnico-cultural do homem negro e um tema entre outros
igualmente importantes da Literatura Afro-brasileira. As informac6es biograficas
sobre os autores contribuem para a compreensao de certos aspectos de suas obras
mas, definitivamente, nao esgotam o campo de representac6es e de significac6es que
tais obras inauguram.
A pr6pria definicao de termo Literatura Afro-brasileira-ou Literatura Negra,
como preferem alguns analistas-e ponto a ser melhor considerado. Como pudemos
observar, a origem etnica e o conteu'do nao sao suficientes para estabelecer a especfi-
cidade da Literatura Afro-brasileira. As contradic6es percebidas nas obras sao indices
de uma identidade que precisa ser buscada tambem nos aspectos da forma, da visao
de mundo, da interac,o de uma nova sensibilidade estetica e social.
BIBLIOGRAFIA
Bernd, Zila. Introduyao a Literatura Negra. Sao Paulo: Brasilense, 1988.
Bosi, Alfred. Hist6ria Concisa da Literatura Brasileira. 2nd ed. Sao Paulo: Cultrix, 1976.
Brookshaw, David. Raqa e Cor na Literatura Brasileira. Trans. Marta Kirst. Porto Alegre: Mercado
Aberto, 1983.
Candido, Antonio. Formafao da Literatura Brasileira. First Volume (1750-1836). 3rd ed. Sao Paulo:
Martins, 1969.
Coutinho, Afranio (direction). A Literatura no Brasil. Volume 1: Prelimanares e Gerneralidades. 3rd
edition, revised and updated. Rio de Janeiro: Jose Olympio; Niteroi: Ed. da Universidade
Federal Fluminense, 1986.
Damasceno, Benedita Gouveia. Poesia Negra no Modernismo Brasileiro. Campinas: Pontes Editores,
1988.
Gomes, Heloisa Toller. 0 Negro e o Romantismo Brasileiro. Sao Paulo: Atual, 1988.
Mott, Maria Lucia de Barros. "Escritoras Negras: Resgatando a Nossa Historia." Papeis Avulsos/13.
Rio de Janeiro: UFRJ, 1989.
1040
This content downloaded from 185.44.78.144 on Thu, 12 Jun 2014 19:17:27 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Você também pode gostar
- A Internacionalização Da Carreira de Adriana LisboaDocumento9 páginasA Internacionalização Da Carreira de Adriana LisboaTiago DiasAinda não há avaliações
- ArtigomarlovaaseffabralicDocumento8 páginasArtigomarlovaaseffabralicTiago DiasAinda não há avaliações
- Hall Stuart Cultura e RepresentacaoDocumento126 páginasHall Stuart Cultura e RepresentacaoTiago DiasAinda não há avaliações
- Manual Selecao Ppglitcult 20221 RetificadoDocumento14 páginasManual Selecao Ppglitcult 20221 RetificadoTiago DiasAinda não há avaliações
- 03 Teoria em Crise (Eneida Maria de Souza) Crítica Cult - TextDocumento129 páginas03 Teoria em Crise (Eneida Maria de Souza) Crítica Cult - TextTiago DiasAinda não há avaliações
- As Particularidades de Funcionamento de Uma Editora Independente 2Documento3 páginasAs Particularidades de Funcionamento de Uma Editora Independente 2Tiago DiasAinda não há avaliações
- Resenha - Nao e Meia Noite Quem QuerDocumento6 páginasResenha - Nao e Meia Noite Quem QuerTiago DiasAinda não há avaliações
- TESE FINAL - Última CorrigidaDocumento256 páginasTESE FINAL - Última CorrigidaTiago DiasAinda não há avaliações
- Referências - LivrosDocumento1 páginaReferências - LivrosTiago DiasAinda não há avaliações
- Uma Grande Angular Sobre A Guerra ColonialDocumento4 páginasUma Grande Angular Sobre A Guerra ColonialTiago DiasAinda não há avaliações
- Z Trabuco PalavraDocumento11 páginasZ Trabuco PalavraTiago DiasAinda não há avaliações
- Notas Sobre Caderno de Memorias Coloniais - EsseDocumento10 páginasNotas Sobre Caderno de Memorias Coloniais - EsseTiago DiasAinda não há avaliações
- As Particularidades de Funcionamento de Uma Editora IndependenteDocumento4 páginasAs Particularidades de Funcionamento de Uma Editora IndependenteTiago DiasAinda não há avaliações
- Joana Tomas Pontes Tese DoutoramentoDocumento420 páginasJoana Tomas Pontes Tese DoutoramentoTiago DiasAinda não há avaliações
- Antoine Compagno - O - Trabalho - Da - CitaçãoDocumento171 páginasAntoine Compagno - O - Trabalho - Da - CitaçãoTiago DiasAinda não há avaliações
- As Guerras Coloniais: A Guerra EDocumento52 páginasAs Guerras Coloniais: A Guerra ETiago Dias100% (1)
- Cancioneiro Do CacauDocumento14 páginasCancioneiro Do CacauTiago DiasAinda não há avaliações
- A Minha AldeiaDocumento53 páginasA Minha AldeiaTiago DiasAinda não há avaliações
- A Poética de Torquato Neto - Uma Viagem Perdida Na NoiteDocumento10 páginasA Poética de Torquato Neto - Uma Viagem Perdida Na NoiteTiago DiasAinda não há avaliações
- UntitledDocumento1.026 páginasUntitledTiago DiasAinda não há avaliações
- As Comunidades Portuguesas No Brasil No PresenteDocumento6 páginasAs Comunidades Portuguesas No Brasil No PresenteTiago DiasAinda não há avaliações
- Guerra - EntrevistaDocumento3 páginasGuerra - EntrevistaTiago DiasAinda não há avaliações
- Editoracaov2 SiteDocumento24 páginasEditoracaov2 SiteTiago DiasAinda não há avaliações
- As Redes Comerciais Africanas e o Estabelecimento Do Tráfico de Escravos Nos Séculos XVI e XVIIDocumento24 páginasAs Redes Comerciais Africanas e o Estabelecimento Do Tráfico de Escravos Nos Séculos XVI e XVIITiago DiasAinda não há avaliações
- Resumo - O QUE É UM AUTORDocumento2 páginasResumo - O QUE É UM AUTORTiago DiasAinda não há avaliações
- Entrevista Com Jean-Marie GleizeDocumento9 páginasEntrevista Com Jean-Marie GleizeTiago DiasAinda não há avaliações
- O Inespecífico e A FormaDocumento13 páginasO Inespecífico e A FormaTiago DiasAinda não há avaliações
- ESSEEEE - O Observador Inicia Hoje A Publicação de Uma Série de Ensaios Sobre A Guerra Colonial PortuguesaDocumento9 páginasESSEEEE - O Observador Inicia Hoje A Publicação de Uma Série de Ensaios Sobre A Guerra Colonial PortuguesaTiago DiasAinda não há avaliações
- Trabalho - AlexsandraDocumento2 páginasTrabalho - AlexsandraTiago DiasAinda não há avaliações