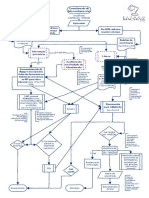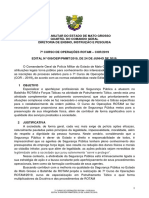Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CONCURSOS PUBLICO - Dicas para Facilitar A Aprovação em Concursos Públicos
CONCURSOS PUBLICO - Dicas para Facilitar A Aprovação em Concursos Públicos
Enviado por
megathalles432Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CONCURSOS PUBLICO - Dicas para Facilitar A Aprovação em Concursos Públicos
CONCURSOS PUBLICO - Dicas para Facilitar A Aprovação em Concursos Públicos
Enviado por
megathalles432Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Dicas para Facilitar a Aprovao em Concursos Pblicos As dicas abaixo no so uma garantia de aprovao, obviamente.
Funcionaram comigo, mas podem no funcionar com outras pessoas, pois cada um tem uma tcnica peculiar de estudo. Alm disso, nem apenas o estudo garante a certeza da aprovao. Em grande parte, o xito do candidato deve-se sorte (sorte de estar psicologicamente bem no dia da prova, sorte de ter estudado as matrias que efetivamente "caram" na prova e, por fim, sorte de ter "chutado bem"). As tcnicas sugeridas servem fundamentalmente para concursos da rea jurdica. 1. Procure no estudar mais do que uma disciplina por semana. Desse modo, o candidato se familiariza mais rapidamente com a matria, podendo aprofundar o estudo naqueles temas clssicos dos concursos pblicos (p. ex., controle de constitucionalidade, desapropriao, aes coletivas etc). No meu caso, j cheguei a estudar a mesma matria por vrias semanas seguidas. 2. Estude os textos das leis e dos cdigos mais importantes. O estudo da lei necessrio, sobretudo para as provas objetivas. Boa parte da informao fica guardada inconscientemente na memria. Assim, por mais que se imagine que de nada valeu a leitura de quinhentos artigos de um determinado cdigo, alguma coisa ficou guardada e ter utilidade no futuro. Eu costumava gravar quando estudava a lei "limpa e seca", a fim de estimular um pouco mais a leitura. 3. Resolva provas de concursos passados. Muitas questes de provas so apenas repeties de concursos passados. Dessa forma, uma tcnica para garantir a aprovao nas provas objetivas resolver o mximo de questes de outros concursos, sobretudo se forem da mesma carreira que o candidato pretende ingressar. Clique aqui e veja algumas questes possveis de serem cobradas em um concurso jurdico. Uma boa tcnica que funcionou no s para mim, mas para outros colegas que fizeram provas comigo, a seguinte: responda com mais trs ou quatro pessoas uma determinada prova de outro concurso passado. Ao invs de fazer logo toda a prova, cada uma das pessoas, isoladamente, dever responder apenas vinte questes. A seguir, confiram em conjunto as respostas, procurando um ajudar ao outro nas questes que no foram respondidas corretamente. Para obter provas de diversos concursos passados vale visitar o site Farol Jurdico (www.faroljuridico.com.br) 4. Leia muitos artigos jurdicos.
Para as provas subjetivas, fundamental aprofundar o estudo em determinadas matrias. Saiba escolher a leitura. Procure ler artigos dos grandes autores (p. ex., em processo civil, Babosa Moreira etc.). 5. Estude mais a matria que voc gosta. Essa dica deve ser observada com cautela. Na verdade, no se trata de estudar o que voc mais sabe, o que no muito til, porm estudar os assuntos mais variados sob uma tica da matria que voc gosta e entenda. Funciona bem para aqueles que, como eu, gostam de direito constitucional, pois possvel estudar quase todos os assuntos sob uma tica constitucional. Em quase todas as provas que eu fiz, fui muito mal nas disciplinas do chamado direito privado (em especial, direito comercial). No vale a pena perder tanto tempo estudando algo que voc simplesmente no consegue entender. O melhor procurar ser muito bom em pelo menos seis ou sete matrias e saber apenas o bsico daquelas que, para voc, so mais difceis. 6. Nas provas subjetivas, responda objetivamente. No preciso dizer que a resposta tem que ser legvel, devendo ser evitados rabiscos. Alm disso, o candidato deve procurar ser o mais objetivo possvel, respondendo a questo sem subterfgios. Ou seja: v direto ao que a questo pede. Seja breve na fundamentao. Mostre conhecimento sem se alongar demais. No utilize uma linguagem difcil. Seja o mais claro possvel. Escreva como se estivesse ensinando, isto , seja didtico em sua resposta (p. ex: numa prova de sentena, ao passar do exame das preliminares para o mrito escreva "Resolvidas as questes preliminares, passa-se ao mrito" e assim por diante). 7. Destaque as palavras e frases principais de sua resposta. Procure realar aquilo que a questo pede. Eu costumava utilizar um marca-texto para destacar a resposta pedida. Por exemplo, na prova subjetiva do concurso de Juiz Federal, houve uma questo cujo enunciado era o seguinte: constitucional o preo de transferncia? A presuno dele decorrente absoluta ou relativa? Ao responder a questo, eu tinha um vago conhecimento sobre o que era o preo de transferncia, o que no seria suficiente para responder satisfatoriamente a questo. Porm, sabia que ele era constitucional e que a presuno dele decorrente era relativa. A minha resposta foi curta (cerca de cinco linhas). Mesmo assim eu realcei, no corpo do texto, exatamente o que a questo pedia (no caso, grifei com marca texto as expresses " constitucional o preo de transferncia" e "a presuno dele decorrente relativa", deixando a fundamentao sem qualquer destaque). Com isso, consegui todos os pontos da questo mesmo sem saber fundamentar corretamente a resposta. 8. Nas provas pesquisadas, leve o maior material de consulta possvel.
Um dos maiores traumas de um candidato no possuir uma determinada lei que foi objetivo de uma questo em uma prova onde permitida a consulta. Dessa forma, tenha em mos o mximo de leis e cdigos possveis, de preferncia as que tenham um ndice para facilitar a consulta. Obviamente, o candidato dever ter uma certa prtica no manuseio do material; do contrrio, a enorme quantidade de leis e cdigos poder, inclusive, atrapalhar. 9. Nas questes subjetivas em que existem vrias respostas possveis, procure explicar cada corrente, informando qual a adotada pelos tribunais ou pela doutrina majoritria. No seja crtico em demasia ao responder uma questo em que h posicionamentos doutrinrios opostos. Nunca se sabe se o responsvel pela correo da prova concorda com o seu ponto de vista. Portanto, procure ser "neutro" nas respostas, informando em que se baseiam as correntes e esclarecendo qual delas adotada pela maioria. No se deve ficar "em cima do muro", pois voc deve dar sua resposta, mesmo que voc no concorde com a maioria. O importante que voc demonstre saber que existem vrias correntes, evitando proferir qualquer juzo depreciativo. 10. Leia os informativos do STF e do STJ O melhor modo de se manter atualizado com o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores acompanhar os informativos que os referidos tribunais divulgam. Vale a pena ler todos, desde os primeiros at os mais recentes. Obtenha todos os informativos do STF clicando nos links abaixo: Arquivo 1 (1.809 KB) - Arquivo 2 (1.493KB)- Arquivo 3 (1.919 KB) 11. Leia as smulas dos Tribunais A leitura das smulas dos Tribunais, sobretudo do STJ, bastante importante. Tente entender como surgiram as dicusses, e sempre procure observar se a smula ainda est em vigor. Ultimamente, o STJ vem cancelando algumas smulas. O STF tambm possui vrias smulas j superadas. preciso ficar atento e atualizado. O STJ dispe de um servio bastante interessante de Jurisprudncia Comparada (http://www.stj.gov.br/netahtml/jcomp.html), onde esto expostas vrias matrias controvertidas, a atual posio do STJ e, s vezes, do STF. Vale a pena conferir. 12. Procure estudar as mais recentes alteraes legislativas (sobretudo constitucionais) e jurisprudenciais As recentes alteraes legislativas so sempre muito exploradas nas provas. Geralmente, exige-se que o candidato esteja bem atualizado. Deses modo, til e
conveniente estudar as leis recentemente aprovadas e, principalmente, as emendas constitucionais. Procure saber como era antes e como ficou depois da alterao. O mesmo ocorre com as mudanas jurisprudenciais. 13. Tente obter ttulos. O ingresso nas carreiras jurdicas mais importantes exige do candidato ttulos. Portanto, corra atrs dos ttulos. Escreva artigos ou mesmo livros sobre temas que voc domina. Se no conseguir publicar em revistas especializadas ou arcar com os custos de uma edio, junte-se com outros candidatos e dividam o custo. No menospreze a qualidade de seus textos. Publique-os. Como regra, no so aceitas publicaes na internet. Mesmo assim, em ltimo caso, divulgue seus trabalhos tambm na internet. Alm de contribuir para a democratizao da informao, voc poder conseguir alguns pontinhos em uma prova de ttulos. 14. Consiga informaes sobre a formao jurdica dos componentes da banca. Vale a pena conhecer o perfil de quem elaborar e/ou corrigir a prova. Leia seus artigos, livros, estudos. Procure saber qual a sua especialidade. 15. Faa o mximo de concursos possveis. A persistncia o maior trunfo para quem quer passar em concurso pblico. Por isso, faa todos os concursos que aparecerem, mesmo se voc no tem inteno de assumir o cargo, pois o que vale a experincia adquirida. Para ficar por dentro dos concursos que esto ocorrendo, vale visitar os sites dedicados aos concursos. Sugiro basicamente dois: CorreioWeb e Folha Dirigida. Geralmente, esses sites trazem informaes bastente teis aos concurseiros Questes possveis de serem cobradas em provas jurdicas Abaixo, selecionei alguns tpicos que costumam ser exigidos em concursos pblicos da rea jurdica. Tentei oferecer um breve comentrio, a fim de facilitar o estudo. Boa parte das questes so da rea do direito pblico, que o ramo do direito que eu domino um pouco mais. Em geral, os tpicos envolvem questes em que houve acirrrada controvrsia doutrinria e jurisprudencial, mas que hoje esto mais ou menos pacificadas. Peo que informem se algum ponto estiver em desconformidade com o posicionamento mais atual, pois, como a jurisprudncia dinmica, pode existir algum tpico desatualizado. Por enquanto, h questes apenas de competncia, direito penal/processo penal e constitucional (direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. Em breve, sero disponibilizadas mais questes. Caso queira obter as questes em formato .doc clique aqui.
1. Questes de competncia:
1.1. Competncia em matria ambiental. Superao da smula 183 do STJ, em face do julgamento do RE 228.955-RS
Comentrio: a Smula 183 do STJ prescrevia que compete ao Juiz Estadual, nas comarcas que no sejam sede de Vara da Justia Federal, processar e julgar ao civil pblica, ainda que a Unio figure no processo. Porm, posteriormente edio da referida smula o STF decidiu que compete Justia Federal processar e julgar ao civil pblica ajuizada pelo Ministrio Pblico Federal com o fim de impedir dano ambiental (CF, art. 109, 1: As causas em que a Unio for autora sero aforadas na seo judiciria onde tiver domiclio a outra parte) (RE 228.955-RS, rel. Min. Ilmar Galvo, 10.2.2000). Em razo disso, julgando os Embargos de Declarao no CC n. 27.676-BA, na sesso de 08/11/2000, a Primeira Seo do STJ deliberou pelo cancelamento da Smula n. 183 (DJ 24/11/00 - pg. 265). Em resumo: prevalece hoje o entendimento de que a competncia para julgamento da ao civil pblica, em matria ambiental, aforada pelo Ministrio Pblico Federal, da Justia Federal, ainda que, na comarca do local do dano, no exista vara da Justia Federal.
1.2. Crimes contra a fauna. Competncia. Superao da smula 91 do STJ com o advento da Lei 9.605/95.
Comentrio: a smula 91 do STJ, baseada na Lei 5.197/67 (art. 1), prescrevia que compete Justia Federal processar e julgar os crimes contra a fauna. Porm, com o advento da Lei 9.605/95, que revogou o art. 1 da Lei 5.197/67, a competncia passou a ser da Justia Estadual, salvo quando houver interesse federal que justifique o deslocamento da competncia Justia Federal. Ou seja, a competncia ser da Justia Federal apenas quando o crime for praticado em detrimento de bens, servios e interesse da Unio, nos termos do art. 109, IV, da CF, por exemplo, quando o crime contra a fauna for cometido em espao territorial objeto de especial proteo federal. Por essa razo, na sesso de 08/11/2000, a Terceira Seo do STJ deliberou pelo cancelamento da Smula n. 91 (DJ 23/11/00 - pg. 101).
1.3. Superao da smula 394 do STF: fim da prerrogativa de foro
Comentrio: a smula 394 do STF que prescrevia que "cometido o crime durante o exerccio funcional, prevalece a competncia especial por prerrogativa de funo, ainda que o inqurito ou a ao penal sejam iniciados aps a cessao daquele exerccio " foi cancelada em 25.8.1999, no julgamento da Questo de Ordem do Inqurito 687. Desse modo, to logo a autoridade detentora de foro privilegiado por prerrogativa de funo saia do cargo que ocupava, no mais persistir o foro privilegiado, devendo ento a exautoridade ser processada e julgada na justia comum de primeiro grau.
1.4. Inexistncia de foro privilegiado em ao popular, ao civil pblica ou ao de improbidade administrativa, ainda que aforadas contra autoridades detentoras de foro especial
Comentrio: segundo entendimento do STF, a competncia do Supremo Tribunal Federal cujos fundamentos repousam na Constituio da Repblica - submete-se a regime de direito estrito. O regime de direito estrito, a que se submete a definio dessa competncia institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Poltica, a afastar, do mbito de suas atribuies jurisdicionais originrias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que no se acham inscritas no texto constitucional (aes populares, aes civis pblicas, aes cautelares, aes ordinrias, aes declaratrias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da Repblica ou contra qualquer das autoridades, que, em matria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurana, esto sujeitas jurisdio imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). "Competncia. Ao Popular contra o Presidente da Repblica. - A competncia para processar e julgar ao popular contra ato de qualquer autoridade, inclusive daquelas que, em mandado de segurana, esto sob a jurisdio desta Corte originariamente, do Juzo competente de primeiro grau de jurisdio. Agravo regimental a que se nega provimento." (RTJ 121/17, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).
1.5. Competncia para Julgar Prefeito por crime da alada da Justia Federal: TRF
Comentrio: segundo entendimento pacificado no STF (Informativo 7), compete Justia Federal de segunda instncia (TRF) o julgamento dos crimes praticados por prefeito em detrimento de bens, servios ou interesse da Unio. Hiptese em que, segundo a jurisprudncia do STF (HC 68.967, DJ de 16.04.93), no se aplica o art. 29, X, da CF. RE 192.461-AP, rel. Min. Moreira Alves, 26.09.95.
1.6. Competncia para julgar autoridades por crime doloso contra a vida (jri ou foro privilegiado?)
Comentrio: caso uma autoridade detentora de foro privilegiado pela Constituio Federal (p. ex. Presidente da Repblica, Governador de Estado, Deputado Federal, Senador etc.) cometa um crime doloso contra a vida, cuja competncia seria, a princpio do jri (art. 5, inc. XXXVIII, d), prevalece, nestes casos, a competncia especial fixada na Constituio Federal, ou seja, prevalece o foro privilegiado. Por outro lado, se a prerrogativa de foro for atribuda no pela Constituio Federal, mas pela Constituio Estadual, ento, neste caso, a competncia ser do tribunal do jri., a no ser em relao aos agentes polticos correspondentes queles que a Constituio Federal outorga tal privilgio (p. ex. Deputado Estadual). Desse modo, a ttulo ilustrativo, se a Constituio Estadual confere ao Procurador do Estado ser processado e julgado pelo Tribunal de Justia, caso um Procurador do Estado cometa um crime doloso contra a vida, dever ser julgado pelo Tribunal do Jri e no pelo Tribunal de Justia. Por outro lado, se a Constituio Estadual confere ao Deputado Estadual a prerrogativa de ser julgado pelo Tribunal de Justia, caso um Deputado Estadual venha a cometer um crime doloso contra a vida, dever ser julgado pelo Tribunal de Justia, pois dever haver paridade de tratamento em relao aos Deputados Federais.
1.7. Recurso ordinrio crime poltico: competncia do STF
Comentrio: a competncia para processar e julgar os crimes polticos da Justia Federal de primeira instncia (art. 109, inc. IV, da CF/88). Contudo, o julgamento do recurso ordinrio referente a tais crimes no da competncia do Tribunal Regional Federal, mas do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. II, b.
1.8. Crime cometido por ndio e contra ndio. Competncia: Justia Estadual, salvo se envolver disputa sobre direitos indgenas, em que a competncia ser da Justia Federal
Comentrio: o art. 109, XI, da CF/88, determina que compete Justia Federal processar e julgar a disputa sobre direitos indgenas. Em razo disso, surgiu a dvida na jurisprudncia acerca de quem seria a competncia para processar e julgar os crimes cometidos por ou contra os ndios. Por isso, o STJ resolveu sumular a matria nos seguintes termos: compete justia comum estadual processar e julgar crime em que o indgena figure como autor ou
vtima (smula 140). Por outro lado, o STF j decidiu que a competncia para julgar a ao penal em que imputada figura do genocdio, praticado contra indgenas na disputa de terras, da Justia Federal. Na norma definidora da competncia desta para demanda em que envolvidos direitos indgenas, inclui-se a hiptese concernente ao direito maior, ou seja, a prpria vida (RE 179485/AM, rel. Min. Marco Aurlio, 10.11.95). Pelo modo em que ficou ementado o referido julgado, fica a impresso de que todo o crime que envolva a vida de um indgena seria da competncia da Justia Federal. Porm, em julgamentos posteriores (RECR 270379/MS), firmou-se o entendimento de que a competncia somente seria da Justia Federal se o crime contra a vida do ndio envolvesse disputa de terras. Desse modo, como resumo temos que Os crimes cometidos por silvcolas ou contra silvcolas, no configurando disputa sobre direitos indgenas e nem, tampouco, infraes praticadas em detrimento de bens e interesse da Unio ou de suas autarquias e empresas pblicas, no se inserem na competncia privativa da Justia Federal (CF, art. 109, inc. XI) (RE-263010 / MS, rel. Min. Ilmar Galvo, 15/6/2000). E mais: Compete justia estadual o julgamento de crime comum cometido por ndio, em que no tenha havido disputa sobre direitos indgenas, ainda que ocorrido dentro de reserva indgena.
1.9. Exceo da Verdade e Prerrogativa de Foro: Competncia
Comentrio: a exceo da verdade, quando deduzida nos crimes contra a honra que autorizam a sua oposio, deve ser admitida, processada e julgada, ordinariamente, pelo juzo competente para apreciar a ao penal condenatria. Tratando-se, no entanto, de exceo da verdade deduzida contra pessoa que dispe de prerrogativa de foro, a competncia para o julgamento da exceo da verdade do Tribunal competente para julgar a pessoa com tal prerrogativa. Segundo entendimento do STF, a atribuio da Corte, nestes casos, restringir-se-, unicamente, ao julgamento da exceo, no assistindo, ao Tribunal, competncia para admiti-la, para process-la ou sequer para instru-la, razo pela qual os atos de dilao probatria pertinentes ao procedimento incidental (exceo da verdade) devero ser promovidos na instncia ordinria competente para apreciar a causa principal (ao penal condenatria).
1.10. Funcionrio pblico federal: competncia
Comentrio: a Lei 8.112/90, em sua verso inicial, possua um dispositivo atribuindo Justia do Trabalho a competncia para julgar as causas relativas ao funcionalismo pblico federal, tanto dos celetistas quanto dos estatutrios (submetidos ao regime jurdico nico). O referido dispositivo, contudo, foi vetado pelo Presidente da Repblica. Posteriormente, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial, restaurando o dispositivo. Porm, o Supremo Tribunal Federal, julgando Ao Direta de Inconstitucionalidade, decidiu que o
dispositivo seria inconstitucional, declarando a nulidade do dispositivo. Em face disso, pode-se dizer que a competncia para julgar as causas entre os servidores pblicos federais e a Unio ou autarquia, empresa pblica federal ou fundao pblica federal da Justia Federal, salvo se as vantagens pretendidas se referirem ao perodo em que os referidos servidores eram submetidos s regras da CLT, hiptese em que a competncia ser da Justia do Trabalho. nesse sentido a smula 97 do STJ: compete Justia do Trabalho processar e julgar reclamao de servidor pblico relativamente a vantagens trabalhistas anteriores instituio do regime jurdico nicos. Observe-se, contudo, que, de acordo com a smula 173 do STJ, compete justia federal processar e julgar o pedido de reintegrao em cargo publico federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituio do regime jurdico nico.
1.11. Imunidade de jurisdio e Estado Estrangeiro
Comentrio: segundo entendimento do STF, o Estado estrangeiro no dispe de imunidade de jurisdio, perante rgos do Poder Judicirio brasileiro, quando se tratar de causa de natureza trabalhista (RE 222368, rel. Min. Celso de Mello).
1.12. Competncia originria do STF: art. 102, inc. I, f
Comentrio: de acordo com entendimento do STF, a competncia originria concedida ao STF pelo art. 102, I, f, da CF (para julgar "as causas e os conflitos entre a Unio e os Estados, a Unio e do Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administrao indireta;") diz respeito, to-s, queles litgios que possam provocar situaes caracterizadoras de conflito federativo, devendo a competncia ser afastada quando no coloca em risco o pacto federativo (entre outros: MS (QO) 23.482-DF, rel. Min. Ilmar Galvo, 20.2.2002).
1.13. Competncia originria do STF: CF, art. 102, I, n
Comentrio: decidiu o STF que a competncia originria do STF para o julgamento das causas em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos (CF, art. 102, I, n) pressupe que esse impedimento haja sido efetivamente declarado. AO (QO) 588-PA, rel. Min. Moreira Alves, 3.10.2000.
Alm disso, tambm decidiu o STF que a referida norma s se aplica quando a matria versada na causa diz respeito a privativo interesse da magistratura como tal, e no quando tambm interessa a outros servidores e empregados em geral. Frise-se ainda que a competncia originria concedida ao STF pelo art. 102, I, n, da CF (para julgar "a ao ... em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.") diz respeito, to-s, a competncias jurisdicionais e no a atribuies de carter meramente administrativo.
1.14. Competncia originria do STF: CF, art. 102, I, d
Comentrio: segundo entendimento do STF, as recomendaes do TCU no possuem carga decisria suficiente para acarretar a competncia originria do STF para processar e julgar mandados de segurana contra as referidas recomendaes do TCU (CF, art. 102, I, d).
1.15. Competncia para julgar o Advogado-Geral da Unio
Comentrio: reconheceu a sua competncia para conhecer e julgar queixa-crime contra o Advogado-Geral da Unio, tendo em vista a edio da Medida Provisria 2.049-22, de 28.8.2000, que transforma o mencionado cargo de natureza especial em cargo de ministro de Estado, atraindo, portanto, a incidncia do art. 102, I, c, da CF ("Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituio, cabendo-lhe: I processar e julgar, originariamente: ... c) nas infraes penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, ...").
2. Questes de direito penal/processual penal
2.1. Progresso de regime: crime hediondo, tortura e crime organizado.
Comentrio: a Lei 8.072/90 (art. 2, 1) impe aos condenados por crime hediondo o cumprimento integral da pena em regime fechado. Porm, a Lei 9.455/97 assegura ao condenado por crime de tortura o instituto da progresso do regime de cumprimento da
pena (art. 1, 7). Segundo o STF, os dois dispositivos convivem harmonicamente no sistema, no havendo que se falar em derrogao do art. 2, 1, da Lei 8.072/90 (HC 76.731-SP) pela Lei de Tortura. Desse modo, o condenado por crime hediondo dever cumprir a pena integralmente em regime fechado, enquanto o condenado por crime de tortura poder ser beneficiado pela progresso do regime. Soa estranho, mas foi assim que o STF decidiu. A lei 9.034/95, que trata dos crimes praticados por organizaes criminosas (crime organizado), por sua vez, determina que os condenados por crimes decorrentes de organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado.
2.2. Sursis em crime hediondo
Comentrio: segundo entendimento do STF (informativo 24 - HC 72.697-RJ, rel. orig. Min. Ilmar Galvo, rel. p/ ac. Min. Celso de Mello, 19.03.96), o instituto do sursis incompatvel com o tratamento penal dispensado pelo legislador aos condenados pela prtica dos chamados "crimes hediondos" (Lei 8072/90, art. 2, 1: "a pena por crime previsto neste artigo ser cumprida integralmente em regi-me fechado").
2.3. Substituio de Pena e Crime Hediondo
Comentrio: conforme noticia o informativo 200 (HC-80207), o STF entendeu que o benefcio da substituio de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos previsto no art. 44 do CP, com a redao dada pela Lei 9.714/98 ("As penas restritivas de direito so autnomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade no superior a quatro anos e o crime no for cometido com violncia ou grave ameaa pessoa..."), por ser regra geral, no se aplica aos crimes hediondos, cuja pena deve ser cumprida integralmente em regime fechado por se tratar de crime hediondo, nos termos do art. 2, 1, da Lei 8.072/90. Precedentes citados: HC 79.567-RJ (DJU de 3.3.2000) e HC 80.010-MG (DJU de 18.8.2000). HC 80.207-RJ, rel. Min. Nelson Jobim, 29.8.2000.(HC-80207)
2.4. Teoria dos frutos da rvore envenenada
Comentrio: de acordo com a teoria dos frutos da rvore envenenada (traduo da expresso americana fruits of the poisons tree), a prova ilcita contamina as provas
obtidas a partir dela. O STF, em deciso bastante controvertida (6 a 5 - HC 72.588-PB, rel. Min. Maurcio Co rra, 12.06.96), acolheu esta tese, determinando o trancamento de ao penal por crime de trfico de entorpecentes, em que o flagrante apreenso de 80 quilos de cocana e demais provas s foram possveis em virtude de interceptaes telefnicas consideradas ilegais (pois foram produzidas antes de promulgada a lei de escuta telefnica). A composio atual do STF ainda no se manifestou sobre o assunto. possvel que haja uma mudana de posicionamento. O STJ, contudo, tem sido mais flexvel na admissibilidade de provas derivadas de provas ilcitas, com base no princpio da proporcionalidade.
2.5. Denncia genrica nos crimes societrio ou de autoria coletiva
Comentrio: Segundo entendimento dominante no STF, em se tratando crime societrio, a denncia dever discriminar a relao entre as obrigaes administrativas de cada scio e o ato ilcito que lhe est sendo imputado, sob pena de violar o princpio da ampla defesa. Embora no se exija que a denncia descreva de forma individualizada a conduta de cada indiciado, exige-se, ao menos, que ela contenha a relao entre o delito praticado e as responsabilidades administrativas de cada indiciado, no sendo admitida a imputao genrica (HC 79.399-SP, rel. Min. Nelson Jobim 26.10.99 informativo 168). O STJ, por sua vez, entende que nos crimes societrios, em que no se mostre possvel desde logo a individualizao dos comportamentos, a denncia pode conter narrativa genrica, sendo prescindvel a descrio pormenorizada da participao de cada acusado. No haveria prejuzo ampla defesa, pois exige-se a exposio do fato criminoso com suas circunstncias, a qualificao dos acusados, a classificao do crime e oferecimento do rol das testemunhas da acusao. Entendimento diverso inviabilizaria por completo a atuao do Ministrio Pblico nos crimes societrios, tolhendo do dominus litis a oportunidade de provar o que alega.
2.6. Priso preventiva e presuno de inocncia
Comentrio: O STF tem entendido que a regra do art. 594 do CPP - "o ru no poder apelar sem recolher-se priso,(...)" - continua em vigor, no tendo sido revogada pela presuno de inocncia do art. 5, LVII, da CF - que, segundo a maioria, concerne disciplina do nus da prova -, nem pela aprovao, em 28.05.92, por decreto-legislativo do Congresso Nacional, do Pacto de S. Jose, da Costa Rica (HC 72.366-SP, rel. Min. Nri da Silveira, sesso de 13.09.95 informativo 5). E mais: a antecipao cautelar da priso qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (priso temporria,
priso preventiva ou priso decorrente da sentena de pronncia) - no se revela incompatvel com o princpio constitucional da presuno de no-culpabilidade (RTJ 133/280 - RTJ 138/216 - RTJ 142/855 - RTJ 142/878 - RTJ 148/429 - HC 68.726-DF, Rel. Min. NRI DA SILVEIRA). Por outro lado: - o benefcio da apelao em liberdade no se aplica aos recursos extraordinrio e especial, j que eles no tm efeito suspensivo. A ordem de priso, na hiptese, no ofende o princpio da presuno de inocncia (artigo 5LVII da CF) (RHC 74035, rel. Min. Francisco Resek). Tendo em vista que a Lei 9.034/95 - ao versar sobre os meios operacionais para a preveno e represso de crimes resultantes de aes praticadas por organizaes criminosas -, dispe em seu art. 9 que "o ru no poder apelar em liberdade nos crimes previstos nesta lei", no assiste, conseqentemente, ao sentenciado, pelos crimes de quadrilha ou bando, o direito liberdade provisria (STF, HC 80.892-RJ, rel. Min. Celso de Mello, 16.10.2001). O STJ, do mesmo modo, sumulou o entendimento de que "a exigncia de priso provisria, para apelar, no ofende a garantia constitucional da presuno de inocncia". A lei do crime organizado (Lei 9.034/95), em seu art. 10, determina que o ru no poder apelar em liberdade, nos crimes praticados por organizao criminosa.
2.7. Princpio da vedao reformatio in pejus (art. 617 do CPP)
Comentrio: o tribunal no pode agravar a pena quando s o ru tiver apelado. Smula 160 do STF: nula a deciso do tribunal que acolhe, contra o ru, nulidade no argida no recurso da acusao, ressalvados os casos de recurso de ofcio. Assim, a menos que a acusao recorra pedindo o reconhecimento da nulidade, o tribunal no poder decret-la ex officio em prejuzo do ru, nem mesmo se a nulidade for absoluta. Reformatio in pejus indireta. Anulada a sentena condenatria em recurso exclusivo da defesa, no pode ser prolatada nova deciso mais gravosa do que a anulada. Por exemplo: ru condenado a um ano de recluso apela e obtm a nulidade da sentena; a nova deciso poder impor-lhe, no mximo, a pena de um ano, pois do contrrio o ru estaria sendo prejudicado indiretamente pelo seu recurso. Trata-se de hiptese excepcional em que o ato nulo produz efeitos (no caso, o efeito de limitar a pena na nova deciso). A regra, porm, no tem aplicao para limitar a soberania do Tribunal do Jri, uma vez que a lei que probe o reformatio in pejus no pode prevalecer sobre o princpio constitucional da soberania de veredictos. Assim, anulado o Jri, em novo julgamento, os jurados podero proferir qualquer deciso, ainda que mais gravosa ao acusado (e.g. conhecer uma qualificadora que no havia sido conhecida anteriormente). Como j decidiu o STF, "tratando-se de preceito decorrente da lei ordinria (CPP, art. 617), a vedao da reformatio in pejus indireta no se aplica s decises do Tribunal do Jri, cuja soberania assenta na prpria Constituio Federal (art. 5, XXXVIII). Aplica-se, todavia, ao Juiz-Presidente, que no pode, no segundo julgamento, e em face de idntico veredicto, exasperar a pena imposta no primeiro". Obs. No caso de a
sentena condenatria ter sido anulada em virtude de recurso da defesa, mas pelo vcio da incompetncia absoluta, a jurisprudncia no tem aceito a regra da proibio da reformatio in pejus indireta, uma vez que o vcio de tal gravidade que no se poderia, em hiptese alguma, admitir que uma sentena proferida por juiz absolutamente incompetente, tivesse o condo de limitar a pena na nova deciso.
2.8. Ao penal fiscal e o pagamento do tributo como causa extintiva da punibilidade
Comentrio: a Lei n. 8.137/90, em seu art. 14, declarava que ocorreria a extino da punibilidade se o agente promovesse o pagamento do tributo ou da contribuio social antes do recebimento da denncia. H entendimento do STJ no sentido de que o pagamento parcelado do tributo, em relao a fato ocorrido na vigncia da referida lei tambm seria causa de extino da punibilidade (STJ, deciso unnime no HC n. 2.538-5, de 27/04/94, Relator o Ministro Costa Lima, em Revista Brasileira de Cincias Criminais, 11/254). O art. 14 da Lei n. 8.137/90 foi revogado pelo art. 98 da Lei n. 8.383, de 29/11/92, mas os fatos ocorridos sob a sua vigncia esto cobertos pela extino da punibilidade em face da ultratividade da lei mais benigna. De qualquer forma, o art. 34 da Lei n. 9.249, de 26/12/95, revalidou aquele dispositivo, ao preceituar que se extingue a punibilidade dos crimes definidos na Lei n. 8.137/90 e na Lei n. 4.729, de 14/07/65, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuio social, inclusive acessrios, antes do recebimento da denncia. E o parcelamento? H decises do STJ que o admitem e uma nica manifestao do STF aceitando o parcelamento do tributo como forma de extino da punibilidade. Porm, em termos majoritrios, prevalece no STF o entendimento de que o parcelamento no era causa extintiva da punibilidade. Com relao ao crime previdencirio consistente em deixar de recolher, na poca prpria, contribuio ou outra importncia devida Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do pblico h norma prevendo que, embora no extinga a punibilidade, o parcelamento suspende a incidncia da norma incriminadora. Pela sistemtica do REFIS (artigo 15 da Lei 9.964 de 10 de abril de 2000 a disciplina legal a seguinte: "Art. 15. suspensa a pretenso punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1 e 2 da Lei n 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991, durante o perodo em que a pessoa jurdica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver includa no Refis, desde que a incluso no referido Programa tenha ocorrido antes do recebimento da denncia criminal. 1 A prescrio criminal no corre durante o perodo de suspenso da pretenso punitiva. 2 O disposto neste artigo aplica-se, tambm: I a programas de recuperao fiscal institudos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municpios, que adotem, no que couber, as normas estabelecidas nesta Lei;
II aos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13. P. 3 Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurdica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos dbitos oriundos de tributos e contribuies sociais, inclusive acessrios, que tiverem sido objeto de concesso de parcelamento antes do recebimento da denncia criminal". Para maior aprofundamento acerca desse especfico tema, veja-se: Efeitos Penais e Extrapenais do Refins, in http://www.jus.com.br/doutrina/refis6.html
2.9. Imunidade Parlamentar
Comentrio: Muitas questes surgem em torno da chamada imunidade parlamentar. Em primeiro lugar, vale dar uma conferida na Emenda Constitucional 35/2001, que suprimiu, para efeito de prosseguimento da persecutio criminis, a necessidade de licena parlamentar, distinguindo, ainda, entre delitos ocorridos antes e aps a diplomao, para admitir, somente quanto a estes ltimos, a possibilidade de suspenso do curso da ao penal (CF, art. 53, 3 a 5). Conforme relata o informativo 266 (STF), o Supremo entendeu que a EC 35/2001 tem incidncia imediata, aplicando-se, desde logo, s situaes em curso (Inq. N. 1637-SP), de tal modo que a instaurao do processo penal condenatrio, contra membro do Congresso Nacional, j no mais depende da prvia concesso de licena, por parte da Casa legislativa a que pertence o parlamentar, eis que a supervenincia da EC n 35/2001 importou em supresso desse requisito constitucional de procedibilidade, ainda que se trate de infraes penais cometidas em momento anterior ao da promulgao dessa emenda Constituio. Por tal motivo, e vigente a nova disciplina constitucional (EC n 35/2001), h que se considerar prejudicada a solicitao judicial de licena, quando, sobre esta, ainda no se houver pronunciado a Casa legislativa competente. De outro lado, reputar-se- destituda de eficcia jurdica eventual denegao da licena, ainda que manifestada sob a gide do anterior ordenamento constitucional, que regia, de modo mais abrangente, antes do advento da EC n 35/2001, o instituto da imunidade parlamentar em sentido processual. Ainda no que se refere imunidade parlamentar, o STF j decidiu que a imunidade material dos deputados e senadores, prevista na nova redao dada pela Emenda Constitucional 35/2001 ao art. 53 da CF, abrange as opinies, palavras e votos proferidos em virtude da condio de parlamentar, no alcanando as manifestaes sobre matria alheia ao exerccio do mandato ("Os deputados e senadores so inviolveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opinies, palavras e votos"). Informativo 258 (INQ-1710). Decidiu ainda o STF que o suplente, em sua posio de substituto eventual de membro do Congresso Nacional, no goza - enquanto permanecer nessa condio - das prerrogativas constitucionais deferidas ao titular do mandato legislativo, tanto quanto no se lhe estendem as incompatibilidades, que, previstas na Carta Poltica, incidem, unicamente, sobre aqueles que esto no desempenho do ofcio parlamentar (Inq 1684-PR). Do mesmo
modo, o deputado afastado de suas funes para exercer cargo no Poder Executivo no tem imunidade parlamentar. Vale ressaltar tambm que o STF vem decidindo que a imunidade material prevista no art. 29, VIII, da CF ("inviolabilidade dos vereadores por suas opinies, palavras e votos no exerccio do mandato e na circunscrio do Municpio") alcana o campo da responsabilidade civil, ou seja, o parlamentar, alm de no poder ser condenado criminalmente, fica imune a qualquer responsabilizao por perdas e danos, inclusive moral, isto : a inviolabilidade parlamentar elide no apenas a criminalidade ou a imputabilidade criminal do parlamentar, mas tambm a sua responsabilidade civil por danos oriundos da manifestao coberta pela imunidade ou pela divulgao dela.
2.10. Ofensa Propter Officium
Comentrio: tratando-se de ofensa dirigida a funcionrio pblico em razo de seu ofcio (ofensa propter officium), a ao penal, que, a princpio, seria pblica condicionada, pode ser iniciada pelo prprio ofendido, ou pelo Ministrio Pblico mediante representao, pois a previso de ao penal pblica neste caso, segundo entendimento do STF, deve ser entendida como alternativa disposio do ofendido, e no como privao do seu direito de queixa. Esse o novo posicionamento do STF, a partir do inqurito 726 (rel. Min. Seplveda Pertence).
2.11. Ao Penal Popular
Comentrio: a Lei 1.059/50 prev a ao penal popular, atravs da qual "qualquer cidado" parte legtima para denunciar as autoridades nela indicadas por "crimes de responsabilidade" (Presidente da Repblica, Vice-Presidente da Repblica, Ministros de Estado, Procurador Geral da Repblica, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Governadores de Estado e Secretrio de Estado). Ressalte-se que a natureza desta "denncia" no bem de ao penal, mas de mera notitia criminis. A prpria natureza "penal" dos crimes de responsabilidade questionvel. Trata-se, na verdade, de infrao ou delitos polticos, cuja sano estritamente poltica (perda do cargo e inabilitao temporria para o exerccio de cargos ou funes pblicas). A recente Lei 10.028/2000 acrescentou outras autoridades, nos casos de crimes de responsabilidade especficos que ela menciona (geralmente ligados matria oramentria, por imposio da Lei de Responsabilidade Fiscal). So elas: Presidentes e respectivos substitutos quando no exerccio da Presidncia dos Tribunais Superiores, dos Tribunais de Contas, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribunais de Justia e de Alada dos
Estados e do Distrito Federal, e aos Juzes Diretores do Foro ou funo equivalente no primeiro grau de jurisdio. E mais: Advogado Geral da Unio, Procuradores-Gerais do Trabalho, Eleitoral e Militar, aos Procuradores-Gerais de Justia dos Estados e do Distrito Federal, aos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, e aos membros do Ministrio Pblico da Unio, das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, quando no exerccio de chefia das unidades regionais ou locais das respectivas instituies. Veja-se o que diz um dispositivo acrescentado Lei 1.079/2000, pela Lei 10.028/2000: "respeitada a prerrogativa de foro que assiste s autoridades a que se referem o pargrafo nico do art. 39-A e o inc. II do pargrafo nico do art. 40-A (as acima mecionadas), as aes penais contra elas ajuizadas pela prtica dos crimes de responsabilidade previstos no art. 10 desta lei (crimes contra a lei oramentria) sero processadas e julgadas de acordo com o rito institudo pela Lei n. 8.038, de 28 de maio de 1990, permitindo, a todo cidado, o oferecimento da denncia".
2.12. Ao Penal nos Crimes contra a Ordem Tributria.
Comentrio: determina o art. 83 da Lei 9430/96: "A representao fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributria definidos nos arts. 1. e 2. da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1.990, ser encaminhada ao Ministrio Pblico aps proferida a deciso final, na esfera administrativa, sobre a existncia fiscal do crdito tributrio correspondente". Com a promulgao dessa lei, discutiu-se se a ao penal nos crimes contra a ordem tributria ainda seria pblica incondicionada, podendo ser proposta pelo MP independentemente da representao fiscal da autoridade administrativa ou se, ao contrrio, estaria condicionada referida representao (argindo-se, neste ltimo caso, a inconstitucionalidade da norma, pois se estaria retirando do MP a privatividade da ao penal pblica). Julgando a matria, decidiu o Supremo que a norma no inconstitucional, porquanto: a) dirige-se to somente autoridade administrativa, indicando o momento em que ser oferecida a representao; b) no retira do MP a possibilidade de, independentemente de tal representao, propor desde logo a ao penal pblica.
2.13. Lei de Crime Organizado
Comentrio: vale a pena ler a Lei de Crime Organizado (Lei 9.034/95) que, apesar de conter poucos artigos, traz algumas inovaes, a saber: a) autorizao da ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por organizao criminosa ou a ela vinculado, desde que mantida sob observao e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes (art. 2, inc. II); b) diligncia pr-processual praticada diretamente pelo juiz (art. 3); c) identificao criminal de pessoas
envolvidas com a ao praticada por organizaes criminosas independente da identificao civil (art. 5); d) a pena ser reduzida de um a dois teros quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria. Trata-se da delao premiada, j prevista no art. 9a da Lei dos Crimes Hediondos e no art. 159, 4o, do Cdigo Penal (extorso mediante seqestro); e) fixao de prazo para encerramento da instruo criminal em 81 dias ru preso e de 120, quando o ru estiver solto (art. 8); f) proibio de o ru apelar em liberdade (art. 9); g) incio do cumprimento da pena em regime fechado (art. 10).
2.14. Lei de Crimes Ambientais
Comentrio: a lei de crimes ambientais (Lei 9.605/98) costuma sempre ser cobrada em concursos pblicos. Traz como inovaes, em sntese: a) a possibilidade de a pessoa jurdica ser responsabilizada penalmente, nos casos em que a infrao seja cometida por deciso de seu representante legal ou contratual, ou de seu orgo colegiado, no interesse ou benefcio da sua entidade (art. 3); b) desconsiderao da pessoa jurdica sempre que sua personalidade for obstculo ao ressarcimento de prejuzos causados qualidade do meioambiente (art. 4) etc.
2.15. Prazo do Inqurito
Comentrio: os prazos para concluso do inqurito policial so os seguintes: a) indiciado em liberdade: 30 dias, permitida a prorrogao sempre que o inqurito no estiver concludo dentro do prazo legal b) Indiciado preso: 10 dias, improrrogvel, contado da efetivao da priso Prazos especiais: c) Crimes contra a economia popular: dez dias, estando preso ou no d) Lei Antitxico (10.409/2002): prazo mximo de 15 dias, se o indiciado estiver preso, e de 30 dias, quando solto (art. 29), podendo ser duplicados pelo juiz, mediante pedido justificado da autoridade policial. e) Crimes de competncia da Justia Federal: 15 dias, prorrogvel por igual perodo.
Obs: sendo trfico internacional de drogas, em que a competncia ser da Justia Federal, prevalece o prazo da lei antitxico.
2.16. Dispensabilidade do inqurito policial
Comentrio: o inqurito policial no fase obrigatria da persecuo penal, podendo ser dispensado, caso haja outros meios suficientes para a propositura da ao penal. A Lei 9.099/95 expressamente dispensa o inqurito, ficando a presidncia das diligncias apuratrias a cargo do juiz.
2.17. Lei 10.409/2002 (Represso ao trfico de drogas)
Comentrio: recentemente, foi promulgada a Lei 10.409/2002, com o objetivo de dispor sobre a preveno, o tratamento, a fiscalizao, o controle e a represso produo, ao uso e ao trfico ilcitos de produtos, substncias ou drogas ilcitas que causem dependncia fsica ou psquica, assim elencados pelo Ministrio da Sade. importante ler a referida norma, inclusive os comentrios sobre ela.
2.18. Crime Militar e Juizados Especiais
Comentrio: a princpio, o STF entendeu que a Lei 9.099/95, ao excluir da competncia dos juizados especiais o julgamento dos crimes militares (art. 61: "Consideram-se infraes penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenes penais e os crimes a que a lei comine pena mxima no superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial."), no impedia a aplicao pela justia militar do art. 89 da referida Lei ("Nos crimes em que a pena mnima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou no por esta Lei, o Ministrio Pblico, ao oferecer a denncia, poder propor a suspenso do processo..."). Considerou ainda que a ao penal relativa aos crimes de leses corporais leves e leses corporais culposas de competncia da justia militar (CPM, art. 209 e 210) dependeria de representao do ofendido, conforme o disposto no art. 88 da Lei 9.099/95 ("Alm das hipteses do Cdigo Penal e da legislao especial, depender de representao a ao penal relativa aos crimes de leses corporais leves e leses culposas."). Contudo, a Lei 9.839, de 27.9.99 acrescentou o art. 90-A Lei 9.099/95
estabelecendo que as disposies da Lei dos Juizados Especiais Cveis e Criminais no se aplicam no mbito da Justia Militar. Quanto aplicao temporal dessa norma, o STF entendeu que ela no aplicvel aos crimes ocorridos antes de sua vigncia, tendo em vista que, embora se trate de inovao processual, seus efeitos so de direito material e prejudicam o ru (CF, art. 5, XL).
2.19. Atenuantes e pena aqum do mnimo
Comentrio: aps muita divergncia jurisprudencial e doutrinria, o STJ editou a smula 231 pela qual a incidncia da circunstncia atenuante no pode conduzir reduo da pena abaixo do mnimo legal. Lembra-se que o sistema de individualizao ou dosimetria da pena trifsico. Na primeira fase, o juiz fixa a pena-base, levando em conta os critrios do art. 59, do CP. Na segunda fase, aps fixada a pena-base, o juiz deve levar em conta as circunstncias atenuantes e agravantes que se encontram na parte geral do Cdigo PEnal. Por fim, devem ser aplicadas as causas de aumento ou diminuio da pena que se encontram na parte geral e especial do Cdigo.
2.20. Pessoas jurdicas como sujeito ativo do crime ambiental
Comentrio: a CF/88, em seu art. 225, 3, previu a possibilidade de a pessoa jurdica ser sujeito ativo de delitos ambientais. Confira-se: "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitaro os infratores, pessoas fsicas ou jurdicas, a sanes penais e administrativas, independentemente da obrigao de reparar os danos causados". A lei dos crimes ambientais (Lei 9.605/98) tambm previu a possibilidade de a pessoa jurdica ser responsabilizada penalmente, nos casos em que a infrao seja cometida por deciso de seu representante legal ou contratual, ou de seu rgo colegiado, no interesse ou benefcio da sua entidade (art. 3).
2.21. O princpio do non olet (o dinheiro no tem cheiro)
Comentrio: o resultado econmico auferido com as atividades ilcitas devem ser tributados. Desse modo, constitui em tese crime de sonegao fiscal a ocultao de lucro ou renda por empresa ou pessoa fsica obtidos atravs de atividades criminosas.
3. Questes de Controle de constitucionalidade
3.1. Princpio da reserva de plenrio
Comentrio: A declarao de inconstitucionalidade, em carter difuso (concreto), pelos tribunais, deve observar a clusula da reserva de plenrio, ou seja, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo rgo especial podero os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Pblico (art. 97, da CF/88). Toda vez que o rgo fracionrio de um Tribunal (turma, cmara ou seo) deparar-se pela primeira vez com a possibilidade de declarar a inconstitucionalidade de uma norma infraconstitucional deve submeter a anlise da matria ao rgo Pleno ou ao respectivo rgo Especial, sob pena de nulidade absoluta da deciso que no cumprir esta ordem constitucional. A clusula da reserva de plenrio possui algumas peculiaridades, quais sejam: 1. para a declarao da constitucionalidade de uma lei no necessrio que seja submetida a matria ao pleno ou ao rgo especial, pois, pelo princpio da presuno de constitucionalidade das leis, o prprio rgo fracionrio pode reconhecer a validade constitucional de uma norma; 2. se a norma questionada j foi declarada inconstitucional pelo rgo pleno ou especial do Tribunal ou pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que incidentemente, o rgo fracionrio pode deixar de aplicar a norma, declarando-a inconstitucional sem submet-la novamente ao rgo responsvel. Quanto ao primeiro ponto, a soluo lgica: se toda lei presume-se constitucional, no necessrio, para que seja reconhecida essa constitucionalidade, que seja submetida a matria ao rgo pleno ou especial. Do contrrio, toda vez que fosse aplicar uma lei, o rgo fracionrio deveria submeter a discusso da constitucionalidade dessa norma ao rgo responsvel, o que emperraria o sistema. Quanto ao segundo ponto, o Supremo Tribunal Federal j havia pacificado o entendimento de que a deciso plenria do Supremo Tribunal, declaratria de inconstitucionalidade da norma, posto que incidente, sendo pressuposto necessrio e suficiente a que o Senado lhe confira efeitos erga omnes, elide a presuno de sua constitucionalidade: a partir da, podem os rgos parciais dos outros tribunais acolh-la para fundar a deciso de casos concretos ulteriores, prescindindo de submeter a questo de constitucionalidade ao seu
prprio plenrio (Informativo STF n. 80, DJ de 22.08.1997). Atualmente, a Lei 9.756, de 17 de dezembro de 1998, positivou expressamente esse entendimento, ao acrescentar ao art. 481, do CPC, o pargrafo nico com os seguintes termos: Os rgos fracionrios dos tribunais no submetero ao plenrio, ou ao rgo especial, a argio de inconstitucionalidade, quando j houver pronunciamento destes ou do plenrio do Supremo Tribunal Federal sobre a questo. Como j decidiu o Supremo Tribunal Federal, versando a controvrsia sobre ato normativo j declarado inconstitucional pelo guardio maior da Carta Poltica da Repblica o Supremo Tribunal Federal descabe o deslocamento previsto no art. 97 do referido Diploma maior. O julgamento de plano pelo rgo fracionado homenageia no s a racionalidade, como tambm implica interpretao teleolgica do art. 97 em comento, evitando a burocratizao dos atos judiciais no que nefasta ao princpio da economia e da celeridade. A razo de ser do preceito est na necessidade de evitar-se que rgos fracionados apreciem, pela primeira vez, a precha de inconstitucionalidade argida em relao a um certo ato normativo (RTJ 162/765).
3.2. Teoria da recepo ou da novao
Comentrio: O efeito da inconstitucionalidade material ou formal de uma lei o mesmo: a invalidade da norma. No entanto, inexiste inconstitucionalidade formal superveniente, ou seja, se uma lei foi editada com observncia do processo vigente na poca de sua criao, o fato de uma nova Constituio alterar tal processo no a invalida, desde que seu contedo seja compatvel com a nova Carta. Tratando-se de norma promulgada antes da Constituio, se a incompatibilidade desta norma anterior com a Carta Magna for meramente formal, a norma continua valendo se, sob a gide da Constituio pretrita, fosse formalmente constitucional. Exemplo dessa situao ocorreu com o Cdigo Tributrio Nacional. Na poca em que foi promulgado (1966), no era exigida lei complementar para dispor sobre o sistema tributrio nacional. Atualmente, com a promulgao da Constituio de 1988, ficou estabelecido que somente lei complementar poderia dispor sobre esta matria. Portanto, caso no se aceitasse a recepo de normas formalmente inconstitucionais pela nova Constituio, o CTN estaria revogado. Contudo, isto no ocorre, tendo em vista que, pelo princpio da recepo e da continuidade das normas, ao invs de se revogarem as normas formalmente inconstitucionais, so elas recepcionadas como o novo status exigido. Hoje, portanto, embora tenha sido inicialmente promulgado como Decreto-lei (com fora de lei ordinria), o CTN tem status de lei complementar. Somente uma lei complementar pode alterar-lhe o contedo. Precisa-se ter em mente, contudo, que, a partir do instante em que a nova Constituio entra em vigor, mesmo aquelas normas anteriores que por ela foram recepcionadas ganham um novo fundamento de validade, j que a Constituio outra. Desse modo, h todo um novo ordenamento jurdico a partir da Constituio. Da a necessidade de reinterpretao das normas legais e regulamentares vigentes data da entrada em vigor da nova Constituio,
no se lhes sendo aplicada, automtica e acriticamente, a jurisprudncia forjada no regime anterior (interpretao retrospectiva).
3.3. Controle de constitucionalidade e suspenso da norma pelo Senado
Comentrio: no controle difuso, caso o Supremo Tribunal Federal declare incidenter tantum a inconstitucionalidade de uma lei, deve comunicar esta deciso ao Senado Federal para que seja suspensa a execuo, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional. Neste caso, aps a suspenso da execuo da lei pelo Senado, a deciso do Supremo Tribunal Federal passa a ter efeito contra todos (erga omnes). Trata-se de uma imposio constitucional, prevista no art. 52, inciso X: Compete privativamente ao Senado Federal suspender a execuo, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por deciso definitiva do Supremo Tribunal Federal. Porm, de acordo com entendimento majoritrio, inclusive do prprio STF, a natureza deste ato suspensivo do Senado discricionria, ou seja, cabe ao Senado analisar a oportunidade e convenincia de suspender ou no a execuo da lei declarada inconstitucional por deciso definitiva do Supremo. Vale esclarecer que o Senado Federal pode suspender a execuo tanto de leis federais quanto municipais, distritais e estaduais declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Assinale-se que, no controle concentrado, a suspenso da execuo da lei pelo Senado faz-se desnecessria, pois o efeito da deciso do Supremo j contra todos (erga omnes). Em outras palavras: somente justifica a suspenso da execuo da lei declarada inconstitucional pelo Senado Federal no controle difuso, onde o efeito da deciso judicial apenas entre as partes envolvidas na relao processual.
3.4. Amicus Curiae e ADIN
Comentrio: No estatuto que rege o sistema de controle normativo abstrato de constitucionalidade, o ordenamento positivo brasileiro processualizou a figura do amicus curiae (Lei n 9.868/99, art. 7, 2), permitindo que terceiros - desde que investidos de representatividade adequada - possam ser admitidos na relao processual, para efeito de manifestao sobre a questo de direito subjacente prpria controvrsia constitucional. Observe-se, contudo, que no se admitir interveno de terceiros no processo de ao direta de inconstitucionalidade ou ao declaratria de constitucionalidade (art. 7, da Lei 9.868/99).
3.5. Controle de constitucionalidade de lei anterior CF (direito pr-constitucional)
Comentrio: segundo entendimento do STF, no cabe o controle concentrado de constitucionalidade de lei anterior Constituio, seja atravs de ADIn, seja atravs de ADC. O fundamento, no caso, de que a norma anterior que fosse incompatvel com a Constituio estaria por ela revogada (no-recepcionada) e, portanto, o caso no seria de inconstitucionalidade, mas de mera revogao. Obviamente, possvel a declarao incidenter tantum de incompatibilidade vertical, atravs do controle difuso, da norma prconstitucional em face da nova Constituio. A lei 9.882/99, que trata da ADPF (argio de descumprimento a preceito fundamental), determina que caber argio de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvrsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, includos os anteriores Constituio. Esta norma objeto de ADIn, a qual, por sua vez, ainda no foi julgada at o presente momento.
3.6. Controle da constitucionalidade de lei municipal
Comentrio: a Constituio Federal no prev a possibilidade de controle de constitucionalidade concentrado de norma municipal em face da Constituio Federal. H, contudo, a previso de controle de constitucionalidade concentrado de norma municipal em face da Constituio Estadual, se esta (a Constituio Estadual) assim o prever (art.125, 2, da CF/88: cabe aos Estados a instituio de representao de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituio Estadual, vedada a atribuio de legitimao para agir a um nico rgo).
3.7. Efeitos do controle de constitucionalidade: ex nunc ou ex tunc
Comentrio: os efeitos temporais de uma deciso que declara a inconstitucionalidade de uma norma podem ser retroativos (ex tunc) ou no retroativos (ex nunc), dependendo das hipteses que se explicam. No controle difuso, os efeitos so sempre ex tunc, isto , a norma declarada nula desde a sua origem. J no controle concentrado, h que se distinguir dois momento: o controle em sede cautelar (medida cautelar) e o controle definitivo. O controle concentrado em sede cautelar, ou seja, atravs de medida cautelar em ao direta de inconstitucionalidade, tem efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficcia retroativa (art. 11, 1, da Lei 9.868/99). J a deciso que reconhece em definitivo a inconstitucionalidade de uma norma (seja a ADIN julgada procedente, seja a ADC julgada improcedente) tem, em regra, efeitos retroativos. Contudo, a Lei 9.868/99
prev ressalvas: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razes de segurana jurdica ou de excepcional interesse social, poder o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois teros de seus membros, restringir os efeitos daquela declarao ou decidir que ela s tenha eficcia a partir de seu trnsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado (art. 27).
3.8. Lei da ADPF (Lei 9.882/99)
Comentrio: embora a lei da Argio de Descumprimento a Preceito Fundamental (ADPF) esteja sendo objeto de questionamentos de constitucionalidade perante o STF (ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Nri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231), vale a pena a ler, at porque ela ainda no foi declarada inconstitucional. Os principais pontos de interesse so: a) ser proposta perante o STF e tem por objeto evitar ou reparar leso a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Pblico (art. 1); b) ser cabvel tambm quando for relevante o fundamento da controvrsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, includos os anteriores Constituio; c) podem propor argio de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para a ao direta de inconstitucionalidade; d) no ser admitida argio de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (princpio da subsidiariedade); e) o Supremo Tribunal Federal, por deciso da maioria absoluta de seus membros, poder deferir pedido de medida liminar na argio de descumprimento de preceito fundamental. Em caso de extrema urgncia ou perigo de leso grave, ou ainda, em perodo de recesso, poder o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno. O relator poder ouvir os rgos ou autoridades responsveis pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral da Unio ou o Procurador-Geral da Repblica, no prazo comum de cinco dias. A liminar poder consistir na determinao de que juzes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decises judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relao com a matria objeto da argio de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada; f) se entender necessrio, poder o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a argio, requisitar informaes adicionais, designar perito ou comisso de peritos para que emita parecer sobre a questo, ou ainda, fixar data para declaraes, em audincia pblica, de pessoas com experincia e autoridade na matria. Podero ser autorizadas, a critrio do relator, sustentao oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo; g) a deciso sobre a argio de descumprimento de preceito fundamental somente ser tomada se presentes na sesso pelo menos dois teros dos Ministros; h) ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de argio de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razes de segurana jurdica ou de excepcional interesse social, poder o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois teros de seus membros, restringir os efeitos daquela declarao ou decidir que ela s tenha eficcia a partir de seu trnsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. A deciso que julgar procedente ou improcedente o pedido em argio de descumprimento de preceito fundamental irrecorrvel, no podendo ser objeto de ao rescisria.
3.9. Lei da ADIN e da ADC (Lei 9.868/99)
Comentrio: a Lei 9.868/99 dispe sobre o processo e julgamento da ao direta de inconstitucionalidade (ADIN) e da ao declaratria de constitucionalidade (ADC) perante o Supremo Tribunal Federal. Muitos de seus dispositivos foram apenas consolidaes da jurisprudncia do STF. Vale dar uma conferida nos seus principais pontos: a) os legitimados ativos para ADIN so aqueles citados na CF/88, ou seja, o Presidente da Repblica, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Cmara dos Deputados, a Mesa de Assemblia Legislativa ou a Mesa da Cmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou o Governador do Distrito Federal, o Procurador-Geral da Repblica, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido poltico com representao no Congresso Nacional, confederao sindical ou entidade de classe de mbito nacional; os legitimados para a ADC so: o Presidente da Repblica; a Mesa da Cmara dos Deputados, a Mesa do Senado Federal e o Procurador-Geral da Repblica; b) proposta a ADIN ou a ADC no se admitir desistncia; c) no se admitir interveno de terceiros no processo de ADIN, contudo o relator, considerando a relevncia da matria e a representatividade dos postulantes, poder por despacho irrecorrvel, admitir, observado o prazo fixado no pargrafo anterior, a manifestao de outros rgos ou entidades (amicus curiae); na ADC tambm no caber interveno de terceiros, mas no h qualquer especificao quanto ouvida ou no de amicus curiae; d) decorrido o prazo das informaes, sero ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da Unio e o Procurador-Geral da Repblica, que devero manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias; f) em caso de necessidade de esclarecimento de matria ou circunstncia de fato ou notria insuficincia das informaes existentes nos autos, poder o relator requisitar informaes adicionais, designar perito ou comisso de peritos para que emita parecer sobre a questo, ou fixar data para, em audincia pblica, ouvir depoimentos de pessoas com experincia e autoridade na matria. O relator poder, ainda, solicitar informaes aos Tribunais Superiores, aos Tribunais federais e aos Tribunais estaduais acerca da aplicao da norma impugnada no mbito de sua jurisdio. As informaes, percias e audincias a que se referem os pargrafos anteriores sero realizadas no prazo de trinta dias, contado da solicitao do relator; g) salvo no perodo de recesso, a medida cautelar na ao direta ser concedida por deciso da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, aps a audincia dos orgos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que devero pronunciar-se no prazo de cinco dias. O relator, julgando indispensvel, ouvir o Advogado-Geral da Unio e o Procurador-Geral da Repblica, no prazo de trs dias. No julgamento do pedido de medida cautelar, ser facultada sustentao oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou rgos responsveis pela expedio do ato, na forma estabelecida no Regimento do Tribunal. Em caso de excepcional urgncia, o Tribunal poder deferir a medida cautelar sem a audincia dos rgos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado; h) a medida cautelar, dotada de eficcia contra todos, ser concedida com efeito ex nunc , salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficcia retroativa; i) a concesso da medida cautelar torna aplicvel a legislao anterior acaso existente, salvo expressa manifestao em sentido contrrio; j)
havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevncia da matria e de seu especial significado para a ordem social e a segurana jurdica, poder, aps a prestao das informaes, no prazo de dez dias, e a manifestao do Advogado-Geral da Unio e do Procurador-Geral da Repblica, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que ter a faculdade de julgar definitivamente a ao; k) os legitimados para ao declaratria de inconstitucionalidade so aqueles indicados pela CF/88, ou seja, o Presidente da Repblica; a Mesa da Cmara dos Deputados, a Mesa do Senado Federal e o Procurador-Geral da Repblica; deciso sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente ser tomada se presentes na sesso pelo menos oito Ministros. Efetuado o julgamento, proclamar-se- a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposio ou da norma impugnada se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos seis Ministros, quer se trate de ao direta de inconstitucionalidade ou de ao declaratria de constitucionalidade. Se no for alcanada a maioria necessria declarao constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes Ministros em nmero que possa influir no julgamento, este ser suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, at que se atinja o nmero necessrio para prolao da deciso num ou noutro sentido. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se- improcedente a ao direta ou procedente eventual ao declaratria; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se- procedente a ao direta ou improcedente eventual ao declaratria. Julgada a ao, far-se a comunicao autoridade ou ao rgo responsvel pela expedio do ato. A deciso que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ao direta ou em ao declaratria irrecorrvel, ressalvada a interposio de embargos declaratrios, no podendo, igualmente, ser objeto de ao rescisria. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razes de segurana jurdica ou de excepcional interesse social, poder o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois teros de seus membros, restringir os efeitos daquela declarao ou decidir que ela s tenha eficcia a partir de seu trnsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Dentro do prazo de dez dias aps o trnsito em julgado da deciso, o Supremo Tribunal Federal far publicar em seo especial do Dirio da Justia e do Dirio Oficial da Unio a parte dispositiva do acrdo. A declarao de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretao conforme a Constituio e a declarao parcial de inconstitucionalidade sem reduo de texto, tm eficcia contra todos e efeito vinculante em relao aos rgos.
3.10. Constituio Estadual
Comentrio: o controle concentrado da constitucionalidade dos atos normativos (federais e estaduais), em face da Constituio Federal, exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, os Tribunais Estaduais podem vir a participar do controle concentrado de constitucionalidade, se a Constituio Estadual assim dispuser. Porm, essa fiscalizao, abstrata, em via direta, ocorrer somente no que se refere a anlise da compatibilidade formal e material das leis e atos normativos municipais e estaduais em
relao Constituio Estadual, e no Constituio Federal, j que, neste caso, a fiscalizao compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Observe-se que no possvel o controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos federais em face da Constituio Estadual. A Constituio Estadual tambm pode ser objeto de controle concentrado e difuso perante o Supremo Tribunal Federal em face da Constituio Federal. Interessante observar que segundo entendimento do STF, o tribunal competente para o julgamento da representao de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituio estadual (CF, art. 125, 2) no est impedido de examinar, no exerccio dessa competncia, argio incidente de inconstitucionalidade formulada em face da CF, como questo prejudicial ao julgamento da representao.
3.11. Interpretao conforme a Constituio
Comentrio: o STF tem utilizado bastante a tcnica de interpretao conforme Constituio. Por essa tcnica, declara-se a inconstitucionalidade no de uma norma em si, mas de uma determinada interpretao do texto normativo que seria incompatvel com a CF/88. Desse modo, se possvel extrair de uma dada norma mais de uma interpretao possvel, e uma dessas interpretaes no guarde valor interpretativo compatvel com a Constituio, o STF, pela tcnica de interpretao conforme Constituio, declara que aquela interpretao inconstitucional, preservando a norma no ordenamento jurdico. Em sntese, ocorre o que se costuma chamar de declarao de inconstitucionalidade sem reduo de texto ou sem pronncia de nulidade, atravs da qual, havendo alguma interpretao possvel que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituio, em meio a outras que carreavam para ela um juzo de invalidade, deve o intrprete optar pela interpretao legitimadora, mantendo o preceito em vigor.
3.12. Controle concentrado de ato normativo infra-legal
Comentrio: a ao direta de inconstitucionalidade no instrumento hbil para controlar a compatibilidade de atos normativos infralegais (regulamentos ou decretos) em relao s leis por eles regulamentadas, tendo em vista que as denominadas crises de legalidade, caracterizadas pela inobservncia do dever jurdico de subordinao jurdica lei, escapam do objeto previsto pela Constituio (STF, Adin 264 (AgRg)/DF, rel. Min. Celso de Mello). Tratando-se, porm, de decreto autnomo, isto , que se reveste de contedo normativo prprio a regular diretamente o texto da CF, independentemente de qualquer lei que lhe d
fundamento, o STF tem entendido que nessa hiptese cabe ao direta de inconstitucionalidade (ADInMC 2.075-RJ, rel. Min. Celso de Mello, 7.2.2001).
3.13. Lei de efeitos concretos
Comentrio: no possvel o controle concentrado de inconstitucionalidade (ADIN ou ADC) de atos normativos de efeitos concretos, nem mesmo de leis, pois, nesse caso, a norma teria apenas formalmente a natureza de lei (em essncia, ou seja, materialmente, seria um ato administrativo).
3.14. Controle de constitucionalidade e atos normativos in fieri
Comentrios: o STF j decidiu que no possvel o controle concentrado dos atos normativos in fieri, ou seja, ainda em fase de formao, com tramitao procedimental no concluda. Assim, no cabe o controle concentrado ou em tese de meras proposies legislativas (projetos de lei ou de emenda constitucional). Contudo, possvel o controle difuso de tais atos, em hipteses restritas. O STF, algumas vezes, admitiu essa possibilidade, com limitaes, isto , seria possvel o controle judicial, incidental ou difuso, de constitucionalidade do processo de formao das leis ou de elaborao de emendas Constituio, sempre que, havendo possibilidade de leso ordem jurdico-constitucional, a impugnao vier a ser suscitada por integrantes da Casa Legislativa perante a qual se acham em curso os projetos de lei ou as propostas de emenda Constituio. Terceiros, que no ostentem a condio de parlamentar, ainda que invocando a sua potencial condio de destinatrios da futura lei ou emenda Constituio, no possuem legitimidade para questionar, incidenter tantum, em sede mandamental ou ordinria, a validade jurdico-constitucional de proposta de emenda Constituio ou projeto de lei, ainda em tramitao no Legislativo.
3.15. Controle de constitucionalidade e emenda constitucional
Comentrio: o STF firmou o entendimento de que possvel o controle concentrado das emendas constitucionais, pois o Congresso Nacional, no exerccio de sua atividade constituinte derivada e no desempenho de sua funo reformadora, est juridicamente
subordinado deciso do poder constituinte originrio que, alm de haver imposto restries de ordem circunstancial, inibitrias do poder reformador (art. 60, 1, da CF/88), selecionou, em nosso sistema constitucional, um ncleo temtico intangvel e imune ao revisora da instituio parlamentar, elencados no 4 do art. 60, da CF/88. Em sntese: o Supremo Tribunal Federal j admitiu a possibilidade de controle concentro de normas constitucionais emanadas do poder constituinte derivado (ADIn 939), desde que maculem as garantias de eternidade (clusulas ptreas) enumeradas no 4 do art. 60. Observe-se, contudo, que no possvel o controle de constitucionalidade (seja o concentrado, seja o difuso) de normas constitucionais originrias, pois no h normas constitucionais originrias inconstitucionais. Todas as normas decorrentes do poder constituinte originrio tem a mesma hierarquia jurdica.
3.16. Controle concentrado e efeito vinculante
Comentrio: a Constituio Federal (art. 102, 2) prev que as decises definitivas de mrito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas aes declaratrias de constitucionalidade de lei ou de ato normativo federal produziro efeito vinculante, relativamente aos demais rgos do Poder Judicirio e ao Poder Executivo. No h previso de efeito vinculante no que se refere s decises proferidas em aes direta de inconstitucionalidade. A Lei 9.868/99 (Lei da ADIn e da ADC), por sua vez, prev que a declarao de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretao conforme a Constituio e a declarao parcial de inconstitucionalidade sem reduo de texto, seja em ADIn, seja em ADC, tm eficcia contra todos e efeito vinculante em relao aos rgos do Poder Judicirio e Administrao Pblica federal, estadual e municipal. A Lei 9.882/99 (Lei da ADPF) tambm determina que a deciso na ADPF ter eficcia contra todos e efeito vinculante relativamente os demais rgos do Poder Pblico. O STF vem entendendo que tais dispositivos legais so constitucionais. Frise-se que o STF vem concedendo o efeito vinculante inclusive no julgamento das medida cautelares de ADIN e ADC. Observe-se que o nico efeito prtico de uma deciso vinculante proferida pelo STF que, sendo ela descumprida, o interessado poder interpor uma Reclamao diretamente ao STF para v-la restabelecida. Se a deciso no tiver efeito vinculante, o interessado no poder interpor a Reclamao diretamente no STF, devendo percorrer as vias recursais ordinrias.
3.16. Carter ambivalente da ADIN e da ADC
Comentrio: as aes diretas de inconstitucionalidade e as aes declaratrias de constitucionalidade so ambivalentes ou dplices, pois, atravs delas, possvel declarar tanto a constitucionalidade quanto a inconstitucionalidade de uma norma. Desse modo, proclamada a constitucionalidade da norma impugnada, julgar-se- improcedente a ao direta ou procedente eventual ao declaratria; e, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se- procedente a ao direta ou improcedente eventual ao declaratria.
3.17. A aplicao da norma estrangeira pelo juiz brasileiro e o controle de sua constitucionalidade em face da Constituio estrangeira e brasileira
Comentrio: pelo menos uma vez ( ), o STF decidiu que o juiz brasileiro
3.18. A teoria da desconstitucionalizao das normas constitucionais
Comentrio: a Constituio nova revoga totalmente a Constituio anterior, salvo previso constitucional em contrrio. Logo, a tese da desconstitucionalizao das normas constitucionais no aplicvel na ordem constitucional brasileira.
3.19. ADIn e ofensa reflexa
Comentrio: quando a ofensa Constituio Federal meramente reflexa, no possvel o controle concentrado de constitucionalidade. A ofensa seria reflexa, por exemplo, quando fosse necessrio confrontar o texto normativo impugnado com outra norma infraconstitucional para saber se houve ou no violao Constituio. o que ocorre, por exemplo, no questionamento de uma lei oramentria, cuja anlise de constitucionalidade somente pode ser verificada aps confrontar a lei oramentria com a lei de diretrizes oramentrias. A ofensa CF, no caso, seria meramente reflexa, sendo incabvel, portanto, o controle concentrado de constitucionalidade.
3.20. Declarao de inconstitucionalidade e efeito repristinatrio
Comentrio: se uma lei A revogou uma lei B, e, posteriormente, a lei A declarada inconstitucional, a lei B repristinada, vale dizer, volta a ser vlida. o que se costuma chamar de efeito repristinatrio da declarao de inconstitucionalidade
3.21. A Constituio nova faz as ADIns anteriores perderem o objeto
Comentrio: to logo entre em vigor a Constituio nova, as aes de inconstitucionalidade a ela anteriores devem ser extintas, tendo em vista a perda do objeto.
3.22. Revogada a lei cuja inconstitucionalidade se argia, a ao direta perde o objeto
Comentrio: caso a norma cuja inconstitucionalidade se argia na via direta seja revogada, a ao direta perde o objeto. Caso a referida norma tenha gerado algum efeito, sua constitucionalidade somente poder ser analisada atravs do controle difuso.
4. Questes de Direitos Fundamentais e de Direito Constitucional
4.1. Geraes (dimenses) dos Direitos Fundamentais
Comentrio: o termo geraes dos direitos fundamentais foi utilizado pela primeira vez pelo jurista francs KAREL VASAK sob inspirao dos trs temas da Revoluo Francesa. Assim, as trs geraes de direitos humanos seriam as seguintes: a primeira gerao se refere aos direitos civis e polticos (libert); a segunda gerao aos direitos econmicos, sociais e culturais (galit); e a terceira gerao se refere aos novos direitos de solidariedade (fraternit). O Min. Celso de Mello resumiu bem a abrangncia das trs dimenses dos direitos fundamentais: "enquanto os direitos de primeira gerao (direitos civis e polticos) - que compreendem as liberdades clssicas, negativas ou formais - realam o princpio da liberdade e os direitos de segunda gerao (direitos econmicos, sociais e culturais) - que se identifica com as liberdades positivas, reais ou concretas - acentuam o princpio da igualdade, os direitos de terceira gerao, que materializam poderes de titularidade coletiva atribudos genericamente a todas as formaes sociais, consagram o princpio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de
desenvolvimento, expanso e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade" (STF, MS 22164/SP). Vale ressaltar que, agora, com a globalizao poltica, social, cultural e econmica, BONAVIDES preconiza o surgimento de uma quarta dimenso de direitos, que seriam os direitos democracia (que h de ser necessariamente direta), o direito informao e o direito ao pluralismo.
4.2. No h direitos fundamentais ilimitados
Comentrio: Os direitos fundamentais podem, por natureza, ser limitados, desde que para preservar outros direitos fundamentais. No correto, portanto, dizer que os direitos fundamentais, por estarem expressos em normas constitucionais, so absolutos e ilimitados. Conforme j decidiu o STF, no h, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de carter absoluto, mesmo porque razes de relevante interesse pblico ou exigncias derivadas do princpio de convivncia das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoo, por parte dos rgos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela prpria Constituio. O estatuto constitucional das liberdades pblicas, ao delinear o regime jurdico a que estas esto sujeitas - e considerado o substrato tico que as informa permite que sobre elas incidam limitaes de ordem jurdica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistncia harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pblica ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros (MS 23.452-RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
4.4. Fora jurdica dos tratados: lei ordinria; lei complementar (em matria tributria), extradio, direitos humanos
Comentrio: segundo entendimento do STF, os tratados internacionais ingressam na ordem jurdica interna com a mesma hierarquia jurdica das leis ordinrias. Desse modo, o STF adota a teoria do monismo moderado: o tratado internacional se incorpora no direito brasileiro no mesmo nvel da lei ordinria. Qualquer conflito entre a lei ordinria e o tratado internacional se resolve pelo critrio temporal, ou seja, a norma posterior prevalece sobre a anterior. H basicamente duas excees: a) o CTN, no art. 98, determina que "os tratados e as convenes internacionais revogam ou modificam a legislao tributria interna, e sero observados pela que lhes sobrevenha", de modo que os tratados em matria tributria tem fora hierrquica superior a das leis ordinrias e b) os tratados de extradio, que, pelo critrio da especialidade, tambm prevalecem sobre a lei ordinria.
4.5. Priso Civil do Depositrio Infiel e Equiparados
Comentrio: segundo entendimento do STF, possvel a priso civil do depositrio infiel, mesmo em face do Pacto de San Jos da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em 1992 (Decreto 678/92), que apenas permite a priso por dvidas no caso de descumprimento de obrigao alimentcia (HC 77631, rel. Min. Celso de Mello). Ainda de acordo com o STF, tambm possvel a priso civil do depositrio infiel no caso de alienao fiduciria em garantia (HC 81.319-GO, rel. Min. Celso de Mello, 24.4.2002). O STJ, contudo, h alguns posicionamentos (minoritrios) inadmitindo a priso civil do depositrio infiel, defendendo que deve prevalecer, no caso, o Pacto de San Jos da Costa Rica. Majoritariamente, contudo, prevalece o entendimento de que a priso civil do depositrio infiel possvel. Quanto priso civil do devedor que descumpre contrato garantido por alienao fiduciria, o entendimento do STJ quase pacfico no sentido de que tal priso no possvel, pois, no caso da alienao fiduciria em garantia no se tem um contrato de depsito genuno, portanto o alienante no deve ser equiparado ao depositrio infiel.
4.6. Medidas Provisrias, controle e limitaes. EC 32/2001
Comentrio: a Emenda Constitucional 32/2001 trouxe inmeras inovaes quanto aos limites da medida provisria. Vale citar suas principais inovaes: a) extinguiu a necessidade de convocao extraordinria do Congresso Nacional em caso de recesso (art. 62, caput); b) vedou a edio de medidas provisrias sobre matria: I relativa a: a) nacionalidade, cidadania, direitos polticos, partidos polticos e direito eleitoral; b) direito penal, processual penal e processual civil; c) organizao do Poder Judicirio e do Ministrio Pblico, a carreira e a garantia de seus membros; d) planos plurianuais, diretrizes oramentrias, oramento e crditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, 3; II que vise a deteno ou seqestro de bens, de poupana popular ou qualquer outro ativo financeiro; III reservada a lei complementar; IV j disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sano ou veto do Presidente da Repblica; c) consignou expressamente que Medida Provisria que implique instituio ou majorao de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, s produzir efeitos no exerccio financeiro seguinte se houver sido convertida em lei at o ltimo dia daquele em que foi editada; d) medidas provisrias, ressalvado o disposto nos 11 e 12 perdero eficcia, desde a edio, se no forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogvel uma vez por igual perodo, devendo o Congresso
Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relaes jurdicas delas decorrentes. e) Se a medida provisria no for apreciada em at quarenta e cinco dias contados de sua publicao, entrar em regime de urgncia, subseqentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, at que se ultime a votao, todas as demais deliberaes legislativas da Casa em que estiver tramitando; f) Prorrogar-se- uma nica vez por igual perodo a vigncia de medida provisria que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicao, no tiver a sua votao encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional; g) As medidas provisrias tero sua votao iniciada na Cmara dos Deputados; h) vedada a reedio, na mesma sesso legislativa, de medida provisria que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficcia por decurso de prazo; i)no editado o decreto legislativo a que se refere o 3 at sessenta dias aps a rejeio ou perda de eficcia de medida provisria, as relaes jurdicas constitudas e decorrentes de atos praticados durante sua vigncia conservar-se-o por ela regidas; j)aprovado projeto de lei de converso alterando o texto original da medida provisria, esta manter-se- integralmente em vigor at que seja sancionado ou vetado o projeto; k)as medidas provisrias editadas em data anterior da publicao desta emenda continuam em vigor at que medida provisria ulterior as revogue explicitamente ou at deliberao definitiva do Congresso Nacional.
4.7. Extradio e Priso Perptua
Comentrio: caso o pedido de extradio se refira a crime punido com pena de morte, somente ser concedida a extradio se o Estado requerente comprometer-se a transformar a pena de morte em pena privativa de liberdade. Porm, para o deferimento da extradio, no se exige do Estado requerente o compromisso de comutao da pena de priso perptua, aplicvel ou aplicada ao extraditando, na pena mxima de trinta anos.
4.8. Medida provisria e lei complementar
Comentrio: antes da Emenda Constitucional 32/2001, havia dvida quanto possibilidade de uma medida provisria dispor sobre matria reservada a lei complementar. Atualmente, porm, h expressa vedao constitucional (art. 62, 1, III, da CF/88).
4.9. Leis de ordem pblica e retroatividade
Comentrio: segundo entendimento do STF, tanto as leis de carter meramente dispositivo quanto as leis de ordem pblica, cogentes ou imperativas, subordinam-se ao princpio da irretroatividade das leis, que assegura a intangibilidade do ato jurdico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, em face da ao normativa superveniente do Poder Pblico. Assim, incorreto o posicionamento passado segundo o qual as leis de ordem pblica poderiam retroagir.
4.10. Princpio da Reserva de Jurisdio
Comentrio: o postulado da reserva constitucional de jurisdio importa em submeter, esfera nica de deciso dos magistrados , a prtica de determinados atos cuja realizao, por efeito de verdadeira discriminao material de competncia jurisdicional fixada no texto da Carta Poltica, somente pode emanar do juiz, e no de terceiros, inclusive daqueles a quem se hajam eventualmente atribudo poderes de investigao prprios das autoridades judiciais. por esse princpio que se veda comisses parlamentares de inqurito, por exemplo, praticar atos que a Constituio reservou com exclusividade aos magistrados. Entre essa "reserva de jurisdio" constitucional incluem-se: a priso, salvo flagrante (CF, art. 5, inc. LXI); a busca domiciliar (CF, art. 5, inc. X) e a interceptao ou escuta telefnica (art. 5, inc. XII); exercer o poder geral de cautela judicial: isso significa que uma CPI no pode adotar nenhuma medida assecuratria real ou restritiva do jus libertatis, incluindo-se a apreenso, seqestro ou indisponibilidade de bens ou mesmo a proibio de se afastar do pas. A matria bem controvertida, mas, em linhas gerais, so esses os posicionamentos praticamente pacificados pelo STF. Tem-se entendido que a CPI pode, em carter excepcional, determinar a quebra de sigilo bancrio e telefnico, desde que fundamente a deciso, tal como ocorre com os atos judiciais.
4.11. Possibilidade de quebra de sigilo fiscal por parte do Ministrio Pblico
Comentrio: no MS 21729/DF, o STF entendeu que o Ministrio Pblico teria legitimidade para requisitar informaes e documentos destinados a instruir procedimentos administrativos de sua competncia, inclusive mediante a quebra de sigilo bancrio, pois, no caso, as informaes tratavam de nomes de beneficirios de emprstimos concedidos pelo Banco do Brasil, com recursos subsidiados pelo errio federal, no havendo que se invocar sigilo bancrio para encobrir atividade ilcita em se tratando de informaes e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimnio pblico. Posteriormente, porm, ao julgar o RE 215.301-CE, rel. Min. Carlos Velloso, 13.4.99, o STF decidiu que o Ministrio Pblico no tem legitimidade para, sem interferncia do Poder Judicirio, determinar a quebra do sigilo bancrio.
4.12. Gravao telefnica e prova ilcita
Comentrio: o STF entende que a gravao da conversa telefnica prpria por um dos interlocutores no considerada prova ilcita, podendo, portanto, ser usada como prova em processo civil ou criminal. Porm, a gravao por terceiro de comunicao telefnica alheia, ainda que com a cincia ou mesmo a cooperao de um dos interlocutores, s se admitir como prova se realizada mediante prvia e regular autorizao judicial.
4.13. Princpio da simetria e processo legislativo
Comentrio: os dispositivos da Constituio Federal relativos ao processo legislativo, inclusive as atinentes as regras de iniciativa, so de compulsria observncia pelos demais entes da Federao, na conformidade do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal. Trata-se do princpio da simetria, decorrente do pacto federativo, pelo qual as normas constitucionais federais que regulam o processo legislativo, por demarcarem as relaes entre os poderes e serem normas cogentes, de ordem pblica, so limitaes implcitas que ho de ser, forosamente, observadas pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municpios.
4.14. Medida provisria, requisitos (urgncia e relevncia) e controle judicial
Comentrio: no regime constitucional anterior a 1988, o Supremo Tribunal Federal recusava-se a apreciar os critrios de admissibilidade a que estavam sujeitos os Decretosleis, por entender tratar-se de questo de natureza poltica (entre outros: RE 62.731 e 62.739/67). Aps a entrada em vigor da Constituio de 1988, foi-se evoluindo constantemente no sentido de se admitir o controle dos requisitos da medida provisria, e, hoje, est firmado o entendimento de que possvel, embora excepcionalmente, o controle dos pressupostos da relevncia e urgncia das medidas provisrias (ADIMC-1753 / DF, rel. Ministro SEPULVEDA PERTENCE, 16/04/1998 - Tribunal Pleno, DJ DATA-12-06-98).
Novas Sugestes de Leitura (Roteiro e Dicas)
(clique aqui para ver este texto em verso .doc)
Muita gente continua pedindo dicas de livros e artigos para concursos pblicos, em especial para a magistratura, para o ministrio pblico e para advocacia pblica (PFN, AGU, PGE, PGM). Resolvi fazer um apanhado geral dos temas que mais costumam cair em concursos e fornecer a bibliografia bsica para estudar esses temas. Como no estou muito por dentro dos concursos mais recentes, me baseei nos que fiz, ou seja, no confiem muito nas minhas indicaes, pois j podem existir artigos ou livros mais atualizados e temas mais importantes a serem estudados. Como nunca fiz concurso para o ministrio pblico, as dicas no sero to teis para esse concurso em especfico, mas acho que servem mesmo assim. O roteiro proposto, embora no seja suficiente, pode servir como incio de estudo. Na medida em que for progredindo, os prprios textos indicam outras obras que merecem ser lida e a seu estudo ganhar vida prpria. No adianta querer estudar todos os textos indicados em um ou dois meses. Acho que preciso pelo menos um ano para conseguir dar conta de todas as matrias, a no ser que se tenha tempo e disposio para estudar mais de oito horas por dia. Existem muitas outras obras que podem ser consideradas at melhor do que as que esto indicadas. No entanto, preferi indicar apenas as que eu li. Vou me limitar s matrias que eu sempre costumava me dar bem, pois no adianta dar dicas de direito comercial, por exemplo, se eu nunca conseguia fazer nem a metade das questes. Ento, comeo com direito constitucional.
1. Direito Constitucional
O Direito Constitucional , sem dvida, a matria mais importante em concursos pblicos voltados para a rea jurdica. Vale a pena estudar a fundo essa disciplina, at porque ela tambm til para entender quase todas as outras. Estudando direito constitucional, automaticamente se estuda para tributrio, administrativo, previdencirio etc. Pois bem. E como estudar? Primeiramente, uma leitura bsica da Constituio Federal. Sei que bastante cansativo ler os inmeros dispositivos da nossa "Carta Cidad", mas o esforo valer a pena.
Algumas partes da Constituio devem ser lidas mais de uma vez. Por exemplo, o artigo quinto, a distribuio de competncias, a parte referente Administrao Pblica, o Sistema Tributrio Nacional e a parte referente organizao dos poderes. Vale a pena dar uma olhada nas alteraes (emendas constitucionais) mais recentes. bastante comum cobrarem justamente as mudanas. Para a prova objetiva, vale a pena ler a Constituio mais de uma vez. No preciso decorar todos os artigos tim-tim por tim-tim, nem se desesperar por pensar que voc no fixou quase nada. natural que, nas primeiras leituras, as idias estejam ainda muito difusas. S com o tempo que se conseguir "se acostumar" com os textos. A resoluo de provas objetivas de concursos passados tambm til para fixar o contedo da Constituio. Depois que tiver lido a Constituio, um ponto fundamental estudar controle de constitucionalidade. Muitas questes, subjetivas e objetivas, versam sobre a fiscalizao de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Sugiro, como leitura bem bsica, um material que escrevi intitulado " Algumas lies de direito constitucional". A minha idia era escrever algo mais completo, mas tive preguia e talvez no futuro o termine. De qualquer modo, como leitura inicial, vale a pena dar uma olhada no referido texto. Fundamental, em seguida, ler a Lei 9.868/99 (Lei da Adin/ADC) e a Lei 9.882/99 (Lei da Argio de Descumprimento de Preceito Fundamental). Outro texto interessante o livro do Alexandre de Moraes ("Direito Constitucional", ed. Atlas). Para comear, vale a pena ler apenas a parte sobre controle de constitucionalidade, pois traz o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Lido todo esse material, voc ter uma noo bsica de controle de constitucionalidade. Porm, se quiser se aprofundar mais e se preparar logo para a prova subjetiva, vale a leitura de livros mais avanados, como o do Clmerson Merlin Clve, Gilmar Ferreira Mendes, entre outros. Aps estudar o controle de constitucionalidade, vale dar uma olhada nos princpios constitucionais. importante ler sobre a teoria dos princpios, pois um tema recente e que vem revolucionando o direito constitucional, tendo em vista o reconhecimento da fora normativa potencializada que se est reconhecendo a essa categoria jurdica. H um livro muito bom sobre o assunto: "Conceito de Princpios Constitucionais", ed. RT, de Ruy Samuel Espndola. Porm, esse livro no to fcil de ler, pois muito terico. Assim, o melhor, para ter uma noo bem bsica, ler a parte inicial de um artigo que escrevi intitulado "Princpios constitucionais do processo civil: acesso justia, devido processo, isonomia e contraditrio ". Outro artigo de minha autoria que d uma noo geral sobre o tema " A fora
normativa dos princpios constitucionais ". Para aprofundar (se quiser), vale a leitura do captulo 8 (Dos Princpios Gerais de Direito aos Princpios Constitucionais) do Curso de Direito Constitucional (7a ed.) do professor Paulo Bonavides, que traz uma anlise insupervel do tema. No mesmo embalo, vale estudar Hermenutica Constitucional. Aqui, o livro "Interpretao e Aplicao da Constituio", ed. Saraiva, de Lus Roberto Barroso, excelente. Sua leitura dar uma tima viso do direito constitucional. Considero esse livro um texto fundamental e indispensvel para a compreenso do direito constitucional moderno. Outro livro tambm muito bom sobre o tema o "Manual de Interpretao Constitucional", ed. Saraiva, de Uadi Lmmego Bulos. Outra questo que cobrada em quase todos os concursos versa sobre a teoria da aplicabilidade das normas constitucionais . O livro "Aplicabilidade das Normas Constitucionais", ed. Malheiros, de Jos Afonso da Silva, sempre mencionado, pois foi ele quem desenvolveu a classificao das normas constitucionais que costuma ser adotada (normas de aplicabilidade plena, limitada e contida). No sei se vale a pena ler esse livro j para a prova objetiva. Talvez seja melhor apenas entender a classificao. Para isso, basta ler, por exemplo, o livro de Alexandre de Morais (Direito Constitucional) nessa parte. Uma obra mais avanada "Desenvolvimento e Efetivao das Normas Constitucionais", ed. Max Limonad, de Srgio Fernando Moro. Outro tema de direito constitucional importante para ser estudado so os Direitos Fundamentais. Sou suspeito para falar, pois sou apaixonado pela matria. Por isso, vou me controlar e tentar aconselhar apenas o be-a-b. Com um certo aperto no corao, indico o livro ("Direito Constitucional", ed. Atlas) do Alexandre de Morais, no captulo que fala sobre direitos humanos fundamentais. Esse autor tambm possui um livro especificamente sobre "Direitos Humanos Fundamentais" (ed. Atlas), que praticamente repete o "Direito Constitucional". O livro est longe de ser o melhor sobre os direitos fundamentais, pois deixa de abordar pontos importantes, mas, para concurso, quebra o galho, pois traz o posicionamento do STF. Se quiser fugir do bsico, recomendo o "Curso de Direito Constitucional" (ed. Malheiros) do Prof. Paulo Bonavides e a "Eficcia dos Direitos Fundamentais" (ed. Livraria do Advogado) de Ingo Wolfgang Sarlet. Dentro da temtica dos direitos fundamentais, aconselho o estudo da coliso de direitos fundamentais e da limitao de direitos fundamentais. Sobre o primeiro tema, h um timo livro intitulado "Coliso de Direitos" (ed. Srgio Fabris), de Edlson Pereira de Farias. Recomendo tambm, a respeito do mesmo assunto, o artigo que escrevi sobre "A Hierarquia entre Princpios e a Coliso de Normas Constitucionais". Sobre o segundo, vale a leitura do livro "O princpio da proporcionalidade" (ed. Braslia Jurdica), de Suzana de Toledo Barros, bem como um artigo de Gilmar Ferreira Mendes intitulado "Os Direitos Fundamentais e suas
limitaes: breves reflexes", disponvel no livro "Hermenutica Constitucional e Direitos Fundamentais" (ed. Braslia Jurdica), por sinal, um bom livro. Quase ia me esquecendo. No custa tambm ler alguns artigos e livros de minha autoria sobre direitos fundamentais que esto no site. Especialmente no livro " O Direito Fundamental Ao", abordo alguns pontos importantes dos direitos fundamentais (aplicabilidade direta, mxima efetividade, relatividade, limitaes, proporcionalidade, geraes de direitos etc.). Tambm no se esquea de estudar as recentes smulas editadas pelo STF. Chegando at aqui, j se considere um expert em direito constitucional. Voc ver que as outras disciplinas sero bem melhor compreendidas quando analisadas numa tica constitucional.
2. Processo Civil
O direito processual civil uma das matrias mais importantes para concursos, especialmente para a magistratura e para a advocacia pblica. Nas fases prticas, o processo civil decisivo. Se voc vier do embalo do direito constitucional, vale comear o estudo com uma anlise dos Princpios Constitucionais do Processo Civil. O livro do Nelson Nri Jr. sobre "Princpios Constitucionais Processuais" (ed. Revista dos Tribunais) bem interessante. Veja tambm o meu artigo j citado sobre "Princpios constitucionais do processo civil: acesso justia, devido processo, isonomia e contraditrio ", bem como meu livro sobre "O Direito Fundamental Ao" (um texto mais resumido sobre o direito de ao, tambm de minha autoria, "Limitaes ao direito fundamental ao"). Ainda dentro da temtica de princpios processuais, recomendo a leitura do livro "Princpios do Processo Civil", de Rui Portanova, ed. Livraria do Advogado, que bastante interessante, talvez at mais do que o do Nelson Nri Jr. Vale tambm a leitura do livro "Fundamentos Constitucionais do Processo" (ed. Malheiros), de Francisco Grson Marques de Lima. Aqui, o estudo valer tanto para constitucional quanto para o direito processual. Dentro do tema direito processual propriamente dito, vale uma leitura do livro "Teoria Geral do Processo", ed. Malheiros, da Profa. Ada Pellegrinni, Antnio
Carlos de Arajo Cintra e Cndido Rangel Dinamarco, bem como o livro com o mesmo ttulo do Prof. Jos de Albuquerque Rocha (ed. Malheiros). O "Curso Avanado de Processo Civil" (ed. RT), de Luiz Wambier (coordenador), bem bsico, mas fornece os elementos iniciais do estudo. No leitura obrigatria, mas, na falta de tempo, ele til, at porque traz trechos de diversos outros livros. No mais, h autores clssicos do direito processual. Qualquer livro do Barbosa Moreira, Ovdio Baptista, Slvio de Figueiredo Teixeira, Luiz Marinoni, Vicente Greco, Cndido Dinamarco, Ada Pellegrinni, Kazuo Watanabe, Arruda Alvim etc. aconselhvel. Logicamente, uma leitura do prprio Cdigo de Processo Civil importante. Para a magistratura federal e advocacia pblica, especialmente til ler sobre os livros que tratam da Fazenda Pblica em Juzo. Nesse ponto, h dois livros do Juvncio Vasconcelos Vianna: "Execuo contra a Fazenda Pblica" e a "Efetividade do Processo em face da Fazenda Pblica", ambos da editora Dialtica. muito importante tambm ler temas especficos sobre direito processual civil. Aconselho o estudo dos seguintes temas: a) processo coletivo: interesses difusos, aes coletivas, ao popular, ao civil pblica, mandado de segurana coletivo, legitimidade ativa, acp em matria tributria. Sobre isso, vale ler a parte processual do Cdigo de Defesa do Consumidor, a Lei da Ao Civil Pblica, a Lei da Ao Popular, bem como as obras de Rodolfo Camargo Mancuso. Recomendo, ainda, os seguintes artigos: "A Legitimao para a Defesa dos Interesses Difusos no Direito Brasileiro", Revista da Ajuris 32, de Barbosa Moreira; "A tutela jurisdicional dos interesses difusos", Revista da Ajuris 30, e "Novas Tendncias na Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos", Revista da Ajuris 31, ambos de Ada Pellegrini Grinover. b) desapropriao. Desapropriao um tema importante, que cobrado tanto em processo civil quanto em constitucional e administrativo. Para a parte processual, interessante ler as leis de desapropriao, bem como as smulas do STJ sobre a matria que tratam sobre juros. c) antecipao de tutela: diferenas e fungibilidade entre ao cautelar e antecipao da tutela, possibilidade de antecipao da tutela de ofcio, antecipao da tutela na sentena, recentes alteraes legislativas. H muitos textos sobre antecipao de tutela. Gosto, particularmente, das idias de Luiz Marinoni, mas talvez elas sejam "perigosas" para concurso, j que so muito avanadas. O livro do Teori Albino Zavascki ("Antecipao de Tutela", ed. RT) muito bom. H tambm um livro do Marcelo Guerra ("Estudos sobre o Processo Cautelar", ed. Malheiros) que vale a pena dar uma olhada. H, ainda, um livro
("Medidas Cautelares"), de Jos Maria Rosa Tsheiner, disponvel on-line (www.tex.pro.br- vale uma visita, com calma, a essa pgina). Os artigos que escrevi sobre antecipao de tutela ("Antecipao de Tutela de Ofcio", "Cautelar versus Tutela Antecipada", "O Fim de Processo Cautelar Inominado") no so muito teis para concurso, pois no retratam o posicionamento tradicional sobre o tema. E em concurso, o melhor no polemizar... d) efetividade do processo. um tema da moda. Vale a pena estud-lo. H dois textos clssicos do prof. Barbosa Moreira que merecem ser lidos: "Notas sobre o problema da efetividade do processo", Revista da Ajuris 29, e "Efetividade do Processo e Tcnica Processual", Revista da Ajuris 64. O j citado livro do Juvncio ("Efetividade do Processo em face da Fazenda Pblica") tambm interessante nesse ponto. H um livro clssico de Cndido Rangel Dinamarco ("Instrumentalidade do Processo", ed. Malheiros). Vale a pena l-lo para a prova subjetiva. e) competncia. Trata-se de um tema bastante cobrado. Sugiro a leitura de meu artigo sobre o tema ("critrios para definir a competncia do juzo "). f) recursos: h um livro sobre Teoria Geral dos Recursos, ed. RT, de Nelson Nery Jr. um bom livro, mas talvez seja mais interessante procurar algum que esteja de acordo com as recentes alteraes legislativas. g) ao rescisria: h um bom texto de Slvio de Figueiredo Teixeira sobre o tema ("Ao Rescisria: apontamentos", Revista da Ajuris 46). No mais, recomendo o estudo das questes preliminares, sobretudo para as provas prticas. preciso estar a par de temas como condio da ao (interesse de agir, legitimidade e impossibilidade jurdica do pedido), litispendncia, conexo, prescrio e decadncia etc. Para concursos da Advocacia Pblica (AGU, PFN, Procuradorias do Estado e do Municpio etc), vale estudar a suspenso de segurana. Sugiro o livro do Marcelo Abelha Rodrigues ("Suspenso de Segurana", ed. Revista dos Tribunais).
3. Direito Tributrio
Outra matria relevante o direito tributrio. uma disciplina que, em alguns concursos, precisa ser estudada a fundo. Muitos membros de banca de concursos so bons em direito tributrio e, portanto, um tema que costuma ser bastante cobrado.
Comece lendo com detalhes os dispositivos constitucionais que tratam do Sistema Tributrio Nacional. Leia com cuidado, tentando delimitar cada princpio constitucional tributrio, tentando perceber as excees que a prpria Constituio estabelece para alguns princpios, buscando compreender a essncia das imunidades tributrias e tentando observar as distribuies de competncia em matria fiscal. No se esquea de ler a parte que trata das contribuies previdencirias, l no art. 195. A parte oramentria e a referente repartio de receitas no costuma cair, mas no custa dar uma lida. Seguindo a orientao de tentar levar tudo para o direito constitucional, sugere-se a leitura do livro Curso de Direito Constitucional Tributrio, ed. Saraiva, de Roque Carraza. um livro bastante grande, mas a leitura no to pesada. Um livro menor em tamanho, mas grande em contedo, o do Prof. Hugo de Brito Machado sobre os "Princpios Jurdicos da Tributao na Constituio Federal de 1988", ed. Dialtica. Entrando no direito tributrio infraconstitucional, leia o "Curso de Direito Tributrio", ed. Saraiva, do Prof. Hugo de Brito Machado. O seu "Cdigo Tributrio Nacional Comentado", ed. Atlas, tambm uma boa leitura se houver tempo. Passando para um estudo temtico, til para as provas subjetivas, vale aprofundar os seguintes temas: a) imunidades tributrias: o j citado livro do Carraza contm boas lies de imunidades. b) conceito de tributo: o livro ("Conceito de Tributo no Direito Brasileiro", ed. Forense) de Hugo de Brito Machado muito bom. c) contribuies: um tema difcil, mas importante, pois h muitas discusses prticas. Vale ler artigos que versam sobre esse tema. H alguns muito interessantes na pgina do Procurador da Fazenda Aldemrio (www.aldemario.adv.br). d) compensao: tambm um tema polmico. interessante conhecer as discusses jurdicas em torno desse instituto. Confira o artigo "A Compensao no Direito Tributrio", do Prof. Hugo, na sua pgina (www.hugomachado.adv.br). e) mandado de segurana em matria tributria : h um livro do Prof. Hugo de Brito com essa tema (ed. Dialtica). A propsito, fiz um resumo do referido livro (clique aqui para ver o resumo). Para concursos no mbito estadual, vale uma leitura do livro "ICMS", de Roque Carrazza, ou "Aspectos Fundamentais do ICMS", ed. Dialtica, de Hugo de Brito Machado.
4. Direito Administrativo
Direito Administrativo tambm uma disciplina importante. Antes de tudo, leia detalhadamente os dispositivos constitucionais que tratam da Administrao Pblica. Vale aprofundar o estudo da reforma administrativa, especialmente a Emenda Constitucional 19/1998. O livro mais completo de direito administrativo do Hely Lopes Meirelles. Este livro, porm, foi escrito antes da CF/88 e, na essncia, est ultrapassado. Talvez seja til ler apenas a parte "no constitucionalizada" do direito administrativo, especialmente o captulo referente aos atos administrativos. No vale a pena, por exemplo, estudar licitao e servidor pblico por esse livro, a no ser para compreender alguma definio tcnica. Entre os livros mais recentes, recomendo a da Maria Silvia DiPietro (Direito Administrativo, ed. Atlas). um bom livro. Vale uma leitura atenta do captulo que trata da desapropriao, pois, como se disse, um tema que pode ser cobrado em constitucional, processo civil e administrativo. Alguns temas especficos de direito administrativo devem ser lidos com mais cuidado. Nesse ponto, indico: a) controle jurisdicional da discricionariedade administrativa : especialmente para a prova subjetiva, esse tema importante. Vale uma leitura do livro de Celso Antnio Bandeira de Mello ("Discricionariedade e Controle Jurisdicional", ed. Malheiros) e da Germana de Oliveira Moraes ("Controle Jurisdicional da Administrao Pblica", ed. Dialtica); b) licitao: a leitura da Lei de Licitao (Lei 8.666/95) fundamental. Particulamente til, tambm, a leitura da Lei 8.987/95, que trata da concesso de servio pblico; c) improbidade administrativa: ler a Lei 8.429/92, atentando para a mudana da Lei 10.628/2002. d) agncias reguladoras: um tema recente, que vale a pena dar uma olhada. Para as provas subjetivas que permitem a consulta de legislao, vale levar o mximo de leis que versam sobre direito administrativo. As leis costumam ser bem
explicativas e, s vezes, at com contedo doutrinrio. H vrias leis que contm conceitos de direito administrativo. Veja, por exemplo, o Cdigo de guas. H uma edio da Editora Saraiva muito boa, que divide as leis por assuntos temticos (interesses difusos, estatuto da terra, leis administrativas, leis ambientais etc.).
5. Direito Penal
No gosto de dar indicaes de direito penal, pois esta no minha praia. Mesmo assim, eu costumava me dar relativamente bem nos concursos nessa disciplina. Ento, vou recomendar um roteiro bem primitivo, baseado na forma como estudei. Comece lendo o "Resumo de Direito Penal", de Maximilliano Frher. Os criminalistas que me perdoem, mas este resumo bem razovel. Em seguida, tente ler a parte geral do "Cdigo Penal Anotado", ed. Saraiva, de Damsio de Jesus. Tente ler tambm o "Direito Penal", ed. Saraiva, do Damsio ou do Capez, particularmente os volumes que tratam da parte geral do CP. Procure ler sobre princpios do direito penal. H dois livros que recomendo: o de Luiz Luisi ("Os Princpios Constitucionais Penais", ed. Sergio Fabris) e o de Francisco de Assis Toledo ("Princpios Bsicos de Direito Penal", ed. Saraiva). H alguns temas importantes. Por exemplo, prescrio. O livro do Damsio ("Prescrio Penal", ed. Saraiva) muito bom. A propsito, fiz um resumo do referido livro (clique aqui para ver o resumo). Vale ainda dar uma lida no artigo "Constituio e as Provas Ilicitamente Adquiridas", de Babosa Moreira, publicado na Revista da Ajuris 68.
6. Direito Processual Penal
As mesmas advertncias que fiz em relao ao direito penal se aplicam ao processo penal. Ento, siga minhas recomendaes apenas se no tiver um roteiro mais seguro.
Leia o Cdigo de Processo Penal, de preferncia o Anotado, de Damsio de Jesus. O "Curso de Processo Penal", ed. Saraiva, do Fernando Capez muito bom. Vale a pena l-lo. Tematicamente, recomendo uma leitura sobre os Recursos do Processo Penal (clique aqui e veja um resumo que fiz sobre o tema) e sobre as Nulidades do Processo Penal, onde se aconselha a leitura do livro homnimo (ed. RT) de Ada Pellegrinni Grinover, Antnio Fernandes Scarance e Antnio Magalhes Gomes Filho.
7. Direito Previdencirio
So poucos os concursos que cobram direito previdencirio. Que eu me lembre, apenas o concurso para Juiz Federal e Procurador do INSS. Assim, apenas estude essa matria se realmente tiver em mente esses concursos. Do contrrio, privilegie o estudo de matrias que so cobradas em todos os concursos. De qualquer modo, vamos l. A leitura dos dispositivos constitucionais obrigatria, especialmente da Emenda Constitucional n. 20/1998, bem como da nova reforma da previdncia. Vale tambm a leitura das Leis 8.212/91 e 8.213/91. Estas leis devem ser lidas com cuidado, pois, em algumas partes, no esto atualizadas. No mais, h dois livros que recomendo: "Direito Previdencirio", ed. Quartier Latin, de Miguel Horvath Jnior e o livro "Curso de Direito Previdencirio", ed. Lumen Juris, de Marcelo Leonardo Tavares. Procure se informar a respeito da jurisprudncia em direito previdencirio. As sentenas do site podem servir como ponta p inicial.
8. Direito Ambiental
Recentemente, o direito ambiental vem ganhando importncia nos concursos. importante ler os dispositivos constitucionais que tratam da matria.
Em termos de livros, recomendo o livro de Paulo Affonso Leme Machado ("Curso de Direito Ambiental", ed. Malheiros) e do Vladimir Passos de Freitas ("A Constituio e a Efetividade das Normas Ambientais", ed. Revista dos Tribunais). Tematicamente, vale estudar sobre os princpios do direito ambiental, reparao dos danos ambientais, crimes ambientais, processo civil em matria ambiental. H um texto que escrevi ("A Justia Ambiental e os Tratados Internacionais") que pode servir como base para um estudo mais profundo.
9. Livros e artigos que me influenciaram
No poderia perder a oportunidade de sugerir livros e artigos que influenciaram minha formao jurdica. No so obras voltadas para concursos pblicos, mas auxiliam, em muito, a compreenso do sistema judicirio. Para uma viso crtica do Poder Judicirio, sugiro dois livros: "O Poder dos Juzes", ed. Saraiva, de Dalmo Dallari, e "Estudos sobre o Poder Judicirio", ed. Malheiros, de Jos de Albuquerque Rocha. Para um aprofundamento terico no direito constitucional, recomendo o livro "Direito Constitucional", Ed. Malheiros, de Paulo Bonavides. Alm desse praticamente todos os livros do Professor Paulo so excelentes. Para um timo passeio pelo acesso Justia, vale a leitura do livro clssico "Acesso Justia", ed. Srgio Fabris, de Mauro Cappelletti. Para uma viso crtica da lei, o artigo "A Lei. O Juiz. O Justo", Revista da Ajuris 39, de Amilton Bueno de Carvalho. Esse artigo foi decisivo para minha formao acadmica. A partir dele, decidi ser juiz. Esse mesmo autor tem timos artigos que tratam do papel do magistrado, entre os quais destaco: "Jurista Orgnico: uma Contribuio", Revista da Ajuris 42; "Magistratura e Mudana Social: Viso de um Juiz de Primeira Instncia", Revista da Ajuris 49 e "O Papel dos Juzes na Democracia", Revista da Ajuris 70. Outro autor que muito me influencia como magistrado Jos Renato Nalini. H vrios artigos de sua autoria que pautam minha conduta diria: "Dez recados ao juiz do III milnio", Revista CEJ n 7, "O Artfice do Povir", RePro junho-2000, "Novas Perspectivas no acesso Justia", Revista CEJ n 3, "O Juiz Rebelde", Revista do Instituto dos Advogados de So Paulo, "Reengenharia do Judicirio", Revista da Procuradoria do Estado de So Paulo 43. Alm disso, h dois livros
que merecem ser lidos: "Uma nova tica pra o juiz", ed. RT e "Acesso Justia", ed. RT. Para reforar a crena na fora normativa da Constituio, vale a leitura de dois interessantes livros: "Hermenutica Constitucional: a sociedade aberta dos intrpretes da Constituio: contribuio para a interpretao pluralista e 'procedimental' da Constituio", de Peter Hberle, e "A Fora Normativa da Constituio", de Konrad Hesse, ambos da Srgio Fabris Editor. Para um estudo das tendncias do processo civil, "Novas Linhas do Processo Civil", ed. Malheiros, de Luiz Guilherme Marinoni. Uma viso bem interessante dos direitos humanos pode ser lida em "Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional", ed. Max Limonad, de Flvia Piovesan. Na mesma temtica, recomendo o livro "A Era dos Direitos", ed. Campus, de Noberto Bobbio. O Prof. Rui Portanova tem um interessante artigo ("O Princpio Igualizador", Revista da Ajuris 62), que bastante til para fornecer uma viso humanista do processo.
10. Consideraes finais
Eu possuo boa parte dos artigos indicados no roteiro em verso digital e posso envi-los, por e-mail, para as pessoas que no possuam condies financeiras de adquiri-los. No os coloco diretamente no site, pois no possuo autorizao de seus autores e editoras.Os Cdigos e as Leis citadas so facilmente encontradas na internet (www.amperj.org.br) ou (wwwt.senado.gov.br/legbras/) ou no Google (www.google.com.br) Procurei recomendar apenas os livros de editoras mais conhecidas, a fim de no dificultar a busca. Quase todas as bibliotecas tambm possuem as obras indicadas. O interessante no estudo do direito se envolver com o tema que se est estudando, criar uma intimidade "intelectual" com os autores, cujas obras voc mais gostou de ler, saber qual ser o prximo passo do estudo no porque algum indicou uma determinada obra, mas porque voc est curioso para ler. No basta estudar apenas para passar. Certamente, o objetivo principal ser aprovado. No entanto, mais importante do que isso gostar do direito, j que esse
ser seu trabalho pelo resto da sua vida. Sem gostar do direito, no vale a pena estudar para a magistratura, para o ministrio pblico ou para a advocacia pblica. Enfim, so essas as dicas que posso dar. Espero que sejam teis. No pense que seguindo risca esse roteiro voc ser aprovado em qualquer concurso. Na verdade, a esto apenas os passos iniciais. Passar em concurso exige no apenas estudo, mas gosto pelo direito, sorte, tranqilidade, pacincia, persistncia, f e confiana. No mais, para finalizar, alm de desejar um bom estudo, deixo a seguinte mensagem de Gonzaguinha: "Hoje a semente do Amanh No tenha medo que esse tempo vai passar No se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasa sempre com as manhs Deixe a luz do sol brilhar no cu do seu olhar F na vida, f no homem, f no que vir Ns podemos tudo, ns podemos mais Vamos l pra ver o que ser"
Sugesto de Leitura
Seguem abaixo alguns livros e artigos podem ser muito teis no aprendizado jurdico, no apenas para concursos, mas tambm para entender e gostar do direito como um todo. A lista meramente ilustrativa e, em regra, apenas so comentados livros e artigos que eu li. Direito Constitucional Para concursos: 1. Alexandre de Morais. Direito Constitucional. Ed. Atlas Comentrio: um bom livro para concurseiros, sobretudo por estar bem atualizado. A sua maior falha , na verdade, uma virtude: a ausncia de fundamentao nos posicionamentos jurdicos tomados pelo autor. Muitas vezes, o autor se limita a dizer que a soluo da matria tal porque o Supremo assim decidiu. Ou seja, falta um pouco de viso crtica. Mas isso
ajuda aos concurseiros, pois traz o posicionamento do STF que, afinal, o que interessa nos concursos. 2. Lus Roberto Barros. Interpretao e Aplicao da Constituio. Ed. Saraiva Comentrios: um timo livro, de leitura fcil e bom contedo. Excelente para obter xito nas provas subjetivas. Alm disso, traz posicionamentos atuais da melhor doutrina, inclusive estrangeira. Apresenta uma tima evoluo do princpio do devido processo legal ou da proporcionalidade, que, no seu entender, so semelhantes. 3. Fernando Capez. Curso de Direito Constitucional. Ed. Saraiva. Comentrio: Embora eu nunca tenha lido o livro, vrios amigos meus disseram que excelente. Bem atualizado e objetivo. Para aprofundar: 4. Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. Ed. Malheiros Comentrio: Trata-se da obra mais profunda de direito constitucional no Brasil. O autor uma referncia nacional e internacional. Traz o posicionamento da doutrina estrangeira, sobretudo alem de modo inigualvel. Formidvel o captulo referente aos Direitos Fundamentais. Direito Administrativo Para concursos: 1. Hely Lopes Meirelles. Curso de Direito Administrativo. Ed. Atlas Comentrio: o livro mais completo, porm est um pouco desatualizado, dada a morte do saudoso autor. Deve ser lido com cautela, para no assimilar posicionamentos j ultrapassados. 2. Maria Sylvia Di Pietro. Direito Administrativo. Ed. Atlas. Comentrio: no supera o livro de Hely Lopes, mas, pelo menos, est mais atualizado. A leitura fcil e objetiva. Para aprofundar: 3. Celso Antnio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. Ed. Malheiros.
Comentrio: um bom livro. A linguagem no ajuda muito os menos experientes, pois bastante prolixa. Quanto ao contedo, um dos melhores livros. Direito Processual Civil 1. Luis Rodrigo Wambier e Outros. Curso Avanado de Direito Processual Civil. Ed. Livraria do advogado Comentrio: no chega a ser um livro timo, mas bem resumido, em comparao a outros. 2. Rui Portanova. Princpios de Processo Civil. Comentrio: excelente, sobretudo para as provas subjetivas. Direito Processual Penal 1. Fernando Capez. Curso de Processo Penal. Ed. Saraiva. Comentrios: objetivo, atualizado e de fcil leitura. Excelente para concursos. Direito Penal 1. Damsio de Jesus. Direito Penal. Ed. Saraiva Comentrio: um dos melhores livros para concursos. Bem abrangente e de fcil leitura. 2. Fernando Capez. Curso de Direito Penal. Ed. Saraiva. Comentrio: embora eu nunca tenha lido, alguns amigos disseram que muito bom 3. Maximiliano Fhrer. Resumo de Direito Penal. Ed. Malheiros Comentrio: em menos de trs horas de leitura, voc consegue se familiarizar com a parte geral do Cdigo Penal. bsico, mas para quem no gosta muito de direito penal vale a pena. Direito Tributrio Hugo de Brito Machado. Curso de Direito Tributrio. Ed. Malheiros
Comentrio: simples, objetivo e de fcil leitura. A sua maior falha , na verdade, uma virtude: o autor tem posicionamentos bastante crticos. Desse modo, alguns dos posicionamentos defendidos no constituem o posicionamento dos tribunais superiores acerca da matria. Roque Antnio Carraza. Curso de Direito Constitucional Tributrio. Comentrio: bom livro. Ajuda bastante nas provas subjetivas
Você também pode gostar
- 1000 Questões de Direito PenalDocumento110 páginas1000 Questões de Direito PenalLuiz Augusto Dias83% (6)
- Modelo Recurso de ApelacaoDocumento6 páginasModelo Recurso de ApelacaoEthanKnotehadAinda não há avaliações
- MODELO de DosimetriaDocumento2 páginasMODELO de Dosimetrianandooo23Ainda não há avaliações
- BOITEUX, Luciana - A Nova Lei Antidrogas e o Aumento Da Pena de Delito PDFDocumento6 páginasBOITEUX, Luciana - A Nova Lei Antidrogas e o Aumento Da Pena de Delito PDFMiryam MastrellaAinda não há avaliações
- Livia RevistaDocumento262 páginasLivia RevistaRobson AguiarAinda não há avaliações
- Direito Processual Penal - Projeto "80 Pontos em 100 Dicas e Macetes" Com Lorena OcamposDocumento89 páginasDireito Processual Penal - Projeto "80 Pontos em 100 Dicas e Macetes" Com Lorena OcamposMaxsuel SantosAinda não há avaliações
- Aula 16 - Crimes Contra o Estado Democrático de DireitoDocumento34 páginasAula 16 - Crimes Contra o Estado Democrático de DireitoWellington S. SantosAinda não há avaliações
- Procedimento para Apuração de Ato InfracionalDocumento1 páginaProcedimento para Apuração de Ato Infracionalkris1985Ainda não há avaliações
- Diferenças Entre Sursis e Livramento CondicionalDocumento1 páginaDiferenças Entre Sursis e Livramento CondicionalHearlen Moreira de SouzaAinda não há avaliações
- MemoriaisDocumento18 páginasMemoriaisAndreia Wenceslau MoreiraAinda não há avaliações
- Arrependimento PosteriorDocumento71 páginasArrependimento PosteriorAlberto Marques Dos SantosAinda não há avaliações
- Lei de Drogas - Julgados de 2018 A 2021Documento11 páginasLei de Drogas - Julgados de 2018 A 2021Leia FernandesAinda não há avaliações
- Ijaers-33 June 2022Documento19 páginasIjaers-33 June 2022IJAERS JOURNALAinda não há avaliações
- Exercicios de Prescricao GABARITO - Patricia VanzoliniDocumento85 páginasExercicios de Prescricao GABARITO - Patricia VanzoliniGrace NascimentoAinda não há avaliações
- Defesa Preliminar 1 - Maria PenhaDocumento7 páginasDefesa Preliminar 1 - Maria PenhaLuiz RibeiroAinda não há avaliações
- Questão Prática e Peça MemoriasDocumento4 páginasQuestão Prática e Peça MemoriasINGRID RODRIGUES PEREIRAAinda não há avaliações
- Lei N°15.797 de 25 de Maio de 2015Documento6 páginasLei N°15.797 de 25 de Maio de 2015Arlan SousaAinda não há avaliações
- 07 Resposta A AcusacaoDocumento24 páginas07 Resposta A AcusacaoFabiano Rosa DA Rocha100% (1)
- 00 - Regras de Marcação de VadeDocumento17 páginas00 - Regras de Marcação de VadeMESTRE CONTRUTORAinda não há avaliações
- 2.modelos Queixa CrimeDocumento2 páginas2.modelos Queixa CrimenerobarrosAinda não há avaliações
- Livramento CondicionalDocumento5 páginasLivramento CondicionalStanley BurburinhoAinda não há avaliações
- Ementário Forense - Da Pena - Doutrina e JurisprudênciaDocumento328 páginasEmentário Forense - Da Pena - Doutrina e JurisprudênciaCarlos BiasottiAinda não há avaliações
- Gabarito Oficial - PMMG - Simulado 03 - LJ AulasDocumento16 páginasGabarito Oficial - PMMG - Simulado 03 - LJ AulasJosé Augusto NascimentoAinda não há avaliações
- Minhas Anotações Sobre Direito PenalDocumento41 páginasMinhas Anotações Sobre Direito PenalRodrigo Velloso CabralAinda não há avaliações
- 0 - 000 - EDITAL N 9 - 7 Curso de Operacoes ROTAM - COR PMMT UltimoDocumento12 páginas0 - 000 - EDITAL N 9 - 7 Curso de Operacoes ROTAM - COR PMMT UltimoChris LiebiengAinda não há avaliações
- 162 Ppenal Sele o de Jurisprud Ncia Precedentes RelevanteDocumento246 páginas162 Ppenal Sele o de Jurisprud Ncia Precedentes RelevanteAureo VitorinoAinda não há avaliações
- "A Suspensão Da Execução Da Pena de Prisão e Os Crimes Sexuais " - Ana Fidalgo FernandesDocumento54 páginas"A Suspensão Da Execução Da Pena de Prisão e Os Crimes Sexuais " - Ana Fidalgo FernandesJoana NetoAinda não há avaliações
- Modelo Queixa CrimeDocumento3 páginasModelo Queixa CrimeGlaycon Diego RilkoAinda não há avaliações
- Juizado Especial CriminalDocumento124 páginasJuizado Especial CriminalKelee Cristina Pinesso100% (3)
- Alegações Finais - Legítima DefesaDocumento6 páginasAlegações Finais - Legítima DefesaWesley CamposAinda não há avaliações