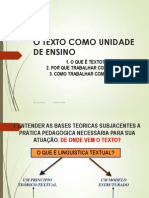Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Trabalho de Conclusão de Curso de Andreia Rabaiolli - Resumo
Trabalho de Conclusão de Curso de Andreia Rabaiolli - Resumo
Enviado por
Andreia RabaiolliTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Trabalho de Conclusão de Curso de Andreia Rabaiolli - Resumo
Trabalho de Conclusão de Curso de Andreia Rabaiolli - Resumo
Enviado por
Andreia RabaiolliDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resumo do Trabalho de Concluso de Curso de Andreia Rabaiolli / 2003 Unisinos CURSO DE COMUNICAO SOCIAL-JORNALISMO SOB OS HOLOFOTES DA COMUNICAO NO-VERBAL
Anlise da comunicao gestual dos apresentadores do Jornal Nacional
Apresentao As pginas deste trabalho estaro intercaladas de exemplos que constatam o poder do que no se diz. Estes exemplos pretendem ser uma forma de contribuio para aquecer a discusso sobre um tema que para muitos surpreende e fascina. O corpo o mediador entre o eu e o mundo. Segundo Freud, aquilo que os lbios calam fala com a ponta dos dedos e se trai por todos os poros. irnico que a natureza humana para compreender o ritual no verbal, necessite de palavras, verbos e sinnimos para se dar conta de que os corpos so os mais significativos discursos. Discursos jogados ao ar desde a mais remota histria, desde os adornos egpcios at a sociedade contemporana, seja na natureza como na cultura globalizada e miditica. Analisar a forma como os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Ftima Bernardes apresentam o telejornal de maior audincia da televiso brasileira dentro do contexto da comunicao no-verbal um o principal objetivo dessa monografia. Esse trabalho se prope a estudar e provar que, mesmo calados, os ncoras do JN comunicam e muito bem. E passam valiosas informaes mesmo sem verbalizarem a notcia propriamente dita. Se o discurso no-verbal e to eloqente quanto a fala, como provar isso? Seis programas do Jornal Nacional, entre os dias 12 e 17 de maio de 2003 foram gravados e estudados por esta pesquisadora. Em cada um, fez-se a anlise do plano no-verbal, ou seja, foram englobados o cenrio, vinhetas, angulaes de cmeras, planos, som, iluminao, referentes ao Jornal Nacional. Mas foi o foco nos apresentadores que pautou grande parte desta monografia. Os gestos, a postura, a vestimenta, entonao de voz,
expresso facial, origem tnica e as reaes dos ncoras ao noticiarem serviram de base para essa anlise. claro que ela no seria possvel sem a fundamentao terica de autores, alguns especialistas na rea da semitica como Mnica Rector, Flora Davis e Nzia Villaa. Outros, particularmente vinculados ao processo midtico como Arlindo Machado e Pierre Guiraud. O trabalho foi desenvolvido atravs da leitura da bibliografia (anexa no final) e posteriormente, da anlise de seis edies do Jornal Nacional, j acima mencionada. Provou-se assim a importncia dos elementos discursivos no-verbais, corpo, rosto, expresso facial, gestos, vesturio, enquadramentos, cenrio, trilha, voz, etnia, aparncia, para a mensagem final que chega at o telespectador do Jornal Nacional. Aqui, a inteno foi mostrar que entre o homem do sof e o homem da tev, h muito mais dilogo do que supe vs filosofias.
A Linguagem do corpo
Quero romper com meu corpo, quero enfrent-lo, acus-lo, por abolir minha essncia, mas ele sequer me escuta e vai pelo rumo oposto.(Carlos Drummond de Andrade)
O corpo a metfora da sociedade. Se, no incio, era o verbo certo tambm que o verbo se fez carne. Criou msculos, poros. Corpos falantes. A sociedade atribui a pessoa uma responsabilidade conforme a plasticidade de seu corpo. A linguagem do corpo est relacionada a aspectos sociais, histricos, psicolgicos e cada grupo cria sua prpria linguagem. Sendo assim, necessrio dizer que os grupos sociais influenciam na construo do nos sentidos do corpo e isso que determina padres de beleza, charme e sade.
Agora, o que tem isso a ver com o tema dessa pesquisa, comunicao em telejornal? Tudo. Mas tudo mesmo. Cada grupo tem modelos para referncia. O mundo da tev coloca em cena um enorme nmero de sujeitos-modelos. Os apresentadores de televiso objetos do estudo deste trabalho so um exemplo disso. Eles entram nas casas, estabelecem contato dirio nos lares e passam mensagens tanto verbais quanto no verbais aos telespectadores. O especialista em televiso A. Merhabian defende que o que a pessoa diz no representa seno 7% do que realmente comunica; 38% de sua mensagem transmitida pela sua maneira de exprimir (voz, vocabulrio, ritmo do discurso) e 55% pelas expresses da face e movimento do corpo. A comunicao do corpo fascina e d muito suscita anlises aprofundadas ou no. Um fato certo: a medicina e a biologia perderam o monoplio do objeto corpo para outras reas. As cincias humanas tm revelado que o corpo trabalhado pelo inconsciente, a sexualidade, a linguagem, atravessado pelo imaginrio, como produto de crenas culturais (RECTOR, 1985). J os autores Nizia Villaa e Fred Ges (1998) discutem mais a fundo a corporeidade e o aspecto cultural. Eles expem que o ser humano inventa sua identidade cultural a partir de intervenes sobre si mesmo e sobre a natureza. O corpo utilizado como metfora da sociedade como um todo (1998, p.91). O corpo diz tudo o que a sociedade revela sem querer dizer verbalmente. Neste primeiro captulo, a discusso voltada estritamente para a linguagem do corpo. Desde os gestos, passando pela expresso facial, postura, entonao de voz, traos fsicos, tnicos, vesturio, maquiagem e adereos. O leitor ficar sabendo ou ento reiterar o que j sabia, que o rosto a maneira de conduzir o corpo, o silncio, a entonao, os traos tnicos, a estrutura fsica e mesmo as unies entre pessoas (casamento, unies consensuais) carregam a marca da cultura e funcionam como uma espcie de assinatura pessoal.
1.1 Realidade corporal A escritora Flora Davis (1979), com suas observaes pessoais, estimula e desperta a reflexo para o contato com as realidades corporais e diz que estas so, normalmente, reprimidas pela sociedade. A autora mostra que a comunicao do corpo: olhares, erguer de sobrancelhas, ps balanando, ombro curvado, entre outros, representam uma linguagem to eloqente quanto a prpria fala. Davis diz que o conceito de comunicao no-verbal fascina os leigos h sculos, mas foi no sculo 20 que os antroplogos observaram que os movimentos do corpo no so causais, e, sim, que so to legveis quanto a linguagem. Segundo Davis, foi Ray Birdwhistell, quem primeiro deu-se conta de que grande parte da verdadeira comunicao humana se passa num nvel abaixo da conscincia. E complementa que, se por um lado, os seres humanos so muito sensveis aos sinais corporais alheios, por outro, o conhecimento dos sinais no verbais do prprio corpo pode levar a criar uma autoconscincia aguda, que o primeiro passo em relao ao conhecimento de si mesmo. Pierre Weil (1986), em O Corpo Fala garante que pela linguagem do corpo se diz muitas coisas aos outros. E eles tm muito a dizer a voc (p.7). Isso significa que muitas vezes, os gestos que escapam ao controle da conscincia desmentem o discurso verbal que se profere. A discusso se prolonga em outros livros e obras. Monica Rector e Aluizio Ramos Trinta, resumiram em 88 pginas o resultado de seus estudos. Para os autores, o corpo fala e transmite de um para outro uma mensagem consciente ou insconsciente, controladamente ou no (1990, p.5). No mbito social, isso se reflete na existncia de um cdigo scio-cultural capaz de dar sentidos a ritos de encontro, despedida, acolhimento, abrao, aperto de mo e variaes gestuais, idade ou religio. O silncio e o corpo, portanto, no calam e, por vezes, substituem a prpria comunicao verbal.
O corpo articula um discurso silencioso pela comunicao no verbal. So Nzia Villaa e Fred Ges (1998) que atribuem a ele um carter hbrido, no qual a oposio e natureza se dissolvem. Os autores discutem sobre o aspecto antropolgico do corpo: Atravs da histria, o corpo humano foi objeto de exaustiva ateno e fascinao tendo sido adornado, mutilado, reverenciado, interpretado imaginativamente na arte de uma obscena massa de carne a uma imagem de esprito divino (1998, p.57). Para os autores, o discurso do corpo no neutro, alterna a face do desejo de prazer e a perspectiva de sua trgica fragilidade (1998, p.23). Passar a ouvir os outros e a sentir o que de fato querem comunicar constatar que existe uma psicologia do silncio e abrir mo, um pouco, do uso das palavras nas relaes sociais. Falamos, mas pouco dizemos. Ser que a conversa do dia a dia no uma forma de impedir a comunicao que intimida a alma? O cantor Lulu Santos j dizia: ns somos medo e desejo, somos feito de silncio e som. Tal como na msica onde o silncio que tem o poder de criar o ritmo, tambm na vida a experincia do silncio ajuda a comunicar: pode ser um dilogo interno, consigo prprio, ou permeado de subjetividades entre voc e o outro. No h msica sem silncio.
1.2 Corpo e cultura Tanto Villaa (1998) quanto Davis (1979), concordam acerca da relao entre corpo e cultura. Para Villaa, cada sociedade privilegia regras e maneiras de gerir o corpo. O corpo como presena ordena significaes outras que a da linguagem falada. Os corpos so objetos marcados pelas normais culturais e a leitura de suas articulaes possibilita a compreenso da organizao social(1998, p. 76). Davis (1987) quem esclarece e diz que esse mesmo comportamento expressivo do homem limitado pela cultura. Desconhecer,
por exemplo, as regras da etiqueta social pode causar embarao. Para algumas culturas, gesticular muito sinal de pouca educao, para outros parte indispensvel de qualquer contato social. A cultura pauta, consequentemente, o comportamento social do corpo (DAVIS, 1987, p.14). Os norte-americanos, se constrangem ao ver um homem cruzar as pernas da mesma maneira que uma mulher. Para eles, o correto apoiar o tornozelo sobre o joelho. Qualquer coisa diferente considerado inadequado, presumindo nas entrelinhas, um comportamento homossexual. A reao ao fato mecnica e demostra no apenas que a linguagem no-verbal interfere na comunicao entre as pessoas como tambm, demonstra o preconceito corporal. Mnica Rector e Aluizio Ramos Trinta expem que a prpria forma do corpo serve a um meio imediato de comunicao: o gordinho simptico e alegre, o magricela desajeitado. Rector e Trinta tambm relatam o modo como se aprende tal linguagem. A competncia social, a que se adquire, leva a que se aprenda a observar o comportamento dos outros (1998, p.5). Pierre Weil e R.Tompacov (1986) complementam afirmando que palavras, muitas vezes, podem estar em desacordo com nossos gestos. Uma pessoa que analisa os gestos, no se deixa levar apenas pelas palavras. Conseqentemente, observando a si prprio e aos outros, poder perceber o que diz o inconsciente, atravs da comunicao silenciosa. Mas, se no podemos mentir atravs dos gestos, podemos dominar a linguagem do corpo? Weil diz que no, o homem no consegue esconder sua linguagem inconsciente de um observador avisado... e nem mesmo dele mesmo(1986 p.245). Aos mais cticos, mostra at um exerccio para comprovar isso: Sem pensar, pare j na posio em que est, sem modificar um gesto. Agora observe onde est a sua perna direita; a sua perna esquerda; a sua mo direita; a sua mo esquerda; a posio da sua cabea; a direo de seu olhar; a sua boca est aberta ou fechada; voc est sentado reto ou curvado? Voc sabia destas posturas? Certamente no, pode-se afirmar, sem engano, que voc na realidade no tinha conscincia das suas posturas. o que acontece com todo mundo. (WEILL E TOMPACOV, 1986 p.258).
Flora Davis vai mais fundo e descreve como, apesar de ser to silenciosa, essa linguagem influencia nas relaes humanas. Num filme rodado em cmera lenta, observou que a filha cruzava e descruzava as pernas de maneira a chamar a ateno da figura masculina presente na sala. Um gesto de galanteio, que a me desaprovava passando o polegar embaixo do nariz. Sempre que a me fazia isso, a filha recuava. A cena se repetiu umas 20 vezes no mesmo filme. A filha querendo seduzir, a me desaprovando coando o nariz e a filha recuando. Mesmo sem se darem conta, elas estavam se comunicando inconscientemente. Como descreve a escritora, as pessoas so enormemente sensveis entre si e nem sabem disso. Quando comeam a se movimentar juntos, elas se tornam incrivelmente integradas. A linguagem do corpo est ganhando um tom popular, a ponto de ser matria em revistas femininas. Em janeiro de 1997, a revista Nova publicou que pesquisadores, com cmeras escondidas, identificaram as estratgias de paquera mais eficazes, ou melhor, manobras de comunicao no verbal e citou alguns exemplos como: Jogar a cabea para trs: um clssico na arte de chamar a ateno. Significa: ei, olha aqui!; ajeitar-se: com gestos elegantes e sedutores, mulheres ajustam as saias, alisam as blusas. Voc est gostando?; acariciar um objeto: uma paquera sutil. Posso fazer isso com voc (NOVA, 1997, janeiro, p 52) Segundo a revista, a pesquisa foi realizada por psiclogos americanos, que selecionaram 200 mulheres, as quais foram filmadas onde houvesse no mnimo, 25 desconhecidos, desde singles bars at lanchonetes. Seja como for, em bares, caladas, no espao ntimo familiar e desde o primeiro instante de vida, o existir do ser humano s possvel por meio da comunicao. Ela permeia toda a vida do homem. Ele encontra-se em constante interao com seu meio e, para isso, ele se utiliza da comunicao. Ela envolve uma gama de fenmenos, como
elementos psicolgicos e sociais que ocorrem entre as pessoas e dentro de cada uma delas, em contextos interpessoais, grupais, organizacionais e de massa. Conhecer a si mesmo, usar as palavras cuidadosamente, ser sensvel s necessidades alheias, observar o seu prprio no-verbal, reconhecer e validar as diferentes opinies e, principalmente, tratar as pessoas com o carinho e respeito que gostaria que fossem dispensados a voc, so os ingredientes que fazem da comunicao um magnfico instrumento de entendimento, para si e para os outros.
1.3 Linguagem corporal Monica Rector e Aluizio Ramos Trinta (1986) acentuam que em todo ato de comunicao esto envolvidos um emissor, um cdigo, um canal, uma mensagem, um contexto e um receptor. As mensagens so signos (unidades) que possuem significados e veculos de informaes. Para eles, o rosto o mais expressivo instrumento da comunicao corporal. Quando a pessoa olha o outro que a olha, sabe que ela o v e que a comunicao se estabelece entre ambos. O que d significado ao olhar o franzir da testa, o piscar de olhos, o abrir e fechar da boca. A imensa variedade de formas da boca pode estampar um sorriso de alegria, de desagrado, de ironia, ou no mamanhs e o que as crianas gostam muito de fazer, o famoso beicinho. A combinao de olhos e boca produz uma grande variedade de expresses faciais. Mas no s isso. Alm do rosto, a voz outro instrumento de comunicao noverbal. Embora possamos construir uma mensagem vocal, que signifique por si mesmo uma coisa, podemos usar um tom de voz que lhe d um significado diferente.(RECTOR, Mnica, 1986, p 18). Sendo assim, a voz a paralinguagem, haja vista que se pode ler a altura do tom da voz, se a articulao vigorosa ou descontrada ou, ainda, o seu ritmo,
lento ou apressado. preciso contar ainda com as vocalizaes, riso, choro, sussuros, interjeies, estalidos, barulhos e at a extenso do registro vocal. Pierre Guiraud (1991) detalha sobre o assunto ao falar da prosdica da fonemtica, que estuda os sons segundo suas caractersticas articulatrias. Ele diz que a variao da voz tem como um dos objetivos exprimir os sentimentos de quem est falando. O tom indica se a pessoa est surpresa, irritada, curiosa, apreensiva, enfim, uma gama enorme de emoes que pode ser lida pela voz. . A prosdica engloba a melodia, o ritmo e o tempo normais da lngua, que variam com cada idioma.
A prosdica muito mais rica do que a escrita alfabtica. Guiraud lamenta a falta de interesse pela comunicao oral, numa cultura com razes puramente literrias. A promoo da lngua falada no pode deixar de fazer sentir a ausncia de meios de transcrio adequados e prprios para exprimir-lhe as mil nuances que a tornam importante( GUIRAUD, 1991, p.101). Sendo assim, uma histria em quadrinhos com o emprego de bales, corpos e fontes diferentes pode Ter uma leitura muito mais interessante ou dizer muito mais do que um tratado de psicologia. Se a voz importante para a leitura corporal, igualmente h de ser a postura e os traos fsicos da pessoa. possvel verificar uma pessoa em estado de depresso pela curva dos ombros, da mesma forma que algum com a estima em alta e autoconfiana costuma colocar o trax para frente e caminhar com segurana. A postura pode ser fonte de interpretao sobre carter, comportamento e sentimentos. Imaginamos o mundo segundo modelo de nosso corpo, e assim formamos um conjunto de conceitos e de palavras a partir de imagens corporais. (GUIRAUD, 1991, p.7)
Da mesma forma, os traos fsicos dizem muito acerca da pessoa. Por exemplo, um menino pequeno, magro e barrigudinho conduz a uma cena onde a pobreza pode marcar o cotidiano. A partir de ento possvel fazer uma leitura muito prpria da vida desse menino. Da mesma forma, um queixo quadrado num rosto masculino corresponde a uma expresso enrgica o que pode ser uma imagem um tanto sedutora para as mulheres, que historicamente gostam da sensao de proteo do macho, questo de herana histrica dos ancestrais Lbios grossos denotam sensualidade. Do vesturio fazem parte os adereos, a maquiagem feminina, os acessrios masculinos. So signos que ajudam a construir um novo conceito de esttica um conceito sempre impermanente, mutante como a moda. O poder do ornamento reside justamente no que no diz. Um colar, um cinto, uma pulseira arrojada uma forma de demonstrar discrio ou exibio, auto-estima, poder, dominao. Atravs da roupa e seus acessrios a pessoa diz as outros quem , com o que est preocupada ou para qu veio ao mundo. Mesmo a falta de acessrios uma forma de romper com o convencional. Tudo fala quando a boca cala. Elas constroem hbitos pessoas que articulam relaes entre o corpo particular e seu meio. A roupa expe um cdigo de conduta e constri uma identidade. (RECTOR, 1985 p. 108/109). Se o corpo constri uma identidade, ento ele pode significar tanto o estado de esprito da pessoa, como do grupo na qual ela est inserida e ainda a cultura deste. Torna-se assim, necessrio examinar como a cultura est elaborada no corpo e como este se constri atravs da cultura. Em todas as tribos, das mais urbanas s mais antigas, a arte de decorar o corpo vem sendo desenvolvida e aprimorada. Mas na religio que o corpo modificado pode ser visto como um texto. Monges budistas so tatuados para proteo, membros da tribo africana Masai, sofrem escarificaes com formas de animais para os aproximar do
mundo animal, os Maoris tatuam os rostos para afastar maus espritos. (Villaa, 1998). As prticas antigas chegam ao corpo moderno e estes tambm so vistos como texto. Significa dizer que a arte corporal carrega mensagens poderosas sobre a pessoa decorada. Cores, desenhos e o uso de tcnicas particulares so parte de uma linguagem visual com valores culturais especficos. A tatuagem moderna um acessrio de seduo na pele de homens e mulheres. Quanto maior a tatuagem, maior a ousadia e a vontade de sair do convencional da pessoa. Uma mulher com vrias tatuagens pelo corpo vista como moderna e ousada, embora nem sempre isso possa agradar a todos. No s as tatuagens, mas os desenhos escolhidos so parmetros para uma leitura da pessoa: pessoas apaixonadas podem estampar o rosto ou o nome do amado ou amada, msticos gostam de imprimir em si a arte esotrica e seus significados, mulheres romnticas ou sensveis optam por uma singela flor ou anjinho que marcam a pele. Como expem os autores Nizia Villaa e Fred Ges (1998) o ser humano no poupa o seu corpo para inventar sua identidade cultural, a partir de intervenes em si mesmo e na natureza, criando o habitat que o grego chama de ethos, ou seja, morada. Ele no s desenvolve tecnologias para transformar a natureza, como tambm estabelece valoraes, formas de sentir e se relacionar.( VILLAA e GES, 1998, p.214). Se para Villaa e Ges o corpo forma identidade cultural, para Flora Davis o corpo a mensagem que mesmo silenciosa, influencia e muito nas relaes humanas. J o autor de A Linguagem do Corpo, complementa que o corpo a mensagem das emoes. (PIERRE, Guiraud, p4). Tremer de medo, corar de vergonha, expressam bem os sentimentos. O corpo tambm tem sua linguagem articulada. Tanto que possvel fingir as vezes o que ele diz. Pode-se demonstrar surpresa por exemplo, quando esta nem existe. Mas isso um fato que pode ser discutido mais a fundo em outro contexto.
1.4 Rosto e Expresso Facial
Se o corpo a mensagem, o olhar o que conduz essa mensagem. O contato ocular intensifica a intimidade, ( DAVIS, 1979). De alguma forma, o contato com o olhar deixa as pessoas extremamente vulnerveis e a forma mais sutil da linguagem fsica. Para a maioria das pessoas, mais fcil dizer que gosta da outra atravs do olhar em detrimento as palavras. H uma frase clich, que se tornou clich justamente pela sua veracidade: os olhos so o espelho da alma(Leonardo da Vinci, pintor). E nem pesquisadores duvidam disso. O olhar, contudo, faz parte de um contexto importantssimo e simbitico com o rosto humano. o conjunto, a expresso facial de uma pessoa que torna o rosto humano um dos mais potentes instrumentos de comunicao. Conforme a autora de Comunicao NoVerbal, ,mais de mil expresses faciais so possveis (DAVIS, 1979). A autora frisa ainda que as expresso faciais so mesmo um indcio confivel do que reflete a alma humana. A autora tambm coloca que as expresses faciais desaparecem antes de meio segundo, preciso, portanto, que o olho humano seja muito mais rpido para perceb-las. Uma coisa certa, o que um olho treinado em comunicao corporal constata, a fala no pode desmentir(DAVIS, 1979, p 60) . De acordo com Davis, Freud reflete que a traio do corpo brota por todos os poros. Instrumento de profundo prazer a seu dono, o corpo independente o suficiente para se permitir ser infiel a esse mesmo dono. O que a voz no diz, a alma sente e o corpo revela. Isso, muitas vezes, pode ser embaraoso, constrangedor, mas sem dvida um caminho para o autoconhecimento . Na medida em que as pessoas se tornam mais conscientes de suas expresses facial e corporal, elas tambm podem interagir melhor consigo e com os
outros. E finalmente, o corpo, que no princpio foi criado para multiplicar e procriar, retorna a sua origem: com o devido conhecimento de si prprio, a pessoa acaba alcanando uma intimidade maior com ela mesma e com os outros. A procriao, dentro deste contexto, se torna mais verdadeira, mais humana, isenta das mscaras sociais.
1.5 Gesticular dizer
Os gestos comunicam e esto vinculados a um discurso. Os movimentos do corpo podem mudar conforme o nvel do discurso ou a mudana entre uma fala e outra. Em suma, o corpo dana no ritmo das palavras. Setecentos mil sinais diferentes so possveis com as mos, usando brao, dedos e combinaes de poses. (DAVIS, 1979, p.90). Assim como mos e braos, pernas e ps compem importante significado corporal. Um mesmo gesto pode conter mais de um sentido, portanto, preciso coloc-lo em um contexto para ter uma leitura plenamente confivel. a cinsica que estuda os gestos e a mmica. O autor de A Linguagem do Corpo, (Weil, 1986) explica melhor como funciona o mundo da cinsica A linguagem articulada pode ser substituda por gestos e sons. ento que a pessoa faz o corpo falar ao utiliz-lo como modo de expresso. O nosso corpo fala, por outro lado, ns falamos com o corpo mediante um sistema de gestos, mmicas, de deslocamentos e de gritos que utilizamos com vistas a trasnsmitir informaes por meio de signos naturais mais ou menos codificados por cada cultura. (GUIRAUD, 1991, p 7). Isto , as pessoas falam com o corpo na medida em que se servem de gestos e mmicas corporais para passarem informaes. A linguagem gestual da cinsica, segundo Cocchiara (1991, p.47) concorrente da articulada, mas ambas
constituem os dois grandes meios de expresso do homem. Isso porque signos verbais e signos gestuais nem sempre condizem. Certos gestos sobrevivem ao longo da histria e so considerados convencionais, Mas h que se dizer tambm que so espontneos e amplamente divulgados, enquanto as palavras so estritamente codificadas. Os gestos tero fluxo cinsico quando passam a interpretar caractersticas de ordem, regularidade e previsibilidade.
1.6 Postura
A proxmica o ramo que estuda a utilizao dos espaos. Ela se baseia na anlise do espao territorial e corporal (GUIRAUD, 1991). O espao territorial aquele onde a pessoa estabelece o seu habitar, fechado aos competidores, um domnio delimitado com preciso e protegido contra qualquer intruso estranha. Essa organizao pressupe regras de admisso ou repulso de estranhos e o que exprime fruto de uma semiologia complexa (verbal, cinsica, vestimental) da qual um dos elementos fundamentais constitudo pela posio e pelas distncias do interior do territrio. J o espao corporal objeto de uma srie de contatos. Afinal, cada pessoa tem seu espao o do prprio corpo e o que ela est disposta a ceder para estabelecer um contato, seja ntimo, social ou geral. Segundo Davis, o espao hoje pode ser to vital para o homem quando a prpria comida Ele precisa da sua bolha individual, mas tambm quer amplitude(1979, p.94). Guiraud (1991), argumenta que o espao corporal define-se pelos limites dos sentidos da pessoa e os contatos humanos so estabelecidos pela distncia entre os indivduos. Davis (1979) confirma o que Guiraud escreve. Para ela, a comunicao
humana varia de acordo com o grau de proximidade. este grau que expressa a natureza de qualquer encontro. Quanto mais perto, mais possibilidade de sentir o tato, o cheiro, a respirao. Numa organizao social, a escolha da distncia apropriada para as diferentes relaes fsicas muito importante. O espao portanto, comunica. Quem tmido pode escolher um lugar no fundo da sala para permanecer. Quem est aberto ao dilogo pode ter o cuidado de sentar em um canto de um banco, para deixar espao ao vizinho e ao incio de uma comunicao-verbal. Guiraud (1991) expe que as trs distncias ntima (corpos aproximados de 0 a um p e meio), pessoal (considerada neutra, de um e meio a quatro ps) e social (entre quatro e sete ps) dependem a cultura e do contexto espacial (se voc no conhece uma pessoa, nem mesmo assim pode ficar muito longe dela dentro de um elevador). A proxmica tambm inclui a organizao do tempo. Quando algum faz outra pessoa esperar muito, pode significar que no est to ansiosa para v-la. As distncias temporais tambm variam com a cultura. A disposio do tempo um signo do poder, percebida como uma relao de foras e como proporcional a essa relao, em cada cultura com convenes reconhecidas cuja importncia depende do valor econmico do tempo e da estrutura social do grupo. (GUIRAUD, 1991, p 87) O corpo fala das pessoas e sobre as pessoas de forma involuntria. Em suma, ele fala por meio de signos e combinaes lgicas. Ele fala quem se mesmo que a pessoa no diga nada. Os traos tnicos comunicam antes mesmo que se faa qualquer gesto. Independente da vontade do emissor ou do receptor, a origem tnica estabelece uma comunicao simultnea ao olhar. A pele , primeiro suporte dos signos na pr-histria e nas sociedades no ocidentais, apesar de haver delegado suas funes a outras superfcias
como tela, mantm-se sensvel como uma espcie de inconsciente corporal que jamais sucumbiu ao recalque buscado pela representao mimtica(RECTOR, 1985, p.159). A cor da pele, dos olhos, o modo do cabelo sugerem o contexto a que um indivduo est inserido. Por outro lado, seus traos fsicos individuais quem vo revelar o status quo da pessoa. Um negro pode ser discriminado pelos seus sapatos rotos, mas bem aceito em uma roda social se exercer funo destaque e vestir-se de acordo com a sociedade convencional. O modo como ele ir se movimentar, a tranqilidade dos gestos, entonao da voz s contribuem para refletir sua posio social. Idade, beleza, altura, gordura, gestual, os traos fsicos individuais recebem significao na medida em que encontram referncia em modelos de identidade. Esse primeiro captulo pormenoriza as linguagens do corpo. Para se fazer uma anlise no-verbal de um telejornal, h que se relatar a importncia histrica, cultural e social da linguagem corporal, cheia de significados, adendos e sutilezas. Uma compreenso dos cdigos no-verbais televisivos s possvel depois de se estudar o contedo deste primeiro captulo. Ora, se o corpo diz tudo o que um indivduo no diz pela fala, ou pretende esconder, as pessoas so embalagens. Um produto a venda. O corpo sintetiza o que a sociedade aprova ou condena. Origem, etnia, nvel social, aceitao, excluso podem ser lidos entre o abrir e fechar das plpebras. nesse piscar de olhos que se estabelece o contato entre a tev e o telespectador. A televiso faz um discurso que combina formatos e linguagens televisivas. No momento em que coloca sujeitos-modelos para passar as notcias, capta a ateno atravs da aprovao social, necessidade de identificao e interao que, mesmo virtual, se estabelece imediatamente ente o homem da tev e o homem do sof.
Um bom exerccio sentar-se em frente a televiso, na hora do Jornal Nacional e abaixar o som do aparelho. A tela reflete a imagem de Ftima Bernardes. O telespectador no pode ouvi-la, mesmo assim, com certeza, j captou alguma mensagem que a apresentadora est passando. Em um breve perodo, notou o cabelo, o semblante, o modo de relatar a notcia. Se levantar o volume e reparar na voz, vai observar que ela frisa algumas palavras e justamente nesse momento que presta ainda mais ateno notcia. Essa interao diria e ocorre sempre s 20h, horrio em que a famlia senta-se para a janta. nesse momento que a refeio no seio familiar ganha um aspecto solene. Apresentadores participam ativamente da vida do operrio, trabalhador, empresrio, dona de casa interagindo e compartilhando sonhos ou problemas, levando informaes atravs da tragdia alheia em tom de intimidade. Como se um amigo falasse ao outro. O que passa pela tev so fatos que agendam o cotidiano no dia seguinte.
O QUE A BOCA NO FALA, O PBLICO OUVE
Em 2003, William Bonner e Ftima Bernardes eram a referncia na ancoragem do Jornal Nacional. Foram analisados o modo de falar, a entonao de voz, a
vestimenta,maquiagem e adereos, a expresso facial, gestos, postura, cenrio, cortes, enquadramentos, cor, ngulos, iluminao que so operadores discursivos do no-verbal. Os itens acima citados trabalham no s a textualidade da imagem, como incitam a produo de outras imagens, todas no-verbais. possvel analisar os apresentadores atravs da gestualidade quando esto narrando a notcia. Seguram uma caneta na mo, acessrio indispensvel a eles. Os apoiados a bancada, ou no, conforme a sutileza dos gestos. As mos,, exem acompanhando o ritmo da fala. O modo como olham(expresso facial) e como esto enquadrados influi diretamente na interpretao do telespectador. A expresso facial pode ser modificada conforme o contedo da notcia. A elevao das sobrancelhas obedece o ritmo
articulado da linguagem verbal. Ftima ergue as suas quando quer enfatizar palavras que julga importante no texto. Os olhos e a boca interagem, formando outras inmeras expresses. A boca mais fechada em forma de osignifica que nesse momento, no h espao para descontrao e referencia uma notcia sria, talvez chocante. A ausncia de um sorriso, por si s, diz o quanto os apresentadores consideram sria, trgica ou problemtica a notcia e sua conseqncia para populao, instituio ou lugar. Na linguagem televisiva, so estabelecidos eixos de distncias interpessoais que representam diferentes graus de intimidade com quem est do outro lado da tela. A equivalncia entre os planos de cmara e a distncia interpessoal vo desde a distncia mnima, que corresponde ao primeiro plano at a social, chamado de grande plano geral, que quando se visualiza o cenrio e os personagens por completo. Na decupagem do Jornal Nacional, nota-se que o primeiro plano preponderante na hora de focar os apresentadores, porque em PP que fica mais fcil o espectador ver a direo dos olhares dos ncoras e mesmo, o estado emocional que querem aparentar ao passar determinada notcia. Na anlise dos programas, constatou-se que antes da apresentao das notcias ou mesmo depois, na finalizao dos blocos e do jornal, os apresentadores preparam-se para o que segue, seja arrumando os papis sobre a mesa ou dando as ltimas orientaes um para o outro. No sobe som -no incio e final dos programas e blocos - a cmera foca ambos mexendo nos scripts. Um olha para o outro. Geralmente a senha para iniciar a apresentao. No incio de cada bloco, a cmera capta os dois acima do cenrio da redao. A panormica atravessa o cenrio, dando uma dimenso ao pblico sobre o ambiente onde perduram as figuras marcantes dos apresentadores. Afinal , uma forma de contextualizar o local onde so dadas as principais notcias do Brasil e do mundo. O gestual das mos dos apresentadores segue a nfase das palavras. Vale frisar que a gesticulao vai do cotovelo s mos e nunca envolve o corpo todo ou os ombros. A cabea dos ncoras mexe com freqencia, mas o balanar dos ombros raro, e se faz, imperceptvel. As mos gesticulam para no passar imagem de imobilidade. Os ombros eretos conferem ar de erudio. o intelecto em questo. Os gestos so sempre elegantes,
que condizem com o corte de cabelo, as roupas e a sobriedade do momento. Um momento nobre em frente a TV.
3.1 A isca preciso frisar que o discurso no-verbal est estreitamente relacionado ao verbal e pode ir mais alm, aos olhos do telespectador atento. Numa anlise aprofundada e reflexiva, verifica-se que a abordagem de um acontecimento no telejornalismo no muito diferente da narrao de um relato pessoal. Ciro Marcondes Filho, em seu livro O Capital da Notcia, diz que o fato equivalente a matria prima transformada em mercadoria, a notcia. Quer dizer que para consumir notcia, preciso que ela venha em uma embalagem atrativa. Essa embalagem envolve bons apresentadores, cenrio, tecnologia e jogo de cmeras. Pois bem, este captulo se prope a analisar primeiramente o cenrio onde impera a onipresena de Ftima Bernarndes e William Bonner, os protagonistas do show de notcias. O ambiente mistura modernidade, tecnologia, seriedade e espetculo. O design da bancada, ao estilo futurista, as fuses de imagens quando a cmera troca de apresentador, o uso constante de vinhetas, tudo isso torna o Jornal Nacional reconhecido como fonte de conhecimento e dinamicidade. Antes mesmo de o JN comear, o telespectador, sem perceber, se prepara para ele. Ao assistir a novela que antecede o programa, se familiariza com Bonner e Bernardes na bancada, chamando para as notcias a seguir. sinal de que j esto a postos, esperando o momento para passar as informaes. Neste contexto, e durante a escalada, as notcias so as iscas que vo fisgar a ateno do telespectador depois da novela. Do estdio
iluminado artificialmente, os apresentadores fazem o prembulo do que vem pela frente. Esto aptos a transmitir os acontecimentos do Brasil e do mundo. Com voz polivalente (pois conseguem dar diversas entonaes em um breve perodo de tempo), eles fazem as notcias criarem forma. Tudo antes da novela principal.
3.2 O Inumano
As notcias no so o nico chamariz. A plasticidade e a empatia de William Bonner e Ftima Bernardes tornam o que est na tela da tev um produto esttico vendvel. Ambos possuem a mesma etnia, harmnicos fisicamente, belos, bem-sucedidos, transmitem sucesso, prosperidade e segurana. A preocupao com o vesturio dos apresentadores denuncia a inteno do telejornal: fazer com que os responsveis por levar a notcia aos telespectadores sejam elegantes, eruditos e acima de qualquer suspeita. Cidados fora do comum. Com roupas sbrias, mas, s vezes, com um toque de ousadia bem dosada, por exemplo, nas cores fortes da gravata de Bonner ou do suter de Ftima, vozes imponentes e palavras medidas, eles conseguem conquistar credibilidade. Alis, palet e gravata so bsicos no guarda-roupa de qualquer apresentador de televiso. So utilizados normalmente para legitimar a
credibilidade dos apresentadores e reforar o sentido de erudio destas pessoas. So roupas usadas tanto por ncoras da Globo quanto de outras emissoras como SBT ou Bandeirantes. Na edio do Jornal Nacional de 12 de maio de 2003(Segunda-feira), a
apresentadora Ftima Bernardes veste um taillleur preto com riscado branco. William Bonner apresenta ao telejornal de terno cinza escuro e gravata verde. O toque de ousadia, engenhosamente dosado, est na cor da gravata. Eles so tradicionais, mas no tanto a ponto de parecerem conservadores e nem to modernos, a ponto de carem em descredito. Como personagens inumanos, eles, ao mesmo tempo, esto to prximos e to distantes dos telespectadores. Tudo isso graas as escolhas adequadas de toda a composio do telejornal, que vai desde a produo das matrias, passa pela maquiagem, figurino, cenrio, posturas, gestos, expresses faciais, enquadramentos, cortes e jogos de imagens. A cmera os foca em primeiro plano ou em plano mdio que so os enquadramentos mais comuns para os apresentadores do Jornal Nacional, passando um tom de intimidade ao telespectador. A entonao da leitura cria intimidade com quem est do outro lado da tela, identificando o telespectador com o apresentador, como se este estivesse falando entre amigos, o erguer de sobrancelhas servem para enfatizar palavras e isso ocorre com
freqncia, pelo menos duas ou trs vezes em cada notcia., o discreto gesto da mo visa dizer que eles no so imveis. So mais do que bonecos. So pessoas passando informaes a outras pessoas, embora no manifestem os prprios sentimentos, pelo menos de forma clara. essa forma eficiente de passar, assim como os planos e ngulos das cmeras, que os aproximam do pblico e estimula a credibilidade. O fato de estarem em contato com todas as partes do mundo ao vivo, como na Copa do Mundo, quando Ftima falava ao vivo do Japo com Bonner no Brasil, os torna onipresentes e refora a autoridade na qualidade de apresentadores. Afinal, eles no so apenas os transmissores de notcias, mas do idia de que entendem do que esto falando porque parecem estar mais prximos das fontes do que os telespectadores. Alm disso a sua postura, o seu olhar (que pode ser de desaprovao, ou de tristeza, ou de indignao, ou de alegria ou de exclamao), o tom de voz (etc.) no demonstram insegurana ou incerteza, pelo contrrio, so pontuais, srios, firmes. As notcias transmitidas pelos ncoras do JN servem de agendamento para o dia seguinte nas rodas de conversas.
3.3 Como e quanto eles falam
No Jornal Nacional, a notcia um produto perecvel. Por isso, palavras como Hoje e Agora imperam em todo o programa. Normalmente, essas palavras so enfatizadas pelo erguer de sobrancelhas, ou pelo prolongamento sonoro da palavra, ou pela abertura da boca, ou por uma leve inclinao do trax para frente, ou pelo movimento da cabea.. O olhar de intimidade com o telespectador conduzido ao longo de todo o telejornal, atravs dos olhos fixos na cmara, do uso do primeiro plano isso reforado quando um olha para o outro enquanto ele est falando. Muitas vezes, ousa-se um ar de cumplicidade - atravs do direcionamento dos olhos integrado ao balanar da cabea e o tom de ainda maior intimidade na voz -o que d um tempero especial e uma espcie de prmio ao leitor. Viu, ele concorda comigo.
preciso, contudo, refletir sobre a forma do falar, desde a escalada que o chamamento das notcias at o boa-noite final. Observa-se que a Escalada o momento mais ntimo prximo. quando Bonner e Bernardes parecem falar ao p do ouvido ao telespectador. O jogo de cmeras fundamental para isso. Em primeiro plano, eles so focalizados e olham firmemente para o tele prompter que o olho do pblico. Essa intimidade ocorre atravs do olhar fixo e direto do apresentador para a cmera. O primeiro plano aquele que foca o apresentador da cabea ao peito e este que derruba as distncias entre o homem da tev e o homem do sof, pois eles esto to prximos como quando um amigo quer contar ao outro um fato curioso que aconteceu no trabalho. A escalada dura menos de um minuto e, nesse terim, so fornecidas ao menos cinco manchetes revezadas entre Bonner e Ftima. O corte rpido de um apresentador para outro referencia dinmica, agilidade, pois d a idia de movimento e de que os apresentadores esto sempre atentos aos princpais fatos do mundo. A trilha e a seqncia de notcias, cuidadosamente escolhidas para a escalada, indicam que o Jornal Nacional est ligado nos principais fatos do pas e do mundo. No incio de cada bloco, a cmera percorre o cenrio. A bancada est estrategicamente colocada acima da redao, em um ambiente diferente, futurista. A cmera passeia rapidamente por este ambiente, mostrando vultos de reprteres trabalhando e centraliza a ateno nos ncoras: os donos do programa. Na anlise realizada sobre o Jornal Nacional, h de se concordar com Mnica Rector e Aluzio Ramos Trinta (1985) de que o rosto o mais expressivo instrumento de comunicao no-verbal. Basta olhar para Ftima e Bonner que aparecem, predominantemente, em plano mdio e conseguem transmitir alta carga de mensagens no verbais. Como fazem isso se esto sentados, tm de manter uma imagem - ao menos flagrantemente de imparcialidade e no podem abusar de gestos expansivos? Atravs do franzir de testa, do piscar de olhos, do abrir e fechar da boca. A combinao do movimentos dos olhos com o da boca o que, alis, produz variedades de expresses faciais. No Jornal Nacional do dia 16 de maio (vide anexo), no incio do bloco, Ftima, ao ler a frase: A suspeita de que eles foram mortos por encomenda, acentua as trs ltimas palavras com um demorado erguer de sobrancelhas e a boca aberta em forma de o . Nota-se ento que no somente pelo tom da voz, que se pode salientar palavras. Evidentemente, a altura da voz, o ritmo e a forma como a palavra expressada so essenciais para anlise do no-verbal. H, portanto, toda uma gama de elementos que deve-se levar em considerao na anlise, como vocalizaes: extenso da voz, barulhos e as prprias interjeies.
A questo da voz fica clara em todas as edies do programa. possvel exemplificar como Bonner utiliza em vrios momentos, tons de voz diferentes para passar uma notcia. No terceiro bloco, do dia 13 de maio, ao noticiar que a Coria do Sul declarou nulo um acordo firmado em 1992 com a Coria do Norte, o apresentador utilizou-se dos elementos no verbais para dar sentido notcia. O que motivou esse tom foi a falta de imagens da notcia. Ele a leu sem auxlio de planos ou imagens e, para isso, se utilizou dos recursos. Para deixar a notcia mais atrativa, ele enfatizou a palavra nuloao mesmo tempo em que passava a notcia em voz pausada e mais baixa do que o normal. As mos acompanharam a nfase na palavra nulo assim como o erguer da sobrancelha e a cabea, que mexia depois de cada pausa sua. preciso frisar, contudo, que sua postura continuou a mesma, ou seja ereta e com gestual comedido. 3.5- O amor est no ar
O trabalho aborda a relao de William Bonner e Ftima Bernardes que acaba reforando e legitimando os sentidos construdos dentro do programa. William Bonner e Ftima Bernardes so casados, tm trs filhos concebidos por inseminao artificial e, vivem e trabalham juntos. Em 2003, respectivamente, atuam como editor chefe e editora do telejornal, so reconhecidos no meio jornalstico brasileiro. Formam, portanto, a imagem de um casal perfeito e de profissionais de sucesso. Ainda que de forma inconsciente, no imaginrio do telespectador, isso contribui para associar credibilidade a uma notcia. Alm disso, a sintonia entre eles maior do que com qualquer outra dupla, pelo simples fato de que casais se utilizam de cdigos na rotina do lar. No caso de Bonner e Bernardes, esses cdigos transcenderam as paredes de sua casa e so transmitidos de um para o outro quando ambos esto no ar.
4.0Atualizao do trabalho
Em junho de 2011, Ftima Bernardes deixou a bancada do JN, aps 13 anos de parceria com o marido. No lugar, assume a gacha Patrcia Poeta. A troca dividiu a opinio do pblico: quando elaborei o trabalho em 2003, no contava com a ajuda das redes sociais. Em 2011, a inteligncia colaborativa, posts e comentrios e a teoria do gatewaching
dominando o gatekeeper mostra que a fora das informaes das redes sociais. O JN est de parabens, Patrcia sinnimo de inteligncia e elegncia, quando possvel juntar beleza e raciocnio num s corpo, a, ento, tudo se completa, dizia um leitor em um site de notcias. Outra telespectadora, contrape: No estou satisfeita com o trabalho dela no jornal H opes melhores e ela no esta indo nada bem no JN.
Você também pode gostar
- Gramática PortuguesaDocumento245 páginasGramática PortuguesaStiven Diaz Florez100% (1)
- Agente Da Passiva Aposto e VocativoDocumento27 páginasAgente Da Passiva Aposto e Vocativoaissa nunesAinda não há avaliações
- Documento Orientador Novo Ensino Médio Na Bahia Versão Final2020Documento28 páginasDocumento Orientador Novo Ensino Médio Na Bahia Versão Final2020Patrícia Argôlo RosaAinda não há avaliações
- Apostila para Prova 1º Semestre UFSMDocumento203 páginasApostila para Prova 1º Semestre UFSMPamela BagginsAinda não há avaliações
- Textos PersuasivosDocumento1 páginaTextos PersuasivosAfonso Gomes100% (1)
- A Língua Portuguesa Que Amo TantoDocumento3 páginasA Língua Portuguesa Que Amo TantoIrene CaraíbaAinda não há avaliações
- Análise Sintática Da OraçãoDocumento13 páginasAnálise Sintática Da OraçãoMarcosBrunoSilva100% (1)
- Guia de Aprendizagem Artes 1 Ano II BimestreDocumento4 páginasGuia de Aprendizagem Artes 1 Ano II BimestreFelipe CaldasAinda não há avaliações
- Atividades e Tarefas Mês de Abril.Documento13 páginasAtividades e Tarefas Mês de Abril.Monique TavaresAinda não há avaliações
- Períodos Simples e Composto: 9º ANO Aula 21 - 2º BimestreDocumento21 páginasPeríodos Simples e Composto: 9º ANO Aula 21 - 2º BimestreSAMARA RIBEIRO DO NASCIMENTOAinda não há avaliações
- Aproximações Possíveis Da Terapia Focada Na Solução Aos Contextos GrupaisDocumento17 páginasAproximações Possíveis Da Terapia Focada Na Solução Aos Contextos Grupaismarcolinoalves2692Ainda não há avaliações
- C1 - Grade CurricularDocumento35 páginasC1 - Grade CurricularJuliana BuenoAinda não há avaliações
- 2o. Ramalho e Rezende - ACD - Noções Preliminares PDFDocumento14 páginas2o. Ramalho e Rezende - ACD - Noções Preliminares PDFemanoelpmgAinda não há avaliações
- Praticas de Analise Linguistica ModalizaDocumento531 páginasPraticas de Analise Linguistica ModalizaLuciane de Paula100% (1)
- Ele Nos Deu Histórias I Parte TraduzidoDocumento21 páginasEle Nos Deu Histórias I Parte TraduzidovilmasousaAinda não há avaliações
- Educação Fisica 2Documento204 páginasEducação Fisica 2Mariella de Lima Barbosa Ribeiro100% (3)
- Fundamentos Históricos e Filosóficos Da EducaçãoDocumento12 páginasFundamentos Históricos e Filosóficos Da Educaçãomaria_carmem_1Ainda não há avaliações
- PortuguesDocumento8 páginasPortuguesMarcela ApolonioAinda não há avaliações
- Atividades de Ortografia para 5º AnoDocumento19 páginasAtividades de Ortografia para 5º AnoProfessora Edy100% (2)
- Texto Como Unidade de EnsinoDocumento10 páginasTexto Como Unidade de EnsinoAna MouraAinda não há avaliações
- INGLESDocumento7 páginasINGLESAlecx Wanubio MendesAinda não há avaliações
- Sofia IelDocumento17 páginasSofia IelribeiroAinda não há avaliações
- Fichamento - Schutz - Joao CorreiaDocumento2 páginasFichamento - Schutz - Joao CorreiaDuda LAinda não há avaliações
- SímbolosDocumento2 páginasSímbolosTito900Ainda não há avaliações
- Simulado 2Documento7 páginasSimulado 2André DaliaAinda não há avaliações
- Anotações Conscurso SupervisorDocumento455 páginasAnotações Conscurso SupervisorMarco PelliciariAinda não há avaliações
- 2 de Vulgari Eloquentia Autor Dante AlighieriDocumento24 páginas2 de Vulgari Eloquentia Autor Dante AlighieriGbhd FdxcAinda não há avaliações
- ISPN - 1º Ano - TPCLDocumento111 páginasISPN - 1º Ano - TPCLPaulino Chingumba XROBAinda não há avaliações
- Aula 00 INSS Língua PortuguesaDocumento52 páginasAula 00 INSS Língua PortuguesaAntônio LoureiroAinda não há avaliações
- Elementos Essenciais À Oratória E À Homilética: Aula 4Documento20 páginasElementos Essenciais À Oratória E À Homilética: Aula 4e3marcosAinda não há avaliações