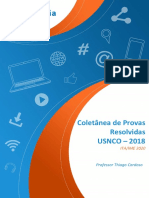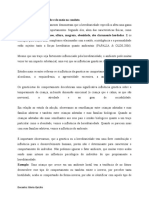Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Barroco, Símbolo e Alegoria em Walter Benjamin
Barroco, Símbolo e Alegoria em Walter Benjamin
Enviado por
Antonio Sávio0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações8 páginasDireitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações8 páginasBarroco, Símbolo e Alegoria em Walter Benjamin
Barroco, Símbolo e Alegoria em Walter Benjamin
Enviado por
Antonio SávioDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
Barroco, Smbolo e Alegoria em Walter Benjamin
Marcelo de Andrade Pereira
UFRGS
Porto Alegre - RS
Resumo: O presente artigo discute os conceitos de smbolo, alegoria
e barroco a partir de Walter Benjamin. Investiga, portanto, a relao
que esses conceitos mantm com a concepo de histria do mesmo
autor. Isso implica demonstrar de que maneira o modo de ser barroco
se assemelha qualitativamente ao modo de ser do indivduo na era
moderna.
Palavras-chave: Smbolo. Alegoria. Barroco. Histria. Walter
Benjamin.
Abstract: This article addresses the concepts of symbol, allegory
and baroque from Walter Benjamins perspective. It also investigates
the relationship between these concepts and Benjamins notion of
History, which implies demonstrating how the baroque way of being
qualitatively resembles the individuals way of being during the
Modern age.
Key words: Symbol. Allegory. Baroque. History. Walter Benjamin.
Em um livro intitulado Origem do Drama Barroco Alemo clebre
por sua complexidade e hermetismo Walter Benjamin expe a relao entre
um gnero literrio e uma forma histrica. O gnero em questo o Barroco
e a histria, moderna. Com efeito, Benjamin demonstra que a estrutura por
intermdio da qual a histria (moderna) representada refere-se na verdade a
um modo de confgurao alegorico, proprio do Barroco. Deve-se assinalar,
contudo, que a alegoria no representa em Benjamin apenas um modo de
ilustrao tal como teria defnido uma flosofa da arte infuenciada pela
tradio clssica mas uma forma de expresso. (BENJAMIN, 1984, p.184).
O livro sobre o drama barroco alemo consiste justamente na teoria deste modo
de expresso, de sua apresentao como mtodo, diga-se de passagem, no
apenas do Barroco enquanto gnero artstico mas do prprio pensamento
benjaminiano. Nesse sentido, partir-se- da exposio dos conceitos de smbolo
e alegoria em Walter Benjamin, para, ento, verifcar o modo de confgurao
da histria em conformidade com os conceitos por ele apresentados no livro
em questo. Veja-se:
ANALECTA Guarapuava, Paran v.8 n 2 p.47-54 jul./dez. 2007
48
Benjamin parte de uma crtica estilstica do Barroco, isto , da forma
sob o contexto de seu desenvolvimento historicoflosofco, para dele retirar
sua flosofa da historia e da linguagem. A teoria da alegoria no flosoIo da
aura modo com o qual se convencionou chamar Walter Benjamin constitui
certamente mais que uma categoria chave para o entendimento do Barroco.
Sua formulao busca compreender a alegoria enquanto categoria esttica, pois
entende que somente ela seja de fato capaz de compreender adequadamente
a atualidade dos fenmenos histricos (MURICY, 1998, p.159). De acordo
com Benjamin (1984), o smbolo no d conta disso, muito embora a tradio
romntica diga o contrario. Benjamin intenta, por isso mesmo, retifcar um
distorcido, inautntico e vulgar conceito de smbolo que seria, segundo ele,
determinado pela pretenso do romantismo de um saber absoluto.
O conceito autntico de smbolo est, com efeito, para Benjamin (1984,
p.182), 'situado na esIera da teologia, e no teria nunca irradiado na flosofa
do belo essa penumbra sentimental que desde o incio do romantismo tem se
tornado cada vez mais densa. Esse conceito de smbolo concorre, ento, para
a unidade do elemento sensvel e do supra-sensvel; nisso consiste exatamente
o seu paradoxo. De acordo com Benjamin, o abuso do romantismo decorre
do fato de compreender o smbolo teolgico como uma simples relao entre
manifestao e essncia. Essa noo acaba por indicar apenas a impotncia
critica de sua legitimao flosofca, que 'por Ialta de rigor dialtico perde
de vista o contedo, na anlise formal, e a forma, na esttica do contedo.
(BENJAMIN, 1984, p.182).
da simbologia de Friedrich Creuzer e da concepo de smbolo e
alegoria de Joseph Grres que Benjamin retira os pressupostos de sua teoria do
saber alegrico. Em Creuzer, o smbolo artstico se distingue qualitativamente
do religioso, do mstico, pois aquele tambm smbolo plstico. No smbolo
plstico
a essncia no aspira ao excessivo, mas obediente natureza, adapta-se sua forma,
penetrando-a e animando-a. A contradio entre o infnito e o fnito se dissolve porque
o primeiro, autolimitando-se, se humaniza. Da purifcao do pictorico, por um lado,
e da renncia voluntria ao desmedido, por outro, brota o mais belo fruto da ordem
simblica. o smbolo dos deuses, combinao esplndida da beleza da forma com a
suprema plenitude do ser, e porque chegou sua mais alta perfeio na escultura grega,
pode ser chamado o smbolo plstico (CREUZER apud BENJAMIN, 1984, p.186).
No smbolo existe uma totalidade momentnea; nele o conceito baixa
no mundo fsico, e pode ser visto, na imagem, em si mesmo, de forma imediata.
Em outras palavras, o smbolo a prpria idia em sua forma sensvel,
corprea. A alegoria, em contrapartida, seria apenas um conceito geral
ou idia, que dela |permaneceria| distinta (CREUZER apud BENJAMIN,
1984, p.187). A alegoria consiste, para Creuzer, em uma substituio da
signifcao e, sendo assim, estaria nela ausente o elemento momentneo
e instantneo que se apresenta no smbolo. Disso resulta a alegoria como
49
signifcante e o simbolo como ser. Grres, no entanto, insatisIeito com essa
distino, recolocou o problema entre smbolo e alegoria sob o ponto de vista
das idias, permitindo, por conseguinte, redimensionar o alcance de ambas as
noes. De acordo com Grres (apud BENJAMIN, 1984, p.187), o smbolo
o signo das idias e a alegoria a sua cpia. Como signo das idias, o smbolo
sempre autrquico, ele permanece sempre igual a si mesmo, irredutvel. A
alegoria, como copia das idias, acompanha o fuxo do tempo, esta, portanto,
sempre em constante progresso. Para Benjamin, Grres retifca o equivoco
da formulao de Creuzer sobre a alegoria, que segundo Grres, no teria
valorizado o modo de expresso alegrico. Na posse desses dados, Benjamin
defne simbolo e alegoria dizendo que
a medida temporal da experincia simblica o instante mstico, na qual o smbolo
recebe o sentido em seu interior oculto e por assim dizer, verdejante. Por outro lado,
a alegoria no est livre de uma dialtica correspondente, e a calma contemplativa,
com que ela mergulha no abismo que separa o Ser visual e a Signifcao, nada tem
da auto-sufcincia desinteressada que caracteriza inteno signifcativa, e com a
qual ela tem afnidades aparentes. (BENJAMIN, 1984, p.187-188).
dessa maneira que o autor do Trauerspielbuch recupera tanto o sentido
ltimo do smbolo quanto o da alegoria, que ser, por sua vez, considerada por
ele como a confgurao de uma sintese da imaginao dialtica.
1
A alegoria
adentra de modo no intencional no smbolo mstico, negativo; nisso consiste
precisamente a sua dialtica: ela se reveste de smbolo, mas no smbolo. O
simbolo nada comunica e nada signifca, ele apenas torna transparente algo
que est para alm de toda a expresso. A alegoria, no entanto, revela novas
possibilidades de signifcao. E da impossibilidade de conhecimento deste
fundo escuro e enigmtico do smbolo que remete a uma outra dimenso
na qual se entrecruzam espao e tempo sagrados o lugar de onde nasce o
esforo interpretativo da alegoria.
Como bem indica Jeanne-Marie Gagnebin (1999), a forma de
interpretao alegrica determina, no pensamento benjaminiano, a
compreenso da prpria Histria da Salvao.
2
A alegoria ao mesmo
1
Por imaginao dialtica Benjamin entende o processo de produo de imagens dialticas, essas como
sendo a captao das tenses presentes no pensamento compreendidas sob uma forma cristalizada.
A imagem dialtica concentra numa imagem esttica, imvel, o dinamismo de que se constitui o
pensamento (BENJAMIN, 1994, p .231). Vale ressaltar, contudo, que a imagem dialtica s pode ser
capturada sob o ponto de vista da histria; ela no dada empiricamente, mas construda por meio
da qual se torna um objeto histrico (BOLLE, 2000).
2
Sobre esta questo, vale sublinhar, levando em considerao os textos anteriores sobre a linguagem, que
a queda da condio paradisaca da palavra impede que o smbolo regule em sua totalidade esta escrita.
Na alegoria, entretanto, a palavra ascende ordem do nome. A alegoria remete nostalgia do paraso
perdido. Ela parte, ao contrrio do smbolo, do universal (totalidade) ao particular (singularidade),
ela imanente. A alegoria permanece autntica ao ser da idia e ao ser lingstico simultaneamente.
Essas pequenas consideraes sobre smbolo e alegoria j deixam ntida a contraposio de Benjamin
tradio romntica do smbolo.
50
tempo o sinal da queda e a promessa de reconciliao com o Absoluto, de
sua redeno. A ambigidade que lhe seria caracterstica repousa justamente
sobre a tentativa de reconhecer no profano os vestgios do Sagrado.
Essa considerao parte, sobretudo, da compreenso da dialtica
de que se constitui a alegoria. O confito entre o sagrado e o proIano, de
uma ordem material em oposio a uma espiritual, o pano de fundo desse
modo de expresso. A antinomia entre a conveno e a expresso, na alegoria
circunscrita, , segundo Benjamin (1984, p.197), o correlato formal dessa
dialtica religiosa do contedo. A prpria realidade est condicionada
por essa permanente antinomia. Como representao, palco das aes, a
realidade , como indica Buci-Glucksmann (1994), um jogo ilusionstico,
cujo tempo no mtico, mas espectral. Na alegoria, o mundo profano , ao
mesmo tempo, exaltado e desvalorizado. A alegoria se funda, basicamente,
sobre a depreciao do mundo aparente. O Barroco apreende esse esprito,
essa notao do mundo como jogo de espelhos que constitui sua condio
irredutvel e funcional, meditao exaustiva e interminvel.
No obstante, o livro sobre o drama barroco no consiste na simples
enumerao de obras que apresentam um mesmo modo de estruturao, mas
do reconhecimento de um sentimento sua substncia , que resulta numa
forma.
O objeto da critica flosofca mostrar que a Iuno da Iorma artistica converter
em conteudos de verdade, de carater flosofco, os conteudos Iactuais, de carater
historico, que esto na raiz de todas as obras signifcativas. Essa transIormao do
contedo factual em contedo de verdade faz do declnio da efetividade de uma obra
de arte, pela qual, dcada aps dcada, seus atrativos iniciais vo se embotando, o
ponto de partida para um renascimento, no qual toda beleza efmera desaparece, e
a obra se afrma enquanto ruina. Na estrutura alegorica do drama barroco sempre
se destacaram essas runas, como elementos formais da obra de arte redimida.
(BENJAMIN, 1984, p.204).
O Barroco , assim, um esquema mental que se contrape quele que
o precede, o Renascimento.
3
A arte barroca se apresenta, por um lado, como
o contraponto esttica do belo preconizada pelo classicismo, tomado como
unidade no contraditria da beleza, e, por outro, como manifestao do
esprito de uma poca. A tradio clssica, de que se distingue a barroca, se
caracteriza, sobretudo, por uma viso de mundo demasiadamente positiva:
nela no h lugar para o ocasional e o improvisado (AGUIAR e SILVA, 1968,
p.391). A obra de arte clssica transfere a imagem da realidade para uma
Iorma simplifcada, supostamente unica, integrada. Como salienta Arnold
3
A proIuso de estilos do Barroco so encontra unidade e so pode ser classifcada como tal a partir do
universo mental de sua formao. De acordo com Arnold Hauser (2003, p.442), o barroco engloba
tantas ramifcaes do esIoro artistico, apresenta-se em Iormas to diIerentes de pais para pais e nas
vrias esferas de cultura, que primeira vista parece duvidoso que seja possvel reduzi-las todas a um
denominador comum.
51
Hauser (2003, p.448), a homogeneidade desse tipo de arte, era meramente
uma espcie de consistncia lgica, e a totalidade em suas obras nada mais
do que um agregado e a soma total dos detalhes, em que os diferentes
componentes ainda eram claramente reconhecveis. O Barroco indica, em
contrapartida, que uma obra de arte no algo to bem estruturado, inscrito
sob uma forma nica e delimitada. A arte barroca inscreve a histria e nela
se ampara; nesse sentido, deriva de uma viso de mundo fundamentalmente
dinmica e acidental, contingente. A obra de arte barroca sempre aberta,
diversa, no indicando nunca uma coisa acabada, perfeita, mas sempre o
tumulto, a confuso e a morte. Isso explica porque a runa uma alegoria
central na flosofa da historia e da linguagem benjaminianas, ela representa
a transitoriedade da vida, como sendo o sinal da insignifcncia temporal
da existncia humana em vista da eternidade do divino. Se a linguagem
constitui a possibilidade de redeno da ordem catastrofca do mundo, ento
ela deve visar necessariamente a sua destruio. A alegoria parte justamente
desse imperativo.
Na esfera da inteno alegrica, a imagem fragmento, runa. Sua beleza simblica
se evapora, quando tocada pelo claro do saber divino. O falso brilho da totalidade
se extingue. Pois o eidos se apaga, o smile se dissolve, o cosmos interior se resseca.
Nos rebus aridos, que fcam, existe uma intuio, ainda acessivel ao meditativo, por
confuso que ele seja. (BENJAMIN, 1984, p.198).
A fragmentao do real de que a linguagem testemunha e prova,
denuncia, por meio da alegoria, a falsa totalidade dessa quando de uma escrita
positiva e acabada da histria.
4
Todavia, como afrma Benjamin (1984), a
histria apresenta como sua propriedade a morte. A alegoria , nesse sentido,
a denuncia critica da escrita catastrofca do mundo, sua redeno. No
obstante, o uso recorrente da palavra redeno, assim como outros termos
correlatos de mesmo teor semntico, tais como restaurao, recuperao,
reabilitao e a prpria rememorao, indicam, cada um sua maneira e de
antemo, uma perda fundadora que condiciona o objeto e sua representao.
Isso remete para o sentimento que funda um pensamento que se dirige
insistentemente para o resgate dessa ordem primeira que se perdeu, sob o
ponto de vista do tempo, da histria e da linguagem.
5
Esse sentimento o
luto e ele aponta sintomaticamente para a nostalgia de uma ordem histrico-
4
Sobre este aspecto, afrma Jeanne Marie Gagnebin (1999, p.43), que 'a verdade da interpretao
alegrica consiste neste movimento de fragmentao e de desestruturao da enganosa totalidade
histrica: a esperana de uma totalidade verdadeira tal como sugere a fulgurncia do smbolo s
pode, pois, ser expressa nas metforas da mstica (ou da teologia), isto , numa linguagem duplamente
prevenida contra a assimilao a um discurso de pretenso descritiva ou at cientifca..
5
Conforme Jeanne Marie Gagnebin (1999, p.31), tanto na primeira parte do Drama Barroco quanto na
segunda, acentua-se a necessidade de reabilitar uma viso devastadora do tempo e da histria em
oposio ao cumprimento do tempo trgico e mtico e do sentido da linguagem em oposio sua
plenitude no smbolo.
52
temporal, simblica, qualitativamente distinta da que se apresenta ao homem
lingstico, profano, como nica possvel todavia no satisfatria do
mundo das coisas.
A morte por isso mesmo a grande fantasmagoria barroca, seu
tema principal, ela representa a danao de todas as coisas, a depreciao
gradativa do corpreo em relao ao incorpreo. A morte ocupa um papel
paradoxal no corpus barroco: ao mesmo tempo o sinal da fragilidade dessa
ordem e a salvao da mesma. Isso explica inclusive porque Benjamin
utiliza a alegoria como uma chave metodologica. A alegoria mortifca os
objetos. Esse gesto, por sua vez, diz respeito basicamente a uma tentativa de
salvaguardar os objetos fenmenos histricos de uma existncia vazia
e atemporal, abstrata, meramente conceitual. Benjamin busca humanizar os
objetos, dar-lhes uma fsionomia. Nesse sentido, concebe-os como artigos
colecionveis, colocando-os, por conseguinte, sob o registro da natureza,
como anteriormente mencionado.
A alegoria , como afrma Benjamin (1984, p.189), uma curiosa
combinao de historia e natureza. De acordo com o flosoIo da aura, a
vida histrica o verdadeiro objeto do Barroco. A natureza do Barroco
historica e historica a sua natureza, pois ela remete ao fuxo interminavel
do desenvolvimento histrico, da transitoriedade que tudo degrada,
decompe.
6
Uma clebre passagem do texto sobre o Barroco sintetiza
justamente essa noo.
A histria em tudo o que nela desde o inicio prematuro, sofrido e malogrado, se
exprime num rosto no, numa caveira. E porque no existe, nela, nenhuma liberdade
simblica de expresso, nenhuma harmonia clssica da forma, em suma, nada
de humano, essa fgura, de todas a mais sujeita a natureza, exprime no somente a
existncia humana em geral, mas, de modo altamente expressivo, e sob a forma de um
enigma, a historia biografca de um individuo. Nisso consiste o cerne da viso alegorica:
a exposio barroca, mundana, da histria como histria mundial do sofrimento,
signifcativa apenas nos episodios do declinio. (BENJAMIN, 1984, p.188).
O dominio do Barroco o da Historia Natural, pois ela refete a
efemeridade e o inacabamento de todas as coisas na alegoria essa, por sua
vez, contrape-se eternidade e plenitude do smbolo. no processo de
decomposio da histria, de sua caducidade que a viso barroca reconhece
a fsionomia da historia. Como salienta Susan Buck-Morss (2002, p. 220),
para Benjamin, o sofrimento humano e a runa so a matria e a forma da
experincia histrica. Desse modo, v-se mais uma vez exposta a contraposio
do Barroco noo clssica da histria que se apoiaria, por seu turno, sobre
um conceito de natureza eterna, transfgurada e ja redimida.
6
Esse , de acordo com Benjamin (1984, p.86), o principal aspecto que permite diferenciar a Tragdia
Clssica do Drama Barroco. O objeto da Tragdia no a histria, mas o mito, que no resulta de uma
condio atual do personagem, mas de uma pr-histria.
53
Entrementes, o luto no apenas um motivo sobre o qual o Barroco
teria se desenvolvido, seu tema ou contedo, mas o sentimento que o mesmo
reconheceu como condio de ser do homem profano em geral, ser histrico,
temporal (KONDER, 1999, p.36). Sob o ponto de vista da histria, essa
condio irrevogvel e se prolonga por geraes. O Barroco, enquanto forma,
atemporal.
no modo de interpretao barroco da histria que Benjamin ir
encontrar a forma de expresso mais adequada para a representao dessa
condio lutuosa de ser do homem. Sob o ponto de vista da linguagem, o
sentimento do luto se confgura numa alegoria. O luto , ao mesmo tempo, a
origem e o contedo da alegoria. (BENJAMIN, 1984, p.253).
Como um pensador do seu tempo, Benjamin verifca este modo
de estruturao do ser na modernidade. O homem moderno um indivduo
destitudo de experincia; , portanto, um ser cuja condio de perda se anuncia
num mundo de escombros, em que se vem perflados em ruinas os grandes
valores antigos. O mundo moderno um mundo cuja histria foi desagregada,
nele o passado j no se encontra contido no presente, remanesce apenas como
uma lembrana difusa de fatos que, para ele, no lhe dizem mais respeito.
No que concerne experincia, essa de que Benjamin faz pergunta, pode-
se afrmar que ela consiste, na verdade, na pergunta pela propria capacidade
de conjuno do homem com o mundo, com a histria e com a natureza.
Benjamin percorre a historia a partir do fgurado, das artes, da arquitetura, das
mercadorias; refaz por intermdio das alegorias nelas construdas a verdadeira
fsionomia da historia que lhe presente. Para Benjamin, no campo artistico
imagtico que adquire visibilidade tudo aquilo que foi rejeitado e esquecido
pela historia ofcial, aquela contada por uma historiografa voltada para
o progresso. Tanto assim que foi por intermdio da obras de arte que o
flosoIo da aura pde ver salvaguardada a idia de redeno. Num mundo por
demais laicizado, a nica possibilidade de redimir a histria se d, segundo
Benjamin, por sua exposio em imagens. No obstante, smbolo e alegoria
Iazem o pensamento incidir sobre si mesmo, refetindo, conseqentemente,
sobre as condies de sua prpria formao.
Referncias
AGUIAR e SILVA, V. M. de. Teoria da literatura. Coimbra: Livraria Almedina,
1968.
BENJAMIN, W. Origem do drama barroco alemo. Traduo, apresentao
e notas de Srgio Paulo Rouanet. So Paulo: Brasiliense, 1984.
BOLLE, W. Fisiognomia da metrpole moderna Representao da histria
em Walter Benjamin. So Paulo: Edusp, 2000.
54
BUCI-GLUCKSMANN, C. Baroque reason: the aesthetics of modernity.
London: Sage Publications, 1994.
BUCK-MORSS, S. Dialtica do olhar Walter Benjamin e o projeto das
passagens. Belo Horizonte: UFMG, 2002. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
GAGNEBIN, J. M. Histria e narrao em Walter Benjamin. So Paulo:
Perspectiva, 1999.
HAUSER, A. Histria social da arte e da literatura. So Paulo: Martins
Fontes, 2003.
KONDER, L. Walter Benjamin O marxismo da melancolia. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 1999.
MURICY, K. Alegorias da dialtica Imagem e pensamento em Walter
Benjamin. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 1998.
Você também pode gostar
- Aula 2 - Plantão Psicológico - ContemporaneidadeDocumento16 páginasAula 2 - Plantão Psicológico - ContemporaneidadeCândida Psi100% (1)
- SINTAXEDocumento20 páginasSINTAXELeandro Rodrigues100% (1)
- Cap 1 - Metodologias de Pesquisas Pós-Críticas em Educação-Marlucy e Dagmar-1-23Documento23 páginasCap 1 - Metodologias de Pesquisas Pós-Críticas em Educação-Marlucy e Dagmar-1-23Nara Margo Mesquita GarciaAinda não há avaliações
- Re 82204 Lgamb8 Sumativa 3Documento3 páginasRe 82204 Lgamb8 Sumativa 3óscar russoAinda não há avaliações
- O Poder Oculto Dos SimbolosDocumento10 páginasO Poder Oculto Dos SimbolosRonan VieiraAinda não há avaliações
- Platão - DiálogosDocumento258 páginasPlatão - DiálogosRodrigo Rocha100% (1)
- Aula 02 Teoria Da CriseDocumento16 páginasAula 02 Teoria Da CriseIris LopesAinda não há avaliações
- Projecto de Monografia Versao-Oldivanda NhampuleDocumento31 páginasProjecto de Monografia Versao-Oldivanda NhampuleDurao SebastiaoAinda não há avaliações
- 19 A 23-04 - Plano de Aula Semanal - CiênciasDocumento5 páginas19 A 23-04 - Plano de Aula Semanal - CiênciasAna Paula DamásioAinda não há avaliações
- A Clínica Do RealDocumento3 páginasA Clínica Do RealJúlia PalmiereAinda não há avaliações
- UNIRG Vestibular 2016 1 PDFDocumento24 páginasUNIRG Vestibular 2016 1 PDFelisamacostalopes100% (1)
- Camões 1Documento1 páginaCamões 1Sofia AmorimAinda não há avaliações
- 20191222133231047934-23B Lista02Documento40 páginas20191222133231047934-23B Lista02Louis PhiAinda não há avaliações
- T6 ITPM Deformação Plastica Na Massa 2 2020Documento27 páginasT6 ITPM Deformação Plastica Na Massa 2 2020André GomesAinda não há avaliações
- Teorias Do DesenvolvimentoDocumento25 páginasTeorias Do DesenvolvimentoDanúbio Quizito Cuezeza0% (1)
- CARIOCAIIBimestres3e4 Onlinecomcapa 2207Documento145 páginasCARIOCAIIBimestres3e4 Onlinecomcapa 2207ROBERTA KELLY ARRUDAAinda não há avaliações
- 2AEP101 Gg5784 Controladores e Consoles Digitais 02Documento4 páginas2AEP101 Gg5784 Controladores e Consoles Digitais 02Wesley PenteadoAinda não há avaliações
- Interpretação de Texto - Aula 1Documento34 páginasInterpretação de Texto - Aula 1adrsimonAinda não há avaliações
- TEMA 10 ClasseDocumento9 páginasTEMA 10 ClasseWilly Kane TxitxiAinda não há avaliações
- GD I PontoDocumento34 páginasGD I PontoFlávio SantosAinda não há avaliações
- 3° Innovation Designs of Industry 4.0 Based Solid Waste Management Machinery and Digital Circular EconomyDocumento11 páginas3° Innovation Designs of Industry 4.0 Based Solid Waste Management Machinery and Digital Circular EconomyLenildo GonçalvesAinda não há avaliações
- Análise A Casa Dos EspíritosDocumento24 páginasAnálise A Casa Dos EspíritosJOSE GUILHERME SIEBER PADILLA PANDOLFIAinda não há avaliações
- Calcário - Rocha AmigaDocumento9 páginasCalcário - Rocha AmigaSandra SilvestreAinda não há avaliações
- Apresentação Abertura de NotaDocumento8 páginasApresentação Abertura de NotaWellington ReisAinda não há avaliações
- Engenharia de SoftwareDocumento4 páginasEngenharia de SoftwareRodrigo CunhaAinda não há avaliações
- Untitled 2Documento3 páginasUntitled 2Bruno OizumiAinda não há avaliações
- Port 1532 2008RGSCIE PDFDocumento244 páginasPort 1532 2008RGSCIE PDFMauroAlegre100% (1)
- Silvicultura e Exploracao Florestal em MoçambiqueDocumento13 páginasSilvicultura e Exploracao Florestal em Moçambique708226177Ainda não há avaliações
- Resumo 06 - Biologia CelularDocumento2 páginasResumo 06 - Biologia CelularAugusto MoreschiAinda não há avaliações
- Diversão e Tédio HumanoDocumento4 páginasDiversão e Tédio HumanoThiago JunioAinda não há avaliações