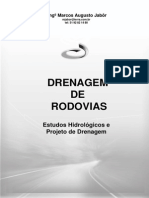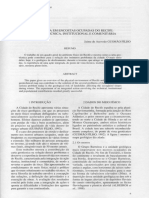Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Manilkara Huberi
Enviado por
Destumano0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
73 visualizações12 páginasEste documento fornece informações sobre a espécie Manilkara huberi, incluindo sua descrição botânica, distribuição, aspectos ecológicos, reprodução, cultivo e usos. A espécie é uma árvore encontrada na América do Sul, com ênfase na Amazônia, que produz frutos dispersos por animais. Sua madeira é usada comercialmente e requer plantios para fins de manejo sustentável.
Descrição original:
Título original
manilkara-huberi
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEste documento fornece informações sobre a espécie Manilkara huberi, incluindo sua descrição botânica, distribuição, aspectos ecológicos, reprodução, cultivo e usos. A espécie é uma árvore encontrada na América do Sul, com ênfase na Amazônia, que produz frutos dispersos por animais. Sua madeira é usada comercialmente e requer plantios para fins de manejo sustentável.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
73 visualizações12 páginasManilkara Huberi
Enviado por
DestumanoEste documento fornece informações sobre a espécie Manilkara huberi, incluindo sua descrição botânica, distribuição, aspectos ecológicos, reprodução, cultivo e usos. A espécie é uma árvore encontrada na América do Sul, com ênfase na Amazônia, que produz frutos dispersos por animais. Sua madeira é usada comercialmente e requer plantios para fins de manejo sustentável.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
PROJETO: EXTRATIVISMO NO-MADEIREIRO E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTVEL NA AMAZNIA (ITTO PD 31/99 Ver. 3 (I)).
BANCO DE DADOS NON WOOD
NOME CIENTFICO: Manilkara huberi (Ducke) Chevalier
FAMLIA: Sapotaceae
SINNIMOS CIENTFICOS: Mimusops huberi Ducke
NOMES VULGARES:
Brasil: maaranduba (Amap); maaranduba, massaranduba-da-terra-firme, massaranduba-
mansa (Amazonas); maaranduba, maaranduba-balata, massaranduba-balata (Maranho);
maaranduba, maaranduba-branca, paralu (Mato Grosso); aparai, balata, maaranduba-
de-leite, maaranduba-folha-amarela, maarandubinha, maparaju, maparajuba, maparajuba-
da-vrzea, massaranduba-bois-vache, massaranduba-mansa, massaranduba-verdadeira,
paraju, parajuba (Par); maaranduba (Roraima); krwy no kamrek (Kayap); maparajuba
(Indgena).
Outros Pases: bullet wood (Estados Unidos); black balata (Guiana); chupon, pulgo negro,
purguo (Venezuela); basra-boletri, basra-bortri (Espanhol).
Descrio botnica
rvore. Ramos jovens marrom-escuro, pice usualmente coberto com uma pelcula
semelhante ao verniz, glabros, lenticelados, tornando-se plidos, speros e escamosos com
a idade. Estpulas ausentes. Folhas (10-)15-23(-27,5) x 5-8,5(-12)cm, oblongo-elpticas ou
oblongas, menos freqentemente oblanceoladas, pice obtuso, arredondado ou curtamente e
amplamente cuspidado, base amplamente ou estreitamente atenuada; superfcie superior
glabra, inferior densa e minutamente adpresso-escamosa-pubrula com plos amarelo-
plidos formando uma pelcula; usualmente coriceo; nervura principal usualmente
levemente proeminente, mas rebaixada na superfcie superior; secundrias 30-35pares,
conspcuas abaixo; intersecundrias longas, proeminentes, ordem mais alta da venao na
maioria das vezes paralela s secundrias, freqentemente obscurecida pelo indumento.
Pecolo 3,5-6,5cm de comprimento, no ou apenas levemente canelado no pice, glabro.
Flores 10-15 em um fascculo. Pedicelo 2-4cm de comprimento, adpresso-pubrulo, s
vezes flexionado no boto. Spalas 5-5,5mm de comprimento, lanceoladas, pice agudo,
adpresso-pubrulo externamente, freqentemente revestidas por uma pelcula sercea,
glabra internamente. Corola glabra, 4,5-5,5mm de comprimento, tubo 1-1,5mm de
comprimento; lobos seis, divididos na base em trs segmentos, segmento mediano
estreitamente-navicular, ungiculado, pice arredondado; segmentos laterais igualando ou
excedendo levemente o seguimento mediano, estreitamente lanceolado, inteiro, ou mais
amplo e ento profundamente bilobado. Estames seis, glabros; filamentos ca. de 2mm de
comprimento, curtamente fundidos aos estamindios; anteras 1-1,5mm de comprimento,
lanceolado-sagitadas. Estamindios seis, glabros, 1,5-2,5mm de comprimento,
estreitamente-lanceolados a oblongos, pice bilobado ou irregularmente dentado. Ovrio
delgado-ovide, 6-locular, adpresso-pubrulo; estilete 3,5-4,5mm de comprimento, depois
da antese, glabro. Fruto 2,5-3 x 2,5-2,8cm, amplamente ovide ou globoso, pice e base
obtusa a arredondada, liso, glabro. Semente lateralmente comprimida (Pennington, 1990).
Distribuio
Espcie encontrada na Amrica do Norte, Central e do Sul (Sampaio, 2000), com
distribuio do Par at a metade oriental do Amazonas, norte do Mato Grosso e nordeste
do Maranho at o Suriname. Tambm das proximidades do Atlntico at Roraima,
Rondnia e Amap (Loureiro et al., 1979).
__________________________________
Informaes adicionais
No Jardim Botnico do Rio de Janeiro foram introduzidas mudas de M. huberi no
ano de 1920 e observou-se que, as rvores, embora robustas, cresciam com extrema
lentido (Porto, 1930).
Aspectos ecolgicos
pereniflia, cifita at helifita, seletiva xerfita, clmax, de freqncia elevada e
descontnuo padro de disperso (Lorenzi, 1998). As rvores, quase sempre grandes, se
elevam no dossel superior da floresta primria, caracterizando, muitas vezes, o tipo da mata
(Fres, 1959). Ocorre notadamente no esturio, habitando a mata pluvial de grande porte,
na terra firme e em certas vrzeas pouco inundveis (Cavalcante, 1974).
Adapta-se a solos argilosos, pobres em nutriente, bem estruturados e bem drenados
(oxissolos e ultissolos). Desenvolve-se bem em locais com precipitao anual variando
entre 1500 e 2500mm e temperatura mdia anual entre 24 e 28C. Somente encontrada em
altitudes inferiores a 500m (Sampaio, 2000).
Tem-se registro da florao nos meses de maro a novembro e da frutificao de
fevereiro a abril, julho a agosto e novembro (Franciscon, 1993). Na Floresta Nacional de
Tapajs (PA), observaram-se botes florais de abril a junho, com flores entre maio e julho.
Nos meses de maro e maio aparecem os frutos verdes e de dezembro a maro os maduros.
A disseminao e a queda dos frutos acontecem entre janeiro e maro (Carvalho, 1980).
Em outro estudo na Floresta Nacional do Tapajs, a fase de florao iniciou no
perodo de maior precipitao pluviomtrica (maio-setembro) e prolongou-se at a poca de
reduzida pluviosidade. A frutificao comeou em julho e se estendeu at maro, poca de
maior ndice pluviomtrico. A disseminao das sementes ocorreu no perodo de maior
pluviosidade da regio, janeiro a maro. Verificou-se a populao apresentou eventos
reprodutivos numa freqncia de trs a quatro anos (Leo & Oliveira, 1997). Na Estao de
Curu-Uma (PA) a florao foi observada de setembro a outubro e a frutificao de
dezembro a fevereiro (Pereira & Pedrosa, 1982).
A disperso do tipo barocrica (Leite et al., 1999a) ou zoocrica, pela avifauna
(Lorenzi, 1998). Os frutos atraem muitos animais silvestres na poca de maturao,
dificultando a coleta para o consumo humano (Cavalcante, 1974). Em estudo Leite et al.
(1999a) observaram macacos e pssaros (psitacdeos) se alimentando das sementes ainda
imaturas e os frutos, dispersos por esses animais, constituam alimento para cotias e veados.
No mesmo estudo os autores concluram que a ausncia de regenerao indicou a predao
como um fator limitante para a espcie, pois ocorreu o mesmo comportamento tanto em
rea manejada quanto no manejada.
__________________________________
Informaes adicionais
Em estudo, Mendes et al. (1998) identificaram os seguintes fungos associados
sementes de M. huberi: Aspergillus spp., Fusarium spp., Monicillium sp., Penicillium sp. e
Trichoderma sp.
Cultivo e manejo
A propagao realizada por sementes. Um quilograma contm de 1.700 (Sampaio,
2000) a 5.000 sementes (Loureiro et al., 1979). Para a obteno das sementes devem-se
colher os frutos diretamente da rvore quando iniciarem a queda espontnea ou recolh-los
no cho sob a planta me logo aps a queda. A estocagem em sacos plsticos at o
apodrecimento dos frutos facilita a retirada das sementes, que realizada atravs de
lavagem das mesmas em gua corrente (Lorenzi, 1998). A dormncia das sementes pode
ser superada atravs da escarificao manual, que consiste em atritar levemente as sementes
contra uma superfcie abrasiva sem, contudo, danificar seu embrio (Garcia & Azevedo,
1990).
Na produo de mudas deve-se colocar as sementes para germinao logo que
colhidas em canteiros semi-sombreados contendo substrato organo-arenoso. Em seguida
cobri-las com uma fina camada do substrato peneirado e irrigar duas vezes ao dia (Lorenzi,
1998). A emergncia ocorre entre 45-75dias e a taxa de germinao de 50 a 65%
(Sampaio, 2000).
Aps a germinao deve ser feita a repicagem das plntulas para sacos plsticos,
conservando-as em canteiros sombreados a 50% at que as mudas alcancem 50cm de altura
(Sampaio, 2000). O espaamento em floresta primria de 5m x 5m e anualmente devem
ser feitas limpezas nas linhas do plantio (Loureiro et al., 1979).
Na Reserva Ducke (AM), em plantios sob sombra em floresta primria, as rvores
de maaranduba apresentaram sobrevivncia mdia de 87%, altura de 6,2m e DAP de
5,3cm aos 11anos de idade. No foi observada nenhuma praga ou doena nas rvores
(Loureiro et al., 1979). Sampaio (2000) menciona que, na Estao Experimental de Curu-
Una (PA), em regime de plantio a pleno sol, a massasranduba apresentou excelente ndice
de sobrevivncia (90%) com um incremento mdio anual em altura de 0,64m, em dimetro
de 0,75cm e em volume de 4,38m
3
/ha/ano durante os primeiros vinte anos.
__________________________________
Informaes adicionais
Botosso & Vetter (1991) ao estudar alguns aspectos sobre a periodicidade e taxa de
crescimento em oito espcies arbreas tropicais de floresta de terra firme (Amaznia),
verificaram para M. huberi uma variao no DAP de 187mm at 232mm e crescimento
acumulado sobre a circunferncia variando de 17,4mm a 45,2mm.
Em rea de extrao madeireira planejada na Amaznia Central, os resultados
indicaram para a maaranduba uma distribuio espacial do tipo agrupada, para um total de
274 talhes estudados. Destes, 67 talhes no apresentaram rvores de maaranduba, 4
tiveram alta diversidade (28-32 rvores) e a maior quantidade de talhes apresentou
freqncia de 1-3 indivduos/talho (Leite et al., 1999b).
Em anlise estrutural, em rea de floresta em Curu-Uma (Par), M. huberi estava
entre as 6 espcies mais importantes, com 529 rvores em uma rea de 100ha, abundncia
relativa (%) de 28,09, dominncia relativa (%) de 22,62 e ndice de valor de importncia de
50,71. Assim, a rea foi classificada como tendo alto potencial madeireiro devido
presena de M. huberi e de outras espcies de valor comercial (Jcome et al., 1999).
Leo & Oliveira (1999) sugerem estudos de propagao vegetativa e de
armazenamento em longo prazo das sementes desta espcie.
Coleta, armazenamento e processamento
Coleta
A colheita dos frutos dificultada devido ao elevado porte da rvore. Assim, estes
so colhidos quando caem (Ferro, 2001).
Utilizao
A espcie detm caractersticas que lhe conferem utilidades para alimentao,
artesanato, combustvel, cosmtico, isca, jogos e lazer, medicina, pequenos objetos,
saboaria, dentre outros.
Alimento humano
Os frutos e o ltex tm emprego na alimentao. Os frutos possuem polpa de sabor
doce e muito agradvel ao paladar, lembram o sabor do sapoti (Sampaio, 2000).
O ltex, geralmente retirado da rvore j abatida, tomado como alimento,
misturado ao mel de abelhas ou ao ch, tambm pode ser consumido com mingau, farinha
(Altman, 1956) ou ainda com o caf (Gomes, 1977). Este ltex fora utilizado na dcada
de 1950 como ingrediente da goma de marcar (Sampaio, 2000).
Os ndios Kaapor se alimentam do ltex que exsuda da planta. Quando esto
caando, retiram o ltex e o consomem como tira-gosto. Os ndios Temb misturam o
ltex ao chib, que a farinha de mandioca socada em gua (Bale, 1994).
Artesanato
A casca do caule pode ser utilizada para o fabrico de esculturas, se retirada de forma
correta (CTA, 1996b).
Combustvel
Os ndios Guaj da Amaznia preparam tochas com Sagotia racemosa e as mantm
acesas friccionando o ltex, oxidado e endurecido da massaramduba, na extremidade
destas (Bale, 1994).
Cosmtico
O cido cinmico presente no ltex da maaranduba serve para a preparao de
vrios steres que so muito usados em cosmticos e perfumaria (Altman, 1956).
Isca
Os ndios Kayap utilizam a espcie como atrativo para peixe (Posey, 1984).
Jogos e lazer
Para os Kayaps a espcie tambm tem utilidade em jogos (Posey, 1984).
Medicinal
Espcie com indicao de usos contra clculos renais (Revilla, 2002), dentre outras
doenas. O ltex utilizado como tnico (Berg, 1984) e quando misturado com mel de
abelhas ou com ch til contra a tuberculose, por apresentar quantidade relativamente alta
de cido cinmico (Altman, 1956). Misturado ao caf tambm tem indicao contra a
tuberculose (Gomes, 1977). O ltex e as folhas tm indicao de uso em casos de dores no
pulmo e no peito (Amorozo & Gely, 1988). A infuso da casca tida como antidisentrica
(Sampaio, 2000).
Pequenos Objetos
O ltex seco (balata) usado para o feitio de cintos e antigamente era utilizado para
cobrir bolas de golfe (Parrota et al., 1995).
Saboaria
O cido cinmico presente no ltex da espcie serve para a preparao de vrios
steres que so muito utilizados na indstria de sabes (Altman, 1956).
Outros
Devido viscosidade, o ltex de maaranduba pode ser empregado como substituto
de cola (Pennington, 1990). Este ltex serve tambm para o feitio de um tipo de balata
inferior encontrada no comrcio amaznico (Porto, 1936). A balata uma borracha, que
pode substituir a guta-percha proveniente da espcie do gnero Palaquium, do Arquiplago
Malaio (Sampaio, 2000). Quando purificada, a balata de maaranduba tem aspecto fibroso,
colorao branca, podendo ser laminada facilmente e passar pelo processo de vulcanizao,
desde que se tome cuidado com o tempo timo, temperatura e presso (Souza, 1956).
Em Caixuan (PA) a espcie tambm tem emprego em leos e resinas (Lisboa et al.,
2002).
__________________________________
Informaes adicionais
A madeira de M. huberi pesadssima, muito dura e de cor vermelho-sangue (Fres,
1959), e ao que se parece, a melhor do gnero (Porto, 1936), podendo ser includa na
categoria dos mognos de melhor qualidade (Ferro, 2001). til para segeria, cercas,
estacas, dormentes, vigamentos (Le Cointe, 1947), implementos agrcolas, instrumentos
musicais, tacos para assoalhos, torneamentos, calamentos de ruas, dormentes, esteios,
moires, cavacos para cobrir casas, cabos de ferramentas (Loureiro et al., 1979), apresenta
ampla aplicao tanto na construo civil como na naval (Saddi, 1977). desaconselhvel
o seu emprego na fabricao de celulose (Loureiro et al., 1979).
O ltex desta espcie muito espesso, de cor esbranquiada, sem sabor e com um
odor fracamente aromtico e agradvel. Estudos qumicos mostraram que o ltex contendo
balata no atrai perigo ao ser consumido e qualquer cogulo de balata eventualmente
formado no estmago decomposto, em pequenas partculas devido saponificao cida
do ster (Altman, 1956). Entretanto, um artigo pouco confivel sobre dieta menciona que o
ltex provocou casos srios de constipao quando usado indiscriminadamente
(Pennington, 1990).
Informaes econmicas
A maaranduba apresenta potencial econmico limitado como espcie frutfera,
devido ao seu crescimento lento e semelhana com os frutos de qualidade superior de
Manilkara zapota, mas tem potencial ainda no explorado para o emprego do ltex no
preparo de gomas de mascar (Sampaio, 2000).
Uma das aplicaes da balata era a utilizao como ingrediente para goma de
mascar. A regio norte do Brasil, historicamente, exportou o produto para vrios mercados
e sua substituio por similares sintticos contribuiu para a reduo drstica no volume de
exportao (Sampaio, 2000). Conforme dados obtidos do Departamento de Estatstica do
Estado do Par, o cogulo do leite de maaranduba foi exportado em quantidades que
variaram de 300 a 400 toneladas por ano em 1952 para Alemanha, Inglaterra e Estados
Unidos (Altman, 1956).
Os frutos de M. huberi so vendidos nos mercados de Belm (Porto, 1936) e
aparecem nas feiras entre fevereiro e abril (Cavalcante, 1974). Atualmente a madeira da
maaranduba vem conquistando mercados como o do Japo, Estados Unidos e Alemanha
(Sampaio, 2000).
Quadro resumo de usos
Quadro resumo de uso de Manilkara huberi (Ducke) Chevalier:
Parte da
planta
Forma Categoria do
uso
Uso
- - Isca Os ndios Kayap utilizam a espcie como atrativo para
peixe.
- - Jogos e Lazer A espcie til em jogos.
- - Medicinal Contra clculos renais.
- - Outros Tem emprego em leos e resinas.
Caule Ltex
Alimento
humano
O ltex pode ser empregado em gomas de mascar.
Misturado com mel de abelhas ou com ch, tomado como
alimento, mas tambm pode ser consumido misturado com
mingau, farinha ou ainda com caf.
Caule In natura Artesanato A casca do caule para o fabrico de esculturas.
Caule Ltex Combustvel utilizado pelos Guaj como material combustvel.
Caule Ltex Cosmtico O cido cinmico pode ser usado em cosmticos e
perfumaria.
Caule Infuso Medicinal A infuso da casca tida como antidisentrica.
Caule Ltex Medicinal O ltex misturado til contra a tuberculose, em casos de
doenas pulmonares e dores no pulmo e no peito.
Caule Ltex Pequenos
objetos
O ltex seco balata usado para o feitio de cintos e para
cobrir bolas de golfe.
Caule Ltex Saboaria O cido cinmico presente no ltex pe utilizado para a
fabricao de sabes.
Caule Ltex Outros Para o feitio de um tipo de balata inferior; pode ser
empregado como substituto de cola.
Folha - Medicinal Em dores no pulmo e no peito.
Fruto In natura Alimento
humano
A polpa dos frutos comestvel.
Bibliografia
ALTMAN, R.F.A. Anlise do leite de maaranduba Manilkara huberi (ducke) A. Chev.
Boletim Tcnico do Instituto Agronmico do Norte, Belm, n.31, p.81-91, 1956.
AMOROZO, M.C.M.; GLY, A. Uso de planas medicinais por caboclos do Baixo
Amazonas, Barcarena, PA, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emlio Goeldi, v.4, n.1,
p.47-131 , 1988. (Srie Botnica).
BALE, W. Footprints of the forest Kaapor ethnobotany the historical ecology of
plant utilization by an amazonian people. New York: Columbia University Press, 1994.
369p.
BERG, M.E. van den. Ver-o-peso: the ethnobotany of an amazonian market. In: PRANCE,
G.T.; KALLUNKI, J.A. (eds.). Ethnobotany in the Neotropics. Advances in Economic
Botany. Bronx: The New York Botanical Garden, 1984. v.l. p.140-149.
BOTOSSO, P.C.; VETTER, R.E. Alguns aspectos sobre a periodicidade e taxa de
crescimento em 8 espcies arbreas tropicais de floresta de terra firme (Amaznia). Revista
do Instituto Florestal, v.3, n.2, p.163-180, 1991.
CARVALHO, F.O.P. de. Fenologia de espcies florestais de potencial econmico que
ocorrem na floresta nacional de Tapajs. Belm: Embrapa-CPATU, 1980. 15p.
(Embrapa-CPATU. Boletim de Pesquisa, 20).
CAVALCANTE, P. B. Frutas comestveis da Amaznia II. Belm: Museu Paraense
Emilio Goeldi, 1974. 73p. (Publicaes avulsas, 27).
CAVALCANTE, P.B. Frutas comestveis da Amaznia. 5.ed. Belm:
CEJUP/CNPq/MPEG, 1991. 279p. (Coleo Adolfo Ducke).
CENTRO DOS TRABALHADORES DA AMAZNIA - CTA. Cartilha de
beneficiamento de produtos no-madeireiros: plantas medicinais da floresta. Rio
Branco: editora Poronga, 1996a. p.17. ilustrado.
CENTRO DOS TRABALHADORES DA AMAZNIA - CTA. Cartilha de
beneficiamento de produtos no-madeireiros: artesanato. Rio Branco: editora Poronga,
1996b. 13 p. ilustrado.
CORRA, M.P. Dicionrio das plantas teis do Brasil e das exticas cultivadas.
Colaborao de Leonan de A. Penna. Rio de Janeiro: IBDF, 1984. 6v. il.
DUCKE, A. As maarandubas amaznicas In: PINTO, A. de A.; BATISTA, M.E.; SILVA,
J.B.T. da; MARTINS, M.D.L.; NASSAR, N.L. Trpicos midos: resumos informativos.
Braslia: Departamento de Informao e Documentao, 1978. p.91. (Embrapa-CPATU.
Trpicos midos: resumos informativos, 2).
FERRO, J.E.M. Fruticultura tropical: espcies com frutos comestveis. Lisboa: Instituto
de Investigao Cientfica Tropical, 2001. v.2. 580p. il.
FRANCISCON, C.H. Distribuio geogrfica e estado atual do conhecimento de 10
espcies de extrativismo ocorrentes na Reserva Florestal Ducke, Manaus, Amazonas
(Amaznia Central). 1993. 97f. Dissertao (Mestrado em botnica) - Instituto de
Pesquisas da Amaznia, Universidade do Amazonas, Manaus, 1993.
FRES, R.L. Informaes sobre algumas plantas econmicas do Planalto Amaznico.
Boletim Tcnico do Instituto Agronmico do Norte, Belm, v.35, p.5-105, 1959.
GARCIA, L.C.; AZEVEDO, C.P. de. Mtodos para superar a dormncia de sementes
florestais tropicais. Manaus: Embrapa Amaznia Ocidental, 1990. No Paginado.
(Embrapa Amaznia Ocidental. Instrues tcnicas, 1.).
GOMES, R.P. Fruticultura brasileira. So Paulo: Nobel, 1977. 448p.: il.
J COME, R.R.; QUEIROZ, W.T. de; BARROS, A.V. de. Anlise estrutural de uma rea
florestal situada no planalto de Curu-Una, Par. In: SEMINRIO DE INICIAO
CIENTFICA DA FCAP, 9.; SEMINRIO DE INICIAO CIENTFICA DA
EMBRAPA AMAZNIA ORIENTAL, 3., 1999, Belm. Resumos... Belm: FCAP-
Unidade de Apoio Pesquisa e Ps-Graduao, 1999. p.277-279.
LE COINTE, P. rvores e plantas teis (indgenas e aclimadas): nomes vernculos e
nomes vulgares, classificao botnica, habitat, principais aplicaes e propriedades. 2.ed.
So Paulo: Companhia editora Nacional, 1947. 506p. ilustrada (A Amaznia Brasileira, 3).
LEO, N.V.M.; OLIVEIRA, F.C. de. Fenologia reprodutiva de maaranduba (Manilkara
huberi Standley) na Floresta Nacional do Tapajs, Santarm PA. In: REUNIO DOS
BOTNICOS DA AMAZNIA, 2., 1997, Salinpolis. Resumos ... Salinpolis: Sociedade
Botnica do Brasil/Seccional da Amaznia, 1997. p.40.
LEO, N.V.M.; OLIVEIRA, F.C. de. Fenologia reprodutiva de maaranduba (Manilkara
huberi Stanley) na Floresta Nacional do Tapajs, Santarm-PA. In: SIMPSIO
SILVICULTURA NA AMAZNIA ORIENTAL, 1999, Belm, PA. Contribuies do
Projeto Embrapa/DFID. Resumos expandidos... Belm: EMBRAPA-CPATU/DFID, 1999.
p.71-73. (EMBRAPA-CPATU. Documentos, 123).
LEITE, A. M.C.; RIBEIRO, E.O.; ELDIK, T. van. Predao e disperso de sementes de
Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. (maaranduba). In: CONGRESSO NACIONAL DE
BOTNICA, 50., Blumenau, 1999a. Resumos... Blumenau: SBB/UFSC, 1999a. p. 215.
LEITE, A.M.C.; ELDIK, T. van; RIBEIRO, E.O.; MACEDO, I.T. Estrutura populacional
de adultos de Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. (maaranduba), em rea de extrao
madeireira planejada. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTNICA, 50., 1999,
Blumenau. Resumos... Blumenau: SBB/UFSC, 1999b. p.162.
LISBOA, P.L.B.; GOMES, I.A.G.; LISBOA, R.C.L.; URBINATI, C.V. Parte III O estilo
amaznico de sobreviver: manejo dos recursos naturais. In: LISBOA, P.L.B. (org).
Natureza, homem e manejo de recursos naturais na regio de Caxiuan, Melgao,
Par. Belm/PA: [s.n.], 2002. 237p. Ilus, Tab.
LORENZI, H. rvores brasileiras: manual de identificao e cultivo de plantas arbreas
do Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 1998. v.2.
LOUREIRO, A.A.; SILVA, M. F.; ALENCAR, J.C. Essncias madeireiras da Amaznia.
Manaus: INPA, 1979. 2v., 432p. ilus.
MACEDO, M. Contribuio ao estudo de plantas econmicas no Estado de Mato
Grosso. Cuiab: UFMT, 1995.
MENDES, M.A.S.; SILVA, V.L. da; DIANESE, J.C. Fungos em plantas do Brasil.
Braslia: Embrapa SPI, 1998. 569p.
MISSOURI BOTANICAL GARDEN MBG. MOBOT. W3 TROPICOS. Specimen
database. Manilkara huberi (Ducke) Chevalier. St. Louis, EUA. Disponvel em:
http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html Acesso em: 22/04/2004.
PAHLEN. A. von der; KERR, W.E.; PAIVA, W.O.; RAHMAN, F.; YUYAMA, K.;
PAHLEN, E. von der; NODA, H. Introduo horticultura e fruticultura no
Amazonas. Manaus: CNPq/INPA, 1979.
PARROTA, J.A.; FRANCIS, J.K. ALMEIDA, R.R. Trees of the Tapajos: a photographic
field guide. (General technical report - IITF). Rio Piedras: Department of
Agriculture/International Institute of Tropical Forestry, 1995. 2v. 370p.
PENNINGTON, T.D. Sapotaceae. New York: New York Botanical Garden, 1990. 770p.
(Flora Neotropica. Monograph, 52).
PEREIRA, A.P. Ensaios em viveiro florestal e frutificao de algumas espcies
amaznicas. Silvicultura em So Paulo, v.16A, parte 2, p.1135-1138, 1982.
PEREIRA, A.P.; PEDROSO, L.M. Dados fenolgicos das principais espcies florestais que
ocorrem na estao experimental de Curu-Una - Par. Silvicultura em So Paulo, v.16A,
parte 2, p.1175-1179, 1982.
PORTO, P.C. Plantas Indgenas e exticas provenientes da Amaznia, cultivadas no Jardim
Botnico do Rio de Janeiro. Rodrigusia, Rio de Janeiro, v.2, n.5, p.93-157, 1936.
POSEY, D.A. A preliminary report on diversified management of tropical forest by the
Kayap indians of the brazilian Amazon. In: PRANCE, G.T.; KALLUNKI, J.A. (eds.)
Ethnobotany in the neotropics. Advances in Economic Botany. Bronx: The New York
Botanical Garden, 1984. v.l. p.112-126.
REVILLA, J. Plantas teis da Bacia Amaznica. Manaus: INPA/SEBRAE, 2002. v.1.
RIBEIRO, V.M.L.; COSTA, E.L.; BARROSO, M.A.L. Catlogo de nomes cientficos e
vulgares de plantas de porte arbreo ocorrentes no Brasil. Rodrigusia, v.31, n.49, p.155-
233, 1979.
ROCHA, A.I. da; SILVA, M.L. da; MOURO, A.P.; CAVA, M.P. A presena de
alcalides em espcies botnicas da Amaznia. Manaus: INPA, 1968. 48p. (INPA.
Qumica, publicao n. 12).
ROOSMALEN, M.G.M. van. Fruits of the Guianan flora. Wageningen: Utrecht
University, 1985. 483p.
ROOSMALEN, M.G. van; GARCIA, O.M.C.G. Fruits of the Amazonian forest. Part II:
Sapotaceae. Acta Amaznica, v.30, n.2, p.187-290, 2000.
SADDI, N. A primeira contribuio sobre a flora de Humboldt (Aripuan, Mato Grosso).
In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTNICA, 26., 1975, Rio de Janeiro. Trabalhos ...
Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Cincias, 1977.
SAMPAIO, P. de T.B. Maaranduba (Manilkara huberi). In: CLAY, J.W.; SAMPAIO,
P.T.B.; CLEMENT, C.R. Biodiversidade amaznica: exemplos e estratgias de utilizao.
Manaus: Programa de Desenvolvimento Empresarial e tecnolgico, 2000. p.151-157.
SILVA, M.F. da; LISBOA, P.L.B.; LISBOA, R.C.L. Nomes vulgares de plantas
amaznicas. Manaus: CNPq/INPA, 1977.
SOTHERS, C.A. Fenologia e disperso de Manilkara huberi (Ducke) Chev., da famlia
Sapotaceae, na Amaznia Central. In: CONGRESSO NACIONAL DE BOTNICA, 41.,
1990, Fortaleza. Resumos ... Fortaleza: UFCE, 1990. p.420.
SOUZA, H.B. de. Breve estudo tecnolgico da balata de maaranduba (Manilkara huberi
(Ducke) A. Chev.). Boletim Tcnico do Instituto Agronmico do Norte, Belm, v.31,
p.97-102, 1956.
SOUZA, H.B. de. Breve estudo tecnolgico da balata de maaranduba (Manilkara
huberi (Ducke) A. Chev.) Belm: IAN, 1956. p.97-102 (IAN. Boletim Tcnico, 031).
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN NYBG. International Plant Science Center.
The virtual herbarium of the New York Botanical Garden. Manilkara huberi (Ducke)
Chevalier. New York, 1996-2002. Disponivel em: http://nybg.org Acesso em: 04/08/2004.
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - USDA. Agricultural Research
Service ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information
Network - (GRIN) [Base de Dados Disponvel na Internet]. National Germplasm Resources
Laboratory, Beltsville, Maryland. URL: http://www.ars-grin.gov2/cgi-
bin/npgs/html/taxon.pl?437588 . Acesso em: 11/06/2003.
VIEIRA, L.S. Fitoterapia da Amaznia: manual de plantas medicinais (a farmcia de
Deus). 2.ed. So Paulo: Agronmica Ceres, 1992. 347p.
YARED, J.A.G. Espcies florestais nativas e exticas: comportamento silvicultural no
planalto do Tapajs Par. Belm : Embrapa Amaznia Oriental, 1988. p.29 (Embrapa
Amaznia Oriental. Documentos, 49).
Você também pode gostar
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 2 JerivaDocumento11 páginasEspecies Arboreas Brasileiras Vol 2 JerivaValéria NogueiraAinda não há avaliações
- 656-Texto Do Artigo-1172-1-10-20130112Documento8 páginas656-Texto Do Artigo-1172-1-10-20130112Valeria TavaresAinda não há avaliações
- TransferirDocumento13 páginasTransferirroberlania-gomeshotmail.comAinda não há avaliações
- Fasciculo3 AnibaDocumento8 páginasFasciculo3 AnibajplimadendrologAinda não há avaliações
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 2 Figueira BravaDocumento10 páginasEspecies Arboreas Brasileiras Vol 2 Figueira BravaVantoir FerasoAinda não há avaliações
- 15 - 2020 - Rodriguesia - FloESDocumento14 páginas15 - 2020 - Rodriguesia - FloESMarcelo DevecchiAinda não há avaliações
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 4 Ucuuba Do CerradoDocumento11 páginasEspecies Arboreas Brasileiras Vol 4 Ucuuba Do CerradoanamusicadasesferasAinda não há avaliações
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 2 SapopemaDocumento9 páginasEspecies Arboreas Brasileiras Vol 2 Sapopemabl2139567Ainda não há avaliações
- Scoparia DulcisDocumento22 páginasScoparia Dulcisdjaba70Ainda não há avaliações
- Artigo Mandioca Euphorbiaceae PDFDocumento10 páginasArtigo Mandioca Euphorbiaceae PDFdelineideAinda não há avaliações
- 11759-Texto Do Artigo-14641-1-10-20120513Documento3 páginas11759-Texto Do Artigo-14641-1-10-20120513Georgia SilvaAinda não há avaliações
- Seringueira - Hevea Brasiliensis PDFDocumento9 páginasSeringueira - Hevea Brasiliensis PDFViam prudentiaeAinda não há avaliações
- Maracujá: Passiflora SPPDocumento32 páginasMaracujá: Passiflora SPPThiago AzevedoAinda não há avaliações
- Abiu, Acai, Graviola, Acerola, Camu CamuDocumento14 páginasAbiu, Acai, Graviola, Acerola, Camu CamuDaniel NepomucenoAinda não há avaliações
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 3 TimbaubaDocumento10 páginasEspecies Arboreas Brasileiras Vol 3 TimbaubaFelipe LoanAinda não há avaliações
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 3 CerejeiraDocumento10 páginasEspecies Arboreas Brasileiras Vol 3 CerejeiramoreirajoaovitorodriguesAinda não há avaliações
- Quassia AmaraDocumento18 páginasQuassia Amaraluce72_0Ainda não há avaliações
- O PAPEL DAS AVES NA DISPERSÃO E GERMINAÇÃO Pau Incenso - 2016Documento9 páginasO PAPEL DAS AVES NA DISPERSÃO E GERMINAÇÃO Pau Incenso - 2016Farley BrazAinda não há avaliações
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 2 Pinheiro BravoDocumento10 páginasEspecies Arboreas Brasileiras Vol 2 Pinheiro BravoEmanoel Fernando J. AraujoAinda não há avaliações
- Distribuição de Indivíduos Adultos e Plântulas Do Jatobá em Área de Várzea Alta e Várzea Baixa Na Ilha Do Arapujá, No Rio Xingu.Documento6 páginasDistribuição de Indivíduos Adultos e Plântulas Do Jatobá em Área de Várzea Alta e Várzea Baixa Na Ilha Do Arapujá, No Rio Xingu.Sica UfpaAinda não há avaliações
- Umbu PinheiroDocumento16 páginasUmbu PinheiroEdsuAinda não há avaliações
- Biologia Floral e PolinizacaoDocumento29 páginasBiologia Floral e PolinizacaoCarol BarrocoAinda não há avaliações
- Parica Circular Técnica Embrapa PDFDocumento8 páginasParica Circular Técnica Embrapa PDFrafael_meloAinda não há avaliações
- Artigo - Espécies Arbóreas Utilizadas para Nidificação Por Abelhas Sem Ferrão Na CaatingaDocumento8 páginasArtigo - Espécies Arbóreas Utilizadas para Nidificação Por Abelhas Sem Ferrão Na CaatingaFrancisco ReigAinda não há avaliações
- Castanheira PDFDocumento13 páginasCastanheira PDFTainara Montagner StreckAinda não há avaliações
- Chave Eugenia MyrtaceaeDocumento17 páginasChave Eugenia MyrtaceaeShaline SefaraAinda não há avaliações
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 1 Erva MateDocumento14 páginasEspecies Arboreas Brasileiras Vol 1 Erva MateAdriano ChavesAinda não há avaliações
- Lúcia Helena Piedade Kiill Francisco Pinheiro de Araújo Visêldo Ribeiro de Olive Ra Márcia de Fátima RibeiroDocumento26 páginasLúcia Helena Piedade Kiill Francisco Pinheiro de Araújo Visêldo Ribeiro de Olive Ra Márcia de Fátima RibeiroAlexsandra BentemullerAinda não há avaliações
- Amendoim ForrageiroDocumento7 páginasAmendoim ForrageiroRafael CostaAinda não há avaliações
- Flora Da Ma de PEDocumento18 páginasFlora Da Ma de PEcarolquimica24Ainda não há avaliações
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 4 Amesclao 1Documento9 páginasEspecies Arboreas Brasileiras Vol 4 Amesclao 1Dannyel SáAinda não há avaliações
- Dialnet APalmaForrageira 7435949Documento10 páginasDialnet APalmaForrageira 7435949Nicolas NogueiraAinda não há avaliações
- Orchidaceae Serra Do JapiDocumento13 páginasOrchidaceae Serra Do JapiAnderson RovaniAinda não há avaliações
- Jambo Amazônia CentralDocumento6 páginasJambo Amazônia CentralCarlos Eduardo Robaina dos SantosAinda não há avaliações
- Circular132 PDFDocumento6 páginasCircular132 PDFSebastião NTAinda não há avaliações
- Avifauna e Vegetação Da Mata Ciliar Do Camarinha PDFDocumento2 páginasAvifauna e Vegetação Da Mata Ciliar Do Camarinha PDFStephFairAinda não há avaliações
- Bostrichidae Souza Et Al 2009Documento4 páginasBostrichidae Souza Et Al 2009heimat66Ainda não há avaliações
- Plantas para o Futuro Norte 162 181Documento20 páginasPlantas para o Futuro Norte 162 181Almir Cardoso CardosoAinda não há avaliações
- 03 - 2016 - Melo Júnior Et Al. - BalduiniaDocumento9 páginas03 - 2016 - Melo Júnior Et Al. - BalduiniaÍgor Abba ArriolaAinda não há avaliações
- 137939-Texto Do Artigo-267248-1-10-20170913Documento4 páginas137939-Texto Do Artigo-267248-1-10-20170913Bruno AntônioAinda não há avaliações
- Boletim Espinheira Santa-2Documento46 páginasBoletim Espinheira Santa-2Alfredo Armando AbuinAinda não há avaliações
- Entomofauna Visitante de Dombeya Wallichii (Familia:malvaceae) Do Parque Municipal Da Lajinha - MGDocumento2 páginasEntomofauna Visitante de Dombeya Wallichii (Familia:malvaceae) Do Parque Municipal Da Lajinha - MGBruno Corrêa BarbosaAinda não há avaliações
- Projeto CandeiaDocumento214 páginasProjeto CandeiaArtur Dias0% (1)
- Id 33376 PG 369 393Documento26 páginasId 33376 PG 369 393Claudio PonchiAinda não há avaliações
- 10Documento134 páginas10Edslei Rodrigues AlmeidaAinda não há avaliações
- Guia de Borboletas Frugivoras Matas Rio Grande Do SulDocumento31 páginasGuia de Borboletas Frugivoras Matas Rio Grande Do SuldaniellopesrpAinda não há avaliações
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 4 UvaieiraDocumento11 páginasEspecies Arboreas Brasileiras Vol 4 UvaieiramaraoAinda não há avaliações
- Slides - Briofitas e PteridofitasDocumento31 páginasSlides - Briofitas e PteridofitasValberta CabralAinda não há avaliações
- Diversidade de AsteraceaeDocumento11 páginasDiversidade de AsteraceaePoliana EstevãoAinda não há avaliações
- Elianefs,+Journal+Manager,+3376 10719 1 CEDocumento13 páginasElianefs,+Journal+Manager,+3376 10719 1 CEeug4brielAinda não há avaliações
- Peroba RosaDocumento11 páginasPeroba RosaRafael Battella de SiqueiraAinda não há avaliações
- Conhecendo A Leguminosa Arbórea Gliricidia SepiumDocumento5 páginasConhecendo A Leguminosa Arbórea Gliricidia SepiummbeauclairAinda não há avaliações
- Caracteristicas Basicas Grupamento Ecologico PDFDocumento14 páginasCaracteristicas Basicas Grupamento Ecologico PDFKim Kishi SenaAinda não há avaliações
- EmbrapaDocumento51 páginasEmbraparebeca venancioAinda não há avaliações
- Viana Gil 2018Documento5 páginasViana Gil 2018Leandro DouglasAinda não há avaliações
- Ceiba SpeciosaDocumento5 páginasCeiba SpeciosaHugo HenriqueAinda não há avaliações
- Biodiversidade Da Avifauna de Um Fragmento Antropizado Na Região Serrana Do ESDocumento7 páginasBiodiversidade Da Avifauna de Um Fragmento Antropizado Na Região Serrana Do ESFábio Zanotto BreveAinda não há avaliações
- 1138-Artigo de Submissão (Enviar No Word) - 29638-31609-10-20170221Documento8 páginas1138-Artigo de Submissão (Enviar No Word) - 29638-31609-10-20170221Geraldo Guimaraes Ribeiro JuniorAinda não há avaliações
- Vespas em ambientes de Veredas: Veredas na Transição Cerrado – AmazôniaNo EverandVespas em ambientes de Veredas: Veredas na Transição Cerrado – AmazôniaAinda não há avaliações
- Alturas de ÁrvoresDocumento10 páginasAlturas de ÁrvoresDestumanoAinda não há avaliações
- Apostila de Equipamentos Digitalizada - Tadeo - Jaworski PDFDocumento124 páginasApostila de Equipamentos Digitalizada - Tadeo - Jaworski PDFmarelapa100% (1)
- As Relações Campo-Cidade No Brasil Do Século XXIDocumento7 páginasAs Relações Campo-Cidade No Brasil Do Século XXIDestumanoAinda não há avaliações
- Custo Operacional de Equipamento de TerraplenagemDocumento146 páginasCusto Operacional de Equipamento de TerraplenagemDestumano50% (2)
- Uso Do Kit MitigaçãoDocumento1 páginaUso Do Kit MitigaçãoDestumano100% (2)
- 1026 - Segurança Do Trabalho Na Colheita Florestal - Um Estudo de CasoDocumento60 páginas1026 - Segurança Do Trabalho Na Colheita Florestal - Um Estudo de CasoDestumano100% (1)
- Procedimento de Corte de Árvores Com MotosserraDocumento6 páginasProcedimento de Corte de Árvores Com MotosserraDestumanoAinda não há avaliações
- Manual de Valoracao Das Florestas NacionaisDocumento46 páginasManual de Valoracao Das Florestas NacionaisDestumanoAinda não há avaliações
- Formulario de Cadastro de ComunitariosDocumento1 páginaFormulario de Cadastro de ComunitariosDestumanoAinda não há avaliações
- Catalogo de ProdutosDocumento177 páginasCatalogo de ProdutosLucas Remolli SoaresAinda não há avaliações
- Livro Espada Da GaláxiaDocumento354 páginasLivro Espada Da GaláxiaAvatar_MagusAinda não há avaliações
- Eia 2Documento17 páginasEia 2tacidradeAinda não há avaliações
- Sistemas de Captação de Água Das ChuvasDocumento4 páginasSistemas de Captação de Água Das ChuvasNaiara PiaiaAinda não há avaliações
- Apostila de Drenagem Rodoviária Do Prof JaborDocumento85 páginasApostila de Drenagem Rodoviária Do Prof JaborBebelcomLuis Gomes100% (2)
- A História de Pingo de ChuvaDocumento1 páginaA História de Pingo de ChuvaRenata Naldoni67% (3)
- Curso de Design em PermaculturaDocumento164 páginasCurso de Design em PermaculturaMarcos TaniwakiAinda não há avaliações
- Experiência Com Encostas em Recife - Gusmão FilhoDocumento14 páginasExperiência Com Encostas em Recife - Gusmão FilhoMayssa AlvesAinda não há avaliações
- O Tempo (A2)Documento3 páginasO Tempo (A2)Ana SilvaAinda não há avaliações
- O Grande GrimorioDocumento34 páginasO Grande GrimorioRafael LopesAinda não há avaliações
- Revista de RRHH Enero - Marzo - 2014Documento285 páginasRevista de RRHH Enero - Marzo - 2014ReRersAinda não há avaliações
- EAD 6º Ano AtmosferaDocumento11 páginasEAD 6º Ano AtmosferaValeria CastroAinda não há avaliações
- Bertrand-Explicação Da Teoria GeossistêmicaDocumento27 páginasBertrand-Explicação Da Teoria GeossistêmicaSil MacielAinda não há avaliações
- Drenagem AgrícolaDocumento2 páginasDrenagem AgrícolaDomingueira AutomotivaAinda não há avaliações
- Questions Geografia Atmosfera Fenomenos-AtmosfericosDocumento7 páginasQuestions Geografia Atmosfera Fenomenos-AtmosfericosDebora SchaunAinda não há avaliações
- Problemas em Drenagem Urbana-1-AltDocumento4 páginasProblemas em Drenagem Urbana-1-AltOdimar Silveira100% (1)
- Princípios de Hidrologia AmbientalDocumento69 páginasPrincípios de Hidrologia AmbientalLuis EnriqueAinda não há avaliações
- Acentuação GráficaDocumento17 páginasAcentuação GráficaRey MendesAinda não há avaliações
- Levantamento Hidrológico Da Bacia Do Igarapé Carrapato, Boa Vista, RR: Dados PreliminariesDocumento11 páginasLevantamento Hidrológico Da Bacia Do Igarapé Carrapato, Boa Vista, RR: Dados PreliminariespsrtaAinda não há avaliações
- Apostila Capitulo 1 Fund MeteorologiaDocumento32 páginasApostila Capitulo 1 Fund MeteorologiaMayara MendesAinda não há avaliações
- Simulado Paebes LPDocumento10 páginasSimulado Paebes LPpatriciacoutinho100% (1)
- c0239 15 Fiat Doblo 2015 Dicas de Instalacao Do Alarme Positron PVDocumento1 páginac0239 15 Fiat Doblo 2015 Dicas de Instalacao Do Alarme Positron PVubirajaraAinda não há avaliações
- Borboletas Nectarívoras (Lepidoptera Papilionoidea e Esperoidea) de Uma Área No Semiárido BrasileiroDocumento9 páginasBorboletas Nectarívoras (Lepidoptera Papilionoidea e Esperoidea) de Uma Área No Semiárido BrasileiroSimone MeijonAinda não há avaliações
- Apostila Recuperação Pastagens Degradadas - CAPLIVRODocumento28 páginasApostila Recuperação Pastagens Degradadas - CAPLIVROelbianco11Ainda não há avaliações
- Projeto Integrador I - Edifícios Sustentáveis Uso de Telhados Verdes Na Retenção de Águas PluviaisDocumento40 páginasProjeto Integrador I - Edifícios Sustentáveis Uso de Telhados Verdes Na Retenção de Águas PluviaissouzaAinda não há avaliações
- Geografia 2º ANO CLIMATOLOGIADocumento28 páginasGeografia 2º ANO CLIMATOLOGIAHudson SouzaAinda não há avaliações
- RBG 1942 v4 n3Documento240 páginasRBG 1942 v4 n3Silvano Souza DiasAinda não há avaliações
- Danais XV EpgmetDocumento79 páginasDanais XV EpgmetAntonioAinda não há avaliações
- Valec - Drenagem Superficial - Proteção Contra ErosãoDocumento46 páginasValec - Drenagem Superficial - Proteção Contra ErosãoMMmoacyrAinda não há avaliações
- CREPANI Et Al - Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados Ao ZoneamentoDocumento103 páginasCREPANI Et Al - Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento Aplicados Ao ZoneamentoZuleide AlvesAinda não há avaliações