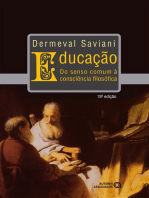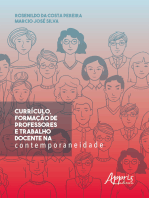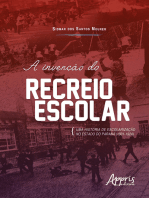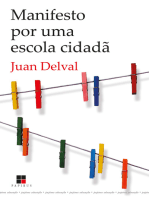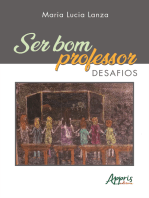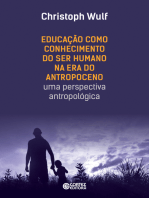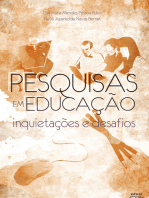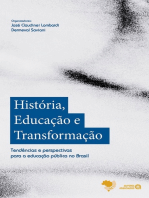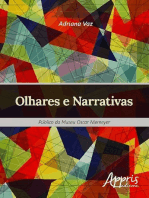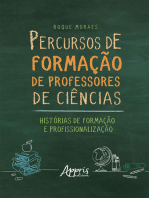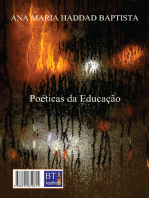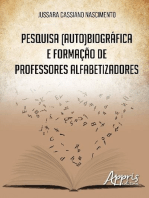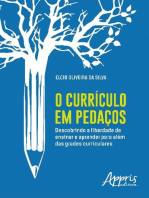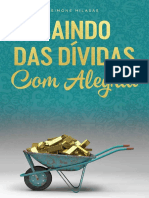Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A 0229102
A 0229102
Enviado por
Mara BrumDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A 0229102
A 0229102
Enviado por
Mara BrumDireitos autorais:
Formatos disponíveis
15 Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr.
2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Nadja Hermann
TICA: A APRENDIZAGEM DA ARTE DE VIVER
*
NADJA HERMANN
**
Anos de aprendizado no sentido eminente so os anos de
aprendizado da artedeviver. (Novalis, Plen).
Lern in Leben die Kunst, im Kunstwerk lerne das Leben,
Sihest du das Eine recht, siehst du das andere auch. (F.
Hlderlin, Pros eauton).
RESUMO: O trabalho discute, numa abordagem filosfica, a forma-
o tica, a partir das possibilidades da arte de viver. Explicita que a
arte de viver tem uma dimenso esttica em que prpria obra da vida
tem a arte como modelo, por meio da criao de diferentes estratgias
(desde as interativas at as literrias), articuladas com princpios univer-
sais. Esta tica, com seu apelo s condies concretas da vida e aos sen-
timentos, no exclui o reconhecimento de uma normatividade que ul-
trapassa as regras criadas pelo prprio sujeito, ou seja, universalidade e
particularidade no se excluem. O texto apresenta (1) a contribuio
helenstica para a arte de viver, por meio do modelo teraputico de fi-
losofar, e (2) o papel das emoes e da phronesisna articulao entre
o universal e o particular, para apontar que (3) uma educao tico-es-
ttica se constitui pelo reconhecimento da tenso entre o eu singular
e o ns (ethoscomum).
Palavras-chave: Arte de viver. tica. Phronesis. Educao tico-esttica.
* Este artigo faz parte da pesquisa Elementos para uma educao tico-esttica II: autocriao
e horizonte comum, financiada pelo CNPq.
** Doutora em Educao e professora de Filosofia da Educao, Programa de Ps-Graduao
em Educao da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul (PUCRS). E-mail:
nadj a.hermann@pucrs.br
16
tica: a aprendizagem da arte de viver
Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
ETHICS: LEARNING THE ART OF LIVING
ABSTRACT: With a philosophical approach, this work provides a
discussion about ethical education from the possibilities of the art of
living. I t states that the art of living has an aesthetic dimension
which is used by life itself as a model, with the creation of different
strategies (from interactive to literary) related to universal principles.
With its appeal to feelings and to lifes concrete conditions, this eth-
ics does not exclude the recognition of a norm that excels the rules
created by a subject; that is, universality and particularity do not ex-
clude each other. The text presents (1) the Hellenic contribution to
the art of living, through the therapeutic philosophizing model and
(2) the role of emotions and phronesis in the relation between the
universal and private domains to indicate that (3) an ethical-aes-
thetic kind of education is constituted by the recognition of tension
between the singular I and (the common ethos) we.
Key words: The art of living. Ethics. Phronesis. Ethical aesthetic edu-
cation.
Primeiras palavras
a introduo de La terapia del deseo, Martha Nussbaum (2003,
p. 21) faz as seguintes consideraes:
Quem se dedica a escrever ou ensinar filosofia uma pessoa afortunada
como poucos seres humanos o so, ao poder dedicar sua vida formulao
dos pensamentos e sentimentos mais profundos acerca dos problemas que
mais a tm motivado e fascinado. Mas esta vida estimulante e maravilhosa
tambm parte do mundo em seu conjunto, um mundo em que a fome,
o analfabetismo e a doena so a sina diria de grande parte dos seres hu-
manos que ainda existem, assim como causas da morte de muitos que no
existem ainda. Uma vida de ociosa e livre expresso , para a maioria da
populao mundial, um sonho to distante que raramente se chega a con-
ceber. O contraste entre essas duas imagens da vida humana conduz a
uma pergunta: Que direito tem algum de viver num mundo feliz, que
pode expressar-se livremente, enquanto exista o outro mundo e algum
seja parte dele?
A partir desse questionamento, Nussbaum pondera que a pr-
pria filosofia pode cumprir funes poltico-sociais, em especial a filo-
sofia helenstica, na medida em que tem como preocupao central as
17 Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Nadja Hermann
dificuldades mais penosas da vida humana. Por analogia, quero destacar
que a filosofia da educao tambm pode se iluminar com esse argumen-
to e mostrar que a investigao sobre o sentido tico da educao est
muito prxima das questes mais pungentes com que os educadores se
defrontam e que, longe de ser uma finalidade metafsica ou de diletan-
tismo, as questes ticas podem ser trabalhadas como uma arte de viver.
1
Isso ajudaria a esclarecer aos envolvidos com a prtica educacional o quan-
to a filosofia pode, legitimamente, auxiliar na formao humana, por
meio de uma reflexo ligada s reais condies da vida.
Como advertiu Toulmin (2003, p. 32), no mbito da filosofia e
das cincias sociais, (...) o preo do intelectualismo tem sido alto demais,
e agora temos que retroceder a modos mais amplos de auto-expresso. Esse
retroceder a modos mais amplos de auto-expresso inclui, no meu en-
tendimento, a abertura da tica para suas relaes com a esttica, como
conseqncia do fracasso em considerar que a aprendizagem tica deveria
dialogar apenas com o intelecto, sem se deixar influenciar pelas emoes,
pelos sentimentos e pelas respostas sensveis. Os princpios ticos, excessi-
vamente abstratos, reverteram em perda de fora persuasiva para as aes
humanas, porque j no conseguem mais estabelecer vnculo com a situa-
o concreta e muito menos servir como uma terapia para a alma. As ten-
dncias abstracionistas da tica, voltadas para uma irrealizvel infinitude,
tendem a se distanciar dos problemas da vida, gerando a falsa impresso
de que o debate terico tem quase nada ou pouco a ver com as decises
mais difceis de nossa vida. A estetizao da tica
2
situa-se nesse anseio de
preencher o vazio deixado pela queda das justificaes metafsicas, justa-
mente porque a esttica sempre se interps contra o rgido racionalismo,
para destacar que as foras da imaginao, da sensibilidade e das emoes
teriam maior efetividade para o agir do que a formulao de princpios
abstratos e do que qualquer fundamentao terica da moral.
A partir de meados do sculo XX, a esttica da existncia
3
traz no-
vos momentos reflexivos a respeito de uma arte de viver que pem em
xeque as normas categricas, a priori ou obrigatrias, para construir uma
forma de viver a partir da experincia, construir um saber que resulte em
modificao do sujeito. No aponta nenhuma essncia que obrigue o ho-
mem a realiz-la, mas aponta para uma estilizao da criao de si mes-
mo. Nessa medida, a discusso tica passa a ficar prxima dos problemas
que nos afligem.
18
tica: a aprendizagem da arte de viver
Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
A autoconstruo do suj ei to moral defendi da pelas ti cas
estetizadas significa, ento, abandonar os fundamentos para substitu-
los pela experincia, j que nenhuma orientao normativa ou substn-
cia do sujeito sustenta o ethos, a no ser seu prprio acontecimento his-
trico. justamente essa a defesa de Foucault e de Rorty, que situam
o sujeito no espao da experincia. Essencialmente criadora, esse tipo
de tica faz uma defesa irrestrita da liberdade e da auto-imaginao.
Disso no decorre a necessidade de um estudo sistemtico dos funda-
mentos da liberdade, mas a importncia de tematizar a experincia es-
ttica, no sentido real da palavra. O termo esttica, proveniente do gre-
go aisthesis, significa sensao, sensibilidade, percepo pelos sentidos
ou conhecimento sensvel-sensorial. Esse termo aparece vinculado ti-
ca j em Aristteles, como um elemento decisivo para conduzir a vida,
trazendo o papel do sensvel para o julgamento moral, que nos ajuda a
avaliar e a ponderar cada situao. Assim, desde a tradio grega, a
aisthesisserve para articular as normas morais com a especificidade de
cada situao concreta e refinar nossa capacidade de decidir.
Embora a esttica da existncia tenha adquirido proeminncia en-
tre as correntes da tica somente a partir da segunda metade do sculo
XX, os elementos de uma arte de viver percorrem vrios momentos do
pensamento filosfico, desde os gregos e aqui podemos lembrar a ins-
crio no templo de Delfos conhece-te a ti mesmo (gnthi seauton),
exortando a fazer do eu um tema reflexivo , passando pelo movimento
romntico e chegando atualidade como uma forma de configurar e
conduzir a vida de modo correto, por meio da inveno das prticas co-
tidianas.
4
Entendo que esse modo de conceber a tica apresenta conver-
gncia com a idia de Bildung, na tradio do idealismo alemo, com
Humboldt, Herder, Goethe, Schiller e Kant. Para Humboldt, o homem
forma a personalidade livre e singular numa multiplicidade de experin-
cias autodeterminadas, numa ao recproca entre o homem e o mundo.
Formao um trabalho de si mesmo, numa abertura dialtica entre a
experincia no mundo e um projeto de mundo. Nesse trabalho de si, h
uma dimenso esttica como uma livre criao de si. Assim se expressa
Humboldt (1998, p. 271): O verdadeiro fim do homem (...) a forma-
o mxima e o mais proporcional possvel de suas foras, para integr-las
num todo. Para isso a liberdade a condio primeira e indispensvel.
Mas esta liberdade deve estar associada a uma multiplicidade de situa-
es, pois mesmo o mais livre e independente dos homens, deslocado para
19 Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Nadja Hermann
circunstncias uniformes, forma-se de modo mais restritivo. A convergn-
cia que refiro no se d ponto a ponto, em todos os desdobramentos teri-
cos, porque o conceito de Bildung foi, segundo Reichenbach (2003, p.
201), percebido criticamente e at ceticamente na modernidade tardia, so-
bretudo pelo seu anseio de unidade e totalidade. Mas dada a sua com-
plexidade, ambigidade e vulnerabilidade, no foi jamais abandonado no
discurso educacional e filosfico (ibid., p. 202) e sim sofreu transforma-
es. Isso permite identificar uma aproximao entre a formao e a cons-
tituio do eu, entre Bildung e esttica da existncia, na medida em que
ambas propem uma vida ativa, crtica, vigilante, submetida a mltiplas
circunstncias, que prepara para as escolhas que nos constitui.
A inteno deste texto explicitar que a arte de viver tem uma di-
menso esttica em que a prpria obra da vida deve ter a arte como mode-
lo, por meio da criao de diferentes estratgias (desde as interativas at as
literrias), articuladas com princpios universais, que refletem nossas leal-
dades irrenunciveis com o mundo. Quero defender, portanto, que a arte
de viver, com seu apelo s condies concretas da vida e aos sentimentos,
no exclui o reconhecimento de uma normatividade que ultrapassa as re-
gras criadas pelo prprio sujeito, ou seja, universalidade e particularidade
no se excluem. Para tanto, vou expor (1) a contribuio helenstica para a
arte de viver, por meio do modelo teraputico de filosofar, e (2) o papel
das emoes e da phronesisna articulao entre o universal e o particular,
para apontar que (3) uma educao tico-esttica se constitui pelo reco-
nhecimento da tenso entre o eu singular e o ns (ethoscomum).
A contribuio helenstica para a arte de viver: o modelo teraputico de
filosofar
A articulao entre a forma que o indivduo d a si mesmo em
relao s normas morais desenvolvida por Nussbaum atravs daquilo
que ela denomina argumentosteraputicos, retomando o modelo mdico
5
de filosofar aplicado tica e o trabalho entre mestre e discpulos desen-
volvido pela filosofia helenstica, particularmente, pelos esticos, pelos
cticos e por Epicuro. Meu objetivo aqui no deter-me no complexo e
diversificado campo que envolve essa filosofia, mas centrar-me no ponto
de interseo que interessa a uma perspectiva de educao tico-esttica:
a ateno que a arte de viver exige dos casos particulares diante das orien-
taes universalistas do processo educativo. O ponto fulcral a resposta
20
tica: a aprendizagem da arte de viver
Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
menos abstrata e especulativa que esse perodo deu aos problemas exis-
tenciais e ticos, mais centrados na concretude da vida das pessoas do
que em questes terico-metafsicas.
Para esclarecer o sentido de argumento teraputico, Nussbaum re-
corre a Epicuro, que diz: Vazio o argumento daquele filsofo que
no permite curar nenhum sofrimento humano. Pois da mesma ma-
neira que de nada serve uma arte mdica que no erradique a enfermi-
dade dos corpos, tampouco h utilidade na filosofia se no erradica o
sofrimento da alma (apud Nussbaum, 2003, p. 33).
Caberia ento filosofia curar as enfermidades da alma, produzi-
das por falsas crenas, sendo que os argumentos curariam a alma, do
mesmo modo que os remdios curam o corpo. Isso seria uma arte de
viver t cnh bi ou (tchnbiou) assumida pelas escolas helensticas. A
arte de viver como tchnbiou desenvolvida tambm por Foucault, para
indicar um conjunto de prticas da formao do eu. De modo diferente,
a proposta de Nussbaum, fundamentada na tica helenista, acentua a
arte de viver baseada em argumentos vlidos, comprometidos com a ver-
dade, contra a tirania dos costumes e das convenes. A filosofia, diz a
autora (ibid., p. 35), nunca deixa de entender-se como uma arte, cujas
ferramentas so os argumentos, uma arte em que o raciocnio preciso, o
rigor lgico e a preciso das definies tm um importante papel a de-
sempenhar.
Uma das formas assumidas pelo argumento teraputico a ateno
aos casos particulares, pois, de modo semelhante ao mdico, deve-se con-
siderar a situao concreta dos discpulos, suas paixes e crenas, para defi-
nir que palavras ou exemplos so mais adequados a cada situao. O argu-
mento teraputico requer ateno cuidadosa peculiaridade de cada
situao, pois, como lembra Ccero, faz diferena como o remdio apli-
cado (1945, III, p. 79) e cada aflio no atenuada pelo mesmo mto-
do (1945, IV, p. 59). A aplicao dos argumentos requer uma cuidadosa
seleo do discurso que melhor afeta as pessoas, seno ficar num nvel su-
perficial. A esse respeito, Sneca
6
lembra: um estilo oratrio que visa
transformao das mentalidades deve descer at o fundo de ns mesmos,
pois os remdios s so profcuos quando sua ao se prolonga (Sneca,
2004, Carta 40, p. 4).
Entre as estratgias adequadas para dar ateno aos casos particu-
lares est a conversao, uma espcie de interao filosfica que permite
21 Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Nadja Hermann
conhecer cada situao que requer nossa avaliao. A conversao, se-
gundo Sneca (ibid., Carta 38, p. 1), til porque a eficcia das pa-
lavras, como a semente, se cai em terra favorvel, multiplica suas ener-
gias e alcana, de exgua que era, dimenses assaz considerveis (ibid.,
Carta 38, p. 2).
Assim, o carter pedaggico do processo de formao tica consis-
te em utilizar-se de certas estratgias, como correspondncia, anlises de
exemplos e conversaes, para provocar a avaliao racional das manei-
ras de ver que de fato guiam as aes do discpulo (Nussbaum, 2003,
p. 421).
S possvel algum se tornar crtico de um sistema de crena mais
geral a partir de exemplos particulares, pois a fora da linguagem pode mo-
bilizar a phantasa anloga e tornar compreensvel o prprio caso. Na an-
lise que envolve casos concretos no h a parcialidade, nenhuma confusa
erupo de sentimentos (ibid., p. 422), por isso os exemplos atuam de
modo mais efetivo que os princpios abstratos, uma vez que o discpulo se
encontra em melhores condies de perceber corretamente. A literatura
uma fonte desses exemplos. Esse aspecto , contemporaneamente, explo-
rado por Rorty (1991) na sua tica estetizada. Segundo ele, as mudanas
na moral, assim como na vida poltica, dependem de inovaes culturais e
no de decises de nossa vontade, como era a crena metafsica. E o que
exerce papel nesse processo so as metforas, que podem fazer descries
do sujeito e do mundo de forma imprevisvel. Disso decorre a importn-
cia que Rorty confere ao artista, em especial aos poetas e romancistas, pois
eles criam novas metforas e novas linguagens sobre o sujeito e o mundo
que ampliam o espectro de decises ticas. Se os helenistas se referem
literatura como uma estratgia para anlise de exemplos, que remetem para
a concretude dos casos, Rorty a utiliza pela sua possibilidade de produzir
novas redescries do eu e do mundo. Apesar da diferena entre as duas
propostas filosficas, ambas apostam na fora esttica da narrativa liter-
ria para aguar nossa sensibilidade e promover novos entendimentos a
respeito da nossa relao com a moral. Assim, a narrativa permite nos
imaginarmos no lugar do outro e nos prepara para julgar entre narrati-
vas distintas e conflitivas.
Para o ensino desenvolvido pelos esticos, as narrativas e os exem-
plos adquirem preponderncia, por possibilitarem um acesso concreto ao
problema. Uma das razes desse procedimento de carter motivacional,
22
tica: a aprendizagem da arte de viver
Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
pois no se consegue acesso alma sem estabelecer com ela um contato
pessoal, vivo e direto. Mas h tambm uma razo mais profunda, j que,
para agir corretamente, para os esticos, no basta obter o contedo geral
de um ato, pois seria apenas o aceitvel (kathekon). Para chegar ao ato
totalmente virtuoso (kathrthoma), a ao deve ser conduzida por pensa-
mentos e sentimentos adequados virtude (Nussbaum, 2003, p. 422).
Aqui se percebe os influxos do pensamento de Aristteles que, na tica a
Nicmaco (Livro I e II), sustenta que a excelncia moral se plasma, cultiva
e aperfeioa pelo hbito, pela aprendizagem. Ou seja, o problema se des-
loca da idia de um bem a ser contemplado para o mbito da sabedoria
prtica, diretamente articulado com os casos particulares. Para Nussbaum,
a riqueza da contribuio da tradio estica arte de viver consiste na sin-
gularidade da idia de aprendizagem: uma idia de crescente vigilncia e
viglia, com as quais a mente, de maneira cada vez mais rpida e viva,
aprende a recuperar suas prprias experincias entre o nevoeiro do hbito,
a conveno e a tendncia ao esquecimento (idem, ibid., p. 424). Essas
prticas exigem autoconfrontao e auto-exame e uma profunda investiga-
o da alma para obter um domnio de si mesmo. nessa perspectiva que
os esticos associam o respeito razo com a crtica das crenas convencio-
nais, incluindo na discusso filosfica todas as questes que afligem a hu-
manidade. Disso resulta, como indica Nussbaum (op. cit., p. 397): auto-
governo racional e cidadania universal.
importante destacar que essa arte de viver pressupe uma valori-
zao da atividade racional, aspecto em que Nussbaum difere de Foucault.
A retomada da tica estica significa uma anlise daquilo que a cultura pro-
duziu como uma forma de autodeterminao, um conjunto de tcnicas
de modelao do eu, tecniques desoi, como Foucault percebeu, mas, se-
gundo Nussbaum, ao insistir nessas tcnicas, o filsofo perde de vista, com
demasiada freqncia, a dignidade da razo (ibid., p. 439 e 443). Por
outro lado, a autora analisa com agudeza os riscos de uma exacerbao da
atividade racional em detrimento da sensibilidade e das emoes. Destaca
que nem todos os elementos de autodeterminao racional e de elimina-
o das paixes presentes na filosofia estica podem ser seguidos, pois se
chegamos a um ponto da autonomia em que nada h fora de ns mesmos,
em que nada nos perturbe, como se pode confiar nos outros e preocupar-
se com eles?Desse modo, prossegue a autora:
(...) a zelosa hegemonia da razo, por plausvel e atrativa que seja, aponta, por
cima dela mesma, alguns dos elementos mais perturbadores e polmicos do
23 Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Nadja Hermann
estoicismo. Pode algum viver no reino da razo entendido da maneira que
o entendem os esticos e seguir sendo uma criatura capaz de admirar-se, afli-
gir-se e amar?(Ibid., p. 445)
Essa questo aponta para a aisthesis, a sensibilidade e os sentimen-
tos, que assumem um papel decisivo em nossa formao tica diante da
excessiva racionalizao. Esse tema ser tratado no prximo item.
As emoes, a aisthesise a phronesis: a articulao do universal e o
particular
Para uma arte de viver, que envolve a autocriao de si numa trans-
formao do mundo interior de desejos e crenas, merece ateno o pa-
pel que as emoes
7
ocupam na construo da moralidade. Para tanto,
deve-se esclarecer que emoes como o medo, a ira, a aflio e o amor
no so ondas cegas de afeto que nos impulsionam e nos projetam
para fora de ns mesmos, sem interveno de raciocnio e de crenas,
mas so, em realidade, elementos inteligentes e perceptivos da persona-
lidade que esto muito estreitamente vinculados s crenas e se modifi-
cam quando estas se modificam (Nussbaum, 2003, p. 63).
As emoes tm uma dimenso cognitiva, vinculada a certas cren-
as ticas. Aquilo que nos provoca medo, por exemplo, est ligado com o
que acreditamos que possa causar dano em nossas vidas. Assim, as emo-
es no correspondem s vises estereotipadas de que seriam irracionais,
no aprendidas, reaes corporais; antes disso, seriam irracionais no
sentido de que as crenas em que se apiam podem ser falsas ou
injustificadas ou ambas as coisas. No so irracionais no sentido de no
ter nada a ver com o argumento e o raciocnio (idem, ibid.).
A concepo aristotlica das emoes tem um sentido para o bem
viver, que se ope radicalmente concepo helenstica de extirpao das
paixes. Nussbaum faz um detalhado levantamento das emoes, con-
forme apresentado na Retrica, para mostrar que elas contribuem para
a vida virtuosa. Emoes, como o medo, contm uma intensa conscin-
cia intencional de seu objeto, apoiada em crenas e juzos e a angstia e
o sofrimento que provocam no so independentes do juzo, mas resul-
tam dele (idem, ibid., p. 120-121). A crena , assim, constitutiva da
emoo, de tal modo que, se mudam as crenas e o juzo, pode-se espe-
rar que mude o sentimento.
24
tica: a aprendizagem da arte de viver
Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
A emoo atua para que ocorra a percepo e se efetive o reco-
nhecimento da verdade. Por isso, a pessoa que age de forma moralmen-
te correta no impvida, insensvel, mas tem que ajustar suas emo-
es apropriadamente. Na tradio aristotlica, prossegue Nussbaum,
as emoes
(...) no so sempre corretas, da mesma maneira que tampouco o so sem-
pre as crenas ou as aes. [As emoes] sero educadas e harmonizadas
com uma viso correta da boa vida humana. Mas, uma vez educadas,
no so essenciais simplesmente como foras impulsoras da ao virtuo-
sa: so tambm (...) exerccios de reconhecimento da verdade e do valor.
(Idem, ibid., p. 130)
Este aspecto tem relevncia para a relao entre princpios mo-
rais universais e a ateno aos casos particulares, pois sem o papel das
emoes e da sensibilidade poderamos no nos afetar pelos casos con-
cretos de desrespeito ao ser humano, caso tivssemos apenas o conhe-
cimento racional do princpio que ordena tal respeito.
As emoes se articulam com aquilo que Aristteles chamou de
phronesisou sabedoria prtica, a deliberao prudente. O saber moral deve
compreender aquilo que exigido em cada situao concreta, luz dos
princpios gerais, e nesse reconhecimento atua a aisthesis, a percepo sen-
svel e as emoes exercem aqui papel decisivo. A pessoa que se utiliza da
phronesisenfrentar cada situao concreta de maneira emocionalmente
apropriada (idem, ibid., p. 32). Assim, a recordao das emoes (aquilo
que amamos, o que nos provoca medo etc.) atua na deliberao e refina
nossas emoes, ao mesmo tempo que refina e educa nossa razo prtica
para as novas situaes que enfrentaremos.
Na obra La fragilidad del bien, Nussbaum oferece uma interpreta-
o da prudncia aristotlica esclarecedora do modo como essa categoria
pode contribuir para uma educao tico-esttica. De acordo com a in-
terpretao da filsofa, a deliberao ou o juzo moral radica naquilo que
Aristteles chama aisthesis(percepo). A deliberao no determinada
pelo raciocnio ou pela pura atividade cognoscitiva, mas relacionada com
a captao dos casos particulares, e quem decide a percepo (Arist-
teles, 1973, p. 278). Isso porque os princpios
(...) no captam os finos detalhes do particular concreto, objeto da escolha
tica. Isto se aprende em relao prpria situao. (...) As regras gerais so
25 Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Nadja Hermann
aqui criticadas por sua falta de concretude e flexibilidade. A percepo
pode levar em conta os matizes, adaptando seus juzos ao que encontra di-
ante de si. (Nussbaum, 1995, p. 385)
A phronesis um dos elementos deci si vos na formao ti ca,
como contraponto a um eu que se inventa, como sugerem as ticas
estetizadas. Se a autocriao permite uma relao mais frouxa e flexvel
em relao s regras de conduta, deixando um espao aberto para a
imaginao criativa, o inesperado e a contingncia, o que tem sentido
diante da radical finitude da vida humana, preciso questionar se
possvel manter um ethosque j rompeu com o universalismo. Contu-
do, tambm podemos perguntar se no desejvel a criao de regras
e o uso da imaginao que nos permite uma constante recriao de ns
mesmos. Faz-se necessrio esclarecer que tal autocriao, quando se vol-
ta inteiramente para si numa estilizao esttica, gera uma espcie de
confuso entre a autocriao do eu, inteiramente nova, e a autonomia
de se recriar baseada em frmulas j reconhecidas e vlidas socialmen-
te. Quando se estabelece essa confuso, o carter excessivamente priva-
do do eu acaba por divergir de um ethoscomum, de valores comparti-
lhados que orientam a vida social, deixando um vazio de sentido para
a formao.
nessa tenso que se pode compreender o papel da phronesis
como aquela sabedoria responsvel que esclarece, para o prprio eu, o
limite de uma autocriao puramente original e solicita a aplicao jus-
ta de um saber que requer o reconhecimento de fins comuns que so
vlidos para todos (Gadamer, 1993, p. 66). A phronesis assim uma
espcie de moralidade encarnada, que se ajusta complexidade e par-
ticularidade da ao moral.
As tentativas de romper as barreiras existentes contra a experincia
sensvel e as emoes criam as condies para que nossas idias sobre o
bem viver tambm passem a considerar a fuso do sensvel com o espiri-
tual. Desse modo, inicia-se um processo em que a imaginao, os senti-
mentos e mesmo a paixo podem dar um acesso ao conhecimento mo-
ral. Porm, como destaca Nussbaum (1995, p. 390-391),
(...) o caso particular seria irracional e ininteligvel sem o guia de uma capa-
cidade classificadora do universal (nem sequer podemos amar os indivduos
particulares no sentido aristotlico, sem amar os compromissos e valores
repetveis que exemplificam suas vidas). Tampouco o juzo particular possui
26
tica: a aprendizagem da arte de viver
Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
as razes e a focalizao necessrias para a bondade do carter sem um n-
cleo de compromissos com uma concepo geral (concepo, contudo, em
permanente evoluo, flexvel e preparada para a surpresa).
Educao tico-esttica
Uma educao tico-esttica apoiada em estratgias da arte de vi-
ver, como ateno aos casos particulares, s emoes e sabedoria prti-
ca, pode, como anunciado no incio desse texto, esclarecer a relao rec-
proca entre o universal e o particular. Evita uma orientao puramente
abstrata, sem abandonar princpios universais, pois a educao pressu-
pe um processo de insero num mundo compartilhado de valores e
crenas, sem o qual qualquer dialtica entre individualizao e socializa-
o estaria condenada ao fracasso. E atua como limite a uma esttica de
si mesmo que, centrada apenas em critrios individuais, pode estimular
a indiferena, o egosmo e a frivolidade.
A exigncia tica da educao pode, ento, se efetivar como uma
arte de viver, reconhecendo a tenso entre a criao de si e os princpios
universais, tenso esta permeada pela complexa relao entre o intelecto
e as emoes. Nessa perspectiva, no me parece que as coisas ocorram
como sups Foucault (1984, p. 137), ao afirmar: a procura de uma for-
ma de moral que seria aceitvel por todo o mundo no sentido de que
todo mundo deveria se submeter a ela parece-me catastrfica. H, cer-
tamente, um mnimo de normas morais, validadas intersubjetivamente,
que constituem nosso ethose sem as quais se torna muito difcil edificar
a formao humana. O compartilhamento de valores e regras comuns
permite projetar um mundo sob o qual se d a base de nossas conversa-
es. O reconhecimento dessa condio sob a qual se d a experincia
educativa no exclui, contudo, a necessria, vigilante e, s vezes, at
impiedosa crtica, qual devemos submeter todo tipo de normatividade
e as crenas em que se apiam. Caso contrrio, o influxo positivo daqui-
lo que nos ensinou a filosofia helenstica seria extirpado, ou seja, aquilo
que Nussbaum chama de dignidade da razo. As diferentes estratgias
que permitem formar uma sensibilidade aguada para com as particula-
ridades da situao e a ateno s emoes em relao construo da
moralidade so contribuies da arte de viver que devem ser considera-
das na educao, se quisermos educar pessoas com capacidade de decidir
e conduzir suas vidas.
27 Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Nadja Hermann
O no-reconhecimento dessa tenso entre universal e particular ou
sua denegao pode nos levar armadilha que consiste em subverter a
criao do eu, remetendo-se exclusivamente a regras e padres prprios,
numa auto-estilizao esttica. Uma ao moral voltada apenas para a
autocriao do eu, apesar de tudo o que ela possa ter de seduo no dis-
curso pedaggico, que luta contra as formas niveladoras e contra aquilo
que Nietzsche chamou de moral de rebanho, corre o risco de cair numa
impossibilidade de constituir um ethoscomum. A defesa da autonomia
da criao do eu como se fosse a autonomia da criao artstica, que no
tem nenhuma finalidade exceto ela mesma, resulta num processo de
estetizao que projeta um ideal de vida, mas que exclui a relao com o
outro.
Parece-me, ento, que o processo formativo pode ser adensado, va-
lendo-se das estratgias da arte de viver, que preparam para nos imagi-
narmos no lugar do outro e para examinarmos racionalmente nossas de-
cises. Entre essas estratgias est a literatura aludida pela filosofia
helenstica, contemporaneamente retomada pelas ticas estetizadas (es-
pecialmente com Rorty), num reconhecimento explcito de que a fora
potica da narrativa literria nos oferece acesso privilegiado aos conflitos
morais, ruptura com as convenes, ao mesmo tempo em que se cons-
titui numa aprendizagem da moralidade.
O exemplo que quero destacar a obra Memriasdesubsolo (1864),
de Dostoievski, cuja personagem central atinge uma densidade psicol-
gica impressionante. Na contracapa do livro, Manuel da Costa Pinto afir-
ma: o escritor materializa sua viso abissal dos conflitos morais, psicol-
gicos e sociais, que se interpenetram caoticamente de modo a destacar,
como nica medida do mundo, o desejo humano de salvao diante da
morte e da desrazo.
Na primeira parte da obra, intitulada O subsolo, Dostoievski apre-
senta uma subdiviso entre o homem subterrneo, que sabe que est ra-
dicalmente perdido no infinito, e o homem de ao, o homem moderno
que acredita em si mesmo, que pretende reduzir os anseios da alma a
uma dimenso material que aceita uma possvel explicao da razo. O
narrador annimo de O subsolo trata com escrnio as respostas padroni-
zadas do moralismo burgus e os desejos de reconciliao do idealismo.
Diz a personagem: quanto mais conscincia eu tinha do bem e de tudo
o que belo e sublime, tanto mais me afundava em meu lodo, e tanto
mais capaz me tornava de imergir nele por completo (Dostoievski,
28
tica: a aprendizagem da arte de viver
Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
2000, p. 19). A personagem revela ainda ironia e descrena no natura-
lismo, na relao entre causa e efeito, to ao gosto da razo moderna. O
homem tem uma conscincia hipertrofiada de sua condio irredutvel,
no h uma tica pblica, porque o homem, seja ele quem for, sempre
e em toda a parte gostou de agir ao seu bel-prazer e nunca segundo lhe
ordenam a razo e o interesse (idem, ibid., p. 39).
Dostoievski oferece inmeros casos particulares, que permitem am-
pliar nossa compreenso das profundezas da alma, para uma recriao de
nosso prprio eu. No se trata de seguir a ao da personagem, agir ao
bel-prazer, mas de aprender com seus conflitos. Segundo a observao
de Manuel da Costa Pinto (2007), a narrativa do escritor russo tem uma
peculiaridade marcante:
(...) fazer com que as questes metafsicas mais pungentes se imiscuam na
vulgaridade das aes ordinrias (conservando assim seu realismo) e, ao
mesmo tempo, fazer com que encontros miraculosos e cenas improvveis,
dignas dos romances de folhetim, adquiram uma gravidade tal que pare-
am ser a conseqncia lgica de um universo que caminha para a con-
sumao.
Esse carter provocador do romance de Dostoievski abre caminho
para o estranhamento das crenas habituais, atravs de uma liberdade
do sensvel contra o embrutecimento da percepo automatizada. Os
exemplos da literatura, pelo que mobilizam de nossa imaginao, emo-
o e entendimento, permitem uma experincia esttica que abre o ho-
rizonte compreensivo da moralidade e possibilita uma avaliao racional
sobre a complexidade das situaes, das crenas e das emoes que le-
vam constituio do sujeito moral. Como diz poeticamente Hlderlin,
na epigrama Pros eauton (Em si mesmo), Lern in Leben die Kunst, im
Kunstwerk lerne das Leben, pode-se aprender na vida a arte e na obra
da arte aprender a vida. Sobretudo naquilo que a obra artstica permite
nos imaginarmos no lugar do outro, preparando-nos para a difcil apren-
dizagem da arte de viver, que decidir nossa prpria ao, a criao de
ns mesmos. Tal recomendao o modo como Hlderlin enfrenta a
finitude humana, abrindo-se para a experincia da criao de um novo
homem. Assim, a arte de viver permite conduzir a vida, exercitando-
nos por meio de uma srie de atitudes, numa configurao de si dian-
te da multiplicidade de situaes. Esse o ponto de convergncia da
Bildungcom a arte de viver e a esttica da existncia, pois Bildung
29 Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Nadja Hermann
sempre auto-educao, vive da liberdade de inventar seus prprios cami-
nhos, num processo no-soberano de autotransformao (Reinchenbach,
2003, p. 204), mesmo quando esse conceito j no contm a idia de to-
talidade e unidade, como pretendia o conceito de Humboldt.
Recebido em julho de2007 eaprovado em novembro de2007.
Notas
1. A tica como uma arte de viver assume, contemporaneamente, os contornos de uma est-
tica da existncia, mas ela aparece j entre os gregos, para os quais o logosdesempenha um
papel curativo real e cura graas a sua complexa relao entre o intelecto e as emoes
(Nussbaum, 2003, p. 77). A filosofia teria mais condies que as pseudo-artes e a reli-
gio popular para curar as doenas da alma. A religio deixa o bem viver fora do controle
da razo humana. A filosofia, prossegue Nussbaum, pretender eliminar da vida huma-
na esse elemento de obscurantismo e falta de controle, subordinando a t ch (tych) a uma
tchneinteligente e inteligvel (idem, ibid., p. 78).
2. Estetizao da tica refere-se ao debate contemporneo sobre as relaes entre tica e esttica,
quando se estabelece uma reabilitao da filosofia esttica. A amplitude que o movimento es-
ttico adquire no sculo XX permite reconhecer um impacto considervel, no s no cotidia-
no como tambm no mbito terico, produzindo um vasto espectro de modos de relao en-
tre tica e esttica. Tais relaes oscilam no desenvolvimento histrico e tornam-se ambguas,
negativas, opostas ou complementares, at chegar aos processos de estetizao da tica, sub-
vertendo a relao metafsica, para a qual a esttica no poderia justificar o bem viver. Muitas
das reflexes contemporneas sobre a tica situam-se nesse espao de interpenetrao, como a
estti ca da exi stnci a de Mi chel Foucault e a autocri ao do eu de Ri chard Rorty.
Shusterman (1998) reconhece que, na estetizao da tica, as consideraes estticas so ou
deveriam ser cruciais, e talvez superiores, na determinao de como escolhemos conduzir ou
moldar nossas vidas e como avaliamos o que uma vida ideal (p. 197). Destaca ainda que
a predominncia da estetizao da tica talvez seja mais evidente na vida cotidiana e na ima-
ginao popular do que na filosofia acadmica (p. 198).
3. Para Schmid (2002, p. 280), a esttica da existncia trata, antes de tudo, da transforma-
o do homem, posto que, se no existe nenhuma essncia do homem, se abre o campo
infinito de sua transformao. Esta teleologia no tem outro sentido que a transformao.
A esttica da existncia, enquanto arte de viver, se refere forma que cada um d a si mes-
mo, mas no o cumprimento de normas, na medida em que sejam obrigaes universais.
Ou seja, o homem o criador de suas prprias normas, da relao de si e com os outros,
e do papel que as escol has pessoai s tm em nossas vi das. Fri edri ch Ni etzsche (1844-
1900) um dos cri adores da estti ca da exi stnci a, que faz uma defesa radi cal da vi da
como uma obra de arte, pois s como fenmeno esttico a existncia e o mundo podem
ser justificados.
4. A fi losofi a da arte de vi ver retoma a sabedori a anti ga, na qual encontramos i nmeros
ensinamentos dedicados conduo da vida mais correta e digna, como as prticas adotadas
pela filosofia dos cticos, esticos, epicuristas, assim como tambm os elementos trazidos pela
arte moderna. Dos antigos, a arte de viver atualiza a questo de levar uma vida s e asctica e,
no sculo XIX, se realizam alguns ensaios para atualizar esta arte de viver antiga, sobretudo
30
tica: a aprendizagem da arte de viver
Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
depois que se toma conscincia do esquecimento da arte mais complicada e digna de todas
as artes. Uma proposio aqui marcada pela imagem da existncia bela: a arte de viver essa
dimenso suscetvel de elevar a existncia categoria de obra de arte (Schmid, 2002, p. 24).
Em Terapia del deseo, Nussbaum (2003) retoma os elementos de uma arte de viver dos an-
tigos e destaca que, embora a filosofia do sculo XX tenha feito um uso menor da filosofia
helenstica, esta influenciou fortemente a cultura ocidental: No s o pensamento da baixa
Antigidade e a maioria das manifestaes do pensamento cristo, como tambm os escritos
de autores modernos to diversos como Descartes, Spinoza, Kant, Adam Smith, Hume,
Rousseau, os pais fundadores dos Estados Unidos, Nietzsche e Marx, so todos eles tribut-
ri os em grande medi da dos escri tos dos esti cos, dos epi curi stas ou dos cti cos, com
freqncia muito mais que os escritos de Plato e Aristteles. Especialmente no que se refere
s concepes filosficas das emoes, ignorar o perodo helenstico equivale a ignorar no s
os melhores materiais da tradio ocidental, como tambm a principal influncia na evolu-
o filosfica posterior (p. 22).
5. Segundo Nussbaum (2003, p. 37), o modelo mdico na tica estava estritamente vincu-
lado s circunstncias culturais e histricas particulares em que se praticava a filosofia nos
mundos helenstico e romano. No obstante, o modelo mesmo constitui uma forma til
de equilibrar o interesse pelos problemas humanos comuns com a ateno ao contexto con-
creto, que podemos aplicar a ns para compreender como suas contribuies podem tor-
nar-se iluminadoras em nossas prprias circunstncias atuais. E mais adiante afirma: A
analogia mdica to importante para os esticos como para os epicuristas e os cticos,
ilustrativa tanto para uns como para outros da funo prpria da filosofia e valiosa para o
descobrimento e justificao de uma determinada concepo de seu contedo, seus mto-
dos e seus procedimentos (ibid., p. 396).
6. De acordo com J. A. Segurado e Campos, no prefcio de Cartasa Luclio (Sneca, 2004, p.
XXX), a filosofia de Sneca cumpre o papel de uma pedagogia e tambm o de uma terapia.
(...) A filosofia deve curar os males da alma e no somente definir em que eles consistem.
nesse sentido que a filosofia uma ao que se vale de diferentes recursos para produzir seus
efeitos. Assim, Sneca no deixava de reconhecer a relevncia que uma forma literria pode
ter na transmisso de uma doutrina. Por exemplo, uma verdade filosfica torna-se mais evi-
dente e memoriza-se melhor se for expressa numa forma sentenciosa, ou se for transmitida
em verso, de modo que a prpria beleza potica alicia o potencial ouvinte a dar maior aten-
o ao discurso (p. XIX).
7. Tanto a definio de emoo, como o papel que ocupa na constituio da moral um tema
bastante complexo. Durante muito tempo, as emoes foram negligenciadas da discusso
tica, especialmente por influncia da razo prtica de Kant, que exclui a emotividade. Mas
outros autores deram destaque s emoes e seu papel de fundamento da ao moral, como
Hume, Smith, entre outros. Meu interesse compreender o papel que as emoes exer-
cem em nossos juzos morais, particularmente na concepo helenstica de emoes. Acom-
panho a interpretao que Nussbaum oferece ao termo emoes, justificando por que o
usa indistintamente de paixes. Segundo a filsofa, emoes o termo genrico mo-
derno mais comum, enquanto que paixes etimologicamente prximo dos termos gre-
gos e latinos mais correntes e est mais firmemente assentado na tradio filosfica ociden-
tal. De qualquer modo, o que pretendo designar com esses termos um gnero de que so
espcies experincias tais como o medo, o amor, o pesar, a clera, a inveja, os zelos e ou-
tras afins, mas no apetites corporais como a fome e a sede. (Isto corresponde ao uso es-
tico do grego, se bem que outros escritores gregos, s vezes, empregam ptheem um sen-
tido mais amplo, aplicando-o a qualquer afeto de uma criatura, conservando assim sua co-
nexo geral com o verbo paschein.) Esta famlia de experincias que chamamos emoes,
31 Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
Nadja Hermann
em oposio aos apetites, fica agrupada como tal por muitos pensadores antigos, comean-
do por Plato e sua concepo da parte intermediria da alma (Nussbaum, 2003, p. 398-
399).
Referncias
ARISTTELES. tica a Nicmaco. Trad. de Leonel Vallandro e Gerd
Bornheim da verso inglesa de W. D. Ros. So Paulo: Abril Cultural,
1973.
ARI STTELES. tica a Nicmaco. Trad. e notas Juli o Pall Bonet.
Madrid: Gredos, 1985.
CCERO. Tusculan disputations. Trad. ingls J. E. King. Cambridge:
Harvard University, 1945.
DOSTOIVSKI, F. Memriasdo subsolo. Trad. de Dris Schnaidermann.
So Paulo: Editora 34, 2000.
FOUCAULT, M. O dossier: ltimas entrevistas. Trad. de Ana Maria
Lima e Maria da Glria da Silva. Rio de Janeiro: Taurus, 1984.
GADAMER, H.-G. Del ideal de la filosofa prctica. In: GADAMER,
H.-G. Elogio de la teoria. Barcelona: Pennsula, 1993. p. 59-66.
HLDERLI N, F. Smtliche Werk, Briefe und Dokumente. Mnchen:
Luchthand Literarturverlag, 2004. v. 8.
HUMBOLDT, W. Der Zweck des Menschen. In: HFFE, O. Lesenbuch
zur Ethik. Mnchen: Back, 1998, p. 271-1.
NOVALI S, F.H. Plen: fragmentos, di l ogos, monl ogo. Trad. de
Rubens Rodrigues Torres Filho. So Paulo: Iluminuras, 2001.
NUSSBAUM, M. La fragilidad del bien: fortuna y tica em la trag-
di a y fi l osofi a gri ega. Trad. de Antoni o Bal estros. Madri d: Vi sor,
1995.
NUSSBAUM, M. Nicht-relative Tugenden. In: RIPPE, K.P.; SCABER, P.
Tugendethik. Stuttgart: Reclam, 1998. p. 114-165.
NUSSBAUM, M. La terapia del deseo. Trad. de Miguel Candel. Barce-
lona: Paids, 2003.
32
tica: a aprendizagem da arte de viver
Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 102, p. 15-32, jan./abr. 2008
Disponvel em <http://www.cedes.unicamp.br>
PI NTO, M.C. Dostoievski e Tolstoi. Di sponvel em: <http:/ /
www.revi sta.agul ha.nom.br/ mcostapi nto01.html #tol stoi >. Acesso
em: 27 fev. 2007.
REINCHENBACH, R. Beyond sovereignity: the twofold subversion of
Bildung. Educational Philosophy and Theory, Oxford/Malden, v. 35, n. 2,
p. 201-209, Apr. 2003.
RORTY, R. Contingencia, irona y solidaridad. Trad. de Alfredo Eduardo
Sinnot. Barcelona: Paids, 1991.
SCHMID, W. En busca deun nuevo artedeviver: la pergunta por el fun-
damento y la nueva fundamentacin de la tica em Foucault. Trad. de
German Cano. Valencia: Pr-Textos, 2002.
SNECA, L.A. Cartas a Luclio. Traduo, prefcio e notas de J. A.
Segurado e Campos. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2004.
SHUSTERMAN, R. Vivendo a arte: o pensamento pragmatista e arte
popular. Trad. de Gisela Domschke. So Paulo: Editora 34, 1998.
TOULMI N, S. Regresso a la razn: el debate entre racionalidad y la
experiencia y la prctica personales em el mundo contemporneo. Trad.
de Isabel Gonzlez-Gallarza. Barcelona: Pennsula, 2003.
Você também pode gostar
- Arte e Educação: Perspectivas Ético-EstéticasDocumento16 páginasArte e Educação: Perspectivas Ético-EstéticasNicole MarcquesAinda não há avaliações
- Reflexões sobre os modelos de seleção de gestor escolar: Escola públicaNo EverandReflexões sobre os modelos de seleção de gestor escolar: Escola públicaAinda não há avaliações
- Formação continuada dos professores no ensino superior: conhecimento, competências e atitudesNo EverandFormação continuada dos professores no ensino superior: conhecimento, competências e atitudesAinda não há avaliações
- Da Consciência à Docência: Desafios da Educação Profissional no BrasilNo EverandDa Consciência à Docência: Desafios da Educação Profissional no BrasilAinda não há avaliações
- Filosofia da Educação e Multiplicidade em Michel SerresNo EverandFilosofia da Educação e Multiplicidade em Michel SerresAinda não há avaliações
- Desafios e perspectivas das ciências humanas na atuação e na formação docenteNo EverandDesafios e perspectivas das ciências humanas na atuação e na formação docenteAinda não há avaliações
- Currículo, Formação de Professores e Trabalho Docente na ContemporaneidadeNo EverandCurrículo, Formação de Professores e Trabalho Docente na ContemporaneidadeAinda não há avaliações
- A Invenção do Recreio Escolar: Uma História de Escolarização no Estado do Paraná (1901-1924)No EverandA Invenção do Recreio Escolar: Uma História de Escolarização no Estado do Paraná (1901-1924)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A valoração nas ciências humanas: John Dewey (1859-1952)No EverandA valoração nas ciências humanas: John Dewey (1859-1952)Ainda não há avaliações
- História Institucional e Cultura Escolar: A Dinâmica do Tempo-Espaço Escolar (1940-2010)No EverandHistória Institucional e Cultura Escolar: A Dinâmica do Tempo-Espaço Escolar (1940-2010)Ainda não há avaliações
- O Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasNo EverandO Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasAinda não há avaliações
- Pedagogia da transgressão: Um caminho para o autoconhecimentoNo EverandPedagogia da transgressão: Um caminho para o autoconhecimentoAinda não há avaliações
- Educação e Contextos Diversos: Implicações Políticas e PedagógicasNo EverandEducação e Contextos Diversos: Implicações Políticas e PedagógicasAinda não há avaliações
- Filosofia da práxis e didática da educação profissionalNo EverandFilosofia da práxis e didática da educação profissionalRonaldo M. de Lima AraujoAinda não há avaliações
- Dona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraNo EverandDona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraAinda não há avaliações
- A reflexão e a prática docente: Considerações a partir de uma pesquisa-açãoNo EverandA reflexão e a prática docente: Considerações a partir de uma pesquisa-açãoAinda não há avaliações
- Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceitoNo EverandProfessor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceitoAinda não há avaliações
- BNCC e influências neoliberais: Base Nacional Comum Curricular e as influências neoliberais na sua construçãoNo EverandBNCC e influências neoliberais: Base Nacional Comum Curricular e as influências neoliberais na sua construçãoAinda não há avaliações
- Conversa com professores: Do fundamental à pós-graduaçãoNo EverandConversa com professores: Do fundamental à pós-graduaçãoAinda não há avaliações
- O currículo e relações de saberes produzidos na Escola em Tempo IntegralNo EverandO currículo e relações de saberes produzidos na Escola em Tempo IntegralAinda não há avaliações
- Aprendizagem na Universidade.: Participação do estudanteNo EverandAprendizagem na Universidade.: Participação do estudanteAinda não há avaliações
- Filosofia e Educação: Escola, Violência e ÉticaNo EverandFilosofia e Educação: Escola, Violência e ÉticaAinda não há avaliações
- Educação como conhecimento do ser humano na era do antropoceno: uma perspectiva antropológicaNo EverandEducação como conhecimento do ser humano na era do antropoceno: uma perspectiva antropológicaAinda não há avaliações
- Pesquisa em Educação: inquietações e desafiosNo EverandPesquisa em Educação: inquietações e desafiosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- História, educação e transformação: tendências e perspectivas para a educação pública no BrasilNo EverandHistória, educação e transformação: tendências e perspectivas para a educação pública no BrasilAinda não há avaliações
- Educação jesuítica e teoria da complexidade: relações e práticas na formação de professoresNo EverandEducação jesuítica e teoria da complexidade: relações e práticas na formação de professoresAinda não há avaliações
- (Re)significações do ensino médio e protagonismo juvenil: tessituras curricularesNo Everand(Re)significações do ensino médio e protagonismo juvenil: tessituras curricularesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Currículo e Sociedade da Informação no Discurso dos Pesquisadores da Área de EducaçãoNo EverandCurrículo e Sociedade da Informação no Discurso dos Pesquisadores da Área de EducaçãoAinda não há avaliações
- Emancipação Humana e Educação: Possibilidades e Desafios para os Institutos Federais de Educação, Ciência e TecnologiaNo EverandEmancipação Humana e Educação: Possibilidades e Desafios para os Institutos Federais de Educação, Ciência e TecnologiaAinda não há avaliações
- Profissão docente: sentidos e significados do Professor na Educação Básica Escolar no BrasilNo EverandProfissão docente: sentidos e significados do Professor na Educação Básica Escolar no BrasilAinda não há avaliações
- O Setor Privado e a Educação Superior Brasileira no Governo Lula e DilmaNo EverandO Setor Privado e a Educação Superior Brasileira no Governo Lula e DilmaAinda não há avaliações
- Referenciais epistemológicos: a formação pedagógica dos professores da educação básicaNo EverandReferenciais epistemológicos: a formação pedagógica dos professores da educação básicaAinda não há avaliações
- O lugar da pedagogia e do currículo nos cursos de Pedagogia no Brasil: reflexões e contradições (2015-2021)No EverandO lugar da pedagogia e do currículo nos cursos de Pedagogia no Brasil: reflexões e contradições (2015-2021)Ainda não há avaliações
- Volta Pedagogia - Saberes PedagógicosDocumento100 páginasVolta Pedagogia - Saberes PedagógicosAna Célia SantiagoAinda não há avaliações
- MARANDINO - Educação em Museu - Mediacao em FocoDocumento38 páginasMARANDINO - Educação em Museu - Mediacao em FocoCarolina VazAinda não há avaliações
- Gestão Democrática: Impasses e Desafios para Elaboração de uma Lei EstadualNo EverandGestão Democrática: Impasses e Desafios para Elaboração de uma Lei EstadualAinda não há avaliações
- Políticas de avaliação em larga escala:: análise do contexto da prática em municípios de pequeno porteNo EverandPolíticas de avaliação em larga escala:: análise do contexto da prática em municípios de pequeno porteAinda não há avaliações
- Pinóquio educador: Ensinar e aprender na escola contemporâneaNo EverandPinóquio educador: Ensinar e aprender na escola contemporâneaAinda não há avaliações
- Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica:: Políticas, Cadeias Produtivas e PolitecniaNo EverandFormação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica:: Políticas, Cadeias Produtivas e PolitecniaAinda não há avaliações
- Educação em perspectiva crítica: inquietudes, análises e experiênciasNo EverandEducação em perspectiva crítica: inquietudes, análises e experiênciasAinda não há avaliações
- Lembra de mim?: Desafios e caminhos para profissionais da Educação InfantilNo EverandLembra de mim?: Desafios e caminhos para profissionais da Educação InfantilAinda não há avaliações
- Sustentabilidade: Muito Ainda Por Dizer...No EverandSustentabilidade: Muito Ainda Por Dizer...Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Percursos de Formação de Professores de Ciências: Histórias de Formação e ProfissionalizaçãoNo EverandPercursos de Formação de Professores de Ciências: Histórias de Formação e ProfissionalizaçãoAinda não há avaliações
- A poesia e os lugares de resistência na contemporaneidade: presença no espaço urbanoNo EverandA poesia e os lugares de resistência na contemporaneidade: presença no espaço urbanoAinda não há avaliações
- Pesquisa (auto)biográfica e formação de professores alfabetizadoresNo EverandPesquisa (auto)biográfica e formação de professores alfabetizadoresAinda não há avaliações
- Relações de ensino e trabalho docente: Uma história em construçãoNo EverandRelações de ensino e trabalho docente: Uma história em construçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Campo Historiográfico-Educacional e EnsinoNo EverandCampo Historiográfico-Educacional e EnsinoAinda não há avaliações
- Sabotadores - Do - Emagrecimento - Susana - Maestri SimplesDocumento8 páginasSabotadores - Do - Emagrecimento - Susana - Maestri SimplesSusana MaestriAinda não há avaliações
- Olhar Da Psicologia No Cuidado Com Os IdososDocumento120 páginasOlhar Da Psicologia No Cuidado Com Os IdososSusana MaestriAinda não há avaliações
- Apostila de Mandalas PDFDocumento2 páginasApostila de Mandalas PDFSusana MaestriAinda não há avaliações
- Saindo Das Dividas Com AlegriaDocumento134 páginasSaindo Das Dividas Com AlegriaSusana Maestri100% (12)
- Arteterapia Um Caminho Transpessoal PDFDocumento18 páginasArteterapia Um Caminho Transpessoal PDFSusana MaestriAinda não há avaliações
- Apostila Do Taro Parte 1Documento15 páginasApostila Do Taro Parte 1Susana MaestriAinda não há avaliações
- Impacto Astrológico - Resumo Aula 1 PDFDocumento9 páginasImpacto Astrológico - Resumo Aula 1 PDFSusana MaestriAinda não há avaliações
- Apostila TrânsitosDocumento6 páginasApostila TrânsitosSusana Maestri100% (3)
- Rudiger Dahlke - A Doença Como Linguagem Da AlmaDocumento400 páginasRudiger Dahlke - A Doença Como Linguagem Da AlmaRodrigo100% (7)
- Calculo Da Saida de Emergencia-Bloco de Engenharia Civil - Ifal-Rev.00Documento3 páginasCalculo Da Saida de Emergencia-Bloco de Engenharia Civil - Ifal-Rev.00Marcelo ÁvilaAinda não há avaliações
- Texto 05 - Sequencia Didática Por Módulos - ModeloDocumento6 páginasTexto 05 - Sequencia Didática Por Módulos - ModeloElizeu souzaAinda não há avaliações
- Forjados CM 2016Documento24 páginasForjados CM 2016jarmiram della barba jrAinda não há avaliações
- Simulado 03 - Língua Portuguesa 9º Ano - Prof. EduardoDocumento3 páginasSimulado 03 - Língua Portuguesa 9º Ano - Prof. EduardoNadson FariasAinda não há avaliações
- Eaoear 2012 - Engenharia Civil - Civ - Versão B PDFDocumento21 páginasEaoear 2012 - Engenharia Civil - Civ - Versão B PDFpitoco2009Ainda não há avaliações
- Ação de Substituição de Curatela.Documento7 páginasAção de Substituição de Curatela.Anne AlmeidaAinda não há avaliações
- Biogeografia PDFDocumento94 páginasBiogeografia PDFLuiz Mello LulaAinda não há avaliações
- LC 840/11 (Lei Complementar No. 840 de 2011)Documento51 páginasLC 840/11 (Lei Complementar No. 840 de 2011)Ricardo Vieira RoeheAinda não há avaliações
- Descascador SKYMSENDocumento8 páginasDescascador SKYMSENcrindiubasAinda não há avaliações
- Práticas OficinaisDocumento123 páginasPráticas OficinaisRui HenriquesAinda não há avaliações
- Probabilidades GeométricasDocumento4 páginasProbabilidades GeométricasmalheironAinda não há avaliações
- A SustentabilidadeDocumento30 páginasA SustentabilidadeIvanilce Franco Beppler PrioriAinda não há avaliações
- DL320 2002 Elevadores PDFDocumento20 páginasDL320 2002 Elevadores PDFdesportista_luisAinda não há avaliações
- Estudo de Caso CASO Chad S Creative ConceptsDocumento1 páginaEstudo de Caso CASO Chad S Creative ConceptsProfessorluizAinda não há avaliações
- Introdução À Vida Intelectual Aula 02Documento5 páginasIntrodução À Vida Intelectual Aula 02GuardaFlorestalAinda não há avaliações
- Trabalho em Equipa - Impasses, Problemas, Implicações e EspecificidadesDocumento14 páginasTrabalho em Equipa - Impasses, Problemas, Implicações e EspecificidadesPessega100% (1)
- Transparencias de G.A.Documento18 páginasTransparencias de G.A.alarcon001Ainda não há avaliações
- Caderno de Questões de Engenheiro Mecânico Turbinas HidráulicasDocumento17 páginasCaderno de Questões de Engenheiro Mecânico Turbinas HidráulicasFrancisco AndradeAinda não há avaliações
- QUÍMICA - Plano de Ensino Libras 2S - 2019Documento2 páginasQUÍMICA - Plano de Ensino Libras 2S - 2019walas joãoAinda não há avaliações
- Redação 8 AnoDocumento27 páginasRedação 8 AnoAna MariaAinda não há avaliações
- Multiplicadores de Lagrange - IfCEDocumento8 páginasMultiplicadores de Lagrange - IfCECarlos Eduardo Polatschek KopperschmidtAinda não há avaliações
- NBR 9653 - Explosivos Na MineraçãoDocumento8 páginasNBR 9653 - Explosivos Na MineraçãoMarceloPassos100% (2)
- ExercíciosDocumento5 páginasExercíciosAguinaldoAinda não há avaliações
- Professor Nivel I HistoriaDocumento13 páginasProfessor Nivel I HistoriaDivino RodriguesAinda não há avaliações
- RGN Etrs89 201504Documento593 páginasRGN Etrs89 201504bráulioAinda não há avaliações
- Exercício Proposto No Âmbito Da Ética Deontológica KantianaDocumento2 páginasExercício Proposto No Âmbito Da Ética Deontológica KantianaFilipa VargasAinda não há avaliações
- O Diretor de Fotografia Jorge MonclarDocumento30 páginasO Diretor de Fotografia Jorge Monclarfelipeedit33% (3)
- Relato de Estagio SupervisionadoDocumento8 páginasRelato de Estagio SupervisionadoDaniele RodriguesAinda não há avaliações
- PROVA - 6Â Colegio Militar 2022º - ANODocumento10 páginasPROVA - 6Â Colegio Militar 2022º - ANOEmpreendedora RelógiosAinda não há avaliações
- Conta Outro! (Nestor Pinheiro)Documento110 páginasConta Outro! (Nestor Pinheiro)Nestor Pinheiro100% (1)