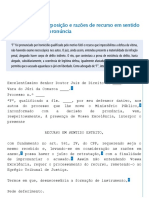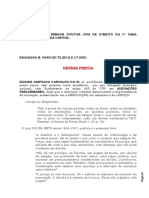Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Leonardo Greco - Princípios de Uma Teoria Geral Dos Recursos
Leonardo Greco - Princípios de Uma Teoria Geral Dos Recursos
Enviado por
Alexandre Fernandes SilvaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Leonardo Greco - Princípios de Uma Teoria Geral Dos Recursos
Leonardo Greco - Princípios de Uma Teoria Geral Dos Recursos
Enviado por
Alexandre Fernandes SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP.
Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
5
PRINCPIOS DE UMA TEORIA GERAL DOS RECURSOS
Leonardo Greco
Professor Titular de Direito Processual Civil da
Faculdade Nacional de Direito da Universidade
Federal do Rio de Janeiro; Professor adjunto de
Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Na poca em que entrou em vigor o Cdigo de Processo Civil de 1973, o sistema de
recursos por ele institudo foi considerado um dos seus aspectos positivos, pela sensvel
simplificao que representou em relao ao regime anterior. Basta dizer que no regime do
Cdigo de 39 havia nada menos de trs recursos diferentes contra as decises
interlocutrias (o agravo de instrumento, o agravo no auto do processo e a carta
testemunhvel), cuja admissibilidade variava por critrios bastante casusticos, bem como
dois recursos diferentes contra a sentena de 1 grau (a apelao e o agravo de petio).
No obstante esse avano, decorridas mais de trs dcadas de vigncia do Cdigo e aps
incontveis alteraes, o seu sistema de recursos apontado por muitos como o grande
responsvel pela crise da Justia brasileira, conforme se manifestou a Comisso de
Constituio e Justia do Senado Federal, ao analisar a Proposta de Emenda Constituio
que deu origem Emenda Constitucional n 45/2004.
No tenho dvidas de que o atual sistema de recursos bastante deficiente, se
comparado com os de outros pases e se avaliados os seus resultados do ponto de vista da
qualidade e da credibilidade das suas decises. Alm de estimular o demandismo e a
procrastinao, o nosso sistema exageradamente formalista, criando obstculos
irrazoveis apreciao dos recursos e determinando a produo de decises que, em lugar
de aumentarem a probabilidade de acerto e de justia das que pretendem rever,
transformaram o seu julgamento numa verdadeira caixa de surpresas, criadora de situaes
absolutamente imprevisveis para as partes e que, a pretexto do excessivo volume de
processos, do pouca ateno s questes fticas e jurdicas suscitadas e aos argumentos
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
6
dos advogados, procurando cada vez mais encontrar afinidades dos novos casos com outros
anteriormente julgados pelo mesmo tribunal ou por tribunais superiores e assim, de forma
simplista e absolutamente distante do litgio real, transpor fundamentos destes para aqueles,
automatizando os julgamentos.
Desde 1995, sucessivas leis de reforma, a cuja elaborao se dedicaram ilustres
juristas, na nsia de debelar os males decorrentes do aumento do volume de recursos,
agravaram ainda mais os defeitos do sistema, especialmente pelo progressivo abandono da
colegialidade das decises recursais e pela crescente invocao da jurisprudncia. O
sistema de recursos sofre os reflexos de trs vises absolutamente deformadas do processo
judicial: a dos tribunais superiores, cuja preocupao predominante com a eliminao da
quantidade de processos e de recursos, mesmo com o sacrifcio da qualidade e da justia
das decises; a dos governantes, que se habituaram a utilizar a justia para procrastinar o
cumprimento das obrigaes do Estado para com os cidados; e a dos prprios
jurisdicionados que, quando vencidos, se sentem impelidos a esgotar as vias recursais,
porque estas se apresentam como facilmente acessveis e resultam sempre de algum modo
mais vantajosas do que o cumprimento espontneo das suas obrigaes. As reformas at
agora implementadas, em regra, no foram capazes de destruir essa cultura demandista por
parte do Estado e tambm dos particulares, tendo sido eficazes apenas na instituio de
filtros de acesso s instncias recursais, que somente beneficiam a consecuo das metas
quantitativas dos tribunais superiores.
1 A NOO DE RECURSO, SUAS ORIGENS E EVOLUO
A noo de recurso, ou seja, de um remdio que possibilite o reexame de decises
judiciais desfavorveis, nasceu junto com a racionalidade humana, pois, quando algum
considerava uma deciso injusta, procurava rev-la
1
. Muito antes do surgimento de
institutos, como a appellatio romana, que moldaram os recursos que atualmente
conhecemos, a Antiguidade Clssica conheceu inmeros outros remdios que, ainda que
1
LIMA, Alcides de Mendona. Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, p.1.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
7
no reformassem ou anulassem as decises judiciais, possibilitavam ao vencido subtrair-se
dos seus efeitos.
Entre os estudiosos do Processo Civil, prepondera a opinio daqueles que
consideram o recurso um direito fundamental inerente natureza humana. Alcides de
Mendona Lima, por exemplo, assevera que a idia de recurso deve ter nascido com o
prprio homem, quando algum, pela primeira vez, se sentiu vtima de uma injustia
perpetrada pelo julgador ao qual submeteu a sua causa. Sua origem se perde nas pocas
mais remotas, no Antigo Testamento, na Grcia e no Egito. As fontes histricas serviriam
para demonstrar que a idia de recurso se acha arraigada no esprito humano, como uma
tendncia inata e irresistvel, como uma decorrncia lgica do prprio sentimento de
salvaguarda a um direito j ameaado ou violado em uma deciso. A circunstncia de ter
sido acolhido em todas as pocas e por todos os povos permite consider-lo como inerente
prpria personalidade humana
2
. No Cdigo de Hamurabi (art. 5), a reviso do erro
judicirio determinava sano pecuniria ao juiz e proibio de exercer a funo em outro
processo
3
.
No Direito romano primitivo, no existiam propriamente recursos, porque as
decises judiciais eram proferidas por juzes privados. Era a chamada ordo judiciorum
privatorum. O carter tipicamente privado do processo em instncia nica na sociedade
romana primitiva rejeitava a idia de recurso. Havia remdios ou aes autnomas contra a
sentena ou contra decretos dos magistrados, de carter eminentemente inibitrio (infitiatio
iudicati, revocatio in duplum, restitutio in integrum, intercessio), mas no propriamente
recursos como os conhecemos hoje, que substituem uma deciso judicial por outra
4
.
A nossa apelao comeou a esboar-se no processo penal e foi estendida ao
processo civil no tempo do Imperador Augusto, com a delegao do poder de reviso das
2
LIMA, Alcides de Mendona. Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965,
pp.1-4 e 127-129 .
3
S, Djanira Maria Radams de. Duplo grau de jurisdio. So Paulo: Saraiva, 1999, p. 79.
4
LIMA, Alcides de Mendona. Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, pp.
4-5.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
8
sentenas a certos magistrados. A hierarquia definiu os diversos graus da apelao, sempre
perante um magistrado superior contra a sentena de magistrado inferior
5
.
Se a instituio de remdios para propiciar o reexame de decises judiciais atendia a
uma aspirao humana, a sua implementao, desde a Antiguidade at os nossos dias,
sempre foi fortemente influenciada pelos interesses polticos dos governantes.
Quando Roma se tornou um Imprio, pouco antes da Era Crist, nasceram os
primeiros recursos de que a literatura processual tem conhecimento. Isso porque o
Imperador precisava ter instrumentos para assegurar o primado de suas leis e de seu poder
poltico sobre toda a extenso territorial que compunha seu Imprio. Era atravs dos
recursos que se podia controlar a aplicao das leis em todos os recantos do Imprio; assim,
a violao quelas deveria ser remediada pelo provimento dos recursos dirigidos aos
prepostos do Imperador ou, em ltima instncia, a ele prprio.
O sistema recursal, alm de ter nascido para assegurar o poder poltico do Imprio
Romano, possua outra funo: fixar nos povos conquistados a idia de que a dominao
romana era positiva, na medida em que, descontentes com o julgamento proferido pelas
justias locais, eles poderiam dirigir-se ao juiz romano por meio dos recursos. Procurava-
se, noutras palavras, vender a idia de que a autoridade romana fazia justia melhor do que
a dos povos conquistados.
Vittorio Scialoja, em seu Processo Civil Romano, observa que a introduo da
apelao ocorreu, sem dvida, mais do que em decorrncia de uma especfica compreenso
do ordenamento judicirio, por uma imposio da hierarquia administrativa
6
. A apelao
pressupunha uma ordem hierrquica, em que um juiz superior revia a deciso de um
inferior.
Posteriormente, surgiu, ainda no Imprio Romano, a supplicatio, splica, que era
um pedido dirigido ao soberano para que este, em face de uma sentena injusta proferida
5
SCIALOJA, Vittorio. Procedimiento Civil Romano. Buenos Aires: EJEA, 1954, pp.356-362; CUENCA,
Humberto. Proceso civil romano. Buenos Aires: EJEA, 1957, p.103; LIMA, Alcides de Mendona.
Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, pp.7-10.
6
Ob. e loc. cits.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
9
pelo mais alto magistrado romano, o prefeito do pretrio, concedesse ao sdito um novo
julgamento.
A posterior dominao brbara fez o direito romano defrontar-se com a realidade da
justia exercida pelas assemblias populares, nas cidades germnicas. Na Justia
germnica, no havia recurso, prevalecendo os julgamentos populares; acima da
comunidade, no havia reinos nem imprios, e, portanto, a sua deciso era nica e eficaz
para todos, inclusive para aqueles que no haviam litigado, inexistindo recursos.
Quando se fundem, a partir do sculo XII, os direitos germnico e romano, com
grande influncia do direito cannico
7
, ressurgem os recursos romanos, ao lado dos quais
aparecem, j originrios dos costumes medievais, alguns outros recursos contra decises
interlocutrias, que haviam sido proibidos por Justiniano, como as queixas, que no
suspendiam o processo e somente eram cabveis para decises capazes de gerar prejuzos
graves ou irreparveis s partes.
No Condado Portucalense, a miscigenao de institutos do Direito visigtico,
cannico e costumeiro no reconhecia o direito de reviso das sentenas
8
. Somente no
incio do sculo XIII, uma lei de D. Afonso II admite pela primeira vez a possibilidade de a
sentena ser revista pelo monarca. Essa regra foi adotada por D. Dinis e incorporada
posteriormente s Ordenaes Afonsinas de 1446. Ainda em meados do sculo XIII, D.
Afonso III, sob evidente influncia romano-cannica, recria a apelao.
Alcides de Mendona Lima observa que a idia de recurso estava muito arraigada
no esprito do povo portugus, desde os albores de sua existncia, como fruto de uma
tendncia inata reparao da injustia
9
.
As Ordenaes Afonsinas, promulgadas pelo Rei Afonso V, que tinha apenas 14
anos, instituram apelao contra a sentena definitiva e contra a sentena interlocutria
com fora de definitiva. Tambm era admitida apelao contra a sentena interlocutria
7
O direito cannico sempre manteve a sua estrutura hierrquica, resistindo aos barbarismos do direito
germnico, como os duelos e as ordlias, e servindo de repositrio dos institutos romanos, entre os quais a
apelao (LIMA, Alcides de Mendona. Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais,
1965, pp. 14-15).
8
S, Djanira Maria Radams de. Duplo grau de jurisdio. So Paulo: Saraiva, 1999, p. 83.
9
LIMA, Alcides de Mendona. Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965,
pp.15-20.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
10
cuja execuo causasse dano irreparvel. As demais interlocutrias eram inapelveis para
evitar procrastinaes. No era admitida apelao das condenaes de pequeno valor. Surge
tambm o agravo de instrumento contra o indeferimento da reconsiderao das demais
decises interlocutrias. Essas Ordenaes consagraram tambm um outro remdio, os
embargos, no como recurso, mas como uma ao inibitria para impedir os efeitos ou a
execuo da sentena. Todas essas medidas tiveram inquestionveis objetivos polticos.
10
.
E as Ordenaes Manuelinas trouxeram a lume outros recursos, como o agravo no
auto do processo e o agravo de petio.
A Revoluo Francesa, influenciada pelo Iluminismo e pelo Liberalismo, teve
influncia marcante na evoluo do sistema de recursos. Sua preocupao em eliminar o
domnio das castas que, nos antigos Parlamentos, reviam no seu prprio interesse quaisquer
decises judiciais, consagrou o princpio do duplo grau de jurisdio, para que a apreciao
das questes de fato no ultrapassasse duas instncias. Mas para assegurar a submisso dos
juzes ao imprio da lei, fruto da vontade popular expressa nas deliberaes da Assemblia
Nacional, criou a Corte de Cassao, com a funo de anular, enquanto rgo auxiliar do
Poder Legislativo, as decises judiciais contrrias lei, velando pelo primado do direito
objetivo e reduzindo os juzes a serem a boca da lei, segundo a expresso cunhada por
Montesquieu.
A Corte de Cassao francesa, que tinha funo meramente anulatria, inspirou o
surgimento, no Sculo XIX, das Cortes Supremas em toda a Europa e inclusive no Brasil,
atravs da criao, em 1.828, do Supremo Tribunal de Justia do Imprio.
Assim, qualquer cidado, que se reputasse atingido por uma deciso judicial
contrria lei e irrecorrvel por qualquer outro meio de impugnao, podia dirigir-se,
atravs da revista, ao Supremo Tribunal de Justia, que, se reconhecesse a violao da lei,
anularia a deciso e determinaria a realizao de um novo julgamento. A revista
originariamente possua apenas carter anulatrio e o antecedente histrico dos atuais
recursos especial e extraordinrio.
10
TUCCI, Jos Rogrio Cruz e, AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lies de Histria do Processo Civil Lusitano.
So Paulo: Revista dos Tribunais,. 2009, pp. 62-63, 79-80 e 200.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
11
Na poca do Imprio, havia no Brasil apelao contra sentenas; vrias espcies de
agravo casuisticamente criados para atacar certas decises proferidas no curso do processo
e at mesmo sentenas; revista para o Supremo Tribunal de Justia com a funo de
cassao ou controle de legalidade das decises judiciais; e embargos, caractersticos do
direito luso-brasileiro, propiciando um novo julgamento pelo mesmo juiz que havia
proferido a deciso embargada. Entre estes ltimos, podemos citar os embargos de
nulidade, infringentes, de declarao, de restituio de menores, de reteno, execuo e
de terceiro etc. Alguns deles eram aes autnomas, outros, recursos, e a sua proliferao,
no muito bem explicada pela doutrina, a meu ver funda-se em duas razes principais.
Em primeiro lugar, devemos considerar a larga extenso territorial do imprio
lusitano e posteriormente do Brasil. Diante dessa caracterstica, era muito difcil o acesso
aos tribunais de segundo grau. O primeiro tribunal criado no Brasil foi o da Relao da
Bahia, no incio do sculo XVII, que demorou muito para ser instalado, pois os
portugueses, entre eles os juzes, no queriam vir para o Brasil, considerado terra de
degredados ou aventureiros.
At meados do sculo XVII, quando da instalao da Relao da Bahia, todos os
recursos eram remetidos a Lisboa, o que, obviamente, causava muita demora no seu
julgamento. A Relao do Rio de Janeiro foi o segundo tribunal superior criado no Brasil,
em meados do sculo XVIII, quando a capital da colnia transferiu-se de Salvador para o
Rio de Janeiro. Foi primeiramente instalado no atual prdio da Faculdade Nacional de
Direito e transferiu-se posteriormente para uma rua prxima, cujo nome atual Rua da
Relao, situada igualmente no centro da cidade do Rio de Janeiro.
Portanto, o acesso por meio de recursos aos tribunais de segundo grau era muito
demorado e caro, de modo que aquele que sofresse algum prejuzo causado por uma
deciso judicial dificilmente teria tempo para evitar algum dano irreparvel. Essa
dificuldade de acesso aos tribunais, em razo da distncia e dos custos, uma das razes
histricas para a proliferao dos embargos: era muito menos custoso e demorado dirigir-se
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
12
novamente ao juzo de primeiro grau, prolator da deciso, e pression-lo para que
reconsiderasse as suas decises.
O segundo motivo histrico que gerou o elevado nmero de embargos existentes no
sistema recursal ptrio fundado no receio que nutriam os magistrados e muitos ainda o
tm de sofrerem represlias, sanes ou perseguies por parte dos tribunais em razo do
contedo de suas decises. Assim, muitos juzes pressionavam as partes para que, antes de
dirigirem-se aos tribunais, buscassem com eles a reforma da deciso. Com essa prtica, na
verdade, muitos juzes tornavam-se as verdadeiras autoridades mximas nas localidades em
que exerciam suas funes.
O sistema recursal do Imprio era catico e os esforos para simplific-lo
fracassaram. Proferida a sentena, a parte vencida podia embargar ou apelar. Utilizaria o
primeiro recurso se quisesse alegar matria nova, dirigindo-o ao prprio juiz para uma nova
sentena. No aduzida matria nova, utilizava-se a parte do recurso de apelao a um
tribunal de segundo grau. Na primeira hiptese, da deciso dos embargos ainda cabia
apelao.
Com o advento da Repblica, altera-se o antigo sistema, repleto de oportunidades de
recursos. O sistema republicano, influenciado pelo modelo norteamericano, transforma a
revista do Imprio no recurso extraordinrio para o Supremo Tribunal Federal, cabvel
contra qualquer violao da lei ou da Constituio. Alargou-se a sua funo, que antes era
meramente anulatria. Assim, na Repblica, toda vez em que o Supremo Tribunal Federal,
provocado pela interposio do recurso extraordinrio, constatasse violao lei ou
Constituio, julgaria desde logo a causa. Copiou-se o sistema americano e o alemo,
abandonando a tradio francesa de recurso no interesse da lei, com efeitos meramente
anulatrios. Continuaram a existir no perodo republicano a apelao e as inmeras
espcies de agravos e de embargos de origem lusitana.
O Cdigo de Processo Civil de 1.939 previa nove recursos: apelao, agravo de
petio, agravo de instrumento, agravo no auto do processo, embargos de declarao,
embargos infringentes, recurso extraordinrio, recurso de revista e carta testemunhvel.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
13
Apesar da grande quantidade de recursos, o Cdigo em questo no previa a recorribilidade
de todas as decises.
Avanando positivamente, o Cdigo atual quis simplificar o sistema anterior e
reduziu o nmero de recursos, que passaram a ser os seguintes: apelao, agravo, embargos
infringentes, embargos de divergncia, embargos de declarao e recurso extraordinrio.
Durante sua vigncia, sobrevieram sucessivas reformas. A Constituio de 1.988,
por exemplo, desdobrou o antigo recurso extraordinrio, antes cabvel tanto para o controle
do respeito lei federal como para o controle de constitucionalidade das decises dos
tribunais. Aps a vigncia do novo texto constitucional, as decises que violem, neguem
vigncia ou dem interpretao diversa legislao federal devem ser atacadas por meio de
recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justia, criado igualmente pela nova
ordem constitucional (art. 105, III). Violando a deciso algum preceito constitucional, deve
ser atacada por meio de recurso extraordinrio, dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art.
102, III).
Hoje, o artigo 496 do Cdigo de Processo Civil enumera oito recursos: a apelao, o
agravo, os embargos infringentes, os embargos de declarao, o recurso ordinrio, o recurso
especial, o recurso extraordinrio e os embargos de divergncia.
Alm desses, h agravos internos ou regimentais espalhados pelo Cdigo e
regimentos internos dos tribunais. A reclamao e a correio parcial continuam existindo,
embora pouco usadas. Como sucedneos recursais, o mandado de segurana e o habeas
corpus seguem sendo invocados como meios de impugnao de decises judiciais.
2 - OS FUNDAMENTOS
Em interessante pesquisa recente efetuada com base em abundante doutrina, Larcio
Becker
11
alinhou os seguintes argumentos contrrios reviso das decises judiciais por
11
BECKER, Larcio. Duplo grau: a retrica de um dogma. In MARINONI, Luiz Guilherme (coord.).
Estudos de Direito Processual Civil - homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Arago. So
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp.142-151.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
14
meio dos recursos: 1) os tribunais superiores seriam uma aristocracia judiciria; 2) o
tribunal superior pode no acolher recurso de sentena mal proferida; 3) o tribunal superior
pode reformar para pior uma sentena bem proferida; 4) o tribunal superior pode
inutilmente confirmar a sentena de primeiro grau; 5) mesmo reformando para melhor, o
provimento do recurso compromete o prestgio e a credibilidade do Judicirio; 6) o recurso
retarda e encarece a soluo do litgio; 7) o juiz de primeiro grau tem uma viso mais viva
do litgio e dos litigantes do que o de grau superior; 8) se os juzes fossem escolhidos pelas
partes, como no juzo arbitral, o recurso seria desnecessrio; 9) do ponto de vista lgico, o
recurso seria uma superfluidade porque o juiz, com a sentena, cumpriu o dever do Estado
e esgotou a funo jurisdicional.
A seguir, o Autor enumera os argumentos favorveis aos recursos, a saber: 1)
natural ao homem no se conformar com o primeiro juzo desfavorvel; 2) o texto de
Ulpiano, que traduz o terceiro argumento negativo acima mencionado, est deturpado,
havendo suspeita de que no seja autntico; 3) Os recursos obrigam cautela e estudo por
parte da jurisdio inferior; 4) somente os recursos firmam e uniformizam a jurisprudncia;
5) os recursos esto consagrados em vrios ordenamentos jurdicos, especialmente dos
povos cultos; 6) o tribunal superior tem mais experincia, competncia e segurana; 7) a
possibilidade inafastvel de erro na sentena de primeiro grau; 8) os recursos criam
dependncia e hierarquia entre os rgos judiciais; 9) os recursos corrigem as eventuais
iniquidades do primeiro grau; 10) a confirmao da sentena d autoridade e prestgio ao
juiz de primeiro grau; 11) os recursos determinam que as causas mais complexas e mais
importantes sejam definitivamente decididas pelos juzes mais experientes e qualificados;
12) qualquer reexame contribui para uma deciso de melhor qualidade com melhor
interpretao e aplicao da lei; 13) a primeira sentena serve de elemento filtrante e freio
deciso de segundo grau; 14) o tribunal superior est distante do calor e da influncia das
discusses; 15) a concentrao do poder jurisdicional em apenas um rgo pode
transformar-se em instrumento de arbtrio.
O natural inconformismo do vencido que litigou de boa f, a maior probabilidade de
acerto e de justia da deciso recursal, que soma toda a cognio j produzida no juzo
inferior cognio resultante da nova discusso da causa a partir dos fundamentos da
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
15
deciso recorrida, e a necessidade de manter o poder dos juzes sob permanente controle
so, a meu ver, fundamentos que recomendam que as decises judiciais, em especial
aquelas que incidem sobre o direito subjetivo material das partes, sejam sempre passveis
de reexame no mesmo processo por meio de recursos para rgos jurisdicionais mais
experientes e qualificados.
Na conscincia dos povos, a criao dos recursos serviu para atender aos seus
anseios de justia, sedimentando-se esse direito de acesso a magistrados hierarquicamente
superiores na cultura dos povos ocidentais, como uma garantia indispensvel eficcia dos
direitos subjetivos dos cidados e um necessrio mecanismo de proteo contra o arbtrio
judicial.
Mas, como vimos acima, tambm as decises dos juzes mais categorizados que
julgam os recursos so falveis e, admitir que sempre possam existir meios de impugnao
para anul-las ou corrigi-las, levaria a uma interminvel cadeia de recursos e mais
absoluta insegurana nas relaes jurdicas.
3 - O DUPLO GRAU DE JURISDIO
Os limites renovao dos processos, ao reexame das decises judiciais e
admissibilidade dos recursos nunca se estabilizaram de modo definitivo. Nos primeiros
sculos do Imprio Romano todas as decises judiciais passaram a ser recorrveis e podia-
se recorrer sucessivamente at chegar ao Imperador. Justiniano, no sculo VI, eliminou os
recursos contra as decises interlocutrias e limitou os recursos a trs graus sucessivos.
Em pleno sculo XXI, originrios das mesmas fontes romanas, existem sistemas
processuais sem recursos contra as decises interlocutrias, outros com recursos apenas
contra algumas decises interlocutrias, e ainda outros, como o atualmente vigente no
processo civil brasileiro, com recursos contra quaisquer decises interlocutrias (CPC, art.
522). Existem sistemas em que so considerados recursos meios de impugnao posteriores
coisa julgada, como a ao rescisria, e outros, como o nosso, em que a noo de recurso
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
16
est associada inexistncia de coisa julgada. Existem pases em que se admitem recursos
para o mesmo rgo jurisdicional que proferiu a deciso impugnada, como o Brasil,
enquanto que em outros o recurso impe o reexame por rgo jurisdicional diverso e mais
qualificado. Raros pases possuem recursos com base em voto vencido, como os nossos
embargos infringentes, ou para esclarecimento de omisses e obscuridades, como os nossos
embargos declaratrios.
Se fizermos um paralelo dos sistemas processuais da civil law e da common law,
constataremos diferenas ainda maiores, pois nestes, conforme acentuado por Damaska
12
, o
controle que os tribunais superiores exercem sobre os juzos e tribunais inferiores muito
menor, restringindo-se a corrigir eventuais excessos destes ltimos no exerccio dos seus
poderes, que so considerados discricionrios, e a escolher certas questes de direito para
pronunciamento, quando se consideram aptos a fazer o direito evoluir atravs de novos
precedentes.
Alm disso, o acesso instncia recursal quase sempre est condicionado a uma
autorizao do juzo de origem, mediante deciso irrecorrvel, que avalia a consistncia da
argumentao e a sua probabilidade de xito.
Em meio a tantas diversidades, muitas delas ditadas por fatores culturais
entranhados no cotidiano da administrao da justia de cada povo, algumas caractersticas
comuns, geralmente aceitas, poderiam ser apontadas, no estivessem elas prprias em risco
e sofrendo progressiva deteriorao, na luta frentica e sem limites, que atualmente
empreendem os tribunais superiores, para debelar a crise decorrente do aumento
avassalador de processos e de recursos.
O duplo grau de jurisdio a principal dessas caractersticas, incorporada
tradio jurdica dos pases da civil law, segundo a qual todo aquele que for atingido na sua
esfera de interesses por uma deciso judicial desfavorvel deve ter direito a uma segunda
oportunidade de julgamento.
12
DAMASKA, Mirjan R., The faces of Justice and State Authority, Yale University Press, 1986 (traduo
italiana: I volti della giustizia e del potere, Il Mulino, Bologna, 1991, p.95).
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
17
No processo penal, o princpio do duplo grau de jurisdio em favor do acusado
uma garantia fundamental universalmente reconhecida, inscrita na Conveno Americana
de Direitos Humanos (art. 8, 2, letra h) e em todos os instrumentos internacionais de
direitos humanos.
No processo civil, controvertida a sua natureza de garantia fundamental. Sobre o
tema, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que, no mbito do processo civil, o duplo
grau de jurisdio no uma garantia fundamental, mas um princpio infraconstitucional.
Portanto, segundo tal entendimento, poderia a lei em determinados casos no prever o
julgamento por uma nova instncia, ou seja, deixar de conferir parte uma segunda
oportunidade de julgamento.
Os processualistas civis, de um modo geral, pensam o contrrio, por diversas razes.
A primeira delas funda-se no fato de que admitir que algum perca um direito ou no possa
exerc-lo por causa de uma nica deciso significa submeter aquele que se considera o seu
titular ao arbtrio de um nico rgo jurisdicional, o que se agrava ainda mais quando esse
rgo composto de apenas um juiz.
Em segundo lugar, o Poder Judicirio, diante de casos idnticos, tem de proferir
decises idnticas. Se rgos jurisdicionais julgam de forma diversa causas idnticas e os
vencidos so impedidos de recorrer, viola-se o paradigma do Estado de Direito de que
todos devem ser tratados igualmente pelo Poder Pblico.
Justamente porque no possvel que todos os juzes julguem sempre no mesmo
sentido que deve haver recursos a tribunais que estejam a eles sobrepostos, conferindo
entendimento uniforme a questes idnticas e evitando a chamada loteria judiciria. A
igualdade de todos no Estado de Direito exige que o Judicirio atue harmonicamente, e para
isso indispensvel o direito ao recurso
13
.
Ento, mesmo no previsto expressamente no artigo 5 da Constituio Federal
como garantia fundamental do processo civil, o duplo grau de jurisdio integra o devido
13
Jaime Guasp entende que a uniformizao da jurisprudncia refoge da verdadeira essncia da funo
jurisdicional (GUASP, Jaime. Derecho procesal civil. Madrid: Instituto de Estudios Polticos, tomo 2,
1968, pp.809-811), opinio que criticada por Jos Frederico Marques (MARQUES, Jos Frederico.
Instituies de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. IV, 2 ed., 1963, p. 127).
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
18
processo legal, o qual incontestavelmente constitui-se numa daquelas garantias ou direitos
fundamentais (inciso LIV). Entretanto, os instrumentos internacionais de direitos humanos
e a jurisprudncia internacional no reconhecem o duplo grau de jurisdio como garantia
fundamental no processo civil
14
pelo carter discricionrio de que se reveste o acesso s
jurisdies superiores nos pases da common law.
Os fundamentos do princpio do duplo grau de jurisdio so os mesmos do direito
de recorrer j enumerados acima. O primeiro o inconformismo do vencido, daquele que
demandou ou se defendeu de boa-f, acreditando ser o titular do direito guerreado. Para
satisfazer a esse inconformismo, deve-se conferir-lhe uma segunda oportunidade de
julgamento da causa, tanto em relao s questes de fato, quanto s de direito.
Assim, o reconhecimento da justia das decises judiciais depende muito do sistema
de recursos, j que o vencido tende a ter como injusta a deciso a ele desfavorvel. No
sistema de duplo grau, se o vencido no se convenceu dos argumentos do juiz de primeiro
grau, ele pode provocar um novo julgamento, a ser proferido por um tribunal mais
qualificado, composto de magistrados mais experientes.
O segundo fundamento do duplo grau de jurisdio o de melhorar a qualidade das
decises judiciais, aumentando a sua probabilidade de acerto e de justia. A deciso
monocrtica, como vimos, tende a gerar o inconformismo do vencido. O recurso a um
tribunal superior, que reapreciar a causa colegiadamente, deve assegurar, ao menos
teoricamente, a prolao de decises mais acertadas e mais justas. Ademais, o tribunal de
segundo grau ter uma cognio mais completa porque os fundamentos da deciso
recorrida, que reapreciar, tero sido examinados e debatidos nas razes e contra-razes
recursais apresentadas pelas partes.
O terceiro fundamento do princpio do duplo grau de jurisdio o de coibir o
arbtrio judicial. Toda autoridade pblica, sabedora de que seus atos no podem ser
revistos, tende a praticar atos arbitrrios. Trata-se de uma caracterstica do comportamento
humano que no atinge apenas os magistrados.
14
GUINCHARD, Serge, et. alii. Droit processuel - droit commun et droit compar du procs quitable.
Paris: Dalloz, 5 ed., 2009, pp. 690/691.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
19
Assim, o duplo grau de jurisdio um freio ao arbtrio, porque submete as decises
judiciais ao olhar vigilante do tribunal, que pode reform-las, anul-las ou corrigi-las.
Psicologicamente, o juiz, ciente daquela vigilncia, tende a ser mais cauteloso e propenso a
proferir decises bem fundamentadas e ponderadas.
verdade que esse fundamento condiz apenas com ambientes de justia
democrtica, podendo tornar-se instrumento de intimidao dos juzes nos sistemas
autoritrios. O controle da justia e do acerto das decises judiciais exercido pelos tribunais
no pode significar o sacrifcio da independncia dos juzos monocrticos. Em outras
palavras, importante que exista tal controle, mas ele no pode ser intimidador, a ponto de
criar nos juzes o receio de sofrerem qualquer represlia em razo do contedo das suas
decises
15
.
O duplo grau de jurisdio de que hoje tratamos teve origem na Revoluo francesa,
na qual se travou uma grande polmica entre os que lhe eram contrrios, querendo libertar
os juzes de primeiro grau do jugo da nobreza e do absolutismo monrquico que dominava
as instncias superiores e subjugava as jurisdies senhoriais, e os que o defendiam,
temerosos do arbtrio dos juzes.
Pensou-se ento em acabar com os juzes profissionais, instituindo juzos compostos
de leigos escolhidos pelo povo. Afinal, no velho direito germnico, como na common law,
tribunais populares dispensavam instncias recursais.
Lideres da Revoluo recolheram ento milhares de cartas de participantes do
movimento, os chamados cahiers de dolance, em que prevaleceu a idia de que deveriam
existir dois graus ordinrios de jurisdio.
Alfredo Buzaid, citando Redenti, leciona que o nmero de reexames fixado no
princpio do duplo grau representa a busca de um ponto de equilbrio entre o desejo de
melhorar a deciso per gradus e a necessidade de concluir o processo sem delongas. Os
tribunais de segunda instncia renem maior tirocnio e experincia, alm de ilustrao e
15
Nesse sentido, preocupante o teor da Resoluo n 106/2010, do Conselho Nacional de Justia, que
estabeleceu como um dos critrios objetivos de avaliao do desempenho qualitativo dos magistrados, para
efeito de promoo, o respeito s smulas do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores (art. 5,
letra e).
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
20
cultura, adquiridas ao longo dos anos no exerccio da funo judiciria
16
. No mesmo
sentido, Jos Frederico Marques assinala que o sistema recursal deve ser o ponto de
equilbrio de duas exigncias ou tendncias antagnicas: a de propiciar o controle e
aperfeioamento das decises judiciais e a de garantir, em certo momento, a sua
inexorabilidade
17
.
O duplo grau consequncia, portanto, das exigncias de justia e segurana, graas
a um segundo exame que permita a correo de erros e o suprimento de lacunas.
Rememorando o debate na Assemblia Constituinte francesa a respeito da
pluralidade dos graus de jurisdio, Seabra Fagundes sustenta que o sistema de recursos
existe como fator de maior segurana para o acerto da prestao jurisdicional, pois,
constitui meio para reapurar a juridicidade da sentena recorrida, existindo razes que o
fazem supor mais seguro na apreciao dos fatos e na aplicao do direito, entre as quais o
juzo coletivo, que enseja soluo mais adequada da lide, atravs da permuta de
argumentos, do choque de raciocnios, do esclarecimento recproco de obscuridades e
mincias do processo
18
.
A extenso do princpio do duplo grau merece ser analisada sob duplo aspecto,
variando a esse respeito os diversos ordenamentos. O primeiro se refere sua aplicao a
todos os tipos de deciso ou apenas s sentenas. Assim, por exemplo, no direito
norteamericano, pela chamada final-judgement rule, em geral somente pode ser interposto
recurso da sentena final
19
, no das decises interlocutrias, que o juiz profere no curso do
processo. No nosso processo do trabalho, assim como no processo civil italiano, no
existem recursos contra decises interlocutrias.
Alcides de Mendona Lima leciona que no se exige que toda deciso judicial seja
recorrvel, mas que o sejam todas aquelas que representam a entrega definitiva da prestao
16
BUZAID, Alfredo. Ensaio para uma reviso do sistema de recursos no Cdigo de Processo Civil. In
Estudos de Direito. So Paulo: Saraiva, 1972, pp. 102-103.
17
MARQUES, Jos Frederico. Instituies de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. IV, 2
ed., 1963, pp.6-7.
18
FAGUNDES, M. Seabra. Dos recursos ordinrios em matria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, pp.
12-15.
19
FRIEDENTHAL, Jack H., KANE, Mary Kay e MILLER, Arthur R.. Civil procedure. St. Paul: Thomson-
West, 4 ed., 2005, p. 618.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
21
jurisdicional ou o encerramento do processo ou que levem a consequncias irremovveis.
o princpio da recorribilidade das resolues judiciais relevantes
20
. Parece-me que o
problema deve ser posto em outros termos. Os mesmo fundamentos que justificam a
recorribilidade das sentenas finais impem tambm a possibilidade de impugnao de
qualquer deciso interlocutria da qual possa resultar algum prejuzo para a parte, seja esse
prejuzo removvel ou no. O que interessa saber se toda deciso interlocutria deve ser
impugnvel de imediato ou somente por meio do recurso contra a sentena final. Parece-me
que a ampla impugnabilidade imediata de qualquer deciso interlocutria um exagero,
que pode atravancar o processo com uma srie interminvel de incidentes. Alm disso,
causa a iluso de que toda deciso no impugnada preclui, o que torna o processo um jogo
de espertezas e acaba provocando a interposio de recursos contra decises pouco
relevantes. Devem ser impugnveis de imediato as decises interlocutrias que causam
parte uma leso grave ou de difcil reparao. As demais devem aguardar a sentena final e
serem reexaminadas pelo tribunal superior juntamente com o recurso contra ela interposto.
Nesse sentido tentou evoluir o direito brasileiro com a reforma do artigo 522 do CPC
procedida pela Lei 11.187/2005, a meu ver sem muito xito, porque a excessiva
fragmentao do procedimento de primeiro grau e a sua demora acabaram por agravar
pequenas leses que, num procedimento mais concentrado, poderiam ser reexaminadas
apenas a final. Alm disso, se, de qualquer modo, cabe agravo contra qualquer deciso,
retido ou imediato, e parece prudente recorrer para evitar eventual precluso, por que no
tentar process-lo de imediato, procurando evidenciar a existncia de uma leso grave?
Sob outro aspecto preciso diferenciar a extenso do princpio do duplo grau de
jurisdio. J Chiovenda esclarecia que o duplo grau pode disciplinar-se de dois modos: ou
igualando plenamente o segundo grau ao primeiro; ou limitando o exame do segundo
grau
21
. O direito francs, o direito italiano e o prprio direito alemo dos Cdigos do sculo
XIX, seguindo a tradio romana, consideravam que o recurso de apelao provocava a
renovao do processo por inteiro. Aproveitavam-se as provas produzidas na primeira
20
LIMA, Alcides de Mendona. Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, p.
138; idem MARQUES, Jos Frederico. Instituies de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, vol.
IV, 2 ed., 1963, pp. 55-56.
21
CHIOVENDA, Giuseppe. Principi di Diritto Processuale Civile. 3 ed. Napoli: Jovene, 1923, p.392-393.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
22
instncia, mas apresentavam-se novos atos postulatrios, com a possibilidade de suscitar
questes de fato e de direito no arguidas no primeiro grau, com novos pedidos, novas
defesas e at reconveno, novas provas e nova audincia, tudo culminando em uma nova
sentena. O segundo sistema, originrio da common law e que penetra nos pases da civil
law a partir do Cdigo austraco de 1895, considera o recurso como um simples
instrumento de controle da legalidade e justia da deciso de primeiro grau. A sua
interposio provoca somente a prolao de uma nova sentena ou de uma nova deciso,
com o mesmo material cognitivo j suscitado e produzido no primeiro grau de jurisdio.
Novas questes de fato e de direito e novas provas somente podem ser alegadas e
produzidas ex novo em casos excepcionais, como os de fatos ou de direito supervenientes
ou de provas surgidas ou conhecidas aps o encerramento da instruo perante o juzo
recorrido. De qualquer modo, os elementos individualizadores da demanda inicialmente
proposta no podem ser alterados. Pouco a pouco todos os pases europeus, em maior ou
menor extenso, especialmente como reao ao crescimento do volume de recursos,
passaram a limitar a cognio em grau de recurso, transformando a extenso do duplo grau
da funo de renovao do processo como um todo para a de simples controle da justia e
acerto da deciso de primeiro grau. Alguns sistemas, como o alemo por meio da reforma
de 2001, aproximaram mais fortemente os seus ordenamentos dos sistemas da common law,
sujeitando a admisso do recurso de apelao a um juzo de probabilidade de xito e
limitando o seu efeito devolutivo, ou seja, o seu poder de reexame, apenas s questes de
direito, excluda a matria de fato
22
.
Seja qual for a extenso que se d ao princpio, nenhuma causa deve ficar sujeita a
um julgamento definitivo em apenas um grau de jurisdio, ainda que de pequeno valor. A
nica exceo, admitida pelas Cortes Internacionais de Direitos Humanos at mesmo em
matria criminal, a dos processos da competncia originria de tribunais superiores
porque, nesse caso, a colegialidade do juzo de grau nico, a mais elevada qualificao,
experincia e reputao dos juzes, a mais intensa transparncia a que esto sujeitos os seus
julgamentos, so suficientes para desestimular decises arbitrrias e justificam a dispensa
do duplo exame.
22
Remo Caponi. Lappello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca). In
Rivista di diritto processuale, ano LXIV, n. 3, maio-junho de 2009. Padova: CEDAM, pp.632, 635-642..
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
23
3.1 - O DUPLO GRAU E A REDUO DAS GARANTIAS
Pedro Batista Martins observou corretamente que a adoo de um modelo de duplo
grau que se resume renovao do julgamento final, que o modelo ao qual
progressivamente se afeioam por razes prticas quase todos os ordenamentos jurdicos
contemporneos, sacrifica um dos princpios cardeais do sistema oral, a imediao, pela
distncia dos julgadores em relao s provas
23
.
Alcides de Mendona Lima igualmente adverte para o perigo de uma cognio
insuficiente como consequncia da obsesso pela celeridade, pois h maior prejuzo no
erro dos juzes do que na demora no andamento dos processos. No mesmo sentido, invoca
a lio de Eduardo Couture:...
por las mismas razones por las cuales nadie ansia sacrificar
la eficcia de la justicia a su bondad, tampoco es posible sacrificar su bondad a la
celeridad
24
.
Repudiando a reduo da extenso do duplo grau, Juan Montero Aroca conclui que
somente h verdadeira segunda instncia se as partes podem fazer novas alegaes fticas e
propor e produzir novas provas, pois, desse modo, o tribunal de segundo grau dispor de
todos os elementos colhidos no primeiro grau e mais os que tiverem sido por ele colhidos
diretamente
25
.
No entanto, a Corte Europia de Direitos Humanos j se manifestou no sentido de
que, tendo havido uma audincia pblica na primeira instncia, as circunstncias da causa
podem dispens-la na segunda instncia.
Paradoxalmente, a mesma Corte tem entendido que, se o ordenamento jurdico
institui jurisdies recursais, ele deve garantir que perante elas os jurisdicionados gozem do
direito a um processo justo, entendido como o direito de acesso ao juzo do recurso com
23
MARTINS, Pedro Batista. Recursos e processos da competncia originria dos tribunais. Rio de
Janeiro: Forense, 1957, p. 150.
24
LIMA, Alcides de Mendona. Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965,
p.139-140.
25
MONTERO AROCA, Juan, Proceso (civil y penal) y garantia. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 290.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
24
todas as garantias fundamentais que asseguram a tutela jurisdicional efetiva pelo juzo
recursal
26
.
O duplo grau de jurisdio, com a integral renovao do processo ou apenas com a
renovao do julgamento, tem de assegurar s partes, junto ao juzo de segundo grau, a
mais ampla possibilidade de influrem eficazmente na nova deciso. No satisfaz s
garantias constitucionais do contraditrio e do devido processo legal, que, perante o novo
juzo, os litigantes estejam tolhidos de oferecer alegaes, propor e produzir provas e
travar, se desejarem ou se as circunstncias da causa o exigirem, o dilogo humano com os
seus julgadores, meios indispensveis a que possam influir eficazmente na nova deciso.
Mesmo nos chamados recursos de fundamentao vinculada, ou seja, aqueles em que o
novo juzo est restrito reapreciao de algum tipo de questo, como a questo de direito
federal, constitucional ou legal, no recurso extraordinrio e no recurso especial, em relao
a essa questo as partes devem desfrutar de todas as garantias de um processo justo.
Assim, no basta que o contraditrio e a ampla defesa, com todos os seus
consectrios, tenham sido amplamente assegurados no primeiro grau de jurisdio, porque
segunda instncia incumbe proferir uma nova deciso, por novos juzes, com o mesmo
alcance da deciso de primeiro grau e que a esta substitui. Portanto, as garantias
fundamentais devem ser amplamente respeitadas perante esse novo juzo, sem prejuzo do
aproveitamento do contedo dos atos j praticados no primeiro grau. No se despreza a
cognio de primeiro grau, mas reconhece-se que, pelo menos a que resultou de atos orais,
pode apresentar-se perante o tribunal de 2 grau de modo bastante incompleto. Por isso, no
possvel aceitar a simplificao do procedimento recursal a ponto de rejeitar de modo
absoluto a possibilidade de renovao dos atos orais ou de produo de novas provas, sob
pena de sacrificar o respeito s garantias fundamentais do processo e de desvirtuar o
prprio princpio do duplo grau de jurisdio que, em lugar de aumentar a probabilidade de
acerto e de justia da deciso, tornar bastante provvel que a deciso de 2 grau seja pior
do que a anterior.
26
GUINCHARD, Serge, et. alii. Droit processuel - droit commun et droit compar du procs quitable.
Paris: Dalloz, 5 ed., 2009, p. 683.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
25
Nessa perspectiva deve ser analisada a legitimidade de certas limitaes e
precluses, como a do art. 517 do CPC, que costumam ser aplicadas com excessiva rigidez,
em detrimento ao respeito das garantias fundamentais do processo, o que deixaremos para
outro estudo.
4 PRINCPIOS DO SISTEMA DE RECURSOS
Apesar do inegvel fundamento na dignidade humana, que teve em todas as pocas
a instituio de recursos contra decises judiciais, a criao de rgos jurisdicionais e de
tribunais, assim como dos meios de acess-los, sempre esteve sob a influncia do poder
poltico, que, na medida do possvel, usou a administrao da justia como um instrumento
a seu prprio servio, mais do que a servio dos jurisdicionados. Desde o Corpus Juris
Civilis de Justiniano, no sculo V d.C., passando pelas nossas Ordenaes do Reino, pelo
Cdigo de Lus XIV de 1667, pelo Cdigo de Napoleo de 1807, por quase todas as
codificaes dos sculos XIX e XX, as grandes legislaes processuais refletiram os
costumes judicirios de cada povo, procurando acomod-los aos interesses dos tribunais e
dos soberanos.
Entretanto, para possibilitar o estudo do nosso prprio sistema recursal e,
especialmente, para avaliar qualitativamente a evoluo recente que ele vem sofrendo no
Brasil e que se imagina que ainda venha a sofrer, particularmente no enfrentamento do
volume excessivo de processos e na expanso da sua informatizao, considero
indispensvel fixar os princpios bsicos, geralmente aceitos, que tm caracterizado os
sistemas recursais dos povos ocidentais, em especial nos pases da civil law, a saber: a) a
taxatividade; b) a voluntariedade; c) a eventualidade; d) a temporariedade; e) proibio
da reformatio in pejus; f) a diversidade do rgo; g) a colegialidade; h) a publicidade; i) a
singularidade; j) a fungibilidade; k) o desestmulo a recursos protelatrios; l) a
exaustividade do sistema recursal; m) acesso a um tribunal superior para coibir decises
judiciais contrrias lei; e n) o acesso subsidirio jurisdio constitucional.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
26
a) Taxatividade
No processo civil como relao jurdica de direito pblico, que se trava perante um
rgo estatal, somente a lei pode facultar que a deciso de um rgo jurisdicional seja
reexaminada e revista, seja por ele mesmo, seja por outro rgo, porque com a sua deciso,
o rgo jurisdicional que a proferiu cumpriu o dever do Estado de exercer a jurisdio em
relao pretenso ou questo que lhe foi submetida. Ainda que se considere que, pelo
princpio do duplo grau de jurisdio, a lei estatal incorreria em inconstitucionalidade por
omisso se deixasse de instituir recurso para possibilitar o reexame de qualquer resoluo
judicial relevante, na verdade o exerccio do direito de recorrer no vivel sem a
regulamentao legal que defina perante quem o recurso deve ser interposto, em que prazo,
quais as decises que por meio dele podem ser impugnadas, quais as questes cujo exame
pode provocar e a que rgo caber julg-lo. No se admite, portanto, recurso por analogia.
Por outro lado, a taxatividade uma decorrncia da separao de poderes. O
Legislativo estabelece as normas de comportamento, genricas e abstratas, que os juzes e
as partes devem observar no processo judicial, pois somente o legislador pode conferir
direitos e deveres a quaisquer sujeitos. J salientei
27
que, em certos casos excepcionais, a
Constituio e a lei processual tm delegado aos regimentos internos dos tribunais
complementarem a legislao processual, como ocorre com a disciplina da competncia dos
rgos judicantes dos prprios tribunais, prevista no inciso I do art. 96 da Carta Magna,
com as regras sobre a distribuio e sobre o processamento dos embargos infringentes, que
so tratadas nos artigos 548 e 533 do Cdigo de Processo Civil. Essa complementariedade
no permite que a resoluo de um tribunal crie um recurso ou estabelea normativamente
casos diversos de admissibilidade de um recurso no previstos pela lei, pois, se isso ocorrer,
estar sendo violado o princpio constitucional da separao de poderes e estaremos
retrocedendo Idade Mdia, em que os tribunais criavam as suas prprias regras,
legislando como lhes convinha em seu prprio benefcio. Mas no preciso regredir a
muitos sculos atrs. Ns mesmos, no Brasil, antes da Constituio de 1988, tivemos a
triste experincia da autorizao dada ao Supremo Tribunal Federal para regular em seu
regimento interno o processo das causas de sua competncia e de limitar, pelo mesmo
27
GRECO, Leonardo. Instituies de Processo Civil. Rio de Janeiro: 2 ed., Forense, vol. I, 2010, item 2.2.5.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
27
meio, a admissibilidade do recurso extraordinrio, o que resultou na manipulao das
normas pelo tribunal em benefcio do seu prprio interesse e em escolhas arbitrrias de
matrias suscetveis de serem reexaminadas.
Recentemente assistimos no Brasil a uma violao desse princpio com a extenso
jurisprudencial da admissibilidade de embargos de declarao contra decises
interlocutrias. Ora, o art. 535 somente prev esses embargos para esclarecimento de
sentenas ou acrdos, no de decises interlocutrias do juzo de primeiro grau. O
argumento para justificar essa extenso o de que tambm as decises interlocutrias
podem apresentar omisso, obscuridade ou contradio e que a sua complementao ou o
seu esclarecimento podem dificultar a continuidade do processo. Ocorre que, falta de
previso legal, nada impede que o juiz em deciso subseqente, complemente ou esclarea
a deciso interlocutria omissa, obscura ou contraditria. O que no possvel admitir
que os embargos de declarao que foram estruturados para impugnar decises finais dos
juzos de primeiro grau e, por isso, suspendem a execuo da deciso e interrompem o
prazo para a interposio de qualquer outro recurso, sejam utilizados para atacar deciso
interlocutria, prejudicando a marcha do processo e interrompendo o prazo para a
interposio do recurso cabvel.
A taxatividade tem sido invocada com freqncia para censurar a criao por leis
estaduais de organizao judiciria ou regimentos internos dos tribunais dos chamados
agravos internos ou agravos regimentais. Veja-se, por exemplo, o agravo criado pelo art.
226 do Cdigo de Organizao e Diviso Judiciria do Estado do Rio de Janeiro. A
instituio de um recurso cria direito subjetivo processual, o que, de acordo com o art. 22, I,
da Constituio Federal, matria da competncia legislativa privativa da Unio Federal.
Penso que, nesse caso, no se trata de um recurso. Nos tribunais superiores, o rgo
jurisdicional no cada juiz que o compe, individualmente, mas o tribunal como um todo.
Muitas vezes, como ainda veremos, no processamento de aes ou recursos perante os
tribunais superiores, a lei delega a apenas um membro desse tribunal, monocraticamente, a
prtica de certos atos decisrios. Como o juiz natural da causa o colegiado, os chamados
agravos regimentais apenas facultam que o interessado exija que a matria seja apreciada
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
28
por ele, no se contentando com a deciso monocrtica do presidente do rgo ou do
relator.
Mais uma quebra do princpio da taxatividade ocorreu com a edio, em dezembro
de 2009, da Resoluo n 12, pelo Superior Tribunal de Justia, instituindo a reclamao
para o Tribunal, no prazo de quinze dias, para a reforma de deciso final de turma recursal
de juizado especial cvel estadual, quando a deciso reclamada afrontar smula ou
jurisprudncia do prprio Tribunal. Essa Resoluo permite que o STJ, como no
processamento dos chamados recursos especiais repetitivos, suspensa o processamento de
todas as causas sobre a mesma questo, pendentes em quaisquer juizados do Pas.
b) Voluntariedade
O recurso necessariamente uma manifestao de vontade de um dos sujeitos
processuais, movido por algum interesse em que a deciso recorrida seja reexaminada ou
modificada. Como tal, o recurso provoca a renovao ou reiterao do exerccio da
jurisdio em relao a uma demanda ou a uma determinada questo jurdica. assim, um
ato de iniciativa processual, anlogo propositura da ao, dele diferindo, especialmente,
porque esta corresponde a um ato de iniciativa originria. A ao provoca o exerccio da
jurisdio at ento absolutamente inerte. J o recurso um ato de iniciativa derivada, que
pressupe o exerccio da jurisdio sobre uma determinada causa ou sobre uma
determinada questo. A ao determina a formao do processo, enquanto o recurso
determina a continuidade do processo ou a instaurao de novo incidente dentro de um
processo pr-existente. Pela mesma razo segundo a qual a jurisdio no se exerce ex-
officio, tambm ela no se renova, no se exerce novamente ex-officio.
O juiz no tem qualquer interesse em que a sua deciso seja revista ou reexaminada,
por ser o mais isento de todos os sujeitos processuais. Para Carnelutti, o recurso sempre
voluntrio, no porque no interesse ao Estado a verificao da justia da sentena, mas
porque a aquiescncia das partes indicativa ou de sua justia ou da tolerabilidade da sua
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
29
injustia, no sentido de que a sua reparao no compensa o custo da renovao do
procedimento
28
.
Na Idade Mdia e em pocas mais recentes, inicialmente no processo penal e
posteriormente tambm no processo civil, na defesa de um suposto interesse pblico que
poderia eventualmente ser violado por determinadas decises judiciais, o legislador
instituiu apelaes ex-officio, que consistiam em ordens de remessa da sentena instncia
superior pelo juiz que a proferiu, ficando a sua eficcia condicionada sua confirmao.
Alfredo Buzaid, antes mesmo do Cdigo de 1973, teve oportunidade de demonstrar que no
se tratava propriamente de um recurso, mas de uma mera providncia ditada com
fundamento na ordem pblica. Conforme o Autor, essa imposio legal consistia numa
ordem de devoluo da causa instncia superior, reduzindo a sentena a uma mera
situao jurdica, no existindo como declarao de direito, mas to-somente como
elemento de uma possvel declarao
29
. O Cdigo de 73 manteve o instituto no artigo 475,
embora no o inclusse no sistema recursal, mas na disciplina da coisa julgada, recebendo
da doutrina e da jurisprudncia a denominao de duplo grau de jurisdio obrigatrio, de
remessa necessria ou de reexame necessrio. Atualmente esse reexame, por fora de
alteraes introduzidas no referido artigo por legislao posterior, est restrito apenas a
algumas causas e decises de interesse da Fazenda Pblica, com excluso das causas em
que a condenao ou o direito controvertido no exceda a 60 salrios mnimos, nos
embargos a execues fiscais at esse limite, e nas causas em que a sentena se fundamente
em jurisprudncia do plenrio do Supremo Tribunal Federal ou em smula desse Tribunal
ou do Superior Tribunal de Justia (CPC, art. 475, 2 e 3, acrescentados pela Lei
10.352/2001).
No atual estgio de evoluo da doutrina processual, luz das garantias
fundamentais do processo, parece-me absolutamente insustentvel a manuteno desse
instituto, seja qual for a sua roupagem, por afronta garantia da tutela jurisdicional efetiva
(Constituio, art. 5, XXXV). Esta garantia pressupe o acesso do jurisdicionado ao rgo
jurisdicional competente para, no exerccio da soberana autoridade estatal, tutelar o seu
28
CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil. Buenos Aires, EJEA, vol. II, 1973, p.187.
29
BUZAID, Alfredo. Da apelao ex-officio no sistema do Cdigo de Processo Civil. In Estudos de Direito.
So Paulo: Saraiva, 1972, pp. 262 e 270.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
30
direito, caso reconhea a sua existncia. Submeter o jurisdicionado a um mero parecer, que
no declara conclusivamente o direito das partes, nem representa o ato de vontade do
Estado, mas o distancia do acesso ao seu juiz natural, reduz sensivelmente a efetividade do
processo.
verdade que institutos como a tutela antecipada (CPC, art. 273), a antecipao da
tutela da pretenso recursal (art. 527-III) e outros tm minorado os efeitos nefastos do
duplo grau de jurisdio obrigatrio, que sobrevive como entulho autoritrio representativo
de uma poca em que o Estado no confiava nos juzes de primeiro grau, nem na exao
dos seus prprios procuradores.
c) Eventualidade
O recurso um direito eventual, que nasce em determinado processo como
consequncia do prejuzo, do gravame ou da sucumbncia. Ningum interpe um recurso,
ningum adquire o direito de interp-lo, se no houver na deciso algum pronunciamento
que lhe cause prejuzo ou que cause prejuzo ao interesse de algum, que o recorrente esteja
legitimado a defender. O prejuzo pode ocorrer na apreciao do direito material ou resultar
da resoluo de uma questo processual. Por isso, o direito de recorrer se origina da deciso
desfavorvel. Enquanto ela no existir, no existir o direito de recorrer.
Questiona-se se os embargos declaratrios para esclarecer obscuridade ou
contradio ou complementao em ponto omisso, sem alterar o contedo da deciso, seria
propriamente um recurso, porque lhe faltaria a pretenso de reforma, modificao ou
anulao da deciso e, portanto, mesmo o vencedor pode interp-lo. Na minha opinio, por
esse prisma a objeo no procede, porque a incerteza sobre o contedo total ou parcial da
deciso, por falta de clareza ou de preciso, tambm um prejuzo, ainda que mnimo, que
pode trazer consequncias jurdicas. No se interpem embargos de declarao apenas para
aperfeioar esteticamente a deciso.
Se a omisso for total, isto , se no houver deciso, o que ocorre nas hipteses em
que o juiz excede sem justificativa os prazos legais, tambm poder-se-ia vislumbrar
prejuzo, no entanto, o direito que da nasce, em razo da denegao de jurisdio, no o
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
31
de recorrer, mas o de obter o provimento inicial do qual se absteve o juiz, nos termos do art.
198 do Cdigo, atravs de outro juiz, sem prejuzo da promoo da responsabilidade
disciplinar do primeiro magistrado. Para conciliar essa providncia com a garantia do juiz
natural, ser indispensvel que a escolha do novo julgador se revista da mais absoluta
impessoalidade.
No direito brasileiro tem-se entendido que a deciso que encerra o processo sem
resoluo do mrito, por falta de condio da ao, de pressuposto processual ou por algum
outro motivo previsto no art. 267, somente causa prejuzo ao autor, no ao ru. Essa
orientao no me parece correta. Se o ru foi citado e j contestou a ao ou decorreu o
seu prazo de resposta, tem ele interesse em obter uma sentena de mrito que o livre
definitivamente do nus de se defender e de ser molestado no gozo do seu direito pelas
provocaes do autor. Ora, a sentena terminativa no confere ao ru essa segurana,
consoante estabelece o art. 268 do Cdigo. Portanto, tem sim o ru interesse em recorrer da
deciso terminativa do feito. Tanto isso certo, que o prprio Cdigo estabelece, no artigo
267, 4, que aps o decurso do prazo para a resposta do ru, o autor no poder, sem o seu
consentimento, desistir unilateralmente da ao.
d) Temporariedade
O recurso um direito que nasce com a publicao da deciso desfavorvel e que se
extingue rapidamente, ou seja, um direito subjetivo efmero, de curta durao, consoante
dispem, entre outros, os arts. 508 e 522 do Cdigo de Processo Civil, que estabelecem
prazos de quinze e dez dias para a sua interposio. Os prazos recursais so todos
perentrios.
Como os recursos constituem direitos subjetivos que nascem dentro de uma relao
jurdica dinmica, em constante movimento em direo ao seu fim, a lei lhes confere curta
durao para que rapidamente se estabilizem ou sejam reexaminadas as decises proferidas
no processo, o que visa a conferir assim segurana ao subsequente desenvolvimento do
processo, bem como a pacificar definitivamente a controvrsia, no caso da sentena de
mrito.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
32
So extremamente inconvenientes prazos recursais muito longos, assim como a
excessiva demora no julgamento dos recursos, prolongando a incerteza e prejudicando o
pleno gozo do direito material por aquele que a final sair vencedor. Embora entre ns no
seja considerada um recurso, como em outros pases, o prazo de dois anos para ajuizamento
da ao rescisria (CPC, art. 495), , por essa razo, evidentemente um prazo irrazovel.
e) Proibio da reformatio in pejus
Sendo o recurso o direito subjetivo de obter o reexame de uma deciso judicial que
causa prejuzo ao recorrente ou ao interesse de algum que o recorrente esteja legitimado a
defender, desse reexame somente poder resultar uma deciso que reduza esse prejuzo ou
o mantenha, mas no que o agrave. a chamada proibio da reformatio in pejus. Se a
deciso foi parcialmente desfavorvel a ambas as partes, o recurso de cada uma delas
somente provocar o reexame da parte que a prejudica. Nesse caso, para que a deciso seja
revista por inteiro ser necessrio que ambas as partes recorram. O Cdigo de 1973 criou,
para atender a essas situaes, a figura do recurso adesivo, regulado no seu artigo 500.
Tem-se sustentado, a meu ver erroneamente, que no estariam sujeitas proibio
da reformatio in pejus, as decises que em grau de recurso reconheam de ofcio a falta de
condies da ao ou de pressupostos processuais cuja ausncia caracterize uma nulidade
absoluta, e outras consideradas de ordem pblica, como a prescrio de direitos no
patrimoniais. No verdade. Se a sentena possui dois ou mais captulos autnomos
decididos desfavoravelmente a uma das partes e esta somente recorreu de um deles, a
deciso sobre o restante transitou em julgado. Se nesse recurso o tribunal superior
reconhecer que o autor era carecedor da ao por falta de legitimidade ad causam, a
carncia de ao poder ser decretada apenas em relao ao captulo da deciso que foi
impugnado pela interposio do recurso. A deciso sobre o outro no pode mais ser
modificada.
f) Diversidade do rgo
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
33
Em todo recurso h um rgo do qual se recorre, aquele que proferiu a deciso
impugnada, e a que chamamos de rgo a quo; e um rgo para o qual se recorre, ou seja, o
rgo que vai julgar o recurso, a que denominamos de rgo ad quem. Esses rgos devem
ser diferentes e compostos de diferentes magistrados. No estudo que fizemos dos
pressupostos processuais subjetivos relativos ao juiz
30
, afirmamos que o juiz no pode
exercer jurisdio no processo em que tenha exercido qualquer outra funo. O artigo 134,
III, exprime claramente esse princpio ao proibir que o juiz exera a sua funo no processo
em que, no primeiro grau de jurisdio, proferiu sentena ou deciso, porque, conforme
ento asseveramos, ningum pode julgar os prprios atos, ningum pode ser juiz de si
mesmo. H uma absoluta incompatibilidade, para o exerccio da jurisdio em grau de
recurso, de qualquer juiz que tenha proferido a deciso recorrida ou qualquer deciso
anterior a ela no mesmo processo. Essa incompatibilidade se estende ao rgo ou aos
magistrados do mesmo rgo, na medida em que a vinculao de cada magistrado ao
respectivo rgo jurisdicional condiciona o seu comportamento e reduz a sua
independncia, influenciando-o a cerrar fileiras ao lado de outros magistrados com os quais
compartilha o exerccio das funes do referido rgo.
Mas a diversidade pressupe tambm que o juzo ad quem se localize numa posio
hierarquicamente superior ao juzo a quo na estrutura judiciria. Embora as garantias
constitucionais da magistratura devam assegurar aos juzes de qualquer grau a necessria
independncia, a credibilidade das decises judiciais e a confiana de que devem desfrutar
no seio da coletividade impem que os atos dos magistrados somente sejam censurados por
magistrados dotados de maior experincia, de maior reputao e que no possam vir a
sofrer dos primeiros qualquer represlia em razo da correo das suas decises. Nos pases
que adotam o auto-governo da magistratura, como o Brasil, a superioridade do juzo ad
quem se relaciona com a prpria funo de controle disciplinar e de avaliao de
desempenho que os tribunais superiores exercem sobre os juzes das instncias inferiores.
J vimos no exame dos fundamentos do direito de recorrer como essa idia de controle
hierrquico essencial a qualquer bom sistema recursal.
30
GRECO, Leonardo. Instituies de Processo Civil. Rio de Janeiro: 2 ed., Forense, vol. I, 2010, item
14.1.3.1..
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
34
Infelizmente, em muitos sistemas recursais e em muitos pases, o princpio da
diversidade no levado to a srio. Carnelutti, por exemplo, argumentava que os recursos,
que visam a corrigir uma anomalia que viciou o procedimento anterior, a que denominava
de procedimentos de reparao, podem ser decididos pelo mesmo rgo; enquanto
naqueles que visam a remediar a injustia da deciso, provocando uma nova deciso,
conveniente a diversidade de rgo
31
.
Entre ns, o reexame do mrito pelo prprio julgador, como ocorre com os agravos
e com os embargos, como j vimos, surgiu como necessidade prtica em Portugal e no
Brasil, em razo da distncia entre os juzos de primeiro grau e os tribunais e do incentivo
ao reexame pelo prprio julgador, temeroso de sanes ou represlias dos tribunais
superiores, o que veio a desvirtuar o sentido clssico do instituto
32
. Diante dessas razes,
alm dos numerosos casos em que a nossa lei prev o julgamento de recursos pelo mesmo
juiz ou pelo mesmo rgo jurisdicional, com muita frequncia os juzes se sentem
vontade para rever e modificar as suas decises atravs de esdrxulos pedidos de
reconsiderao, cujo maior defeito, ainda mais grave do que a violao do princpio da
taxatividade, o descrdito que geram na sociedade quanto qualidade das decises
judiciais e quanto confiana que devem merecer os juzes. Afinal, a pretexto de
corrigirem erros ou de repararem injustias, nunca se sabe se a segunda deciso melhor ou
pior do que a primeira. Isso sem falar que s vezes a segunda acaba sendo substituda por
uma terceira
33
.
31
CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil. Buenos Aires, EJEA, vol. II, 1973, pp. 182-
183.
32
LIMA, Alcides de Mendona. Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, p.
132.
33
Costumo narrar aos meus alunos uma histria da minha vida profissional, que est na minha memria, mas
que, nesta altura da vida, j no tenho certeza em que medida verdadeira ou fruto da minha imaginao, de
um afvel juiz, que, despachando em seu gabinete, atendia cordialmente a todos os advogados que o
interrompiam querendo despachar uma petio urgente e que dispensava que perdessem tempo em explicar-
lhe os seus argumentos e educadamente lhes tomava das mos a petio que traziam e despachava: J., sim,
em termos. E arrematava verbalmente: Eu j entendi tudo, doutor. Muito boa tarde. Os advogados saiam
felizes do gabinete e assim ele no perdia tempo de ouvir as arengas que muitos deles teriam feito,
atrapalhando o seu penoso trabalho dirio de despachar centenas de processos que cobnam a sua mesa. Num
determinado processo, uma ao possessria, concedida a liminar, por cinco vezes sucessivas esse juiz a
revogou e depois a restaurou, a cada vez que o advogado do ru ou do autor adentrou ao seu gabinete
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
35
g) Colegialidade
Montesquieu, na sua clssica obra sobre o Esprito das Leis, manifestou a sua
opinio, que merece ser sempre relembrada, de que um juiz singular somente pode existir
em um governo desptico e que a histria romana evidencia a que ponto um juiz nico
pode abusar do seu poder
34
.
Na primeira instncia, somente os pases da common law e os pases ibricos fogem
da tradio de juzos preponderantemente colegiados
35
. E nos tribunais superiores, somente
a Inglaterra apresenta excees a essa regra tradicional.
Entre ns, a doutrina esmagadora, embora reconhecendo terem existido exemplos
de 2 instncia monocrtica na legislao imperial e reincola, sempre sustentou com vigor
a colegialidade como princpio inderrogvel.
Cito aqui dois depoimentos, distanciados entre si por duas dcadas, de dois dos
nossos maiores processualistas, Affonso Fraga e Jos Frederico Marques:
Do primeiro, em 1941:
Sendo o tribunal de segundo grau composto de
pluralidade de juzes, geralmente doutos e tirados da
instncia inferior, onde durante muito tempo exerceram
a arte de julgar, segue-se que est em condies de nas
suas decises oferecer melhores arras de retido lei e
justia. Basta o bom senso para mostrar que a deciso
do tribunal colegial oferece bem mais segurana de
justia que o juzo singular: dois olhos vem mais que
um; acrescendo que mais fcil o suborno e
prevaricao de um que de muitos
36
.
portando uma nova petio. E nenhum advogado jamais pde se queixar de que ele deixou de dar ateno aos
seus argumentos ou de acolher os seus requerimentos.
34
MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. De lesprit des lois. Paris: Garnier, tomo I, 1949, livro
VI, captulo VII, p.87.
35
A Itlia adotou o juiz nico de primeiro grau apenas na dcada de 90 do sculo passado, atribuindo ainda
causas de maior relevncia ao tribunal colegiado.
36
FRAGA, Affonso. Instituies do Processo Civil do Brasil. So Paulo: Saraiva, 1941, tomo III, p.14.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
36
Do segundo, em 1963:
O princpio que domina e rege todo o Direito
Processual ptrio, em matria de recurso, o princpio
da colegialidade do Juzo ad quem. Com isto, os
julgamentos em grau de recurso infundem maior
confiana e, de certo modo, so mais seguros que os de
primeiro grau
37
.
O peso dessa doutrina refletiu-se na resistncia verificada at certa poca entre ns
criao de turmas nos tribunais superiores, pelo entendimento de que as competncias a
eles outorgadas pela Constituio deveriam ser exercidas por todos os seus membros, em
composio plena
38
.
Em 1986, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional dispositivo do
Regimento Interno do Tribunal de Justia de Gois, que pretendia monocratizar decises,
declarando: Em favor de qualquer de seus membros, uti singuli, no podem os Tribunais
declinar de competncia que a Constituio neles investiu, enquanto rgos colegiados
39
.
A colegialidade protege a independncia dos julgadores que, por ela, se tornam
menos suscetveis de sucumbirem a presses. Ademais, garantia de maior igualdade nos
julgamentos, que no representam a opinio de uma s pessoa; estimula decises mais
refletidas e moderadas, porque resultantes da troca de opinies e de pontos de vista entre os
julgadores; goza de maior legitimidade poltica, porque pluralista na aplicao da lei,
como o o Parlamento, na sua elaborao.
No entanto, em muitos pases, e no Brasil de modo acentuado, reformas recentes
tm criado excees colegialidade no julgamento dos recursos para enfrentar os desafios
da exploso do nmero de processos e de recursos, especialmente causada pelo chamado
contencioso de massa. Sem medo de errar, pode-se afirmar que, nos tribunais superiores da
37
MARQUES, Jos Frederico. Instituies de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. IV, 2
ed., 1963, p. 7.
38
LIMA, Alcides de Mendona. Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, pp.
147-154; BUZAID, Alfredo. Ensaio para uma reviso do sistema de recursos no Cdigo de Processo Civil. In
Estudos de Direito. So Paulo: Saraiva, 1972, p. 117.
39
Acrdo na Representao 1.299-9, j. em 21/8/86; publ. DJU 14/11/86, consultado no site www.stf.jus.br,
em 27/1/2010.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
37
Unio e nos tribunais de 2 grau dos Estados mais populosos, mais de 80% dos recursos
esto sendo resolvidos por decises unipessoais dos relatores. Num Estado, como o do Rio
de Janeiro, em que concorrem 20 Cmaras Cveis com cinco desembargadores cada uma,
so 100 juzos monocrticos diferentes adotando decises sobre causas da mesma natureza,
o que significa que a justia de 2 grau em nosso Estado, tornou-se decididamente lotrica,
aleatria, dependente da sorte, fenmeno altamente preocupante pela absoluta insegurana
do desfecho de qualquer demanda, que eventuais agravos internos para as Cmaras no
conseguem satisfatoriamente remediar pela massificao desses julgamentos que impede
que o colegiado exera plena cognio sobre todas as circunstncias de cada causa.
A essa crtica, que seguirei sustentando, apesar da resposta conformista de muitos
de que no h outro remdio, diante do volume de processos, retruco que as reformas
esto aplicando a soluo mais simplista, mais inconveniente e, ao mesmo tempo, mais
econmica, porque mudar a lei processual e monocratizar no custa um tosto para os
cofres pblicos, sacrificando a qualidade das decises dos tribunais, em benefcio da
quantidade, o que somente interessa aos prprios tribunais superiores, alguns deles com
centenas de milhares de recursos para julgar anualmente, desprezando o interesse dos
jurisdicionados.
Como disse um insigne jurista italiano em escrito recente, como se um hospital
fosse reformado no interesse do conforto dos mdicos e no dos doentes
40
.
No h dvida de que o excesso de processos e de recursos judiciais tem de ser
enfrentado e resolvido, mas atacando as suas causas e no apenas as suas consequncias. A
legislao processual pode ser aperfeioada, contribuindo um pouco para coibir o
automatismo recursal e recursos procrastinatrios. Mas a maioria das causas desse excesso
est fora do Judicirio, dependendo a sua soluo principalmente da postura do prprio
Poder Pblico, o mais sistemtico litigante temerrio da nossa Justia, que no capaz de
internalizar na prpria Administrao a soluo das suas divergncias com os cidados,
preferindo o caminho mais fcil de obrig-los a recorrer longa e penosa via da Justia, e
pela ausncia absoluta de uma poltica nacional de preveno e soluo de litgios, poltica
40
CIPRIANI, Franco. I problemi del processo di cognizione tra passato e presente. In Il Processo civile nello
stato democratico. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p.35.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
38
pblica por cuja implementao no se sentem comprometidos nem o Executivo, nem o
Judicirio. Alis, os problemas da administrao da Justia esto absolutamente ausentes do
debate poltico-institucional e das campanhas eleitorais.
A colegialidade pode ser em alguma medida flexibilizada, mas sem perder o seu
valor democrtico, como o fez, por exemplo, a Alemanha na reforma de 2001
41
,
monocratizando por delegao do colegiado as causas mais simples, nas quais o colegiado
j tem jurisprudncia firmada, e no ficticiamente colegializando a partir do juiz
monocrtico, como o fez a infeliz reforma do artigo 557 do nosso Cdigo de Processo
Civil, introduzida pela Lei 9.756/98. Ademais, preciso ter o cuidado de no tornar a
monocratizao o instrumento da criao de uma justia de segunda classe justamente para
o contencioso de massa que, como disse Anne-Marie Cohendet, envolve justamente as
pessoas mais carentes de uma justia de boa qualidade
42
. Essa reforma do art. 557 conferiu
ao relator o poder de, por simples despacho, dar provimento ou negar seguimento a
recursos, de acordo com a jurisprudncia dos tribunais superiores. A colegialidade do
julgamento dos recursos, que sempre foi uma caracterstica da maior confiabilidade,
qualidade e credibilidade das decises dos tribunais, foi totalmente desvirtuada, na medida
em que, estatisticamente, mais de oitenta por cento dos recursos so hoje julgados
unicamente pelo relator.
h) Publicidade
A publicidade uma das principais garantias democrticas do processo, inscrita nos
artigos 5, inciso LX, e 93, inciso IX, da Constituio, assim como no artigo 155 do Cdigo
de Processo Civil, e que tem fundamento no princpio democrtico, como instrumento do
controle social que a sociedade exerce sobre a administrao da justia, alm de freio ao
arbtrio do julgador e de meio de fiscalizao da sua imparcialidade, pelo direito que dela
41
GOTTWALD, Peter. Civil procedure in Germany after the Reform Act 2001, 23 Civil Justice Quarterly
338, 345-350 (2004). In CHASE, Oscar e HERSHKOFF, Helen (eds.). Civil litigation in comparative
context. St. Paul: Thomson/West, 2007, p. 353.
42
Marie-Anne Cohendet, La collgialit des juridictions: um prncipe em voie de disparition?, in Revue
franaise de droit constitutionnel, n 68, outubro de 1006, ed. PUF, Paris, p.713/736
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
39
decorre para qualquer cidado de presenciar as audincias e as sesses de julgamento dos
tribunais.
A justia tem de ser feita de portas abertas, para que qualquer pessoa do povo possa
conhecer e controlar os seus atos, de modo que todos tm o direito de acesso ao contedo
dos atos processuais e ao local em que se realizam, mesmo aqueles que no so partes no
processo.
verdade que a nossa publicidade bem maior do que a que adotam pases
europeus e os Estados Unidos no julgamento dos tribunais colegiados, porque esses
julgamento so feitos, entre ns, em sesses pblicas, em que todos os juzes que compem
esses rgos so obrigados a manifestar seus votos publicamente, ou seja, oralmente, na
presena da platia. A recente Emenda Constitucional n. 45/2004 exigiu a publicidade at
mesmo nas decises administrativas dos tribunais (Constituio, art. 93, inc. X).
Jos Frederico Marques esclarece que o alcance moderno da publicidade entre ns
teve origem nas primeiras leis do Imprio, em que cada juiz declarava o voto e passava ao
seguinte, at que todos o tivessem feito. Antes vigorava o sistema das tenes, em que cada
um passava o seu voto em segredo ao seguinte e assim sucessivamente
43
.
Pelo princpio da publicidade, todos os cidados, independentemente de terem ou
no qualquer interesse no processo, so titulares do direito cvico de acesso ao contedo de
todos os atos processuais e de assistirem com a sua presena fsica aos atos processuais
solenes ou orais. Desse modo, a publicidade assegura aquilo que modernamente se costuma
chamar de transparncia no exerccio da funo pblica.
Hoje vivemos no Brasil circunstncias francamente paradoxais em relao
observncia do princpio da publicidade e transparncia dos julgamentos dos tribunais
colegiados. De um lado, essa publicidade se expande extraordinariamente nos julgamentos
do Supremo Tribunal Federal, transmitidos ao vivo pela TV Justia, e tambm na
publicao integral de acrdos desse e de outros tribunais em sites oficiais da internet. De
outro lado, tribunais superiores tm adotado informalmente mtodos de julgamento que
43
MARQUES, Jos Frederico. Instituies de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. IV, 2
ed., 1963, pp.101-102.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
40
tornam absolutamente hermtico ao pblico o contedo dos seus julgamentos. Em alguns,
voltamos ao sistema das tenes, em que o relator passa previamente aos demais membros
do colegiado o teor do seu voto, e a causa somente debatida publicamente se um destes
pedir destaque, pois, se isso no ocorrer, o voto do relator ser considerado aprovado, sem
que o pblico, que assiste sesso, tome conhecimento do que foi decidido.
Recursos considerados idnticos vm sendo julgados em pilhas, sem maiores
explicaes sobre as circunstncias que os asssemelham. Em alguns deles, como nos
embargos declaratrios, frequentemente os acrdos se limitam a afirmar que no h
omisso, obscuridade ou contradio a corrigir, sem mencionar sequer qual o contedo da
deciso embargada e porque o embargante alegou a existncia de um desses defeitos.
Outro atentado publicidade, cuja perpetrao se prenuncia, o julgamento dos
recursos em sesses virtuais dos tribunais. Os juzes no precisaro, sequer, encontrar-se no
mesmo local, no mesmo dia, na mesma hora. A sesso se desenvolver pela internet. Como
ser assegurada a transparncia desses julgamentos e o acesso pblico ao relatrio do
relator, aos votos dos julgadores e aos debates? Chegou ao meu conhecimento de que h
tribunais que j esto admitindo at sustentaes orais virtuais dos advogados.
Mas no s a publicidade que se compromete com essas corruptelas. A decadncia
dos rituais, das solenidades,o abandono de todas as circunstncias que criam o clima de
seriedade, austeridade e de responsabilidade das sesses dos tribunais, traro como
conseqncia inevitvel a perda da crena na sacralidade da justia humana e da confiana
da sociedade nos seus juzes.
i) Singularidade
O princpio da singularidade ou da unirrecorribilidade consiste na admissibilidade
de interposio de apenas um recurso, uma nica vez, contra qualquer deciso. Se o
processo nico e nica a deciso, a devoluo do poder jurisdicional deve dar-se apenas
a um nico juzo num nico reexame. Ademais, pelo princpio da consumao, no
momento em que o recorrente interpe o recurso, ele define os limites do seu
inconformismo com a deciso recorrida, no podendo, portanto, modific-lo ou adit-lo
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
41
atravs de uma segunda iniciativa recursal
44
. O Cdigo de 39 continha disposio expressa
consagradora desse princpio (art. 809).
O Cdigo de 73 no repetiu a disposio, mas o princpio continua a ser adotado,
embora a lei e a jurisprudncia, lamentavelmente, lhe tenham oposto algumas excees.
A primeira delas a possibilidade de interposio simultnea ou sucessiva, contra a
mesma deciso, de embargos de declarao e de algum outro recurso cabvel. A segunda
exceo a possibilidade de interposio simultnea de recurso especial e de recurso
extraordinrio contra o mesmo acrdo, se este contiver, ao mesmo tempo, matria relativa
vigncia, aplicao ou interpretao de lei federal e matria constitucional (CPC, art.
541). A terceira exceo a interposio de embargos de divergncia no Superior Tribunal
de Justia contra deciso de uma das turmas no julgamento do recurso especial (arts. 266 e
267 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justia) e simultaneamente de recurso
extraordinrio para o Supremo Tribunal Federal.
Uma quarta exceo a interposio de embargos infringentes e recurso especial ou
extraordinrio, conforme o caso, quando a deciso em grau de apelao ou de ao
rescisria apresentar, ao mesmo tempo, uma parte unnime e outra no unnime. At o
advento da Lei 10.352/2001, que deu nova redao ao art. 498 do Cdigo, os dois recursos
eram interpostos simultaneamente. Desde ento, primeiro devem ser interpostos os
embargos infringentes contra a parte no unnime para o mesmo tribunal. Publicada a
deciso destes, poder o recorrente, em recurso especial para o STJ ou extraordinrio para o
STF, impugnar simultaneamente a parte unnime do primeiro acrdo e o acrdo nos
embargos infringentes. De qualquer modo, a primeira deciso ter sido objeto de dois
recursos, cada um deles atacando uma parte do julgado.
A jurisprudncia tem criado uma quinta exceo, no caso de embargos declaratrios
com efeito modificativo. Se o interessado tiver interposto algum outro recurso antes da
deciso dos embargos declaratrios, mas esta tiver em alguma parte alterado a deciso
embargada, poder ele, tomando cincia do acolhimento dos embargos, reiterar ou aditar o
recurso interposto, tendo em vista a nova sucumbncia da decorrente e apenas na medida
44
NERY JUNIOR, Nelson. Princpios fundamentais - teoria geral dos recursos. So Paulo, Revista dos
Tribunais, 5 ed., 2000, p. 93.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
42
em que se apresente essa nova sucumbncia. Entretanto, o advento de deciso modificativa
no julgamento dos embargos declaratrios no significa, por si s, que o recurso j
interposto tenha ficado prejudicado, a no ser na medida em que a reforma da deciso nele
almejada tenha sido acolhida no julgamento dos referidos embargos declaratrios. Para
evitar que o recurso anteriormente interposto venha a ser julgado prejudicado fora desses
limites, o que erroneamente tem ocorrido, tem-se tornado usual, julgados os embargos
declaratrios modificativos, a sua reiterao.
j) Fungibilidade
Somente est apto a provocar o reexame da deciso o recurso adequado, qual seja, o
que a lei estabelece como cabvel para a hiptese, porque, como j vimos no estudo do
princpio da taxatividade, a simples garantia fundamental do duplo grau de jurisdio ou do
direito a um segundo julgamento no suficiente para preencher todos os requisitos
indispensveis ao exerccio desse direito, que depende da implementao legal quanto ao
prazo, quanto extenso do reexame e quanto ao procedimento. Por outro lado, vimos no
trato da singularidade, que, em vrias situaes, ainda que excepcionalmente, uma nica
deciso pode ser impugnada por mais de um recurso, o que impe ao recorrente, em
consequncia do princpio da voluntariedade, optar claramente por um ou outro recurso.
Entretanto, ocorre com alguma frequncia que o recorrente, ao tomar conhecimento da
deciso desfavorvel, pode ter dvida a respeito de qual seja o recurso cabvel. Ou que,
certo de que o recurso cabvel este, seja amanh surpreendido com o no conhecimento
do seu apelo porque o tribunal ad quem entendeu que o recurso cabvel era outro.
Para remediar o erro escusvel na interposio de determinado recurso, como tal
entendido aquele que resulta de uma dvida objetiva, ou seja, de uma situao de incerteza
razovel a respeito do recurso cabvel, o Cdigo de 39, no art. 810, dispunha expressamente
que, salvo a hiptese de m-f ou erro grosseiro, a parte no ser prejudicada pela
interposio de um recurso por outro, devendo os autos ser enviados Cmara ou turma, a
que competir o julgamento. Esse dispositivo no foi reproduzido no Cdigo de 73
certamente porque o legislador acreditou ter institudo um sistema recursal to simples que
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
43
o dispensaria. Entretanto, no tardaram a surgir situaes em que o questionamento do
alcance de certos conceitos, como por exemplo o de sentena (CPC, art. 162, 1), veio a
suscitar a referida dvida objetiva a respeito do cabimento deste ou daquele recurso. Desde
ento, a doutrina e a jurisprudncia tm adotado a fungibilidade como princpio geral do
sistema recursal, o que tem absoluta procedncia, tendo em vista a instrumentalidade das
formas.
Essa fungibilidade de recursos tem abrigo, a meu ver at de modo mais extenso, no
direito alemo, onde foi chamada de teoria do recurso indiferente (Sowohl-als-auch-
Theorie) e nada mais do que uma aplicao do princpio da instrumentalidade das formas.
O que interessa como contedo do ato de recorrer que o vencido tenha manifestado a
vontade de obter uma nova deciso que reaprecie a anterior, pouco importando o nome, o
rtulo, que lhe tenha dado
45
. A complexidade do sistema recursal brasileiro e o formalismo
na sua aplicao, entretanto, com frequncia dificultam a aplicao desse princpio. Assim,
por exemplo, se o recorrente hipoteticamente denominar o seu recurso de especial e o
enderear a um juiz de primeiro grau para impugnar uma sentena por ele proferida,
certamente o seu recurso no ser admitido por erro grosseiro, quando, pelo princpio do
recurso indiferente, deveria ele ser admitido como uma apelao. Ou, ainda por hiptese,
se, em face de uma deciso unnime em grau de apelao, o vencido interpuser um recurso
a que denomine de especial, nele suscitando questo relativa violao da Constituio,
seguramente o seu recurso no ser admitido, embora, pelo referido princpio, devesse s-lo
como recurso extraordinrio. Se o recorrente no desfruta de nenhuma vantagem ilcita a
que tenha dado causa a interposio do recurso inadequado e no h qualquer indcio
concreto de que tenha tido essa inteno, o recurso adequado deve ser julgado em lugar do
inadequado expressamente interposto. Observe-se como ainda estamos distanciados, no
sistema recursal, dos princpios gerais do processo.
A controvrsia que ainda existe a respeito do alcance do princpio da fungibilidade
a respeito da possibilidade ou no da sua aplicao na hiptese em que o recorrente
interpe o recurso inadequado no respectivo prazo, embora j findo o prazo de interposio
45
GOLDSCHMIDT, James. Derecho Procesal Civil. Barcelona: ed. Labor, 1936, p.402, citado por Alcides
de Mendona Lima, Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, p. 245.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
44
do recurso certo. A meu ver, mesmo havendo dvida objetiva, se o recurso cabvel o de
prazo menor e o recorrente interpe outro recurso fora desse prazo, o recurso interposto
erroneamente no pode ser conhecido, porque a deciso j teria transitado em julgado ou
precludo quando o recurso foi interposto. Seguindo outro posicionamento, Nelson Nery Jr.
entende que nesses casos, no mais se admitindo que a m f do recorrente possa ser
impeditiva da fungibilidade
46
. seja impeditivo recurso certo deve ser julgado embora
interposto depois de esgotado o respectivo prazo. Sustento o meu entendimento na lio de
Jos Frederico Marques de que a tempestividade do recurso atende, ao mesmo tempo, ao
interesse do vencido, ao interesse do vencedor e ao prprio interesse pblico na
estabilizao das decises judiciais
47
. No por outra razo as partes, nem consensualmente,
podem prorrogar os prazos recursais (CPC, art. 182). Por outro lado, com a vnia devida, a
m f no se presume, mas ela impeditiva at mesmo da produo de efeitos normais e
regulares dos atos processuais, como se pode verificar nos casos de abuso de direito. Mas a
perda do prazo do recurso adequado impede o conhecimento do recurso adequado no por
presuno de m f, mas porque, extinto o direito de recorrer, adquiriu o adversrio do
recorrente o direito de no ter de submeter a deciso que o beneficia ao reexame de uma
instncia superior e, ainda nos casos em que no haja adversrio, extinguiu-se tambm o
dever do Estado de prover renovao do exerccio da jurisdio j esgotada.
k) Desestmulo a recursos protelatrios
J tive ocasio de mencionar que um bom sistema recursal deve conter mecanismos
para evitar o automatismo recursal e coibir o abuso do direito de recorrer, impedindo que o
processo alcance rapidamente a sua finalidade e produzindo o efeito perverso de retardar
desnecessariamente o acesso do titular do direito ao seu pleno gozo. O sistema recursal que
herdamos da tradio romana era extremamente favorecedor dessa deturpao, com a
renovao por inteiro de todo o procedimento, em todas suas fases, e com a concesso
ampla de efeito suspensivo apelao.
46
NERY JUNIOR, Nelson. Princpios fundamentais - teoria geral dos recursos. So Paulo, Revista dos
Tribunais, 5 ed., 2000, p.140-144.
47
MARQUES, Jos Frederico. Instituies de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. IV, 2
ed., 1963, p. 64.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
45
Durante sculos, a conscincia jurdica dos cidados se conformou com a
morosidade da justia, o que no mais tolervel em nossa poca em que a velocidade em
que se desenvolvem as relaes jurdicas e a efetividade do processo exigem que aqueles a
quem as decises judiciais reconhecem a titularidade de direitos sejam de fato investidos no
seu gozo com a maior rapidez possvel, porque somente dessa forma o Estado estar
provendo com a mxima eficcia tutela desses direitos.
Os vrios ordenamentos jurdicos tm dado respostas diversas a essa nova
exigncia. Uma das solues alvitradas a criao de obstculos econmicos interposio
de recursos, com a elevao do valor das custas ou a exigncia do prvio depsito da
condenao ou de um certo valor pecunirio para garantir o cumprimento da sentena.
Como j sustentamos em outras ocasies, essas exigncias so discriminatrias, porque
subordinam o direito de recorrer a condies econmicas favorveis do recorrente.
Outro caminho, trilhado na reforma italiana dos anos 90, eliminar o efeito
suspensivo automtico de qualquer recurso, deixando a sua concesso para uma avaliao
caso a caso da viabilidade do recurso pelo juzo a quo ou pelo juzo ad quem. Essa soluo
pode ter efeitos benficos, desestimulando os recursos protelatrios, desde que a execuo
provisria da deciso seja exaustiva, ou seja, no fique sujeita a nus exagerados ou
garantias que a inviabilizem para a grande maioria das pessoas. No Direito brasileiro, essa
soluo encontra resistncia da Fazenda Pblica e, mesmo nos recursos sem efeito
suspensivo, a exausto da execuo provisria normalmente fica sujeita a prestao de
cauo para a prtica de atos de alienao da propriedade e para o levantamento de dinheiro
(CPC, art. 475-O, III e 2, acrescentados pela Lei 11.232/2005), o que dificulta a sua
continuidade e estimula recursos procrastinatrios.
Outros tipos de filtro tm sido institudos, ora de carter objetivo (a relevncia da
matria questionada), ora de carter subjetivo (a probabilidade de xito do recurso). Os dois
tipos se subordinam ao que tem sido denominado de princpio da dialeticidade, segundo o
qual todo o recurso tem de fundamentar-se em razes de fato e de direito que demonstrem a
possibilidade, ainda que mnima e remota, de que o recurso seja acolhido. Modernamente
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
46
no se admite recurso sem fundamentao. Nem sempre foi assim. No Direito romano, ao
recorrente bastava dirigir-se ao juiz e dizer a palavra appello para desencadear o
procedimento de reexame da deciso
48
. Ainda hoje no nosso processo penal assim
(Cdigo de Processo Penal, art. 601).
A relevncia tem sido adotada em pases da civil law, numa transposio do juzo
discricionrio a que est sujeito o reexame das decises judiciais por meio de recursos nos
sistemas da common law. Entre ns esse mecanismo est atualmente em vigor no juzo de
admissibilidade do recurso extraordinrio, dependente da repercusso geral instituda pelo
3 do art. 102 da Constituio Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n
45/2004. A probabilidade de xito do recurso tambm tem sido instituda como filtro
admissibilidade de recursos, atravs da subordinao do seu julgamento no ofensividade
a smula ou a jurisprudncia predominante dos tribunais superiores, como ocorre com a
rejeio monocrtica de recursos pelo relator nos tribunais superiores (CPC, art. 557, com a
redao da Lei 9.756/98), ao qual j fizemos crticas acima, e com o no recebimento da
apelao pelo juzo de primeiro grau, nos termos do 1 do art. 518 do CPC, acrescentado
pela Lei n 11.265/2006.
A Alemanha, na reforma de 2001, adotou o mecanismo da autorizao para apelar,
importado do direito ingls, que consiste numa prognose positiva de xito do recurso ou na
sua admisso por algum outro motivo grave, e que a Corte Europia de Direitos Humanos
no considerou uma exigncia exagerada
49
. Todavia, a submisso dessa autorizao a um
despacho irrecorrvel no juzo de primeiro grau foi objeto de censura da Corte
Constitucional Federal alem que a considerou em parte incompatvel com o direito de
acesso justia, quando estiver em jogo questo de direito controvertida ainda no dirimida
48
No direito italiano tem sido observada a evoluo do sistema recursal da noo de mezzi di gravame, em
que o tribunal ad quem reexaminava a deciso em todo o seu contedo, para a noo de impugnazione, em
que somente as questes suscitadas pelo recorrente so reexaminadas reexaminadas (V. POLI, Roberto.
Giusto processo e oggetto del giudizio di appello. In Rivista di Diritto Processuale, ano LXV, n. 1, janeiro-
fevereiro de 2010. Padova: CEDAM, pp. 48-68).
49
ZUCKERMAN, Adrian A.S. On civil procedure: principles of practice. 2 ed. (2006). In CHASE, Oscar e
HERSHKOFF, Helen (eds.). Civil litigation in comparative context. St. Paul: Thomson/West, 2007, p.340;
GOTTWALD, Peter. Civil procedure in Germany after the Reform Act 2001, 23 Civil Justice Quarterly 338,
345-350 (2004). In CHASE, Oscar e HERSHKOFF, Helen (eds.). Civil litigation in comparative context.
St. Paul: Thomson/West, 2007, p.354.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
47
pelo Bundesgerichthof, o tribunal superior equivalente ao nosso Superior Tribunal de
Justia
50
.
Entre ns, com exceo dos casos de certos recursos de fundamentao vinculada,
como o recurso especial e o extraordinrio e, agora, dos filtros estabelecidos nos arts. 557 e
518, 1, do CPC, sempre se entendeu que a dialeticidade constitui um juzo muito
superficial a respeito dos argumentos aduzidos pelo recorrente, que no devem se limitar a
reproduzir ipsis litteris os seus arrazoados anteriores deciso, mas que devem efetuar
algum exame ou comentrio sobre a deciso recorrida, ainda que de nfima probabilidade
de xito, que permita a sua reviso. difcil, sem pr em risco o prprio direito de recorrer,
evoluir de um sistema to tolerante como esse para um sistema de avaliao positiva da
probabilidade de xito, sem sujeitar-se ao subjetivismo do juzo monocrtico de 1 ou de 2
grau, ainda mais quando esse juzo formulado pelo mesmo juiz que proferiu a deciso
recorrida.
Por isso, apesar da adoo desses filtros em pases com larga tradio democrtica,
onde tambm tm sido objeto de crticas severas da doutrina
51
, creio que o desestmulo aos
recursos protelatrios deve ser buscado atravs de reformas legislativas que agravem
automaticamente a situao daquele que procrastina, pelo simples decurso do tempo ou
pela simples rejeio da pretenso recursal ou, ainda, que tornem incua a procrastinao,
como a supresso do efeito suspensivo automtico dos recursos ordinrios, a execuo
provisria exaustiva, independentemente de cauo, a nova sucumbncia em grau de
recurso e a adoo de juros progressivos para as condenaes pecunirias, conforme
sustentei em outro estudo e reiterarei adiante
52
.
l) Exaustividade do sistema recursal
Um bom sistema recursal um sistema quase totalmente fechado, ou seja, um
sistema em que as possibilidade de provocar o reexame de decises judiciais se esgotam na
50
Remo Caponi. Lappello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca). In
Rivista di diritto processuale, ano LXIV, n. 3, maio-junho de 2009. Padova: CEDAM, p. 640.
51
GOTTWALD, Peter. Ob. e loc. cits.
52
GRECO, Leonardo. A falncia do sistema de recursos. In Revista Dialtica de Direito Processual, n 1.
So Paulo: Dialtica, abril de 2003, pp. 93/108.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
48
srie de recursos legalmente previstos e que devem ser interpostos no curso do processo em
que as decises so proferidas, para que, encerrado o processo, se, em razo da cognio
exaustiva, tiver se formado a coisa julgada material, essas decises no possam sofrer mais
qualquer tipo de impugnao que possa pr em risco a eficcia plena do provimento final.
intil a observncia de todas as regras que disciplinam o sistema recursal se,
quando elas no satisfazem ao inconformismo do vencido, ele pode lanar mo de outros
instrumentos que, dentro ou fora do processo, propiciam a anulao, a modificao ou a
reforma de qualquer deciso, seja por meio dos chamados sucedneos recursais ou de aes
autnomas de impugnao, como os pedidos de reconsiderao, as reclamaes, as
correies parciais, os agravos internos e regimentais, as medidas cautelares, as suspenses
de liminares e de sentenas, os habeas corpus, os mandados de segurana e as aes
anulatrias de atos jurdicos.
A prpria ao rescisria estaria mais bem situada no sistema recursal, como em
outros ordenamentos, subordinada assim aos seus princpios gerais, como o da
temporariedade e o da singularidade.
Infelizmente, o nosso sistema recursal, apesar da evoluo sofrida do Cdigo de 39
para o Cdigo de 73, continua sendo um sistema aberto, no sentido de que, falta de um
recurso legalmente previsto, o descontente com frequncia vai encontrar algum outro meio
de provocar o reexame da deciso que o prejudica.
Se essa vulnerabilidade fruto, em grande parte, da pouca credibilidade que
inspiram as decises judiciais, que um problema poltico, institucional e cultural que no
est ao alcance do Direito Processual resolver, de outro, preciso reconhecer que um bom
sistema recursal pode reduzir bastante essas solues extravagantes que, num crculo
vicioso, agravam ainda mais o desprestgio das instituies judicirias. Experincia positiva
nesse sentido tivemos com a reforma do agravo, pela Lei n 9.139/95, que praticamente
esvaziou a possibilidade de impetrao de mandados de segurana contra as decises dos
juzes de primeiro grau.
Outros resultados positivos podero ser alcanados com uma reforma processual
que reduza a fragmentao do procedimento ordinrio numa sucesso interminvel de
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
49
decises interlocutrias e numa reforma institucional do Poder Judicirio que estabelea
uma relao mais democrtica entre os juzes inferiores e os respectivos rgos de
progresso funcional e de controle disciplinar. Por outro lado, grande servio prestariam
Nao os tribunais superiores da Unio, especialmente o Supremo Tribunal Federal, se em
lugar de agravar essa Babel com a sugesto de utilizao de sucedneos recursais para
enfrentar problemas que, em minha modesta opinio, poderiam ser solucionados dentro das
regras do nosso ordenamento processual, definissem com clareza o relevo e o alcance da
coisa julgada e da segurana jurdica, to abalados por decises que os seus prolatores
muitas vezes acreditam hericas, mas que, infelizmente, ao pretenderem remediar um
suposto defeito do ordenamento jurdico, criam outro to grave ou ainda mais grave do que
o anterior, transformando o juiz em soberano e ilimitado intrprete das aspiraes da
comunidade, o que mereceu a censura irrespondvel de Calmon de Passos, nestes termos:
Se o direito posto for aplicado a cavaleiro de
controles que assegurem coerncia e pertinncia entre o
formalizado como expectativa compartilhvel pelos
governados (o legislado) e o produzido como norma
disciplinadora do caso concreto, em verdade se
desqualifica o Direito previamente posto e s o Direito
produzido no caso concreto prevalecer em termos
absolutos. E isso repugna visceralmente a um sistema
democrtico de governo. Estaramos, em ltima anlise,
transferindo a soberania do povo para um segmento
privilegiado do sistema poltico, justamente aquele
menos vinculado ao princpio representativo,
fundamental num Estado de Direito Democrtico: os
magistrados
53
.
53
PASSOS, J.J. Calmon de, As razes da crise de nosso sistema recursal. In Adroaldo Furtado Fabrcio
(coord.). Meios de impugnao ao julgado civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 370. Pesquisa
recentemente divulgada, realizada na Itlia pelo Centro Studi e Ricerche sullOrdinamento Giudiziario
(CeSROG) da Universidade de Bologna, na qual foram ouvidos magistrados italianos, revelou que 66% dos
entrevistados respondeu negativamente seguinte pergunta: Na atividade judiciria, o magistrado judicante
deveria procurar fazer-se porta-voz das expectativas da comunidade. Se o juiz se inspirasse nesse princpio, a
qualidade da nossa administrao da justia poderia melhorar? (SAPIGNOLI, Michele. Qualit della
giustizia e indipendenza della magistratura nellopinione dei magistrati italiani. Padova: CEDAM, 2009,
p.81).
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
50
m) Acesso a um tribunal superior para coibir decises judiciais contrrias lei
Nos pases de direito escrito, a tutela jurisdicional efetiva significa que o cidado
tem o direito de obter do Estado um provimento que lhe assegure o mais amplo gozo dos
direitos que lhe so conferidos pelo ordenamento jurdico. Essa tutela no pode ficar, ao
sabor da sorte, sujeita a opinies diversas que os juzos tenham a respeito dos direitos
acolhidos pelo ordenamento jurdico, porque a lei deve ser igual para todos e a funo
jurisdicional deve a todos reconhecer os mesmos direitos, com o mesmo contedo.
Entretanto, a multiplicidade de litgios, a extenso do territrio em que a jurisdio
deva ser exercida em nome do Estado soberano e a necessidade de assegurar a todos os
cidados em igualdade de condies o mais rpido e econmico acesso justia, obrigam
instituio de numerosos rgos jurisdicionais, em cujo exerccio os seus titulares podem
adotar entendimentos diversos a respeito do contedo dos direitos reconhecidos no
ordenamento jurdico. Da a necessidade de criao de uma Corte Suprema e de instituio
de um recurso a ela dirigido, para que ela possa exercer essa importantssima funo de
dizer a ltima palavra a respeito de quais so os direitos tutelados pelo ordenamento
jurdico, qual a sua extenso, para in concreto, conferir-lhes a mxima efetividade em
igualdade de condies em benefcio de todos os cidados.
No exerccio dessa funo, atravs de um recurso em que prepondera o reexame das
questes de direito relativas vigncia, aplicao ou interpretao da lei, esse tribunal de
cpula vela pela preservao do exato contedo dos direitos agasalhados pelo ordenamento
jurdico em benefcio dos seus titulares, homogeneza o contedo das decises judiciais a
respeito desses direitos e indiretamente tutela a prpria ordem jurdica.
Luigi Paolo Comoglio, o expoente do garantismo no penal na Itlia, observa que,
no modelo de processo constitucionalmente garantido, que se extrai da tradio
constitucional dos Estados europeus, se inclui um juzo de legitimidade perante um rgo
jurisdicional supremo com funes nomofilticas
54
, ou seja, com a misso de revelar o
contedo das normas jurdicas e de tutelar uniformemente as situaes por elas protegidas.
54
COMOGLIO, Luigi Paolo. Diritti fondamentali e garanzie processuali comuni nella prospettiva
DellUnione Europea. In COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e tecnica del giusto processo. Torino: G.
Giappichelli editore, 2004, pp. 119-121.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
51
Nesse sentido, associado ao grande processualista argentino Augusto Mario
Morello, inclui o Autor, no seu projeto de bases constitucionais mnimas do processo civil
justo para a Amrica Latina, a necessidade de sempre admitir-se recurso, por violao da
lei, perante rgos supremos de justia, contra qualquer provimento jurisdicional
decisrio
55
.
A necessidade de atender celeridade dos julgamentos e de desestimular o abuso de
recursos meramente protelatrios no recomenda a adoo de filtros recursais para essas
instncias de superposio, sob pena de abdicar o Judicirio da sua misso mais relevante,
que a tutela dos direitos reconhecidos pelo ordenamento jurdico, consoante sustentamos
acima.
n) Acesso subsidirio jurisdio constitucional
No regime democrtico, a promessa da efetividade da tutela jurisdicional somente
se concretiza se no prprio sistema recursal, que propicia o reexame de decises judiciais
dentro dos processos em que foram proferidas, existir um mecanismo de acesso do
jurisdicionado insatisfeito ao tribunal constitucional, caso no exista algum outro meio
eficaz de assegurar a proteo de seus direitos fundamentais.
Sobre todo o sistema judicirio deve sobrepairar o tribunal constitucional, que, no
caso do Brasil, o Supremo Tribunal, em condies de prover tutela recursal de qualquer
direito fundamental violado ou ameaado por alguma deciso judicial, quando no houver
outro meio adequado e eficaz de prover a essa tutela. A instituio de um recurso
constitucional subsidirio , portanto, uma imposio do Estado de Direito fundado na
eficcia concreta dos direitos fundamentais (Constituio Federal, art. 5, 1),
paradigmaticamente criado pelo direito alemo atravs do 2 do artigo 93 da Lei
55
MORELLO, A.M. e COMOGLIO, L.P.. Basi costituzionali minime del processo civile giusto per
lAmerica Latina. In COMOGLIO, Luigi Paolo. Etica e tecnica del giusto processo. Torino: G.
Giappichelli editore, 2004, pp.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
52
Fundamental de Bonn
56
, posteriormente reproduzido no Direito Constitucional de outros
pases europeus, como a Espanha, atravs do chamado amparo constitucional.
Lamentavelmente, entre ns, a tentativa de instituio de um instrumento desse tipo,
atravs da chamada arguio de descumprimento de preceito fundamental, foi vetada pelo
Presidente da Repblica por ocasio da sano ao projeto que se transformou na Lei
9.882/99.
O maior paradoxo da decorrente, em nosso Pas, que o indivduo que tenha um
direito fundamental violado por uma deciso judicial pode alcanar a jurisdio da
Comisso Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, por fora da nossa adeso ao Pacto de San Jose da Costa Rica, mas
possivelmente no conseguir levar o seu pleito ao nosso Supremo Tribunal Federal, tendo
em vista os filtros admissibilidade do recurso extraordinrio, ainda recentemente
ampliados com a introduo do pressuposto da repercusso geral.
De acordo com o 3, do artigo 102, da Constituio, acrescentado pela Emenda
Constitucional n 45/2004, o Supremo Tribunal Federal somente conhecer do recurso
extraordinrio quando a questo suscitada for de repercusso geral. Em outros termos, o
que esse requisito significa que, a partir da sua implantao com o advento da Lei
11.418/2006, que a regulamentou, h algumas violaes Constituio mais relevantes do
que outras. O recurso extraordinrio no poder ser manejado para sanar qualquer violao
ao pacto poltico fundamental, mas apenas aquelas que o Supremo Tribunal Federal reputar
como sendo de repercusso geral.
A nsia de resolver o problema do excesso de recursos parece fazer olvidar o fato de
que o acesso ao tribunal constitucional por qualquer cidado que tenha um direito
fundamental violado um princpio poltico indispensvel na organizao do Estado de
Direito Contemporneo.
Ao copiarmos o modelo norte-americano, cuja Corte Suprema pode escolher quais
processos julgar, esquecemos que ele totalmente diferente do nosso. Naquele pas, o
recurso no propriamente um direito subjetivo, porque a Justia feita
56
CAPPELLETTI, Mauro. La giurisdizione costituzionale delle libert. Milano: Giuffr, 1955;
TROCKER, Nicol. Processo Civile e Costituzione. Milano: Giuffr, 1974, pp.148/157.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
53
preponderantemente comunidade, o tribunal de primeiro grau tem legitimidade democrtica
e pode at mesmo decidir contra a lei. O paradigma copiado no de uma justia escrava
da lei, mas de uma justia pacificadora, em que os tribunais superiores se reservam o direito
de somente reverem as questes que consideram ter alguma importncia para o futuro
desenvolvimento do sistema jurdico. A funo da Suprema Corte norte-americana no a
de assegurar o primado da lei, para suprir a falta de legitimidade dos juzes inferiores.
No h nada de antidemocrtico no fato de a Corte Suprema dos EUA selecionar os
recursos que quer julgar, porque a funo do Judicirio daquele pas no a de ser a boca
da lei, mas pacificar os litgios. Entretanto, ao copiarmos os modelos usados em outro
paradigma de jurisdio, temos de adapt-los s caractersticas do nosso prprio sistema,
para que deles no resultem violaes a garantias fundamentais do processo consagradas
constitucionalmente, em especial ao acesso ao direito e justia.
5 A VULNERABILIDADE DOS RECURSOS DE ESTRITO DIREITO
Embora no me anime a incluir a questo no rol dos princpios gerais da teoria dos
recursos, no posso deixar de referir-me ao paradoxo, consolidado a partir da Revoluo
francesa, da criao de recursos para as Cortes Supremas, como os nossos atuais recursos
extraordinrio e especial, cujo efeito devolutivo ficaria restrito reapreciao de questes
de direito, analisadas luz dos fatos reputados verdadeiros pelas instncias inferiores, sem
qualquer reavaliao da adequao e da consistncia dos juzos ali formados sobre a sua
existncia. Entende-se que a jurisdio do STF e do STJ no ordinria, porque os recursos
dirigidos a esses tribunais no provocam o reexame da matria de fato; no proporcionam o
reexame completo da deciso, mas apenas da matria de direito relativa aplicao da lei
federal ou da Constituio, conforme o caso. Grande parte da doutrina desenvolvida na
Europa Continental aps a Revoluo francesa e a criao da Corte de Cassao e das
Cortes Supremas, identificaram nesses recursos uma funo eminentemente poltica de
tutela do direito objetivo e do interesse social integridade e ao primado da norma jurdica,
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
54
colocando em plano secundrio o direito subjetivo das partes, que seria
preponderantemente tutelado pelos recursos ordinrios
57
.
Essa concepo no pode ser acolhida dentro de uma compreenso moderna da
funo jurisdicional como instrumento da tutela efetiva dos interesses particulares
agasalhados pela lei
58
. O recorrente no interpe um desses recursos para ir em busca da
tutela do direito objetivo, mas do seu direito subjetivo que considera respaldado no direito
objetivo. A Cassao francesa subsequente Revoluo chegou a instituir um recurso no
interesse da lei, que o Ministrio Pblico poderia interpor perante a Corte Suprema apenas
para eventualmente rever a interpretao da lei e manter a sua uniformidade. Mas esse
mecanismo, adotado igualmente em outros pases que seguiram o modelo francs, caiu em
desuso, porque o recurso Corte Suprema nunca deixou de ser um instrumento de tutela do
direito subjetivo das partes. Correta, portanto, a lio de Jos Frederico Marques
59
, de que o
objeto desses recursos (cassao, recursos extraordinrios) continua sendo a pretenso
submetida ao pronunciamento e apreciao do rgo jurisdicional, tanto que sobre ela que
vai recair a deciso pronunciada para unificar a jurisprudncia. Por mais poltica que seja a
funo desses recursos, eles no a cumpririam, muito menos cumpririam a sua funo
primordial de tutela do direito subjetivo de quem tem razo, se as Cortes Supremas, que os
julgam, se limitassem a friamente aceitar como verdadeiros os fatos admitidos na deciso
recorrida e simplesmente verificar se, em face desses fatos, ainda que absurdos ou mal
justificados, a norma jurdica foi bem ou mal aplicada ou interpretada. Por isso, seja essa
funo nomofiltica, de preservao da uniformidade da interpretao e da correta
aplicao do direito objetivo, seja a funo propriamente jurisdicional de tutela dos
interesses particulares, esses recursos somente conseguem realizar se, por meio deles, as
Cortes Supremas exercerem um efetivo controle sobre os juzos de fato, o que j vem sendo
efetivado em outros pases, como a Frana, a Alemanha e a Argentina, pelo menos em duas
situaes: na de insuficincia quantitativa dos motivos, quando o raciocnio judicial no
57
LIMA, Alcides de Mendona. Introduo aos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, p.
136; JORGE, Flvio Cheim. Teoria geral dos recursos cveis. So Paulo: Revista dos Tribunais, 4 ed.,
2009, p. 39.
58
GRECO, Leonardo. Instituies de Processo Civil. Rio de Janeiro: 2 ed., Forense, vol. I, 2010, item 3.1.
59
MARQUES, Jos Frederico. Instituies de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. IV, 2
ed., 1963, p.129.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
55
abranja todo o material probatrio; e na de insuficincia qualitativa dos motivos, quando o
julgamento despreze uma clara imposio lgica na apreciao da prova, provocando um
defeito de motivao
60
.
Talvez se pudesse dizer que da est surgindo um novo princpio da teoria geral dos
recursos, qual seja o de que a limitao cognitiva s questes de direito, imposta por razes
de poltica jurdica admissibilidade de determinados recursos, no pode de tal modo
distanci-los das questes de fato, a ponto de impedir que as instncias recursais que forem
institudas, como pressuposto da correta soluo das questes de direito, verifiquem se os
juzos sobre os fatos preenchem requisitos mnimos de suficincia quantitativa e de
adequao qualitativa que razoavelmente os justifiquem.
6. CONSIDERAES FINAIS
Retomo aqui, a ttulo de sntese conclusiva, uma reflexo que iniciei h alguns anos
atrs a respeito da qualidade dessa parte to importante do nosso Direito Processual Civil,
que o sistema de recursos. J o anteprojeto de Alfredo Buzaid, que antecedeu ao Cdigo
de 73, prometia uma profunda racionalizao e simplificao do sistema recursal. Menos
radical, o prprio Cdigo extinguiu os agravos de petio e no auto do processo, os
embargos de alada e o recurso de revista, mantendo os embargos infringentes com base
em voto vencido, que o anteprojeto prometera extinguir. Adotou o Cdigo amplamente o
princpio do duplo grau de jurisdio, tornando recorrveis todas as decises de 1 grau.
Rendendo-se ao carter aberto do nosso sistema, em cujos vazios penetram as aes
constitucionais, como o mandado de segurana e o habeas corpus, alm de outros
sucedneos recursais, como a reclamao ou correio parcial e os informais pedidos de
reconsiderao, o Cdigo adotou a ampla recorribilidade das decises interlocutrias por
agravo, assim diminuindo os espaos para o mandado de segurana e a reclamao.
60
FERRAND, Frdrique. Cassation franaise et Rvision allemande. Paris: PUF, 1993, pp. 165-178;
SILVA, Ovdio A. Baptista da. Questo de fato em recurso extraordinrio. In Adroaldo Furtado Fabrcio
(coord.). Meios de impugnao ao julgado civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 502.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
56
Pouca ou nenhuma influncia sofreu o sistema recursal do Cdigo de 1973 da escola
da efetividade do processo, naquele momento j amplamente difundida na Europa, e da
constitucionalizao do processo atravs da reviso da sua teoria geral luz dos direitos e
garantias fundamentais.
Ao contrrio, o procedimento recursal seguiu a tradio positivista e formalista da
praxe luso-brasileira e do sistema recursal herdado das Ordenaes do Reino, mitigada
apenas pela j apontada generalizao da recorribilidade de todas as decises
interlocutrias, pela adoo, sem excees, do princpio do duplo grau de jurisdio, e
tambm pela introduo do instituto do recurso adesivo e pela pacificao em torno da
proibio da reformatio in pejus, antes controvertida. No conseguindo eliminar o recurso
ex-officio, deu-lhe nova roupagem, a do duplo grau de jurisdio obrigatrio. A
preocupao com a possvel exploso de recursos resultou na criao do agravo retido, por
emenda do Senador Acili Filho, relator do projeto no Senado, o que, na prtica
representou de certo modo a restaurao do extinto agravo no auto do processo.
Mas o aumento desmedido da interposio de recursos j se evidenciara, tanto que a
Emenda Constitucional n 1/69 conferira ao Supremo Tribunal Federal o poder de limitar
no seu Regimento Interno a admissibilidade do recurso extraordinrio em funo da
natureza da causa, do seu valor ou do tipo de procedimento. O recurso para o STF, que
visava preservao do direito federal, constitucional e infra-constitucional, ficou assim
bastante mutilado e, como vlvula de escape, o Tribunal passou a abrir excees s
restries regimentais pela via da argio de relevncia da questo federal, decidida em
sesso secreta, sem a presena das partes ou dos advogados e sem a lavratura de acrdo
que desse publicidade s razes do seu acolhimento ou da sua rejeio.
De 1.973 em diante, a Justia brasileira enfrentou o crescimento do nmero de
demandas em ndices absolutamente inusitados, e a exacerbao do automatismo recursal,
gerando a saturao da capacidade de julgamento dos tribunais superiores. A principal
causa desse fenmeno foram as sucessivas crises do prprio Estado: a 1 e a 2 crises do
petrleo em 1973 e 1979, com o desencadeamento da hiperinflao, seguidas dos diversos
planos econmicos, todos caracterizados pela supresso ou vulnerao de direitos dos
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
57
cidados, tanto nas relaes jurdicas privadas quanto nas dos particulares com o Poder
Pblico.
Em meio a todas essas turbulncias, a Constituio de 1988 introduziu no Brasil o
primado dos direitos fundamentais, a eficcia concreta desses direitos, a garantia da tutela
jurisdicional efetiva, prometendo um Judicirio apto a remediar todas as injustias e
violaes de direitos, inclusive as perpetradas pelo prprio Estado. A mesma Constituio
repudiou as limitaes admissibilidade do recurso extraordinrio, mas, reconhecendo a
sobrecarga do Supremo Tribunal Federal, criou o Superior Tribunal de Justia, para dividir
com o STF a jurisdio de superposio, e criou os Tribunais Regionais Federais como 2
instncia da Justia Federal.
A nova Carta Magna expandiu o contencioso constitucional, facilitando o acesso
direto ao Supremo Tribunal Federal de aes de controle concentrado de
constitucionalidade por iniciativa de diversos legitimados, indicados no seu artigo 103,
aumentou as espcies de recursos e as instncias recursais, mas o sistema recursal
continuou o mesmo, com um nmero excessivo de recursos, que possibilita ao vencido
reiterar o exerccio da jurisdio de modo quase interminvel, retardando o desfecho dos
processos, o cumprimento das decises e o acesso do vencedor ao pleno gozo do seu
direito. Aquele a quem interessa retardar o desfecho da causa, porque desfruta de uma
situao de vantagem de que no quer abrir mo em favor do vencedor, dispe de um
arsenal de meios de impugnao e, assim, os tribunais ficam cada vez mais congestionados,
o mais forte protela o desrespeito ao direito do mais fraco e o Estado fracassa na tutela
jurisdicional efetiva dos direitos dos cidados. As pessoas jurdicas de direito pblico so
justamente aquelas que mais abusam do direito de recorrer, para esquivar-se de cumprir as
suas obrigaes para com os cidados e de pagar as suas dvidas, oriundas de condenaes
judiciais.
Por outro lado, os tribunais, congestionados com o excesso de recursos, proferem
julgamentos de qualidade sempre pior, porque no do vazo quantidade. No tm mais
tempo para examinar as alegaes e provas dos autos e de efetivamente estud-las, discuti-
las colegiadamente. Julgam processos, presumivelmente iguais, em pilhas. No tm mais
pacincia para ouvir os advogados. No tm mais tempo, sequer, para ouvir os relatrios e
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
58
votos dos seus prprios membros. O prprio Supremo Tribunal Federal naufraga nessa
avalanche.
Adotam-se, ento, em vrios tribunais, medidas regimentais para conter a presso
do excesso de recursos. O prprio legislador constituinte, por meio da Emenda
Constitucional n 45/2004 determinou algumas providncias nesse sentido, como a
proibio da reteno da distribuio de recursos e a proibio de frias coletivas dos
magistrados. Empreendem-se inutilmente reformas legislativas pragmticas, todas
inspiradas na inteno de refrear a demanda recursal, sem atacar as suas causas. O
formalismo, que deveria ter sido exorcizado com base nos princpios da efetividade e do
garantismo, se exacerba atravs de entendimentos jurisprudenciais cujo intuito manifesto
apenas o de esvaziar as prateleiras. Nas medidas legislativas, evidente a busca da
simplificao dos procedimentos e da imposio de obstculos ao acesso aos tribunais
superiores e aos rgos colegiados. Enquanto isso, outras leis, embora bem intencionadas,
como a Lei do Agravo
61
, pioraram ainda mais essa situao, multiplicando
extraordinariamente os julgamentos.
Essa escalada na progressiva perda da qualidade das decises recursais e na adoo
de medidas de fora para reduzir a quantidade de julgamentos prossegue de modo frentico,
com a implantao da smula vinculante e da repercusso geral, como pressuposto de
admissibilidade do recurso extraordinrio, por fora da Emenda Constitucional n 45/2004
e na criao do sistema de julgamento de recursos especiais repetitivos no Superior
Tribunal de Justia, originrio da Lei 11.672/2008. Grande nmero dos princpios
fundamentais do sistema recursal, anteriormente expostos, francamente abandonado no
altar da celeridade e da reduo a qualquer preo do nmero de julgamentos. Essa
decadncia, esse desmoronamento, esse desvirtuamento do sistema recursal, cada vez mais
distante das razes que determinaram a sua existncia, no terminou, porque as causas do
aumento incontrolvel do nmero de processos e de recursos no foram equacionadas. Os
processos e os recursos continuaro a crescer e as medidas traumticas, at agora adotadas,
em poucos anos sero insuficientes e tero gerado nova e interminvel cadeia de
61
Lei 9.139, de 30 de novembro de 1995.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
59
litigiosidade, pela perda da confiana e da credibilidade do Judicirio, engendrada pelos
prprios caminhos por ele escolhidos para enfrentar a sua crise.
As deficincias qualitativas do nosso sistema recursal, acima apontadas, indicam
que no sero solues paliativas, que atinjam metas exclusivamente quantitativas, que vo
erguer o sistema processual ao nvel de desempenho compatvel com o papel que lhe impe
o Estado Democrtico de Direito.
Algumas dessas solues podero representar um alvio momentneo, mas no
equacionaro a crise recursal, que fundamentalmente uma crise decorrente de trs fatores:
o excesso de processos e de meios de impugnao; a m qualidade e a falta de credibilidade
das decises dos tribunais; e a facilidade e as vantagens de recorrer, mesmo sabendo no ter
razo.
A soluo da maior parte desses problemas no depende do Direito Processual ou
do sistema recursal. O Estado brasileiro precisa implantar, fora do processo judicial, uma
poltica pblica de preveno e soluo de litgios, que deve comear pela internalizao
administrativa das divergncias entre os particulares e o Poder Pblico e a criao no
servio pblico de uma nova cultura de respeito e satisfao aos direitos dos cidados. Para
se ter uma idia, aproximadamente oitenta e cinco por cento dos recursos que chegam ao
Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justia tm como uma das partes o
Estado.
necessrio mudar a mentalidade da Administrao Pblica. Erradamente tem-se a
idia de que o administrador honesto o que diz no ao cidado; aquele que diz sim,
ou seja, que reconhece um direito do administrado, j est sob suspeita de ser corrupto.
Perdeu-se, no Estado brasileiro, a noo de que a Administrao presta servios pblicos e
que, portanto, estes tm de oferecidos e organizados em benefcio dos cidados, e no em
benefcio da prpria Administrao.
Costumo dizer que se a Unio revertesse tudo o que gasta para defender-se em juzo
em um eficiente atendimento ao particular, orientando os seus advogados a reconhecerem,
no balco de atendimento ao pblico, os direitos daqueles que tm razo, reduzir-se-ia
consideravelmente a litigiosidade que sobrecarrega as instncias judiciais. No adianta
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
60
pensarmos que todos os problemas da Justia brasileira se resolvem dentro da prpria
Justia.
Por outro lado, os juzes precisam ser mais bem qualificados para o desempenho
das suas pesadas funes e para o seu exerccio dirigido busca de solues efetivamente
pacificadoras resultantes do dilogo democrtico e legitimador com as partes e com os seus
advogados, o que a simples aprovao em concurso pblico no assegura.
Mas o Direito Processual tambm tem de dar a sua contribuio, eliminando todos
os fatores que favorecem a interposio de recursos com intuito meramente protelatrio.
Para isso, preciso tornar desvantajosa a procrastinao. No atual contexto de
crise, como se retardar a eficcia dos direitos alheios tivesse virado um direito das partes.
Ora, no momento em que recorrer se torna vantajoso, porque, com isso, se ganha tempo ou
a prpria impossibilidade de execuo do julgado, mesmo quando o recurso no tem efeito
suspensivo, muitos daqueles que no tm razo sentem-se compelidos a recorrer
automaticamente.
preciso criar mecanismos desvantajosos que incidam direta e automaticamente
sobre aquele que promove o retardamento do desfecho do processo, rompendo o atual
automatismo recursal, com as vantagens que o recorrente tem de interpor um recurso sem
ter razo.
A maioria das apelaes tem efeito suspensivo. J se tentou, por meio de alguns
projetos de lei no aprovados, acabar-se com o efeito suspensivo automtico da apelao, o
que contrrio ao interesse dos governantes. Isso porque o maior beneficirio do efeito
suspensivo da apelao o Estado procrastinador; na verdade, a Justia, hoje, est servindo
para administrar a moratria do Estado, e no para satisfazer os direitos dos cidados. H
um completo desvirtuamento da funo do Poder Judicirio.
Algumas medidas que certamente seriam eficazes na ruptura dessas prticas
demandistas seriam, a meu ver, as seguintes: a) a supresso do efeito suspensivo
automtico dos recursos ordinrios; b) a execuo provisria exaustiva, independentemente
de cauo; c) nova sucumbncia em grau de recurso; d) juros progressivos enquanto durar a
demanda judicial; a) a eliminao do duplo grau de jurisdio obrigatrio; e) a eliminao
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
61
de alguns recursos, como embargos infringentes, de divergncia ou de declarao; f) a
concentrao das questes constitucionais e infra-constitucionais em um nico recurso
especial para o STJ, deste cabendo recurso extraordinrio para o STF; g) a eliminao da
exigncia de trnsito em julgado para execues contra a Fazenda Pblica.
Em sntese, preciso diminuir o nmero de recursos, sem reduzir o acesso Justia
por parte dos cidados. indispensvel assegurar nas instncias recursais o mais amplo
respeito s garantias fundamentais de um processo justo e tornar desvantajosa a
interposio de recursos protelatrios.
As reformas do sistema recursal no podem inspirar-se no interesse do Estado, de
limitar o custo da administrao da Justia, ou dos juzes, de frear o aumento da quantidade
de trabalho, mas dos jurisdicionados, que no podem ser vistos como intrusos
inconvenientes que perturbam a vida e o sossego dos magistrados e que, portanto, tm de
ser tratados com m vontade porque se presume que estejam litigando e recorrendo por
simples esprito de emulao ou para alcanar algum proveito escuso.
preciso que a Justia recupere a conscincia de que recursos no so apenas folhas
de papel ou arquivos de computador, mas podem significar o acesso a direitos que
garantam a prpria sobrevivncia dos cidados. A pendncia interminvel de recursos e a
demora no seu julgamento podem obrigar a parte que tem razo a fazer acordos injustos ou
a abrir mo do seu direito porque a Justia no lhe garante o acesso rpido ao pleno gozo
desse direito. Nos to festejados mutires de conciliao, grande parte dos acordos so o
reflexo da ineficincia da Justia e a consagrao de que, falta dela, o mais fraco tem de
se curvar s imposies do mais forte.
Esse o atual panorama do sistema de recursos no Brasil, mergulhado em profunda
crise, impulsionada pela perda de credibilidade da Justia, pelo descontentamento dos
juzes e jurisdicionados e pela falta de uma poltica racional e eficaz, no demaggica, de
soluo dos problemas.
muito fcil e nada custoso para o Congresso Nacional e para o Presidente da
Repblica reformar leis processuais, aproveitando, quando convm, idias e sugestes de
juristas que altruisticamente prestam a sua colaborao.
Revista Eletrnica de Direito Processual REDP. Volume V
Peridico da Ps-Graduao Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ.
Patrono: Jos Carlos Barbosa Moreira www.redp.com.br ISSN 1982-7636
62
Mudar a lei processual a soluo mais simples, mas no suficiente, porque a causa
da litigiosidade s em pequena parte pode ser atribuda legislao. Na maioria dos casos,
a ineficincia da administrao da Justia ou est ligada a causas externas ao Poder
Judicirio ou s deficincias estruturais daquele Poder, as quais no podem ser resolvidas
pela simples edio de uma lei processual. As causas no esto sendo atacadas, porque,
para isso, seria necessria uma mudana de postura do Estado na assuno efetiva das
responsabilidades que a Constituio lhe impe de assegurar a mais ampla tutela aos
direitos de todos e de promover a paz social.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2010
Você também pode gostar
- Atividade Avaliativa 6 - STF - PROCESSO COLETIVO CONSTITUCIONALDocumento5 páginasAtividade Avaliativa 6 - STF - PROCESSO COLETIVO CONSTITUCIONALPatrícia AlmeidaAinda não há avaliações
- Processo PenalDocumento13 páginasProcesso PenalGiovanna OliveiraAinda não há avaliações
- Contrato de Locação Residencial Com FiadorDocumento7 páginasContrato de Locação Residencial Com Fiadorapi-19987871Ainda não há avaliações
- Monografia Final 1Documento57 páginasMonografia Final 1Andressa NunesAinda não há avaliações
- Leiautes Da EFD-Reinf Versão 2.1.2Documento67 páginasLeiautes Da EFD-Reinf Versão 2.1.2gencomumAinda não há avaliações
- Textos para Atividade 9 Ano Brasil RepúblicaDocumento1 páginaTextos para Atividade 9 Ano Brasil RepúblicaDieicy TaynaraAinda não há avaliações
- Justiça Tranca Ação Penal Da Circus Maximus em Relação A Ricardo LealDocumento14 páginasJustiça Tranca Ação Penal Da Circus Maximus em Relação A Ricardo LealMetropolesAinda não há avaliações
- CP FichasExemplo12345Documento8 páginasCP FichasExemplo12345olfigueira97950% (1)
- Resumo-Direito Constitucional - Principios EstruturantesDocumento4 páginasResumo-Direito Constitucional - Principios EstruturantesLaura AbilioAinda não há avaliações
- Mutatio Libelli e Emendatio LibelliDocumento3 páginasMutatio Libelli e Emendatio LibelliVitorHug0Ainda não há avaliações
- Caso Yerodia-Conteciosos 2000Documento9 páginasCaso Yerodia-Conteciosos 2000Joana Dos Arcos100% (1)
- Ação Monitória - ModeloDocumento4 páginasAção Monitória - ModeloRobson Ana Paula BertoldoAinda não há avaliações
- PECULATODocumento1 páginaPECULATOTbc Filhos Ltda BisnesAinda não há avaliações
- 229645259-Defesa-Previa-falta de Justa CausaDocumento8 páginas229645259-Defesa-Previa-falta de Justa CausaFelipe AssunçãoAinda não há avaliações
- Ação de Alimentos Gravídicos Com Alimentos ProvisionaisDocumento8 páginasAção de Alimentos Gravídicos Com Alimentos Provisionaisgilfredomc100% (1)
- Ficha de Apoio de Historia - Revolucoes BurguesasDocumento7 páginasFicha de Apoio de Historia - Revolucoes Burguesasadelto alfredoAinda não há avaliações
- Curso de História Do Direito - José Reinaldo de Lima Lopes-2Documento27 páginasCurso de História Do Direito - José Reinaldo de Lima Lopes-2Kayron BAinda não há avaliações
- Ministério Público Do Estado Do Pará - Resolução N. 004-2021 - CPJ - Reestrutura Os Centros de Apoio Operacional e Seus NúcleosDocumento4 páginasMinistério Público Do Estado Do Pará - Resolução N. 004-2021 - CPJ - Reestrutura Os Centros de Apoio Operacional e Seus NúcleosLuis LimaAinda não há avaliações
- Trabalho Processo Cívil II J 2 BimDocumento4 páginasTrabalho Processo Cívil II J 2 BimThaísAinda não há avaliações
- Recurso Inominado - Juizado Especial CicelDocumento8 páginasRecurso Inominado - Juizado Especial CicelDiego Henrique GamaAinda não há avaliações
- Contrato de Trabalho Vs Contrato de Prestação de ServiçosDocumento2 páginasContrato de Trabalho Vs Contrato de Prestação de Serviçosapi-3840713100% (3)
- Edição 8 de Setembro 2018 PDFDocumento32 páginasEdição 8 de Setembro 2018 PDFhelcrisAinda não há avaliações
- Estatuto Do Servidor - Lei N - 1.399 - 55Documento23 páginasEstatuto Do Servidor - Lei N - 1.399 - 55Marcelo Antonio BombardaAinda não há avaliações
- 05 Ação de Revisão de AlimentosDocumento5 páginas05 Ação de Revisão de AlimentosRafael PinheiroAinda não há avaliações
- 2023 Dri 072 (28) OkDocumento2 páginas2023 Dri 072 (28) OkNelson DomingosAinda não há avaliações
- O Que É OITDocumento2 páginasO Que É OITCarmenpinheiroAinda não há avaliações
- Resumo-Direito Processual Civil-Aula 24-Juiz Auxiliares Ministerio Publico-Eduardo Francisco-ATRDocumento3 páginasResumo-Direito Processual Civil-Aula 24-Juiz Auxiliares Ministerio Publico-Eduardo Francisco-ATRFlaviana CunhaAinda não há avaliações
- Bo 1 - 02-01-2023Documento22 páginasBo 1 - 02-01-2023odairAinda não há avaliações
- Decreto - 3029 - 99 ANVISADocumento20 páginasDecreto - 3029 - 99 ANVISAsrnaldoAinda não há avaliações
- Organização CriminosaDocumento4 páginasOrganização CriminosaCarlos Rodrigues dos SantosAinda não há avaliações